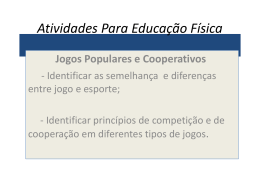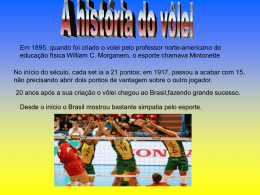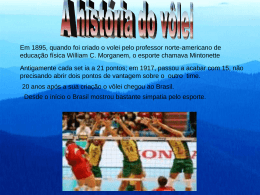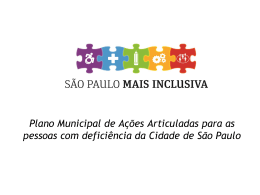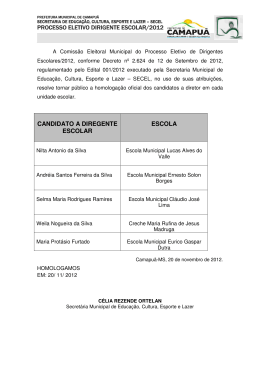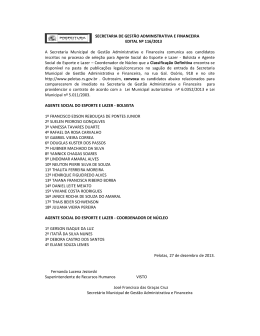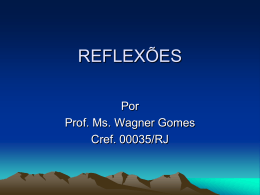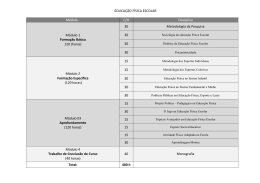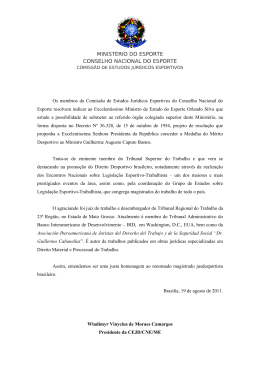UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Programa de Pós-graduação Stricto Senso Mestrado em Educação Física INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESPORTE EDUCACIONAL: UM ESTUDO DE CASO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO DANILO PERUCHI DE FREITAS SÃO P AULO 2014 UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU Programa de Pós-graduação Stricto Senso Mestrado em Educação Física INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESPORTE EDUCACIONAL: UM ESTUDO DE CASO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO DANILO PERUCHI DE FREITAS Dissertação de Mestrado apresentada Universidade São Judas Tadeu como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Educação Física sob orientação da Profa. Dra. Graciele Massoli Rodrigues SÃO P AULO 2014 Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Universidade São Judas Tadeu Bibliotecário: Ricardo de Lima - CRB 8/7464 Freitas, Danilo Peruchi de F866i Inclusão da pessoa com deficiência no esporte educacional : um estudo de caso da Associação Cristã de Moços de São Paulo / Danilo Peruchi de Freitas. - São Paulo, 2014. 100 f. : il. ; 30 cm. Orientadora: Graciele Massoli Rodrigues. Dissertação (mestrado) – Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2014. 1. Educação inclusiva. 2. Esportes para deficientes. I. Rodrigues, Graciele Massoli. II. Universidade São Judas Tadeu, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Física. III. Título “Eu não sou que eu poderia ser. Eu não sou quem eu poderia ser, ainda. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era.” Martin Luther King AGRADECIMENTOS Primeiramente agradeço à Deus guiar meus caminhos, fechar as portas que ele desejou fechar e abrir as que ele planejou para minha vida, desde o dia em que escolhei participar de um programa de mestrado. Agradeço pela saúde que me foi dada por ele para cumprir as missões que me foram dadas nos últimos anos. Que eu possa ser um exemplo de seu grande amor. Agradeço à minha querida e amada mãe, Aparecida, pelo seu amor, carinho, por não medir esforços para que nunca faltasse nada para mim e meu irmão e por ser a razão da minha vida. Por ela o amor infinito, o amor mais bonito. Ao meu pai Juraci que, mesmo distante, nunca deixou de me apoiar, incentivar e nunca me deixou desistir dos meus objetivos. À minha querida orientadora, professora, mãe acadêmica e tantos outros adjetivos Profa. Dra. Graciele Massoli Rodrigues. Agradeço pelo seu carinho, dedicação, por acreditar em mim quando eu mesmo já não acreditava. Obrigado por ser um dos maiores exemplos em minha vida, por me orientar dentro e fora do universo acadêmico. A você todo o carinho, respeito e admiração. À Associação Cristã de Moços de São Paulo, aos seus executivos representados na Secretária Executiva Sra. Cristina Francesca Neglia, por abrir as portas da instituição e proporcionar a realização deste estudo e confiança em meu trabalho. À toda minha família pelo amor demonstrado todas as vezes que temos a oportunidade de estarmos juntos. Aos meus amigos, em especial Guilherme Matarazzo, Raphael Mange, Felipe Rocha e Diego Souza por todos os dias de companheirismo e alegria, dificuldades e superações. Que Deus os abençoe sempre. ―Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver.‖ Aos meus queridos alunos e companheiros de trabalho por compreenderem minhas ausências e por todo suporte e auxílio que me deram durante os anos de estudos e tarefas para o cumprimento de mais esta etapa em minha vida. Aos professores componentes e suplentes da banca de defesa pelo pronto atendimento do convite e pelas contribuições tão necessárias para a evolução deste estudo. Aos companheiros de estudo e aos professores do programa de mestrado da Universidade São Judas Tadeu. Aos professores do Curso de Educação Física da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Enfim, a todos aqueles que direta ou indiretamente estiveram comigo ao longo destes anos e nunca deixaram de acreditar no meu potencial e sempre torceram pelo meu sucesso. Muito obrigado! Sumário Sumário ............................................................................................................................................ 7 RESUMO ......................................................................................................................................... 4 1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 6 1.2 INCLUSÃO ..................................................................................................................................21 1.3 ACESSIBILIDADE .......................................................................................................................25 1.4 ESPORTE EDUCACIONAL..........................................................................................................32 2. CARACTERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS. ........................................................41 3. OBJETIVO ....................................................................................................................................42 4. JUSTIFICATIVA.............................................................................................................................43 5. METODOLOGIA ............................................................................................................................44 6. Resultados ..................................................................................................................................46 6.1 Análise Documental .................................................................................................................48 7. Considerações Finais ................................................................................................................68 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:....................................................................................................72 A NEXO 1: TÓPICOS DE ANÁLISE DO ―GESTOR NACIONAL ‖. ...........................................................90 A NEXO 2: TÓPICOS DE ANÁLISE DO ―GESTOR GERAL ‖. ................................................................91 A NEXO 3: TÓPICOS DE ANÁLISE DOS ―GESTORES DE UNIDADES ‖. ..............................................92 A NEXO 4: CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO .......................................................................93 A NEXO 5: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ...................................................94 A NEXO 6: ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO C RISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO ....................................................95 A NEXO 7: DOCUMENTO I NSTITUCIONAL I NTERNACIONAL ...........................................................................96 A NEXO 8: REGISTRO DE ATIVIDADE COM FOCO NA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ...............................................97 4 INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESPORTE EDUCACIONAL: UM ESTUDO DE CASO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO RESUMO O processo inclusivo da pessoa com deficiência requer uma transformação da sociedade em suas diversas faces, de modo que proporcione condições de acesso e participação de todos de forma que sintam-se parte integrante de um grupo e com as mesmas possibilidades. Entretanto, a realidade ainda permanece distante do ideal. Deste modo, as esferas sociais, entre elas o esporte, ainda carecem de diferentes estudos e formas de intervenção quando levamos em consideração as questões referentes às pessoas com deficiência. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os pressupostos inclusivos inseridos no programa de esporte educacional na Associação Cristã de Moços de São Paulo e verificar a estrutura do programa com relação à participação da pessoa com deficiência ao esporte educacional O estudo apresentou caráter descritivo qualitativo com característica exploratória e documental. Participaram da pesquisa as 12 unidades de atendimento esportivo da Associação Cristã de Moços de São Paulo, representada por seus respectivos gestores. O gestor geral de esporte da instituição e o gestor nacional também compôs o grupo de participantes totalizando 14 pessoas delineando um perfil de amostragem com caráter não probabilístico. Os participantes foram entrevistados com um roteiro semiestruturado e os resultados foram analisados através da proposta de análise de conteúdo de Bardin (2011). A documentação das diretrizes que norteia o esporte na instituição e as propostas das unidades que participaram do estudo forma analisadas de forma interpretativa tendo como base o instrumento CIPP (Contexto, Insumo, Processo e Produto) sugerido por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004). Os resultados apontaram necessidade de um olhar inclusivo na instituição, de melhoras nas instalações com diminuição das barreiras arquitetônicas, de aprimoramento da capacitação profissional, implantação de avaliações constantes que sustente e ampare as ações afirmativas com foco na inclusão da pessoa com deficiência no esporte, uma vez que atender a todos está na gênese da instituição. Palavras-Chaves: Inclusão, Esporte, Gestão Esportiva, Deficiência. 5 INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN EDUCATIONAL SPORTS: A CASE STUDY OF THE YOUNG MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION SAO PAULO ABSTRACT The process of inclusion people with disabilities requires a transformation from society in its many faces, in that way society would provide access and participation equally and with the same possibilities to more people. However, the reality is still far from ideal. Thus, the social spheres, including sports still require more research when we consider issues relating to people with disabilities. The goal of this study is to examine the assumptions embedded in the inclusive educational sports program at the YMCA of São Paulo and to the structure of the program with respect to participation of people with disabilities in sports education. This study includes qualitative character descriptions with characteristic exploratory and documentary. Participants in the study consisted of 12 units of sports from YMCA São Paulo, represented by their respective managers. The general manager of the sport and the national authorizing institution were also in the group of participants totaling 14 people outlining a profile of non-random sampling. Participants were interviewed with a semistructured script and the results were analyzed through content analysis proposed by Bardin (2011). The documentation guidelines guiding the sport in the institution and the proposals of the units participating in the study will be analyzed interpretively based on the instrument CIPP (Context, Input, Process and Product) suggested by Worthen, Sanders and Fitzpatrick (2004). The results showed the need for a comprehensive look at YMCA São Paulo for improvements in facilities with architectural barriers decreased, improvements for professional training, implementation of ongoing evaluation to support and sustain affirmative action focusing on the inclusion of people with disabilities in sports, important since serving everyone is a mission of the institution. Key Words: Inclusion, Sport, Sports Management, Disability. 6 1. INTRODUÇÃO O caminho para chegarmos até a construção deste material começou a ser traçado há alguns anos atrás, mais precisamente em 2006. Neste ano, ingressei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, matriculado no Curso de Educação Física, onde realizei o primeiro contato com pessoas com deficiência e a área da inclusão através da participação no Projeto de Atividades Físicas Adaptadas, ofertado como projeto de extensão à comunidade e sob orientação da Prof.ª Dr.ª Graciele Massoli Rodrigues. Em meio a tantas novidades, algumas situações começaram a se destacar e chamar minha atenção. Assim, no mesmo ano encaminhamos, para apreciação e posteriormente, aprovação, um projeto ao Programa de Iniciação Científica da Universidade, projeto este que buscava investigar os fatores de interferência na aprendizagem da natação das pessoas com deficiência. Neste mesmo projeto de atividades adaptadas pude, juntamente com minha orientadora, desenvolver outros estudos que com base nas características dos próprios alunos do grupo, em especial um estudo de caso sobre as atividades físicas e uma pessoa com síndrome de Momo, estudo esse que se configura como um dos únicos a relacionar a atividade física e a síndrome citada acima. Durante os anos que se sucederam o envolvimento com o projeto aumentava juntamente com a participação no Grupo de Estudo que tratava da mesma temática dando início aos interesses pela pesquisa e participação em eventos científicos da área da Educação Física, trabalhando a temática das questões relacionadas à inclusão e deficiência. Neste período desenvolvemos pequenos estudos sobre a inclusão, com foco em questões de barreiras arquitetônicas e atitudinais. No último ano de graduação (2009), após optar pela graduação em licenciatura plena, pois estava inserido em um contexto escolar devido ao estágio obrigatório acabei por deixar de lado os estudos das questões esportivas e as 7 pessoas com deficiência e focar nas questões referentes à educação física escolar e a inclusão de alunos com deficiência. Assim, dediquei o meu trabalho de graduação interdisciplinar (TGI) o estudo da tríade escola, família e aluno no processo de inclusão da pessoa com deficiência na Educação Física Escolar. O processo de coleta de dados e principalmente os resultados obtidos, sobretudo quando tratamos das questões de formação profissional, onde evidenciamos que os profissionais entrevistados relatavam não ter uma formação que os capacitava para atuar com pessoas com deficiência no processo de inclusão, me fizeram abrir os olhos para algo que poderia ser um novo passo para minha vida universitária. O programa de mestrado. Com o objetivo de poder auxiliar na formação dos novos profissionais de Educação Física, possibilitando um maior conhecimento sobre a área das Atividades Físicas Adaptadas, busquei subsídios maiores e um novo olhar para as atividades que iram se suceder. Em 2011, comecei minhas atividades profissionais na Associação Cristã de Moços, bem como as atividades no Programa de Mestrado da Universidade São Judas Tadeu, após aprovação no processo de seleção. Ao ingressar no programa mantinha a questão da inclusão como tema central dos estudos ainda na perspectiva da inclusão na Educação Física Escolar e a relação entre professores e alunos neste ambiente. Após algumas reuniões, minha orientadora e eu optamos por tentar aproximar a pesquisa de minha prática profissional, onde, a partir de então, surgiu a proposta de analisar as instituições de grande abrangência que trabalham com esporte no formato educacional na cidade de São Paulo, na perspectiva da inclusão. Após algumas negativas de instituições que não permitiram o acesso e a coleta de dados em suas unidades, optamos por realizar um estudo de caso da Associação Cristã de Moços de São Paulo (ACM – SP), uma vez que já estava inserido nesta instituição, já havíamos conseguido a permissão para realizar a coleta de dados e verificamos a viabilidade de aprimorar o trabalho voltado para as práticas esportivas e a oportunidade de aproximar novas perspectivas para a inclusão da pessoa com deficiência no modelo de esporte da ACM. 8 Somado a esse fator, pudemos verificar que a instituição atende um numero significativo de associados (aproximadamente 45 mil) em todas as regiões de São Paulo e algumas cidades do interior paulista. Dentro deste quadro associativo foi evidenciado que todas as unidades possuem pessoas com deficiência praticando alguma atividade física ofertada pela ACM, entre elas o esporte. Entendemos que uma instituição de tamanha relevância histórica para o esporte poderia, de certa maneira, contribuir de forma significativa com estudos que busquem desenvolver práticas inclusivas através das práticas esportivas e um programa de atividades que viabilize o processo inclusivo. O esporte é um veículo de mobilização de massas que proporciona ou deveria proporcionar a participação de todos, de maneira que cada pessoa pudesse praticar e se desenvolver dentro de suas condições, inseridas em grupos cujo foco não seja no rendimento e, portanto, muitas vezes exclusivistas, impedindo e limitando a participação das pessoas com menores condições de participação e, como um direito fundamental do ser humano, deveria ser ofertado para todos. Neste sentido, vemos que o princípio que conduz as ações da ACM vai ao encontro de uma proposta de desenvolvimento integral do ser humano. A instituição leva como princípio básico para suas ações o versículo bíblico em João 17:21 que diz: ―Para que todos sejam um‖ e sua missão é: Fortalecer pessoas, famílias e comunidades. Assim, fica claro o envolvimento das propostas acemistas 1·, com a ideia de uma oportunidade de desenvolvimento de todos no ambiente esportivo. Por muito tempo o esporte foi visto como prática essencialmente exclusiva para pessoas saudáveis, em boas condições físicas e utilizadas como demonstração de supremacia entre potências político econômicas, deixando de lado as pessoas que, por algum motivo não atendiam a essas expectativas. Entretanto, verificou-se ao longo do tempo que o esporte pode ser um grande objeto de estudo devido a sua influência e abrangência social, objetivada 1 Termo utilizado para descrever uma prática desenvolvida na Associação Cristã de Moços (ACM) ou pessoa que faz parte desta instituição. 9 muitas vezes não no rendimento, mas, na condição de veículo de formação e educação das pessoas através do desenvolvimento de práticas saudáveis onde não tenham o foco no rendimento e sim na construção de relações de aprendizado e crescimento através de um processo educativo. Com esse raciocínio, segundo Marques, Almeida e Gutierrez (2007), o esporte é um elemento que pode proporcionar diversas análises, de acordo com o significado que apresenta e passível de transformações e configurações a partir do olhar que lhe é direcionado. Com a perspectiva dos autores supracitados, vemos que uma das faces do esporte a ser explorada pode ser a questão da inclusão das pessoas com deficiência, sobretudo, em um ambiente onde costumeiramente não vemos pessoas com deficiência na prática esportiva, mesmo sabendo que muitas estão nas unidades da ACM. Assim, existe a necessidade de identificar os motivos pelos quais essas situações estão acontecendo, bem como se o programa de esportes oferecido pela ACM, de fato, possibilite as ações inclusivas e quais as possibilidades de fortalecermos essas ações a fim de que seja possível colocar em prática os princípios da instituição em uma de suas áreas mais importantes como o esporte. Entender a relação entre a prática esportiva, a participação da pessoa com deficiência e sua relação com as pessoas sem deficiência torna-se fundamental para que possamos estimular a participação de todos, indo ao encontro de um esporte que ensina, educa, fortalece relações e, sobretudo agrega valores as diferenças e aponta para a convivência entre grupos com diferentes características, mas com objetivos semelhantes. Sob essas perspectivas buscamos analisar a relação da prática esportiva desenvolvida na Associação Cristã de Moços de São Paulo e a presença das pessoas com deficiência neste espaço. 1.1 SOCIEDADE INCLUSIVA Estudos tais quais os de Maciel (2000), França e Pagliuca (2009), Quintão (2005), Pacheco e Alves (2007), e Blumer, Pavei e Moceun (2004), relatam que a temática da inclusão é debatida e estudada com o objetivo de transformar a 10 sociedade, de um modo geral, em um ambiente de oportunidades e condições de igualdade e acesso às mais diversas áreas e de avanços em relação à legislação que ampara e sustenta as ações voltadas à inclusão. Entretanto, analisando a sociedade, onde impera fortes tendências de segregação, vemos que segundo Santos (2002), Schneider (2003), Laplane (2006) e Vianna et al (2012) a realidade de transformação voltada para inclusão, ainda se encontra longe do ideal. Entretanto, quando discutimos sociedade inclusiva é necessário ter em mente qual a construção histórica que nos leva a discutir a participação e o espaço das pessoas com deficiência em um universo de diversas transformações e constantes mudanças de perspectivas. Para buscarmos componentes que nos deem subsídios para discutir as questões referentes à inclusão na sociedade faz-se necessário compreender que as discussões sobre inclusão caminham por diversos segmentos e fragmentos sociais que hora perpassam e se aprofundam, também, nas questões relacionadas às pessoas com deficiência, porém é algo muito maior e abrangente. Um levantamento histórico realizado por Aranha (2001) nos mostra os diversos momentos da sociedade e suas transformações nas questões sobre as pessoas com deficiência. Os primeiros registros sobre a participação das pessoas com deficiência surgem através dos escritos dos povos gregos e romanos, onde são encontrados indícios que as pessoas com deficiência eram eliminadas da sociedade por serem considerados fracos e defeituosos, não eram capazes de realizar os serviços braçais, uma vez que a economia de boa parte das sociedades ocidentais era sustentada pelas atividades de agricultura, pecuária e artesanato. Entretanto, não só as pessoas com deficiência apresentavam dificuldades de convivência neste modelo social, as pessoas economicamente mais vulneráveis eram consideradas serviçais, escravos e sub-humanos. Nota-se nessas afirmações que desde o início dos relatos a relação de produtividade e condição de deficiência já estavam ligados, o pensamento de inferioridade sobre as pessoas com deficiência era algo inserido no contexto social das civilizações antigas. A autora continua sua análise relatando que algumas mudanças mais significativas começaram a surgir a partir do fortalecimento do cristianismo nas 11 sociedades, trazendo a ideia de que todos eram filhos de Deus, iguais perante a ele, possuidores de alma e, portanto, merecedores de respeito e tratamento caridoso. Neste contexto é possível verificar que as diferenças passam a receber mais valor e acabam recebendo mais espaço no contexto social. Porém a visão de igualdade trazida pelo cristianismo não se configura nas questões econômicas, haja vista que essas diferenças se perpetuam até os dias atuais, com propostas de inserção social e valorização dos marginalizados. Vemos também que as questões econômicas são indissociáveis quando trazemos as análises historias da sociedade. Aranha (2003) aponta que com a alta participação do cristianismo na sociedade, uma nova camada social, o Clero, aparece e acaba exercendo domínio até mesmo sobre a nobreza do período da Idade Média, cabendo ao povo a obrigação do trabalho e a produção de bens de consumo sem a possibilidade de participar de qualquer tomada de decisões. Nesta nova concepção, gradativamente as pessoas que antes eram deixadas a margem da sociedade ou até mesmo exterminadas passaram a receber auxílio, primeiramente, de suas famílias e também pela igreja. Neste período histórico, duas ações mudariam o rumo das questões sociais e também a relação com as pessoas com deficiência, sobretudo pela mudança de visão, de modo que as pessoas com deficiência passaram a serem vistas como a manifestação demoníaca ou como um castigo de Deus e essas pessoas acabavam por sofrer punições, eram aprisionadas e sofriam castigos severos. . Essas ações constituíram a Inquisição Católica e a Revolução Protestante. Quando tratamos da inquisição católica, Shitsuka et al (2008, p. 47) apontam que foi um período de ―caça as bruxas‖, onde a igreja, entidade que mantinha o poder sobre a sociedade, buscou excomungar e eliminar todos aqueles que caminhavam contra sua proposta naquele momento, caracterizando as pessoas como hereges ou endemoniados, matando milhares de pessoas, entre elas ―loucos, adivinhos, alucinados e deficientes mentais‖. Nesta breve análise do período dominado pelo cristianismo é possível traçar um paralelo com algumas situações atuais da sociedade, onde as pessoas são colocadas como os responsáveis pelas suas características de deficiência, eram 12 e são classificadas com terminologias extremamente pejorativas e muitas vezes ofensivas e, com um olhar mais cuidadoso na sociedade moderna, vemos que algumas situações colocam a própria pessoa com deficiência como única responsável pela sua in/exclusão social, sendo reportada á ela a necessidade de se adaptar àquilo que a sociedade oferece, de forma a manter-se como indivíduos marginalizados e segregados, sem existir o cuidado para que sejam atendidos ou expostos a ambientes que proporcionem um desenvolvimento igual para todos. Voltando à construção social, segundo Aranha (2003), as ações tomadas pela igreja de combater e lutar ferrenhamente contra as práticas sociais que se desenvolveram na sociedade acabaram causando divergências dentro da própria igreja, levando a uma cisão da entidade. Assim, liderado por Martin Lutero, membros da igreja que eram contra as ações tomadas na inquisição buscavam uma nova ordem que estivesse ao seu controle, com uma igreja de maior rigidez ética, religiosa e moral. Nesta perspectiva uma nova visão sobre o trabalho também passou a tomar novas formas, a ideia de que o trabalho não era um castigo, mas sim algo que dignifica o homem. Essas ideias acabam se fortalecendo no início do século XVI, trazendo um novo formato para a organização social de expansão e emersão de uma classe econômica, a Burguesia, trazendo novas relações de produção e expansão dos bens de consumo. Entretanto, quando pensamos nas pessoas com deficiência, nenhuma mudança significativa foi evidenciada. Avançando um pouco mais sobre a história do processo de desenvolvimento das pessoas com deficiência no contexto social, percebemos que novas formas foram constituídas para o olhar inclusivo onde, segundo Miranda (2003), entre o século XVIII e meados do século XIX é evidenciada uma fase de institucionalização de forma que os indivíduos que apresentavam alguma característica de deficiência eram totalmente segregados, alocados e protegidos em instituições residenciais. Somado a essas características, Miranda (2009) afirma que neste período houve um aumento do interesse da ciência, principalmente da medicina, sobre os aspectos referentes às pessoas com deficiência, passando a existir uma preocupação com a educação e a socialização deste grupo, até então excluídos. Entretanto, segundo a autora, a visão de deficiência com características patológicas ainda persistia na sociedade, trazendo como consequência o 13 menosprezo. Miranda (2003) ainda afirma que a fase seguinte a esta realidade social é caracterizada no final do século XIX e meados do século XX como um período de desenvolvimento de um ambiente educacional com a possibilidade da participação das pessoas com deficiência em escolas e classes especiais públicas, visando oferecer a essas pessoas uma educação a parte. Ao encontro destas informações, Leite (2012) traz um posicionamento que faz as amarras de um histórico opressivo e preconceituoso, afirmando que ao longo da história da sociedade a humanidade sempre conviveu com a existência de pessoas com deficiência, de modo que a sua sobrevivência em todo o mundo e em todas as épocas nunca deixou de ser uma grande luta, na grande maioria das vezes, ignorada pela sociedade e governos existentes. Nesta perspectiva, podemos perceber que o caminho que leva a inclusão e a construção de uma sociedade que tenha as portas abertas para as pessoas com deficiência ainda requer um cuidado significativo, sobretudo com as possibilidades que ainda são negadas pela afirmação e valorização daquilo que é comum, deixando as minorias e as diferenças á margem das oportunidades. Quando discutimos e levantamos temáticas acerca da construção de uma sociedade inclusiva estamos, em determinado momento, afirmando que existem situações de exclusão que segundo Leal (2004), podem ser oriundo de diversas fontes, tais como o processo de ruptura com os laços sociais; forma de inserção precária na sociedade; não cidadania, como negação de acesso aos direitos fundamentais. Essa afirmação nos apresenta uma realidade, onde determinados grupos são colocados distantes de uma condição social, podendo se desenvolver e representar seus papeis sociais de forma integral e com as mesmas oportunidades que os demais. Egler (2002) afirma que a exclusão é uma relação social historicamente determinada e que no transcorrer da história podemos observar suas formas distintas. Segundo a autora, estar excluído é ocupar um lugar a margem de um processo, permanecer na periferia, tratando de uma relação social que podemos observar na complexidade das múltiplas relações sociais. A exclusão como conceito 14 pode ser lida em processos de segregação espacial ou nas formas de organização da produção econômica. Em uma análise histórica, Omote (2006) nos mostra que as diferenças ou diversidade entre os indivíduos da mesma espécie são elementos fundamentais para a vida coletiva e a construção social, de modo que, as diferenças podem estar mais ou menos aparentes, porém, até em indivíduos aparentemente quase iguais, ao fazermos uma análise mais aprofundada podemos notar diferenças significativas entre eles. Essas diferenças levam a relações de superioridade e inferioridade a partir do momento em que os indivíduos acabam se organizando em grupos e começam então a construir relações sociais e divisões de tarefas. Neste momento as condições favoráveis de alguns indivíduos em relação a diversas características, como por exemplo, condição física, acaba por exercer certa soberania entre os elementos de um determinado grupo, assumindo condições melhores ou de destaque em relação aos demais. Nota-se que as diferenças são situações comuns na construção de uma sociedade. Entretanto, historicamente o tratamento dado a essas diferenças acabam assumindo situações excludentes para diversos grupos e condições sociais. De maneira geral, Wanderley (2001) relata que alguns fatores entre os séculos XX colaboraram para agravar as diferenças e marginalizando boa parte da população, construindo as primeiras análises com a preocupação dos estudos com foco nas questões de exclusão. Segundo a autora, a influência política está diretamente ligada ao processo de exclusão, uma vez que, com a derrota do modelo socialista, a expansão do capitalismo e as evoluções econômicas abalaram a ―política da solidariedade‖ e assistência. Ao encontro destas informações, Sposati (2006) relata que as questões referentes ao processo de exclusão estão intimamente ligadas as mudanças nas correlações sociais e também às novas perspectivas de produção e desenvolvimento social, sobretudo no modo de trabalho, uma vez que dois momentos foram fundamentais para compreender este processo: New Deal e Welfar State. Estes modelos econômicos, segundo Guerra, Cazzuni e Colho (2007) ditaram o início de uma nova fase econômica onde, após a economia norte- americana e 15 mundial passar por uma profunda depressão, causando o fechamento e endividamento de inúmeras fábricas, a demissão de milhões de pessoas e, com consequência, a marginalização dos desempregados e a diminuição do poder de consumo da população, um investimento significativo em melhorias sociais e a necessidade de novas contratações e ampliação do mercado proporcionaram a recuperação econômica necessária para estabelecer novamente a relação de consumo e poder de consumo. Assim, segundo Winclker e Neto (1992) foi este período que buscou uma transformação no mercado financeiro onde havia se instaurado uma forte crise, culminando em uma injeção de recursos no mercado econômico e um forte investimento nos serviços básicos, como investimentos nas questões referentes ao ensino, aos serviços de saúde, seguro desemprego, assistências às camadas mais carentes, entre outras ações. Esta reorganização econômica começa proporcionar, ao poucos, uma nova relação entre o acúmulo de capital e grupos que se emergem na sociedade com boas condições financeiras, em detrimento das pessoas desprovidas destas condições, em categorias sócias excluídas, sobretudo do mercado de trabalho e muitas vezes da própria sociedade. Nesta perspectiva, Sochaczewski e Lobato (2014) apontam que esta nova organização e estruturação do trabalho, começam a tornar mais complexas as relações sociais. Neste modelo de relações, novas concepções de vida a margem da sociedade se estabelecem, onde segundo Egler (2002) a exclusão da relação capitalista resulta em formas de vida não capitalistas que organizam uma determinada forma material espacial, desenhada pela desigualdade de sua constituição. Percebemos através desta constituição histórica que a sociedade se molda através das relações de capital e de transformações dos modelos econômicos, oferecendo as melhores condições para aqueles que são economicamente mais saudáveis e acabando por marginalizar uma parcela da população que não apresentam tais condições. 16 Neste sentido, Ratska (1999) afirma que não importa de qual grupo específico nós vamos tecer uma análise crítica sobre a sociedade e inclusão, antes de tudo faz-se necessário compreender que existem fatores que limitam as possibilidades e fatores que são extremamente favoráveis para este processo que são as ações de bem estar em geral, que são caracterizadas como serviços de saúde pública, incluindo serviços de prevenção, tratamento e reabilitação, e provisão de recursos de assistência; educação obrigatória desde o jardim de infância até, pelo menos, os 18 anos, dirigida para o potencial do indivíduo; apoio financeiro na forma de pensões, compensações e bem-estar social para os que não podem trabalhar devido à idade, doença, deficiência ou condições do mercado de trabalho, entre outros fatores. O autor ainda relata que, juntamente com esses fatores essenciais ainda é necessário transformações e investimentos em transporte, comunicação, mídia e cultura com acesso igual para todos. Com relação às pessoas com deficiência, diversos foram os posicionamentos sociais em relação à participação social. Silva (2009) expõe que a conotação dada às pessoas com deficiência era distinta em cada sociedade, de modo que, para alguns povos as pessoas com deficiência eram consideradas divinas, para outros recebiam o rótulo de representar males futuros, o que causava o afastamento do restante da sociedade. Posteriormente na Idade Média, a sociedade considerava que as pessoas com deficiência sofriam da influência de espíritos e forças demoníacas, uma vez que este período foi marcado pela forte ligação com a religião. Somado a todos esses fatores excludentes, Pacheco e Alves (2007) colocam que a sociedade entendia que a deficiência era uma maneira que a pessoa possuía de pagar seus pecados cometidos, indicando certo grau de impureza e atitudes impróprias, justificando o fato de apenas serem tolerados pela sociedade, sendo marginalizados e, sem a possibilidade de se desenvolver economicamente, restavam a eles o destino de pedir auxilio pelas ruas. Podemos perceber que os aspectos observados anteriormente vão ao encontro dos problemas políticos econômicos da sociedade capitalista, pois, a partir do momento em que um determinado sujeito ou grupo específico passa a não poder 17 desenvolver a prática do trabalho e não possui o amparo da sociedade, automaticamente estão fadados a manter-se a margem social, sobretudo fortalecendo as condições de profunda degradação, abandono e miséria por ser entendido como uma necessidade de segurança para a sociedade. Esta situação excludente passou a sofrer modificações, segundo Pacheco e Alves (2007); Silva (2009) quando a influencia do Cristianismo passou a disseminar que o homem, como um ser racional, era criado a imagem e semelhança de Deus e as pessoas com deficiência passaram a serem vistos e serem merecedores de cuidados. Assim, segundo Omote (1999), as pessoas com deficiência passaram a não ser mais abandonadas e passaram a buscar e conquistar seus direitos, iniciando uma longa busca em direção as conquistas para uma vida digna e integral, abandonando os porões, asilos e outras instituições. Segundo Sassaki (2002), termos como aleijado; defeituoso; incapacitado; inválido, eram utilizados até a década de 80. Entretanto, segundo o autor, a partir de 1981, com a influência de mudanças pensadas para as pessoas com deficiência e o ano internacional da pessoa com deficiência uma nova terminologia passou a ser utilizada. Assim, Sassaki (2005) pontua que a terminologia aplicada atualmente é ―pessoa com deficiência‖. Ainda o autor destaca que nunca houve um termo que fosse mais correto ou único para estas questões, contudo, existe um consenso de que este termo não camufla ou esconde a deficiência, auxilia a não aceitar a ideia de que todos possuímos alguma deficiência, valoriza as diferenças e as necessidades em decorrência da deficiência, entre outros fatores que auxiliam a entender os motivos que levaram a esta classificação. Isso nos mostra claramente uma preocupação em estabelecer termos que busquem valorizar as pessoas com deficiência, mostrando que há de fato alguém que se apresenta antes de sua característica de déficit e que deve ser valorizada, respeitada e receber o tratamento e as oportunidades que lhes são de direito. Deste modo, Aranha (2000), relata que a ideia de inclusão está sustentada em uma filosofia que reconhece e legitima a diversidade na vida em sociedade, de modo que isso signifique a garantia de todos, a todas as oportunidades independente de cada característica de cada indivíduo e/ou grupo 18 social. A ideia de coletividade e oportunidade de participação de todos é algo bem claro quando pensamos nas questões que elucidam uma sociedade que busca a inclusão. Luz (2003) aponta que o ano de 1990 foi um marco fundamental para o processo de inclusão social. Nesta data a Assembleia Geral da ONU descreve o que é uma sociedade inclusiva e também denomina a ―Sociedade para todos‖. Nesta proposta a autora afirma que a sociedade deve estar estruturada para atender às necessidades de cada cidadão, baseando-se no princípio de que todas as pessoas têm o mesmo valor perante a sociedade, onde, uma sociedade aberta às diferenças é aquela em que todos se sentem respeitados e reconhecidos nas suas diferenças. Com este paralelo traçado entre as questões que circundam a exclusão social e as ações que favorecem o processo inclusivo das pessoas que se encontraram hoje à margem social percebeu que esta discussão ganha forças na medida em que entendemos que todas as pessoas são parte integrante de nossa sociedade e como tal, devem ter os seus direitos respeitados e, sobretudo, devem receber condições de se desenvolverem de forma plena e integral, fazendo valer os seus direitos estabelecidos nas leis. Nossas discussões permeiam o universo da inclusão das pessoas com deficiência em uma sociedade que ainda necessita de diversas transformações, mas entendemos que o processo é muito mais amplo e envolve diversos grupos que de alguma maneira ainda não são plenamente contemplados. Deste modo, Moreira (2006) relata que um dos grandes desafios para a sociedade moderna é trabalho com foco nas questões referentes à inclusão social em nosso país, uma vez que, devido a uma série de razões históricas, houve um latente acúmulo no conjunto de desigualdades sociais, sobretudo em aspectos tais como a distribuição de riquezas, terras, acesso a bens materiais e culturais e aprimoramento do conhecimento. Assim, a inclusão neste contexto pode ser entendida como ―a ação de proporcionar para populações que são social e economicamente excluídas...oportunidades e condições de serem incorporadas à parcela da sociedade que pode usufruir esses bens.‖ (MOREIRA, 2006, p.11). Através destas informações podemos perceber que, para uma sociedade 19 inclusiva, são necessárias algumas transformações a fim de garantir as oportunidades de que todos se desenvolvam, sobretudo que sejam garantidos o acesso às necessidades básicas de cada indivíduo e, na medida em que a pessoa tem contanto com as mais diversas esferas sociais, aumentam as possibilidades de desenvolvimento e crescimento integral . Embora exista a necessidade de segmentar as mais diversas esferas sociais a fim de obter uma maior compreensão das necessidades de transformação, a partir destas reflexões fica evidente que independente de quais aspectos sociais estamos tratando, há necessidade de oferecer condições iguais de participação e desenvolvimento para todas as pessoas, de forma que possam alcançar o desenvolvimento pleno de suas necessidades. O esporte, como esfera social, também não pode ficar alheio as transformações buscadas pelo processo inclusivo. Pensar em um modelo de sociedade inclusiva nos moldes atuais, nos faz retomar a história da construção social com o olhar para as pessoas com deficiência. Quando levamos em consideração as questões voltadas à igualdade devemos ter em mente que estamos tratando, segundo Bobbio (1996) de uma condição humana, na qual cada indivíduo deve ser, na sua singularidade, livre e deve estar com os demais indivíduos em uma condição igual. Isso nos remete ao fato de que todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades. Deste modo, quando levantamos as questões acerca da pessoa com deficiência entendemos que, na mesma proporção, devem ser respeitados os direitos e oferecidas as oportunidades para que as pessoas com deficiência tenham condições iguais de desenvolvimento e participação social. Neste sentido, não buscamos afirmar que as pessoas devem ser iguais, mas deveriam obter as mesmas possibilidades de se desenvolver e evoluir suas competências com a mesma igualdade de oportunidades que toda sociedade, independente dos fatores intrínsecos ao individuo que possam dificultar a sua formação em todas as esferas sociais. Ao encontro deste posicionamento podemos exemplificar utilizando o que 20 sugere Maciel (2000) quando afirma que a inclusão social da pessoa com deficiência traz na essência da discussão a equiparação das oportunidades, uma interação mútua entre pessoas com e sem deficiência e acesso aos mais diversos recursos da sociedade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) afirma no Artigo I que: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos...” e o Artigo II alega que: Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. Estas informações relevantes nos mostram que, costumeiramente, na falta de uma equiparação de oportunidades, os direitos a livre acesso passam a não serem respeitados quando as possibilidades das pessoas, como por exemplo, as com deficiência, são impedidas de participarem das atividades de contexto social por encontrar dificuldades na locomoção pelas inadequações dos locais, falta de adaptações para circulação de cadeiras de rodas ou até mesmo situações que colocam em risco as pessoas com deficiência visual, auditiva e intelectual, pois as adaptações necessárias não são realizadas para atender toda a demanda populacional. Assim, percebemos que pensar a inclusão das pessoas com deficiência no contexto social vai além das barreiras físicas ou até mesmo dos pré-conceitos que estão inseridos nas atitudes e comportamentos de uma parcela da população que não apresenta características de deficiência. É entender que este conjunto de fatores pode fazer com que as potencialidades de uma população economicamente ativa que hoje é ciente de seus direitos e deveres e crítica em relação às suas necessidades, não se desenvolvam de forma equiparada com o restante da população. Outros empecilhos referem-se ao atendimento nos mais diversos ambientes, de modo que, muitas vezes, as pessoas que prestam serviços não possuem o conhecimento necessário para atender as necessidades da população com alguma especificidade, fazendo com que o direito de igualdade não seja cumprido. Portanto, para que possamos pensar na perspectiva de uma sociedade 21 inclusiva, igual em direitos e oportunidades, fica evidente a necessidade de transformação social, desde seus aspectos físicos até as questões atitudinais e procedimentais de toda a população. Nesta perspectiva, Luz (2003) aponta que a ideia da inclusão é uma manifestação contemporânea que vem sendo defendida e difundida nos mais diversos setores da sociedade. Portanto, segundo Peranzoni e Freitas (2000), é necessário que busquemos uma sociedade inclusiva a que todos tenham acesso e onde sejam respeitados os limites de cada um, sendo dado espaço a todas as pessoas para que elas possam crescer e transformar cada dia mais o seu meio, rompendo com muitas das barreiras que lhes são impostas. 1.2 INCLUSÃO Quando colocamos em foco a inclusão social da pessoa com deficiência, Pedrinelli e Verenguer (2008) relatam que os modelos sociais anteriores tratavam das pessoas com deficiência com segregação, quando essa população era colocada em instituições especializadas como única opção e também como cura ou prevenção, pois o olhar, muitas vezes, mantinha o foco nas questões da limitação, doença ou invalidez, limitando e podando a oportunidade de interação com o meio em que habitavam. Diniz, Barbosa e Santos (2009) apontam que o posicionamento das pessoas com deficiência frente à sociedade, através de uma nova visão sobre a deficiência, deixou de tomar proporções de alienação. Podemos perceber as preocupações voltadas a questões inclusivas, já em afirmações como de Mantoan (1997, p. 137), o processo de inclusão perpassa pela ―modificação da sociedade como pré-requisito para a pessoa com necessidades especiais desenvolver-se e exercer a cidadania‖. Aranha (2000, p.4) afirma que a inclusão pode ser compreendida como o processo de acesso imediato e contínuo garantido à pessoa com deficiência aos espaços comuns da vida social independentemente do tipo e grau de deficiência apresentada pelo individuo. Como discutido anteriormente, a transformação é um pré-requisito para termos um ambiente de oportunidades, para que cada pessoa possa exercer seu 22 papel frente às oportunidades oferecidas, fazendo valer seus direitos previamente estabelecidos. Assim, De acordo com Sassaki (1997), a prática desta inclusão social, educacional, paira em princípios até então considerados incomuns, tais como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência com diferentes grupos sociais e a aprendizagem através da cooperação. Mais uma vez vemos que a sustentação do processo inclusivo esta sobre o pilar da participação de todos os envolvidos no processo, seja o aluno com deficiência, professores, colegas e familiares. Para Cidade (2006) cada pessoa possui uma posição única frente às relações sociais, de modo que, cada indivíduo acaba sendo inserido em um contexto de grupos sociais já existentes antes dele, fazendo com que a formação individual dependa das estruturas de relações humanas em um determinado padrão social. Uma vez que cada pessoa tem uma representação única, significa que possivelmente suas necessidades nem sempre serão comuns a todos, de forma que devemos estar prontos para atender as necessidades desde as mais comuns às mais complexas. Com esta análise é possível evidenciar a necessidade existente das transformações sociais para que as pessoas com deficiência possam se desenvolver como indivíduos, pois as condições de exclusão social são, em sua essência, um grande facilitador para o não desenvolvimento das potencialidades de cada sujeito. Diniz et al (2009) apontam que a exclusão existente na sociedade não é algo natural ou predeterminado, mas, é uma problemática evidenciada pela cultura da normalidade, levando os impedimentos corporais como objetos à vida social. Assim, vemos que a sociedade moderna apresenta características clássicas das condições de segregação, pois fica evidente que as possibilidades de estabelecer condições de vida e relações sociais ficam limitadas às características que a população apresenta em comum, de modo que, as diferenças não são contempladas, deixando ainda mais claro as condições exclusivas. Isso ocorre porque, segundo Duarte e Santos (2003), alguns preceitos não são respeitados, tais como: o respeito ao outro, considerando sua origem social, seus hábitos e as próprias características como um ser humano diferente e também as questões do diálogo, que está inserido em qualquer tipo de relação humana. 23 Assim, o processo de incluir alguém vai além de apenas uma integração com o meio em que vivemos; segundo Filho (2001) a inclusão passa a ser uma nova concepção de mundo e de relacionamentos humanos onde incluir passa a ser muito mais do que apenas frequentar os mesmos espaços, incluir passa primeiro pelo processo de enxergar o outro, de realizar um processo de interação com o outro, de forma que, nos aproximamos e deixamos o outro se aproximar e com isso, podemos perceber as reais necessidades que são apresentadas no cotidiano das relações. A partir deste discurso vemos que, frente às relações sociais, todas as questões que fogem daquilo que é caracterizado como condições comuns para a população sem deficiência acabam sendo colocadas às margens das discussões e, por sua vez, ficam distantes do olhar da transformação e das mudanças necessárias para alterar as condições de exclusão. Neste sentido Oliveira e Rodrigues (2006) apontam que, para que haja inclusão é necessário que a pessoa considerada diferente integre ou faça parte de um grupo que deverá sofrer transformações e adaptações a fim de aceitar as diversidades que emergem entre cada um dos indivíduos. Nesta afirmação, nos parece claro que o processo inclusivo apresenta, como eixo de extrema importância, a derrubada das barreiras que impedem a participação das pessoas com alguma característica de deficiência no ciclo social, possibilitando a sua interação com o meio e, por consequência, fazendo valer a sua representatividade em meio ao contexto que está inserido. Entretanto, ―O processo inclusivo se mostra como aquele que foi longamente discutido teoricamente, mas que se apresenta distante da realidade das pessoas com deficiência.‖ (SALERMO, 2009, p. 11). Esta distância entre o que é produzido pela comunidade acadêmica e o que aplicado em nossa sociedade vai interferir diretamente no desenvolvimento das condições de acesso e acessibilidade das pessoas com deficiência, haja vista que, se a prática não acompanha a teoria, então temos uma produtividade acadêmica engavetada e uma sociedade que não avança rumo ao desenvolvimento das transformações para se tornar acessível a todos em suas mais diferentes esferas, acarretando novamente em um ambiente de exclusão daqueles que dependem das mais diversas adaptações para exercerem os 24 seus direitos. Ao encontro destes fatores, devemos levar em consideração que a pessoa com deficiência deve se tornar parte do processo, buscando seu espaço e não apenas manter-se de forma passiva como espectador, esperando que as modificações ocorram para que, a partir de então se manifeste. Assim, o processo inclusivo, ―para sua concretização é necessário ter consciência de que este é um processo pelo qual a sociedade e a pessoa com deficiência procuram adaptar-se mutuamente, através de uma equiparação de oportunidades‖ (CORDEIRO, 2010 p. 139). As afirmações acima nos parecem de extrema relevância, pois observamos que pesquisadores voltados às questões inclusivas continuam produzindo e publicando novos estudos como Rodrigues (2003), Stelmachuk e Mazzotta (2012) e Bissoto (2013), porém com conteúdos e resultados muito semelhantes aos encontrados anos atrás, como nas discussões de Rosadas (1989), pois nestes estudos ainda encontramos predominantemente problemas referentes ao atendimento as pessoas com deficiência, sobretudo com o foco nas questões educacionais, mostrando que é necessário não apenas diagnosticar e levantar as necessidades de transformação, mas sim proporcionar condições e métodos para que as reais necessidades sejam supridas e as modificações sejam feitas. Ao encontro destas informações, o Decreto Federal 3.298/99 mostra que as pessoas com deficiência tem assegurado o pleno exercício dos seus direitos básicos, tais como educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam seu bem-estar pessoal, social e econômico, de modo que cabe ao poder público resguardar e fazer valer que os mesmos sejam cumpridos. Entretanto, o que conseguimos observar é que a adequação social caminha a passos lentos para a inserção e inclusão da pessoa com deficiência nos diversos ambientes sociais, fazendo com que grande parte desta população permaneça margeada e sem acesso, proporcionando um alienamento involuntário dos indivíduos excluídos socialmente. Em outras palavras, 25 os indivíduos deixam de participar ativamente da vida social por não ter acesso aos seus direitos. A inclusão das pessoas com deficiência no circulo social parte de uma troca bilateral de forma que os sujeitos devem abandonar o próprio preconceito de si e buscar o espaço social que lhe é devido, ao passo que a sociedade tem como obrigação fundamental de preparar e se adequar para que o atendimento a toda população seja de forma justa e igualitária, fazendo com que as pessoas possam gozar de uma igualdade de direitos e de oportunidades. Mazzotta e D´Antino (2011) relatam que as condições inclusivas que englobam o Lazer, a Cultura e a Educação e os demais ambientes sociais são construídas na prática diária das diversas relações interpessoais, sociais e politicas, fazendo com que as diferentes maneiras discriminatórias, os preconceitos e situações excludentes que se refiram às pessoas com deficiência sejam minimizados. Portanto, as tendências inclusivas englobam, transformação não só física como atitudinal e cultural, uma vez que as raízes dos preconceitos e das discriminações continuam resistindo, seja nas questões intrínsecas às pessoas ou nas ações extrínsecas, nas dificuldades físicas do acesso e das transposições das barreiras que impedem a evolução social. 1.3 ACESSIBILIDADE Quando tratamos das complicações e das dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam para cumprir determinado objetivo, devemos ter claro se estamos pensando nas questões pertinentes à acessibilidade ou sobre o acesso às mais diversas situações da vida cotidiana. Segundo Manzini (2005), o acesso é o processo existente pelo qual buscamos uma tentativa ou desejo de mudança para alcançarmos nossos objetivos. Já o termo acessibilidade, aponta para questões mais mensuráveis ou que possam ser medidas e se submetem às análises concretas, de modo que podem ser implementadas, entre outras possibilidades. 26 Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2004, p. 2), acessibilidade é entendida como a ―possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos‖. O termo acessível é considerado ―espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida‖ (IBDEM). Assim, ser acessível implica tanto acessibilidade física como de comunicação e estar adaptado, nos remete à estrutura alterada para ser acessível. Porem, sabemos que a questão da acessibilidade vai além dos aspectos físicos. Segundo a Lei de Acessibilidade (BRASIL, 2000) Capítulo II Art. 3º aponta que: O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Sob os preceitos legais, o acesso aos ambientes deve ser disponibilizado a todos e, portanto, existe a necessidade de adequar todas as estruturas para que sejam minimizadas as limitações em relação às barreiras arquitetônicas, proporcionando o acesso a todos. Entretanto, muitos destes direitos esbarram nas barreiras já mencionadas. Assim, segundo Pagliuca, Aragão, Almeida (2007), Independente do seu caráter, as instituições de qualquer ordem são responsáveis pela segurança dos seus usuários. Segundo Lima, Freitas e Santos (2013), a acessibilidade é a possibilidade de viver o espaço urbano e de fato isso nos permite questionar até que ponto as pessoas com deficiência tem a possibilidade de interação com o meio em seu dia a dia. Essa afirmação apresenta uma realidade onde a participação das pessoas com deficiência nos ambientes sociais, muitas vezes acaba gerando uma situação de dependência sobre as possibilidades que a própria sociedade oferece, uma vez que as necessidades não são supridas e proporcionam um aumento das limitações de interação com o próprio meio em que as pessoas estão inseridas. Neste sentido, Anselmo e Voltolin (2010) afirmam que a inclusão se fará 27 quando a sociedade se mostrar receptiva ao direito à acessibilidade da pessoa com deficiência e começar a indagar-se sobre a melhor forma de oferecer esse acesso. De fato, é necessário que modificações sejam realizadas para que seja possível proporcionar um maior envolvimento das pessoas com deficiência nas mais diversas situações da vida em sociedade, mas é necessário que tenhamos um reconhecimento do valor das diversas e da necessidade de valoriza-las no sentido da promoção de oportunidades para todos, uma vez que, segundo Lima, Freitas e Santos (2013), as barreiras físicas podem se configurar como um forte agente excludente das pessoas com deficiência na medida em que limita o comparecimento dessas pessoas nos ambientes sociais. Fernandes e Lippo (2013) afirmam em seu estudo sobre a acessibilidade universal na sociedade contemporânea que a conexão entre os pontos que dificultam a participação das pessoas com deficiência pode ser sintetizado no não reconhecimento das diferenças individuais, pois, as pessoas que acabam se encaixando nos moldes da cultura da normalidade tem uma maior possibilidade de inserção social do que as pessoas que apresentam maiores necessidades, ocasionando um grande desafio para vencer as barreiras e conseguir sua participação. Nesta perspectiva, fazer parte das ações sociais sempre será um esforço de superações das dificuldades impostas, rompendo com as hostilidades que emergem do fato de nossa sociedade não ter reconhecido a diversidade enquanto característica peculiar de uma sociedade buscar as condições de adequação para que todos os indivíduos sejam capazes de desenvolver-se e construir sua vida social com as mesmas condições de qualquer outra pessoa. Essas afirmações nos trazem uma reflexão sobre as diferentes necessidades que as pessoas com deficiência necessitam vencer diariamente para que seja possível desenvolver-se e participar da vida social de forma plena. Assim, os desafios frente à acessibilidade vão além das barreiras impostas pelas dificuldades arquitetônicas de construções ou ambientes públicos. Para ilustrar esta discussão, os estudos de Castro et al (2011); Mazzarino, Falkenbach e Rissi (2011); Almeida, Nunes e Zoboli (2012) e Mano et al 28 (2013), deixam claro que problemas relacionados com a acessibilidade são visualizados nas mais diversas facetas sociais. Castro et al (2011), trazem na essência do estudo a relação entre as pessoas com deficiência e o Serviço Único de Saúde, apresentando diversos problemas em relação à acessibilidade e ao acesso aos serviços de saúde. É possível perceber que não existe uma desigualdade no atendimento e, na visão das pessoas com deficiência, ainda existe a necessidade de significativas mudanças para que possam gozar de um bom atendimento. Mazzarino, Falkenbach e Rissi (2011), em seu estudo de caso sobre a inclusão de uma aluna com deficiência visual na educação física escolar apresenta uma realidade onde, muito embora as dificuldades sejam superadas pelos comportamentos solidários de alunos e professores, ainda são evidenciados problemas nas questões referentes à acessibilidade no ambiente escolar. Almeida, Nunes e Zoboli (2012) discorrem a respeito das questões relacionadas ao lazer e a participação das pessoas com deficiência. Neste estudo é apontado que o lazer é uma das faces sociais de extrema importância, pois está ligada a população como um dos principais direitos previstos pela constituição Brasileira e mesmo com esta condição, ainda sofre com a negação pela sociedade. No que tange as relações entre o lazer e as pessoas com deficiência, este estudo afirma que algumas ações foram tomadas para melhoras as questões de acessibilidade para pessoas com deficiência, entretanto, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que todos possam ser contemplados uma vez que a construção ambiental do espaço que foi objeto deste estudo, as diferenças ainda não são valorizadas e colocam em cheque as condições de ir e vir e de acesso ao lazer. Já Mano et al (2013) apontam em seu estudo as problemáticas da acessibilidade nos transportes públicos na visão das pessoas com deficiência em uma grande cidade do Brasil. Este estudo aponta para uma profunda defasagem no sistema de transportes, mostrando que às políticas públicas de inclusão e acessibilidade, voltadas às pessoas com deficiência nos transportes públicos, tem sido insuficientes para o atendimento das reais necessidades desse público, de 29 modo que a acessibilidade e mobilidade urbana são vistas de forma negativa pela população com deficiência. Podemos perceber que em diversas áreas de nossa sociedade, as questões que englobam a acessibilidade e as possibilidades de desenvolvimento das pessoas com deficiência ainda são limitadas por barreiras que continuam a impedir a sua plena participação nos ciclos sociais acarretando um afastamento das atividades que, legalmente, deveriam ser de direitos de todos os cidadãos, inviabilizando o desenvolvimento integral de todos. Porém, sabemos que apenas a estrutura física não nos garante o acesso. Deste modo, a prática de atividades esportivas em ambientes público deve ser garantida e os locais propícios às atividades devem estar devidamente adaptados para proporcionar que todos tenham igualdade de oportunidades. Entretanto, não apenas os locais públicos apresentam obrigatoriedade legal de se adequarem às necessidades das pessoas com deficiência, pois, no Capítulo V art. 13 mostra que os edifícios e construções devem seguir os requisitos mínimos de acessibilidade, sendo os seguintes: “Percurso acessível que una as unidades com o exterior e com as dependências de uso comum; Percurso acessível que uma a edificação à via pública.” Deste modo, nos parece que as instituições privadas, entre elas as que trabalham com a prática esportiva, também devem manter as condições ideais para que a pessoa com deficiência tenha condições de usufruir das atividades propostas pelos programas esportivos. Winnick (2004) aponta que um ambiente inclusivo para a prática de esportes deve ser utilizado de forma que sejam prontamente acessíveis para as pessoas com deficiência, de modo que a acessibilidade pode exigir mudanças nas estruturas físicas já existentes a fim de que todos possam gozar de uma participação plena nas atividades esportivas. Segundo Rodrigues (2008) os ambientes inclusivos devem ter como um dos eixos, derrubar as barreiras que impedem o acesso das pessoas com deficiência e seguir os moldes da legislação, adaptando e reconstruindo as condições de acessibilidade, o que, de fato, favoreceria o ingresso e a manutenção 30 da permanência destas pessoas nas mais diversas atividades. Entretanto, é evidente que apenas as adaptações para minimizar as barreiras arquitetônicas não constituem um ambiente de inclusão por si só, pois outros fatores também se apresentam como preponderantes para uma ação inclusiva positiva. Faz-se necessário proporcionar condições de acesso. Sob as perspectivas acima, Barrozo et al (2012) mostraram que é fundamental que as questões referentes a acessibilidade, temática bastante discutida atualmente, sejam aprofundadas, pois, são fatores fundamentais para que realmente tenhamos um ambiente inclusivo. Contudo, não podem ser deixados de lado os questionamentos que vão além do fato de minimizar as barreiras arquitetônicas. Deve-se levar em consideração as barreiras atitudinais das pessoas que são direta ou indiretamente responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos arquitetônicos, pessoas ligadas ao processo de participação das pessoas com deficiência ou até mesmo os usuários dos ambientes comuns. Deste modo, vemos que romper com as barreiras de acesso é muito mais do que apenas fornecer condições de ambientes adaptados. É fundamental que as barreiras referentes ao atendimento sejam minimizadas a fim de proporcionar condições para que todos possam usufruir, de maneira igualitária, das práticas esportivas que são legalmente de direito de todos. Portanto, quando levantamos as questões referentes à acessibilidade, temos ciência que a problemática vai além das barreiras arquitetônicas. Outro fator fundamental são as barreiras atitudinais enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Reis et al (2010), Lima (2011) e Stelmachuk e Mazzotta (2012) relatam que ainda há profissionais de Educação Física que apresentam dificuldades em atender as pessoas com deficiência no trabalho inclusivo, colocando em evidência não só o processo de formação como uma lacuna nos conhecimentos referentes a deficiência e ao modo como atuar frente a esta realidade mas também as necessidades de intervenções capazes de favorecer e fortalecer o processo inclusivo sob esta perspectiva. Neste mesmo prisma, Carvalho, Bessa e Silva (2011) afirmam que apesar 31 dos avanços no ―processo de inclusão‖, pouco se caminhou em relação às condições de trabalho do professor de Educação Física, demonstrando ainda resistência e sentimento de inadequação diante dos desafios apresentados neste processo. Assim, Omote, Oliveira, Baleotti e Martins (2005) os professores necessitam de suporte de varias ordens para que possam desenvolver o trabalho adequado sob a ótica da inclusão, tais como: materiais instrucionais apropriados, apoio de pessoas especializadas e compromisso dos gestores para lidar com situações que requeiram medidas particulares como treinamento e supervisão. Existe a necessidade de um maior tempo de planejamento para que haja o preparo de atividades que de fato coloquem em prática a proposta inclusiva, práticas pedagógicas inovadoras e se possível até mesmo a redução do número de alunos por turma. Neste sentido, Filho et al (2011), afirma que, em relação à formação profissional dos educadores físicos, ainda existem pontos que deixam a desejar no processo inclusivo pois, ainda que exista uma legislação que trate sobre a obrigatoriedade de disciplinas de Educação Física Adaptada nos currículos dos cursos de graduação desta área, há ainda a falta de condições pedagógicas, didáticas e humanas. Mesmo com todas essas necessidades apresentadas, os professores não devem abandonar o objetivo de promover o desenvolvimento de todos os alunos assim como afirmam (NOZI e VITALIANO 2012, p.344) quando relatam que além dos conhecimentos e habilidades que todos os professores devem adquirir e desenvolver no exercício da profissão, a capacidade que eles têm de se comprometer com a educação de todos os alunos, com ou sem deficiências, ainda é uma questão fundamental para o sucesso de práticas inclusivas, é um imperativo ético da profissão docente. Através deste posicionamento podemos evidenciar que, para que o professor consiga romper as barreiras atitudinais e tenha a possibilidade de se colocar a frente do processo inclusivo é necessário uma serie de transformações e ações que visem uma reestruturação do ambiente, proporcionando situações que 32 venham a colaborar com a proposta inclusiva. O processo formativo destes profissionais também não pode ser descartado. Segundo Pedrosa et al (2013), os professores de Educação Física que participaram de seu estudo, relataram que, ainda que exista um grande emprenho em trabalhar para a efetivação da inclusão, existem dificuldades para que a sua prática seja efetiva, de modo que o professor deve caminhar lado a lado com a formação continuada como ferramenta para que ele seja capaz de desenvolver competências para atuar com o processo inclusivo. Especificamente no esporte, Costa e Winckler (2012) apontam que muitas vezes o ambiente esportivo é cenário para técnicos que possuem experiências apenas de vivências como atletas, de modo que no esporte para pessoas com deficiência isso também pode ocorrer. A possibilidade de sucesso pode ser reduzida e a falta de conhecimento sobre as questões da deficiência podem acarretar em comprometimento da saúde, desempenho e até mesmo da inclusão social das pessoas com deficiência. Pedrinelli e Nabeiro (2012) colocam que neste processo o professor ou técnico deve assegurar reciprocidade, equilíbrio de poder e afetividade entre os atletas, pois estes estão em constantes mudanças e sofrendo influencias diretas do contexto onde estão inseridos. Refletindo sobre essa problemática, percebemos que é de suma importância que os profissionais que atuam no processo inclusivo da pessoa com deficiência no esporte tenham conhecimento sobre os conteúdos e processos a serem trabalhados e desenvolvidos para que seja possível facilitar a participação de todos e possibilitar que haja o desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades. 1.4 ESPORTE EDUCACIONAL O esporte em uma perspectiva global nos apresenta uma gama de possibilidades, podendo se expressar nas mais diversas formas, estilos locais e 33 representações sociais com diversos personagens e atores deste movimento cotidiano. Assim, Vianna e Lovisolo (2011) afirmam que o esporte é um meio importante de socialização por conseguir atingir valores como coletivismo, amizade e solidariedade, que são relevantes para vencer dificuldades. Com inúmeras possibilidades de manifestar-se, o esporte também pode apresentar-se na perspectiva da formação educacional dos indivíduos. Sobre essa manifestação, Viola et al (2011) afirmam que o espore, como sendo um fenômeno de múltiplas possibilidades, entre sujeitos, cenários e significados é possível afirmar que uma de suas características principais no cenário educacional e oportunidade de oferecer a formação da autonomia para o aluno que o pratica. Neste mesmo sentido, Bento (2000 apud Costa e Winckler, 2012) o Esporte é uma palavra de diversos significados e possibilidades e é um cenário em que a educação física encontra uma de suas ferramentas de intervenção mais eficiente e valiosa. Assim, o esporte pode ser visto através de diferentes visões e formas diversas formas de manifestações. Faz-se necessário entender um pouco mais sobre o fenômeno social que está presente em todo o globo terrestre. Em sua tese de doutorado, Proni (1998) traz algumas linhas sobre o desenvolvimento das práticas esportivas e suas finalidades. Assim, uma das linhas é baseada na teoria do historiador Richard Mandell que aponta algumas culturas antigas da Europa e grandes povos do continente americano deixaram registros de atividades recreativas e teatrais que podem ter ligação com o esporte que conhecemos. Nessa linha de raciocínio, o que hoje conhecemos como esporte moderno apresenta muitas características de relatos passados, tais como corridas de cavalo e combates entre lutadores, que causaram excitamento e satisfizeram aspirações sociais durante milênios. Outra visão da constituição das práticas esportivas que, segundo o autor, pode até ter se tornado senso comum, é de que o esporte tenha surgido espontaneamente durante a idade do ouro na Grécia clássica onde teve experiência gloriosa e então teria desaparecido e renascido posteriormente através dos jogos modernos. 34 Com relação ao esporte moderno, Rubio (2002) afirma que o esporte nasceu, cresceu e tem se desenvolvido no seio da sociedade urbana e industrial sujeito às adaptações particulares da vida política, econômica e social moderna. Sua prática atual surge pela primeira vez na Inglaterra, no mesmo momento, e não por casualidade, em que se inicia a Revolução Industrial. Independente de sua origem, certo é que estamos diante de um elemento social capaz de envolver as pessoas e trazer mudanças significativas para seus praticantes. Assim, Rubio (2002) afirma que o esporte é um fenômeno cultural complexo e de grande importância para a sociedade contemporânea, capaz de anunciar e denunciar inúmeras manifestações latentes nos diversos grupos sociais. Quando pensamos a inclusão da pessoa com deficiência no esporte, vemos que segundo Pedrinelli e Nabeiro (2012) significa oferecer a oportunidade e incentiva a adesão de qualquer pessoa com deficiência à prática esportiva e a oferta e a diversificação de programas esportivos constitui um verdadeiro desafio, já que na maioria das vezes programas voltados para esta característica de inclusão são escassos ou inexistentes. As autoras afirmam ainda que o esporte como meio para a inclusão visa ―a promoção da aceitação social...cujos valores e preceitos norteiam as politicas de apoio e intervenção.‖ (PEDRINELLI e NABEIRO, 2012, p.21). Quando tratamos das questões relacionadas ao esporte neste estudo, temos clareza de que existem diversas maneiras de manifestação da prática esportiva e que segundo Paes e Balbino (2002), o esporte pode ser um grande facilitador da vida humana quando pensamos na busca pela qualidade de vida em todos os segmentos da sociedade. Entretanto, segundo Silva (2007) o desenvolvimento das práticas esportivas no país se configura assim como a situação do país em um modo geral, onde é possível verificar injustiças, desigualdades e baixo investimento na garantia desse que também é considerado como um direito fundamental. Segundo Costa e Winckler (2012), o esporte educativo tem como eixo principal o processo de ensino-aprendizagem, onde para as pessoas com deficiência pode ser considerado um canal para as possibilidades de movimento ou interação com o meio, de modo que viabilize o acesso às pessoas com deficiência a novos 35 contextos de inserção que um dia foi limitado. Quando caracterizamos o modelo de esporte educacional devemos ter em mente que estamos tratando de características que o distingue das demais práticas por levar em consideração elementos anteriormente não significantes, de modo que, Gimenez, Abad e Robles (2009) mostram que a Proposta de sequencia da Educação Física, do Ministério da Educação Espanhola define algumas características ao Esporte Educacional, como um caráter mais aberto, voltado para todos aqueles que queiram participar das práticas esportivas, minimizando as situações de descriminação por qualquer motivo. Somado a esses elementos, o esporte educativo terá objetivos que vão além das competências motoras, de forma que contribua para um fortalecimento da educação de forma global. Por fim, visa utilizar de abordagens que buscam sobrepor-se ao excessivo valor dado aos resultados, buscando outros elementos importantes que o desporto possa oferecer, fortalecendo uma formação mais útil e educativa aos participantes. Com estas informações, podemos enxergar que este modelo de trabalho com o esporte apresenta um claro desprendimento com a busca pelo resultado e desempenho, possibilitando que qualquer pessoa seja capaz de participar e se desenvolver através de uma prática esportiva saudável, sem que haja, de fato, uma cobrança excessiva em busca de determinados objetivos. Assim, este modelo esportivo pode ser levado ao encontro das práticas esportivas voltadas para o modelo inclusivo, uma vez que a grande preocupação está na participação de todos e não nas condições competitivas que cada pessoa pode oferecer. Neste cenário educacional através do esporte, Barbieri (1999) aponta algumas diretrizes para a prática do esporte educacional, tais como: - As atividades deverão ser dirigidas no sentido da pedagogia do Esporte como meio de Educação; - Os alunos participantes deverão vivenciar um processo educativo que, centrado em suas necessidades fundamentais (de afeto, segurança, realização e valorização), contribua para a consolidação de sua identidade pessoal e social; seja mais uma oportunidade na busca de equilíbrio entre o individual e o coletivo, 36 permitindo que cada um possa compreender a contribuição de sua ação individual na construção do coletivo. Percebemos através de estudos, tais como os de Zilio (1994), Bracht (2000), Taffarel (2000), Pinto (2009), Kravchychyn e Oliveira (2012), que este modelo esportivo, com grande frequência é debatido e estudado em ambientes escolares. Contudo, esta vertente do esporte pode ser aplicada nos mais diversos ambientes de práticas esportivas, tais como praças esportivas, projetos sociais e clubes esportivos. Este modelo esportivo, quando bem trabalhado, segundo Sanches e Rubio (2011) pode ser caracterizado como ferramenta de grande intervenção e desenvolvimento psicossocial além das contribuições físicas e sociais para seus praticantes. Esta manifestação esportiva caminha de encontro às características do esporte de rendimento que, segundo Muniz e Borges (2013), é responsabilizado por disseminar contra valores educativos, competição excessiva, dominação dos indivíduos e aumento das desigualdades sociais. Entretanto, segundo Sanches e Rúbio (2011) se esta prática for conduzida segundo as diretrizes da educação pelo esporte, ela será um excelente veiculo de contribuição para o desenvolvimento saudável do praticante. Entretanto, para que tenhamos a possibilidade de colocar em prática as propostas de inclusão através do esporte e desenvolver a capacidade de todos os participantes, é necessário que os preceitos legais e as propostas sejam colocados em prática e reafirmados pelas políticas de acesso ao esporte. Azevedo e Barros (2004) apontam que após um grande período de exclusão, os indivíduos com deficiência passaram a receber uma atenção maior voltada para as práticas esportivas. Segundo os autores um dos grandes motivos para esse fato é principalmente a pressão exercida sobre os governantes para que os discursos sobre a inclusão sejam, de fato, efetivados na prática. Para que sejamos capazes de compreender a problemática da inserção da pessoa com deficiência no esporte, necessitamos conduzir nosso olhar ao início do processo, pois, entendendo o contexto, somos capazes de questionar as 37 questões atuais das práticas esportivas e as relações com as questões inclusivas. Korsakas e De Rose Jr. (2002), Tubino (2003), Nogueira e Palma (2003), relatam que um marco para o início das atividades pensando no esporte além das práticas competitivas foi o movimento ―Esporte para todos‖. Segundo os autores, este movimento teve início na Europa na década de 1960 e se difundiu por todo ocidente, chegando ao Brasil por volta de 1973. O movimento confrontava as ideias de um esporte destinado a atletas ou pessoas com o biótipo privilegiado, o esporte de alto rendimento. Deste modo, surgiram novas denominações para a prática esportiva para toda a população, tais como: Esporte-Lazer, Esporte de rendimento e Esporte-educação. Outros documentos também passaram a dar subsidio para que o Esporte fosse direito de todos e garantido legalmente. Assim, conforme o art. 1º da Carta de Educação Física e Desporto da UNESCO (1978): Art. 1º: Fica determinado à prática de Educação Física e Esporte como um direito fundamental para todos, que são indispensáveis para o pleno desenvolvimento de sua personalidade, de modo que sejam oferecidas atividades especiais para jovens, compreendendo meninos em idade pré-escolar, pessoas de idade e deficientes, participando de programas de Educação Física e Desportos adaptados às suas necessidades. Com base neste importante documento é possível observar que a preocupação para que o esporte se tornasse um veículo de promoção social e atendesse a toda demanda populacional é legalmente garantido, porém ainda esbarra em condições adversas para que estas ações sejam efetivadas. Entretanto, paralelo a este movimento, a Educação Física e o Esporte, em linhas gerais, são discutidos em outras áreas como, por exemplo, na Educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) aparece como documento que sustenta o formato da Educação Brasileira em 1961, seguida por uma versão em 1971, que vigorou até a promulgação da mais recente em 1996. Neste último documento a Educação Física passa a ser tratada como componente curricular obrigatório Outros documentos apontam a real obrigatoriedade da manutenção e 38 oferta de práticas esportivas para as pessoas com deficiência. Segundo a Política Nacional do Esporte (BRASIL, 2005) hoje a responsabilidade de proporcionar que as pessoas com deficiência possam desfrutar de ambientes esportivos está dividida entre o poder público e as instituições privadas. No mesmo documento ficam evidentes os motivos pelos quais ainda é possível observar a escassez de público e de propostas, bem como as dificuldades costumeiramente transitam por um ambiente de pouco apelo da mídia, número pequeno de atletas em cada entidade, falta de núcleos de iniciação esportiva, dificuldade de patrocínios e recursos públicos insuficientes. Fica visível que as necessidades básicas da prática esportiva para pessoas com deficiência ainda não foram supridas, acarretando em um processo indireto de exclusão pois, na medida em que não existe a possibilidade de acesso por causa das barreiras estruturais e ambientais acabam ocorrendo impedimentos, fazendo com que o número de participantes ou de pessoas com acesso fique reduzido e, portanto, limitando a desenvolvimento dos demais. ―Os poucos projetos que existem partem de iniciativas privadas, de entidades e instituições que firmam parcerias com as secretarias para utilização de espaços públicos.‖ (SILVA e RODRIGUES, 2009, p. 9). Assim, a cada dia fica mais evidente a necessidade de uma transformação física e atitudinal para que, enfim, possamos proporcionar condições de igualdade de acesso e de qualidade nas propostas esportivas oferecidas, fazendo com que as pessoas com deficiência possam gozar da oportunidade de se desenvolver superando as barreiras pessoais e maximizando seu potencial dentro das suas escolhas pessoais. Azevedo e Barros (2004) acreditam que mesmo em nível recreativo ou em nível de alto rendimento, o esporte se apresenta como um dos requisitos para que a pessoa com deficiência possa atingir a dimensão total da inclusão social, pois passa a ser um instrumento simples, barato, de fácil acesso e eficiente. Em se tratando de esporte, há escassez de oportunidades que são oferecidas à iniciação esportiva de pessoas com deficiência e a produção de conhecimento voltada para o atendimento dessa população especificamente é bastante limitada, com poucos estudos tais como os de Azevedo e Barros (2004), Silva e Rodrigues (2009) e Terejo et al (2012), que focam a otimização do trabalho oferecido no esporte inclusivo. 39 Segundo Salermo (2004) a intervenção nos locais de participação da pessoa com deficiência, entre eles o esporte, ainda carece de diferentes estudos e formas de intervenção. Munster e Almeida (2006) apontam que nos programas de atividade motora a diversidade está inserida no contexto da inclusão nos seus mais diferentes aspectos, tais como as estratégias, materiais, conteúdos e objetivos. Ao encontro destas informações, Cordeiro (2010) afirma que em tempos em que o respeito aos direitos humanos é proeminente, deve-se esperar que a sociedade mude seu caráter excludente, não só pela infraestrutura, mas também pelo acesso a atitudes e a programas utilizados de forma a permitir a plena participação de pessoas com deficiência em todos eles. Assim, para Barrozo et al (2012) participar de atividades como o esporte passa a ser uma necessidade de todos, independente da condição que ela apresente, pois essa participação pode proporcionar situações para que a pessoa desenvolva a cidadania além das condições físicas e sociais. Neste sentido, podemos evidenciar que a problemática estabelecida recai sobre os programas de atividade motora e não sobre as condições de deficiência dos alunos, uma vez que existe a necessidade desta prestação de serviços estar pronta para receber todas as pessoas. Silva e Rodrigues (2009) relatam que o processo para que a inclusão e o esporte caminhem juntos ainda é muito longo e para isso existe a necessidade de refletir sobre as ações a fim de iniciar a reorganização dos setores envolvidos neste processo. Para que novas medidas sejam tomadas objetivando o planejamento de programas que atendam esta demanda populacional, faz-se necessário avaliar as condições do atendimento desse público pois, para Araújo e Seabra jr. (1997), a prática esportiva para pessoas com deficiência necessita do envolvimento do governo e da sociedade, haja vista o fato de que esta prática é associada a um grupo que é contrário aos moldes elitistas sociais. Ainda segundo os autores, não há interesse da iniciativa privada nesta prática, pois as chances de retorno são remotas. Nesta mesma perspectiva, Oliveira (2010) afirma que é necessário que exista uma parceria e colaboração entre Estado e o movimento associativo para que, sem prejuízos das competências próprias de cada um, seja possível encontrar caminhos que se encontrem em seu objetivo final a possibilidade de tornar a 40 população mais ativa e saudável. A partir destas afirmações evidencia-se que as propostas e programas com o objetivo de incluir as pessoas com deficiência nas práticas esportivas, recreativas, educacionais ou de alto rendimento são fundamentalmente importantes para que todos tenham a possibilidade de acesso ao ambiente esportivo e possam desfrutar dos benefícios que esta atividade possa proporcionar. Como a oportunidade de prática esportiva deve ser ofertada a todos, faz-se necessário a que tenhamos um controle e uma maneira de verificar, de fato, as ações tem sido afirmativas Deste modo, tão importante quanto o desenvolvimento de novas propostas e projetos que atendam esta demanda populacional, é necessário que o trabalho seja avaliado para que tenhamos a dimensão da eficiência do atendimento. Nesse mesmo sentido, Carreiro, Rangel e Darído (2007) apontam que a avaliação é de extrema importância, pois, os documentos gerados através da avaliação criam uma espécie de memória do que foi produzido, facilitando a construção de novas propostas, melhorias para projetos futuros e ainda aponta benefícios gerados pelas atividades e seus pontos positivos e negativos. Ao encontro destas informações, Ala-harja e Helgason (2014), afirmam que a ampla apresentação dos resultados de um programa através de sua avaliação aumenta a credibilidade e estimula as tomadas de decisões com base nos resultados. Com essas afirmações, podemos perceber a extrema relevância de se conhecer os resultados de uma determinada ação, projeto ou tomada de decisões por intermédio de um bom método avaliativo, possibilitando uma estruturação de novos programas e auxiliando na reestruturação de ações já existentes, com o objetivo de alcançar as metas proposta no inicio das atividades. A construção de um bom programa por si só não é suficiente para que todos sejam contemplados, pois de acordo com Munster e Almeida (2006), respeitar as diferenças e valorizar a diversidade deve ser condições fundamentais para que o programa apresente uma filosofia de inclusão e isso será manifestado na diversidade de metas, currículos e conteúdos programáticos, além dos locais de intervenções adaptados. Segundo os autores, o estilo de trabalho e as intervenções pedagógicas irão externar os valores das pessoas envolvidas no projeto. 41 Para Terejo et al (2012), um modelo de prática esportiva inclusiva pode ser uma mudança positiva em relação às pessoas com deficiência. Com mais atenção aos aspectos referentes ao esporte com foco na inclusão, emergem questionamentos acerca da realidade apresentada no sentido de entender se: O programa de atividade esportiva educacional da Associação Cristã de Moços (ACM) de São Paulo, uma das maiores instituições esportivas do Brasil, é inclusivo para pessoas com deficiência? O esporte na ACM São Paulo apresenta características de segregação? O programa com foco no esporte educacional esbarra na problemática do acesso para pessoas com deficiência? Há perspectivas de planejamento para o atendimento inclusivo da pessoa com deficiência nos espaços de atividades esportivas da ACM de São Paulo? Sob essas condições e inquietações traçamos nosso estudo. 2. C ARACTERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS . Segundo o relatório anual de atividades de 2012, a Young Men‘s Christian Association (YMCA) – Associação Cristã de Moços (ACM) – idealizada em 06 de junho de 1844, pelo jovem George Williams, surgiu na Inglaterra, quando eclodia a Revolução Industrial: um período cujas condições de vida eram precárias, as jornadas de trabalho extensas e as opções de lazer inexistentes. Preocupado com o bem-estar e o futuro de sua geração, Williams inicia as atividades da YMCA, primeiramente promovendo a leitura de textos bíblicos entre os jovens trabalhadores da época, com o objetivo de proporcionar integração e levar mensagens positivas a eles. Grupos como esse, existiam desde o século XVI, pela Europa, contudo, nenhum deles alcançou a dimensão do movimento acemista que, após sete anos, se expandiu e chegou aos Estados Unidos. A juventude ganhou um incentivo ainda maior, ao fincar raízes na América, uma vez que, em 1851, a Instituição uniu os benefícios da prática esportiva, ao desenvolvimento de valores do caráter e do espírito. Atualmente, a ACM / YMCA está presente em mais de 125 países, com, aproximadamente, 12 mil sedes que conectam mais de 45 milhões de pessoas e é 42 considerada uma das maiores e mais antigas organizações de jovens do mundo. Além disso, ocupa uma cadeira no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU). Sua presença em território brasileiro é datada em 1893, sendo a cidade do Rio de Janeiro a sediar sua primeira unidade. A partir deste momento o movimento começa a se expandir e em 1901 surge a ACM do Rio Grande do Sul. Em 1902 foi fundada a primeira unidade da ACM São Paulo, objeto de nosso estudo. Atualmente a ACM São Paulo conta com 12 Unidades de atendimento esportivo e também 20 pontos de atendimento social, onde os atendimentos estão discriminados entre 12 unidades de atividades esportivas, sete centros de desenvolvimentos comunitários (CDCs) e um Centro de Educação Infantil (CEI). A Associação Cristã de Moços de São Paulo conta com cerca de 45 mil pessoas em seu quadro associativo, representando aproximadamente 1% do número de associados em todo o Mundo. Em seu lado assistencial, a ACM SP é registrada na Prefeitura do Município de São Paulo e na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social como uma entidade filantrópica e de utilidade pública. Os registros mais recentes apontam que no ultimo ano cerca de 10.421 pessoas foram atendidas nos programas sociais, além de 1.650 pessoas em iniciação e capacitação profissional e 2.894 pessoas do programa Superveteranos / Terceira idade. Segundo Correa e Filho (2008) a ACM é considerada no Brasil como uma das instituições disseminadoras das atividades físicas e esportivas. Segundo Correia e Filho (2008), isso aconteceu porque a ACM atuou e atua de forma intensa na difusão das atividades físicas e esportivas no Brasil. 3. OBJETIVO Primário: Analisar os pressupostos inclusivos inseridos no programa de esporte educacional da Associação Cristã de Moços de São Paulo. 43 Secundário: Verificar a estrutura do programa com relação ao acesso ao esporte educacional para pessoas com deficiência. 4. JUSTIFICATIVA A produção de conhecimento nesta área mostra que os trabalhos estão polarizados na acessibilidade, nas estratégias, politicas públicas, como o estudo de Falkenbach e Lopes (2010), mas são muito frágeis os trabalhos que focam a especificidade na diversidade como proposto por Pedrinelli (2002). Ao buscarmos entender as diretrizes e os caminhos seguidos para implementação de propostas inclusivas no esporte educacional, vemos que trabalhos como de Azevedo e Barros (2004) tratando as políticas públicas de acesso ao esporte para pessoas com deficiência não são comuns para a literatura e também focam apenas a responsabilidade do estado perante esta temática. Com isso, acreditamos que este estudo poderá colaborar com um entendimento mais profundo sobre as questões levantas a cerca da inclusão esportiva para pessoas com deficiência. Outro aspecto relevante sobre essa temática se deve ao fato de que o trabalho com foco inclusivo recai sobre as condições legais e voltadas para o ambiente escolar. Deste modo, nos é pertinente analisar como o esporte educacional para a pessoa com deficiência é tratado fora das instituições esportivas governamentais. Através desta análise das condições das práticas esportivas educacionais será possível contribuir com projetos esportivos que almejem ser inclusivos e possam com isso, favorecer o acesso e diminuir as condições de exclusão. No universo privado, muitas vezes as propostas estão documentadas, mas não se efetivam (PERONI, 2009). Como o programa de esporte na ACM vem sendo vivenciado por muitos anos é possível que seja identificada a preocupação com a inclusão, porém na prática as ações podem não se confirmar. 44 5. METODOLOGIA O método de pesquisa utilizado para a execução deste estudo teve característica descritiva qualitativa com cunho exploratório e documental com apoio metodológico de Thomas e Nelson (2002) no modelo de estudo de caso. Para a execução desta pesquisa nossa amostra estava inserida no universo das atividades esportivas oferecidas pela Associação Cristã de Moços de São Paulo (ACM). Assim, fizeram parte do estudo as 12 unidades esportivas da ACM, representadas por seus gestores esportivos, bem como o gestor responsável por todas as unidades e o gestor nacional, totalizando 14 entrevistas e 12 participantes, pois 2 dos participantes da pesquisa acumulavam funções dentro do organograma da instituição e, portanto, a amostragem tem caráter não probabilístico. Para ser incluído na amostra o gestor geral ou operacional responsável pela instituição deveria estar na instituição há pelo menos dois anos. O número se justifica pelo perfil escolhido do programa, que agrega a abrangência e inserção nas diferentes regiões da cidade de São Paulo (Norte, Sul, Leste, Oeste e Central) e interior com exceção da cidade de Sorocaba e Santos por se tratarem de um movimento Acemista independente do movimento ACM São Paulo e que possuem um vínculo direto com a Federação Brasileira das ACMs e não especificamente com a ACM São Paulo, enquanto movimento. Assim, farão parte do estudo as ACMs das cidades de Ribeirão Preto, Campos de Jordão, São José dos Campos, Barueri – Alphaville, Osasco, Guarulhos e as representantes das zonas Norte – unidade Norte, zona Sul – unidade Santo Amaro, zona Oeste – unidades Lapa e Pinheiros, zona Leste – unidade Itaquera e zona Central – unidade Centro. Os participantes foram entrevistados, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e esclarecido (ANEXO 5), com um roteiro semiestruturado com questões abertas, sendo um roteiro específico para os gestores locais das unidades esportivas (um em cada unidade – ANEXO 3), um para o gestor estadual que responde por todas as unidades da instituição no estado de São Paulo (um para a instituição – ANEXO 2) e outro para o gestor nacional (ANEXO 1). As entrevistas foram transcritas e as análises foram realizadas pela Análise de Conteúdo de Bardin (2011) e posteriormente analisadas pelo instrumento CIPP, proposto por 45 Stufflebeam entre os anos de 1968 e 1971, sugerido por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004). Para a pesquisa documental foi requisitada à instituição a documentação da proposta/programa na qual constasse as diretrizes norteadoras da instituição e a cada unidade, solicitamos ainda a proposta esportiva local. A análise foi baseada no instrumento CIPP, que apresenta uma proposta de avaliação centrada nas tomadas de decisões. Segundo o próprio Sufflebeam (2007), o modelo CIPP é um quadro abrangente para orientação, avaliações de programas, projetos, pessoal, produtos, instituições e sistemas que está focado em avaliações de programas, com vistas a efetuar a longo prazo melhorias sustentáveis. O autor supracitado relata que, correspondendo às letras da sigla CIPP (contexto, insumo, processo e produto) são peças fundamentais do modelo que, em geral, estas quatro partes de uma avaliação nos remete questionar: O que precisa ser feito? Como deve ser feito? Está sendo feito? Será que conseguem? Será que terão sucesso? Uma análise feita por Andriola (2010) sobre o instrumento em questão aponta que a avaliação de contexto visa fornecer subsídios para as decisões referentes no processo de planejamento das atividades, pois permitiria identificar as características, as demandas e os potenciais problemas, sob um prisma e um contexto delimitado, fundamentando, assim, base lógica para a determinação de objetivos e de metas. A avaliação dos insumos buscaria descrever as principais características (qualitativas e/ou quantitativas) dos recursos disponíveis (humanos e materiais) de maneira que fosse possível buscar os objetivos e metas determinadas a principio na fase de estruturação das atividades ou dos programas propostos O terceiro quesito de análise é a avaliação de processos, e possui como objetivo fornecer informações periódicas acerca dos procedimentos empregados pelos executores das ações componentes de uma atividade, de uma organização, de um programa, de um curso, de um setor ou algo similar. Seu grande objetivo é apontar e reconhecer possíveis deficiências de planejamento, efetuar correções da direção em que o programa esta caminhando e manter os registros dos procedimentos atualizados, o que a torna fundamental, uma vez que torna-se um 46 excelente mecanismo de feedback para os processos em execução. Por fim, o quarto tipo foi rotulado de avaliação de produto, para referir-se aos resultados alcançados pelo elemento analisado em questão. Com relação aos aspectos éticos o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu, sob o CAAE de nº: 15622213.3.0000.0089, para atender as determinações contidas na Resolução CNS nº 196/96 e para tanto, os participantes ao aceitarem participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a Instituição acatou a pesquisa assinando o Termo de Responsabilidade Institucional. 6. Resultados Para a construção dos resultados buscamos quatro fontes de dados, sendo elas: Análise documental; Entrevistas com os gestores de unidades; Entrevista com o gestor de esportes da ACM São Paulo (descrito neste trabalho como gestor geral); Entrevista com o Gestor Nacional (responsável pela gestão da Federação Brasileira das ACMs). Para a realização da coleta de dados através das análises documentais, recebemos a autorização para acessar o acervo histórico da instituição. Durante cerca de três semanas foram analisados diversos registros documentais desde a fundação da Associação Cristã de Moços de São Paulo até os dias de hoje. Os documentos estavam organizados em caixas numeradas pelos departamentos responsáveis que cada informação correspondia. Entre os principais conteúdos levantados estavam os registros da área de marketing os quais continham informações referentes sobre as divulgações dos trabalhos Acemistas em jornais e revistas, materiais de divulgação dos trabalhos históricos realizados pela instituição, tais como participação em Guerras Mundiais, ações de auxilio a comunidade, atividades de recreação, entre outros. Nos registros referentes à Secretaria geral foi possível encontrar documentos sobre ações de expansão e crescimento do movimento Acemista e planos de ações para os anos subsequentes. Nos materiais sobre o departamento 47 de programa (departamento que engloba a prática esportiva) encontramos registros sobre o desenvolvimento das práticas de diversas atividades físicas ao longo da constituição da instituição. Foram analisados ainda o livro do centenário da instituição e o estatuto vigente. Em relação às coletas de dados referentes aos gestores locais, as entrevistas foram previamente agendas e na data e local marcado fizemos os registros através da gravação das informações concedidas pelos participantes e, posteriormente, essas informações foram transcritas e analisadas através do método proposto para este estudo. Todos os participantes foram devidamente orientados sobre o conteúdo das entrevistas e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, de forma que estavam todos cientes a respeito dos objetivos deste estudo. Todas as entrevistas foram realizadas de forma individual para que não houvesse interferência uma sobre as outras. A partir de então traçamos as análises das informações. Vale ressaltar que para esta coleta de dados, um dos gestores participou duas vezes por se tratar de um gestor que é responsável por duas unidades esportivas. Assim como as entrevistas dos gestores de unidades, as entrevistas com o gestor geral e o gestor nacional aconteceram seguindo o mesmo padrão, sendo previamente agendadas e na data e local marcado realizamos a coleta de dados através das entrevistas que foram construídas com foco na função especifica de cada gestor. Buscando extrair o máximo de informações possíveis a respeito do tema abordado neste estudo. Especificamente para o gestor geral realizamos duas entrevistas, uma vez que ele responde pelo programa de esporte da instituição e também acumula a função de gestor de unidade. Visando minimizar as interferências que uma entrevista poderia causar sobre outra, as coletas foram realizadas com exatamente uma semana de intervalo entre uma e outra. Com relação ao gestor nacional, buscamos informações a respeito da relação entre a federação brasileira das ACMs e as instituições afiliadas sobre as práticas esportivas e a questão da participação de pessoas com deficiência nos 48 diversos movimentos Acemistas difundidos pelo país. Através deste contexto construímos nossas análises. 6.1 Análise Documental Durante as análises documentos, buscamos encontrar informações que nos levassem as práticas esportivas oferecidas pela Associação Cristã de Moços (ACM) e também buscamos verificar se, em algum momento, a instituição apresentava alguma informação referente ao processo inclusivo na prática esportiva. Verificamos que a Associação Cristã de Moços é uma instituição internacional, fundada em Londres no ano de 1844, com valores cristãos e não apresentava o foco em atividades esportivas. Seu primeiro documento oficial foi a Base de Paris (Paris, 1855), documento que buscava unificar a ideologia da instituição que se difundia pelo mundo. Neste documento é apontado que as ACMs buscavam unir os jovens de todo o mundo que, firmados na fé cristã, buscassem expandir o reino de Jesus Cristo na Terra. Complementando a Base de Paris, outro documento foi criado pela instituição. A Declaração de Kampala (Uganda, 1973) é considerava uma revisão da Base de Paris e acrescenta que alguns elementos importantes para a ampliação das ações da instituição, tais como: Trabalhar para que todos tenham oportunidades iguais e exista justiça para todos; Trabalhar para obter e manter um ambiente onde o relacionamento entre as pessoas se caracterize pelo amor e compreensão; Trabalhar para o desenvolvimento integral do ser humano. Ainda no cenário internacional da instituição, outro documento de fundamental importância é o Desafio 21 (FRENCHEN, 1998). Este documento pauta os caminhos e projetos da ACM no plano global e foi uma revisão dos princípios estabelecidos na Base de Paris. Ele reafirma os valores iniciais da ACM e transmite de forma clara as maneiras de colocar, em prática, as aspirações da instituição. Entre os elementos que compõem o Desafio 21 e para os fins deste estudo, destacam-se as seguintes ações: Comprometer-se a trabalhar em solidariedade com os pobres, despojados, desarraigados e minorias raciais, 49 religiosas e étnicas oprimidas; Estimular o diálogo e a parceria entre as pessoas de diferentes credos e ideologias e reconhecer as peculiaridades culturais das pessoas, promovendo a ampliação dos seus horizontes culturais; Propiciar condições para que todos, especialmente, jovens e mulheres, assumam mais responsabilidades e liderança em todos os níveis e trabalhar em prol de uma sociedade mais justa. Nota-se que ao passar dos anos houve uma evolução no entendimento das ações ofertadas pela instituição, de modo que as propostas para que todos, sem exceção possam fazer parte do universo das ACM e se desenvolverem de forma igualitária com as mesmas possibilidades. A ACM em âmbito mundial deixa de ser apenas uma instituição que buscava um crescimento cristão para ser uma entidade que atende uma demanda populacional sem descriminação ou preconceito, sem deixar de lado seu objetivo de fundação. Embora os documentos não mencionem especificamente as questões relacionadas à inclusão das pessoas com deficiência, é possível verificar, sobretudo na Declaração de Kampala e no Desafio 21, a preocupação de que tenhamos uma sociedade mais justa e com a possibilidade de desenvolvimento integral do ser humano. Quando pensamos no processo inclusivo vemos que entre esse período da criação dos documentos, as questões referentes à inclusão das pessoas com deficiência tomavam grandes proporções, pois, segundo Rossetto (2004), o ano de 1981 é um grande marco da inclusão, declarado como o ano da Pessoa com deficiência e entre 1983-1992 foi declarada nas Nações Unidas a década da pessoa com deficiência. Não existem evidencias de uma relação direta entre os documentos e o momento histórico pelo qual passava a sociedade. Entretanto as evoluções nos remetem a este pensamento, uma vez que os objetivos dos documentos nos permitem observar o trabalho para minorias e pessoas a margem da sociedade. Pudemos evidenciar que as atividades oferecidas pela ACM em São Paulo datam de 1902, mesmo ano em que a instituição foi fundada, entretanto, devido às limitações físicas de sua estrutura não é possível identificar exatamente quando a prática esportiva se instaurar na instituição. Mas é possível identificar, através dos registros dos arquivos de programa e também através do livro do centenário que essas atividades estão entre a data de fundação e 1906, ano em que 50 aparecem registros da prática do então Foot-ball na instituição. Até este período está registrada a prática de atividades, tais como palestras, aulas, comemorações, sessões de orações, leituras e estudos bíblicos, saraus literários e programas recreativos. Outras informações coletadas nos dão a dimensão da proposta de atendimento ofertada pela ACM. O estatuto da Associação Cristã de Moços deixa claro que podem ser associados das unidades pessoas de ambos os sexos, sem qualquer distinção de origem e raça, seja qual for sua nacionalidade, posição social, profissão ou crença religiosa. Assim, mais uma vez, através das análises documentais, fica evidente que a instituição busca atender todas as pessoas, tentando minimizar os fatores de exclusão e permitindo o acesso incondicional a qualquer sujeito que tenha o interesse em fazer parte da instituição como associado. Este posicionamento da instituição frente às diversas diferenças sociais nos traz significativa relevância uma vez que, ―a inclusão social traz em seu bojo a equiparação de oportunidades, a mutua interação entre pessoas com e sem deficiência e o pleno acesso aos recursos da sociedade.‖ (MACIEL, 2000, p.56). Entendemos que essa equiparação de oportunidades fortalece o direito a igualdade que, segundo Resende (2008), é tido como regra de equilíbrio entre as pessoas que têm e as que não têm uma deficiência, uma vez que determina a todos, que todas as pessoas formam a população de um país, e neste caso podendo ser compreendida como a população de associados de uma mesma entidade. Ao continuarmos com as análises dos documentos cedidos, nos deparamos com os planos de ações anuais, registrados entre 1987 e 2009. Nestes registros é possível perceber uma grande preocupação com os recursos oferecidos pela instituição aos seus associados. Entre os elementos que são apresentados nos planos de ações destacam-se a preocupações com as instalações físicas e também com a formação profissional. Em relação às instalações, são levantados pontos como as melhorias na estrutura física das unidades, como aquecedores de piscina, iluminação, salas de condicionamento físico, entre outros. Ainda sem relatos de ações voltadas para a estruturação de algo a viabilizar a entrada da pessoa com deficiência na associação. 51 Esses mesmos documentos relatam em relação à capacitação profissional a necessidade de um aprimoramento e capacitação de seus profissionais visando a melhora no atendimento oferecido, porém, não vemos relatos de ações planejadas para receber pessoas com deficiência. Para finalizarmos as informações contidas nos documentos, identificamos a missão atual da Associação Cristã de Moços: Fortalecer pessoas, famílias e comunidades. Mais uma vez uma proposta da instituição esta intimamente ligada ao processo inclusivo, sobretudo pelo fato de que este processo, segundo Maciel (2000), Blumer, Pavei e Moceun (2004), Quintão (2005), Moreira (2006), Pacheco e Alves (2007) e França e Pagliuca (2009), a inclusão passa por uma modificação social e a inclusão fortalece o desenvolvimento das comunidades, das sociedades. Somado a esses fatores Rodrigues e Freitas (2012) apontam que a participação da família é fundamental para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Especificamente sobre a prática de atividades física inclusivas nos interior das unidades da Associação Cristã de Moços, não encontramos nenhum registro que discorre sobre tal prática, apenas encontramos, no ano de 1991, registros de jornais onde relatavam a divulgação de cursos de mergulhos para pessoas com deficiência realizados na instituição. Ademais nada foi encontrado. Ao aplicarmos a proposta de análise do sistema de avaliação CIPP, como descrito na metodologia de estudo não identificamos informações sobre o processo avaliado. Em relação ao contexto, percebemos que os registros documentais destacados no estatuto da instituição apontam a intenção que a instituição demonstra de atender a todos e apresenta objetivos bem definidos sobre seu trabalho e papel junto à comunidade, buscando favorecer e desenvolver o ser humano nas dimensões física, social e espiritual, independente de quais características apresente. Entretanto, quando levantamos as características do insumo, elemento que buscou identificar os recursos humanos e estruturais disponíveis para alcançar os resultados do estudo, vemos que existe a necessidade de dar subsídios para 52 uma melhora da capacitação dos profissionais que nela atuam, além de uma reestruturação de suas instalações físicas, porém, como descrito anteriormente, não é possível identificar uma relação das melhoras físicas e de aprimoramento profissional como a inclusão de pessoas com deficiência, uma vez que isto não está claro nas propostas documentais. Podemos ainda considerar que, em relação às análises sobre o processo, os documentos analisados de histórico da instituição, registros de jornais e revistas, livros e materiais sobre o centenário da instituição e seu estatuto, cujo acesso nos foi permitido, não relatam informações suficientes para que possamos tecer comentários sobre as possíveis deficiências apresentadas pelo programa de esportes da ACM, a não ser os já identificados no tópico acima, sobre formação profissional e estruturas físicas das unidades esportivas. Dentre todo o acervo de informações verificamos que apenas uma nota de jornal datada de 24 de Agosto de 1991 (Anexo 8) apresenta alguma ação voltada para a inserção das pessoas com deficiência em atividades na instituição. Assim, através destes dados podemos perceber que os registros não são claros quanto às atividades inclusivas na ACM, o que, segundo Januzzi (2005) pode ser uma das dificuldades para a avaliação deste processo, uma vez que há dificuldades em obter informações e registros periódicos e específico sobre essas ações. Quando levamos em consideração o tópico de análise classificado como produto, percebemos que o programa atende um número significativo de pessoas em suas atividades propostas, pois, segundo o relatório anual de 2012, a instituição atendia cerca de 45 mil associados. Entretanto, quando voltamos os olhares para as questões referentes a inclusão das pessoas com deficiência nos parece que o programa, não apresenta uma proposta ou ação efetiva para que tenhamos, de fato, os objetivos propostos alcançados. Essa condição pode ser identificada ao analisarmos os registros de atividades oferecidas através dos relatórios, através das documentações que sustentam o trabalho da instituição e, sobretudo, por não haver em nenhum dos documentos analisados uma proposta estruturada de atendimento para as pessoas com deficiência. 53 Entre as análises percebemos que o documento que pode apontar uma preocupação com as questões referentes ao atendimento as pessoas com deficiência é o Estatuto da instituição (Anexo 6). Nele é possível identificar que a proposta de atividades é ofertada a todos, com o objetivo de desenvolver o ser humano em suas dimensões, espiritual, cultural, física e social, através de atividades que favoreçam o desenvolvimento e a promoção das pessoas, podendo deixar subentendido a possibilidade da participação das pessoas com deficiência em suas atividades, uma vez que é possível que este grupo esteja inserido nestes objetivos. Porém não identificamos em nenhum dos documentos uma proposta construída para um trabalho voltado á inclusão. 6.2 Análise dos Gestores de Unidade Assim como descrito na metodologia deste estudo, as entrevistas foram transcritas e as análises foram realizadas pela análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). Antes de adentrarmos nas categorias específicas, os gestores foram questionados sobre o número de associados nas respectivas unidades e se há no quadro associativo pessoas com deficiência. Sobre este questionamento todos os gestores souberam precisar o número de associados de suas respectivas unidades. Entretanto, quanto ao número de pessoas com deficiência, não foi possível identificar. Apenas houve a informação de que em todas as unidades existem associados com alguma característica de deficiência. Quanto à categoria de atendimento no esporte, através das entrevistas pudemos verificar que a ACM trabalha com a padronização das atividades esportivas que são planejadas por um corpo técnico e posteriormente encaminhadas para todas as unidades, de modo que todos possam seguir o mesmo padrão de desenvolvimento das ações propostas pela instituição. Ainda referente ao atendimento, além da padronização da prática esportiva, as atividades são divididas por faixa etária, contemplando crianças, jovens e adultos, adaptadas de acordo com o perfil do grupo. Neste sentido parece haver uma clareza muito grande em relação ao método de trabalho desenvolvido pela instituição, uma vez que, na fala dos 54 gestores está bem descriminado a proposta de atendimento oferecida pela instituição. Ainda sobre as questões voltadas ao atendimento, os gestores foram questionados sobre a existência de uma avaliação para verificar o desenvolvimento dos alunos e alguma estratégia para receber as pessoas com deficiência na prática esportiva. Segundo as informações obtidas, para a prática esportiva não existe uma avaliação para verificar um melhora de resultados ou evolução de algum quadro específico. Em linhas gerais, a única avaliação existente nas unidades é caracterizada pela Avaliação Física que, segundo alguns gestores, “esse controle de melhora de desempenho ou resultado existe no processo da Avaliação Física e que é muito utilizado, 80, 90% destinado para a musculação.” (S5). Outros posicionamentos sobre a avaliação nos parecem pertinentes, tais como a questão da formalidade deste processo: “É bem informal, formal não. É informal.” (S3). Quanto à responsabilidade da avaliação: “Não existe, a avaliação fica muito em função do professor que esta a frente da atividade.” (S2). Assim, podemos perceber que como todo processo de transformação dentro da prática de atividades físicas, a participação do professor é fundamental, sobretudo no que tange as discussões sobre inclusão, uma vez que ―a construção de um professor inclusivo na área de Educação Física não é uma tarefa muito fácil, pois está intrinsecamente ligada a vários pressupostos que instigam a busca pela mudança e a aceitação do novo...‖ (SOUZA e MARTINS, 2013, p.289). Outras informações relatam que não há avaliação, mas apenas um registro de frequência dos alunos. Quanto ao plano estratégico específico para o atendimento das pessoas com deficiência há um apontamento geral dos gestores e a afirmação de que não existe nenhuma ação especifica e estruturada para receber as pessoas com deficiência. Especificamente sobre este questionamento, os gestores levaram pontos importantes a serem salientados como a questão da reestruturação: “Não existe um plano estratégico para que se trabalhe essa inclusão. O que hoje esta acontecendo nesta unidade é que está acontecendo uma readequação da acessibilidade.” (S2); A afirmação de que as atividades desenvolvidas na ACM têm o 55 foco no desenvolvimento do grupo: “Não, plano especifico para isso não existe. O que existe é um trabalho da ACM São Paulo assim, de incluir o portador de deficiência dentro de uma atividade que é comum a todos.” (S4); Atendimento de forma igual: ―A gente segue algumas políticas dentro da instituição, então não tem isso claro, na ACM você recebe qualquer pessoa. Não tem um processo diferenciado, é igual pra todo mundo.” (S7); Condição de atendimento: “Temos que estar preparados para atender alguém com 100% de condição física e estarmos preparados para atender alguém com condição física nenhuma nas atividades. Na nossa visão é muito claro de permitir a igualdade.” (S5). Podemos perceber através dos discursos que alguns passos precisam ser dados rumo à construção de novos modelos de atendimento, pois, segundo Omote (2006), para atender às necessidades especiais de todas as pessoas, sem exceção nenhuma, adaptações precisam ser feitas nos serviços destinados a usuários em geral. Outro elemento que aparece em alguns relatos sobre o atendimento está relacionado à participação da pessoa com deficiência nos grupos de atividades. Afirmações como ―a gente procura saber se ele quer fazer um teste, se ele consegue assimilar juntamente com o grupo, junto com o professor. Se a gente ver que ele conseguiu tudo isso e a família também, a gente...é inserido.” (S3) e “Se a criança, mesmo com deficiência, age de forma muito natural flui como se nada tivesse acontecido...” (S5). Por essas colocações podemos avaliar que em algumas situações os fatores de inclusão acabam recaindo sobre a pessoa com deficiência, colocando-a como personagem principal responsável pelo processo inclusivo, quando na verdade, segundo Oliveira e Rodrigues (2006) as transformações e adaptações para receber as pessoas com deficiência devem acontecer como o grupo já existente. Elementos que recebem um destaque maior por parte dos gestores de unidade estão ligados às barreiras enfrentadas para que tenhamos um ambiente inclusivo. Entre os principais aspectos levantados estão às limitações físicas apresentadas pelas unidades e a capacitação profissional o acolhimento das pessoas com deficiência. 56 Com relação às barreiras físicas, encontramos afirmações como: ―A dificuldade maior é neste sentido, a unidade estar preparada estruturalmente...‖ (S1); “Eu acho que o maior problema é o espaço físico.” (S6); ―Talvez, para ficar mais modernizada, questões de sinalizações...” (S7); “...não é aquela estrutura adequada para os deficientes, então é complicado, hoje, é uma estrutura que não consegue atender um número maior.” (S8); “Hoje o acesso pra um deficiente a nossa unidade consegue atender bem e agente vai estar passando agora por uma reforma e nessa reforma um dos pontos que agente levantou é exatamente esse.” (S9). Percebe-se que é uma necessidade e uma realidade comum para a grande maioria das unidades esportivas, na perspectiva dos gestores, da ACM e se mostrando um fator que dificulta as práticas esportivas para as pessoas com deficiência, indo ao encontro de Gorgatti e Gorgatti (2008), onde a falta de instalações apropriadas para receber as pessoas com deficiência é um grande empecilho para a disseminação da prática esportiva. Em relação à capacitação profissional, os discursos apontam para uma formação inicial que não ofereceu subsídios para que o profissional tivesse condições de atuar com a inclusão e a necessidade de promover um aperfeiçoamento de suas competências. Assim, temos afirmações como: “Nós temos um espaço muito pequeno pra atividades com grupos especiais (na universidade). Então assim, uma matéria que ela é passada. Acredito que todas as faculdades devem passar, mas de forma muito rápida. Pra atender esse tipo de público você tem que ter uma capacitação muito maior, porque são muitas diferenças são muitas situações que você tem que saber lidar.” (S10); “... capacitar seus profissionais para ai sim ter condições de ta podendo atender.” (S1); “Com certeza nós não temos especificamente um profissional que entenda a fundo de como tratar com uma deficiência, de lidar com a deficiência.” (S2); “... as pessoas tem que procurar estudar e se aperfeiçoar, mas talvez uma pós-graduação.” (S9). Percebe-se que a capacitação profissional torna-se necessária, uma vez que, segundo Pedrinelli e Nabeiro (2012); Silva et al (2013), o professor é um elemento fundamental neste processo, assumindo seu papel de mediador, assegurando a reciprocidade entre as pessoas, o equilíbrio e afetividade entre os 57 alunos, lidando com as mais diferentes situações que podem se desencadear através do fenômeno esporte. Ao analisarmos a categoria relacionada ao preconceito existente nas atividades ofertadas pela ACM pudemos identificar que na grande maioria das vezes o ambiente interno é propício para o desenvolvimento de práticas inclusivas, haja vista que poucos são os relatos de situações onde foram expressas posicionamentos de estigma e preconceito. Podemos encontrar situações como as relatadas a seguir pelos gestores, quando discutimos se há presença de situações de preconceito e sua interferência nas atividades: “Eu acredito que não, eu acredito que isso é um dos grandes fatores positivos da ACM que de uma forma ou de outra ela tenta sempre trabalhar com a inclusão, não só da inclusão como nós estamos discutindo hoje mais também da inclusão social.” (S2); “Acho que as pessoas que frequentam a ACM estão preparadas e sabem que dentro da ACM você pode ter os mais variados tipos de pessoas, pessoas com deficiência, pessoas com níveis sociais diferentes, cores diferentes, raças diferentes, religiões diferentes, então assim, acho que as pessoas na ACM lidam muito bem com as diferenças.” (S4); “Não. A pessoa que tem dificuldade que já frequentam acham que são muito bem recebidas nunca vi nenhum caso de preconceito.” (S10). Esses relatos demonstram mais uma vez que a inclusão parte de uma troca onde a sociedade se adapta juntamente com a pessoa com deficiência para que as situações de exclusão sejam minimizadas (CORDEIRO, 2010). Outro fator importante levantado, através das análises, está ligado ao preconceito da pessoa com deficiência consigo próprio. A afirmação: “mas às vezes eu também vejo preconceito da própria pessoa. Ela já vem com aquela ideia de que as pessoas não vão incluí-las dentro do processo. Então ela já tem esse preconceito achando que ela não vai ser inclusa.” (S8). Esta afirmação pode evidenciar, mais uma vez, a necessidade de uma troca mútua entre as partes envolvidas no processo, para que de fato ele se concretize. Para o último aspecto levantado junto aos gestores, buscamos informações sobre a existência de alguma avaliação sobre o processo de inclusão das pessoas com deficiência na instituição e especificamente nas práticas 58 esportivas. As respostas deixam claro que ainda não há em nenhuma das unidades esportivas da ACM uma avalição que aponte qualquer informação a respeito da participação das pessoas com deficiência no programa de atividade física regular. As afirmações relatam as seguintes informações: “Não, infelizmente nós não temos uma avaliação específica para esse caso.” (S8); “Não existe uma avaliação específica para verificar o andamento do atendimento e da participação das pessoas com deficiência na ACM.” (S11). “É como eu te disse, especificamente não existe.” (S4). Vianna e Lovisolo (2009) afirmam que conhecer a realidade local e as expectativas dos participantes, deveria ser um elemento chave para a otimização do processo de inclusão social através da educação física, do esporte e do lazer. Deste modo, percebemos que para o sucesso de um programa específico, é necessário que saibamos e tenhamos conhecimento sobre o contexto em que determinada atividade está inserida, facilitando o aprimoramento do programa e do atendimento. Esses relatos dos gestores de unidades acabam caminhando de encontro do que diz Carreiro, Rangel e Darído (2007), onde o processo de avaliação torna-se fundamental a partir do momento em que oferece informações sobre o que está acontecendo e auxilia no desenvolvimento de novas propostas e ações, a fim de promover melhoras em determinados segmentos. Uma avaliação constante pode fortalecer as práticas esportivas de maneira geral e dar subidos para que as propostas inclusivas ganhem força. Quando aplicamos as análises proposta pelo modelo CIPP nas entrevistas com os gestores de esportes das unidades da ACM, pudemos levantar elementos que nos permitem identificar algumas questões essenciais no programa de esporte da instituição. No que se refere ao contexto, fica evidente que existe um plano de trabalho que é seguido por todas as unidades esportivas visando um atendimento igual em todas as unidades. Percebemos também que as atividades são planejadas e executadas de acordo com o que é proposto pela instituição, onde uma metodologia de trabalho é estruturada e seguida por todos. Entretanto, ao adentramos as questões sobre a possibilidade de participação da pessoa com 59 deficiência nas práticas esportivas da instituição percebemos que ainda é um terreno a ser explorado e tratado com mais atenção, pois não identificamos nenhuma proposta ou planejamento para estruturar ações que favoreçam tal participação. Já em relação à avaliação de insumo, vemos que, no que tange às questões referentes á inclusão das pessoas com deficiência, os recursos humanos e materiais necessitam de capacitação e uma reestruturação, respectivamente, de modo que, fica evidente na fala dos gestores a dificuldade de se tratar do tema da inclusão uma vez que ainda existe a necessidade de uma reestruturação física das unidades e também um cuidado com a formação dos profissionais que atuam na instituição. A avaliação dos processos nos permitiu identificar que não existe muitas informações ou acompanhamento do trabalho realizado com a proposta de incluir as pessoas com deficiência nas práticas esportivas da instituição. Foi possível identificar que boa parte deste processo recai sobre o profissional que está atuando com determinado grupo e cabe a ele desenvolver estratégia e ações para que possa proporcionar uma prática inclusiva em suas aulas. Assim, nos parece que a gestão das unidades não consegue acompanhar de perto e também apresentam dificuldades em participar das tomadas de decisões sobre as ações em aula e sobre o processo inclusivo de um modo geral. Deste modo, ao avaliarmos o produto é possível evidenciar que, quando levamos em consideração a inclusão da pessoa com deficiência nas práticas esportivas ofertadas pela ACM, ainda existe a necessidade de uma melhor estruturação para que o atendimento possa ser realizado. Esta necessidade se configura ao verificarmos que para que os objetivos da instituição sejam contemplados, pois o que foi constatado através destas entrevistas deixa uma lacuna no atendimento, apontando apenas para situações específicas onde o atendimento é realizado, porém sem nenhum registro ou proposta estruturada para que seja possível identificar o real caminho que a inclusão toma dentro da instituição. Assim, segundo San Martin, Alver e Duarte (2012) é necessário que a gestão da instituição compreenda o processo inclusivo e sua, de 60 maneira que consigam transmiti-lo de forma clara e objetiva aos profissionais que atuam diretamente com os alunos. 6.3 Análise do Gestor Geral A fim de iniciarmos as análises das informações cedidas pelo gestor geral de esporte da ACM, buscamos informação sobre os princípios, objetivos e estruturação da prática esportiva da instituição, perfil do associado que busca o esporte da ACM, contato do profissional com esta realidade e relação entre o conhecimento profissional e o perfil da instituição, proposta das práticas esportivas com foco na inclusão, acesso das pessoas com deficiência e os caminhos para promover mudanças no programa já estabelecido. Com relação aos princípios e objetivos da prática esportiva da ACM, mais uma vez é possível visualizar a participação de todos como ponto fundamental das atividades além de um cuidado especial com a formação dos praticantes, sobretudo com crianças e jovens. “A gente acaba fazendo com que todos participem da mesma forma. A prática esportiva não tem o caráter de performance. A gente tem um modelo de padronização das atividades. Aspecto de formação mais intenso na faixa etária de crianças e jovens e recreativo para os adultos.” “O objetivo da ACM em relação ao esporte eu penso que seja a administração do grupo, o convívio do grupo, das pessoas, fazer com que elas convivam bem fazendo uma atividade física que seja o esporte de quadra. ”. O posicionamento de instituição frente aos princípios e objetivos nos parece estar intimamente ligados ao processo de desenvolvimento da formação e do conhecimento das pessoas que ali estão aprimorando o convívio e respeitando as diferenças, sejam elas quais forem. Tal posicionamento é citado por Neira (2009) quando afirma que este processo de participação no esporte fortalece a cidadania e eleva o indivíduo à condição de sujeito no seu processo de ensino, capacitando-o 61 para a participação na vida social, cultural e esportiva, o que significa não somente o desenvolvimento de competências técnicas, mas também de conhecimentos e convívio com os semelhantes. Isso acontecerá se os grupos forem submetidos a constantes incentivos ao dialogo para que os problemas emergentes das diferenças apresentadas sejam solucionados. Com relação ao desenvolvimento das práticas esportivas da ACM é possível observar uma simbiose entre o programa de esportes e as atividades desenvolvidas nas unidades esportivas, isso porque o posicionamento do gestor geral sobre as atividades caminha no mesmo sentido dos relatos feitos pelos gestores de unidade quando vemos a seguinte afirmação: “Em 2006 nós sentamos com uma equipe de profissionais e achamos por bem criar uma sistematização de aula que ela tá relacionada principalmente com os fundamentos das modalidades. Desde então a gente realiza workshops trimestrais para toda equipe da ACM de São Paulo.”. Percebe-se que existe a preocupação de, além de desenvolver um método de ensino do esporte dentro da instituição, existe um foco na formação do profissional que irá aplicar as atividades e, isso se torna fundamental, uma vez que, segundo Silva e Krug (2012) a formação acadêmica compreende apenas uma parcela da construção do profissional e que convive com outras possibilidades de formação, pois essa construção transcende a etapa universitária. Esse posicionamento então deixa clara a necessidade de estar em constante aprimoramento para que possamos oferecer sempre um bom atendimento e fortalecendo o desenvolvimento dos alunos. Outros dois aspectos levantados junto ao gestor geral dizem respeito ao perfil do associado que frequenta as atividades esportivas e a forma como o profissional que ingressa na ACM toma contato com este perfil de público. Para estes questionamentos obtivemos respectivamente as seguintes respostas: “É o perfil de uma pessoa não tão apta. ACM logicamente que trabalha na questão da inclusão e a gente acha espaço pra todo mundo, isso que é o grande lance, o grande diferencial da ACM.” “Não existe uma preparação para que ele comece a 62 ministrar ou iniciar atividades com os associados, esse início fica por conta da gestão da unidade local. “. As informações acima nos deixam transparecer que não existe um contato prévio dos professores com os alunos de características distintas, já que as pessoas que procuram os serviços esportivos oferecidos pela ACM apresentam origens e conhecimentos diferenciados sobre a modalidade escolhida e possivelmente apresente em comum apenas o interesse pelo esporte, pois, em relatos anteriores pudemos identificar que os grupos assistidos em aula apresentam um perfil heterogêneo e portanto repleto de situações desafiadoras, como por exemplo, organização das equipes para disputas equilibradas, mediar os conflitos que possam emergir das diferenças técnicas apresentadas pelos praticantes de determinada modalidade, conflitos que surgem do contato físico entre os praticantes que acabam tendo como referência e influencia as ações tomadas por atletas profissionais, entre outras situações adversas no ambiente esportivo. Essas situações de conflito não são apresentadas ao professor, pois seu primeiro contato, na maioria das vezes é a aula propriamente dita. Neste sentido, Quadros (2013), afirma que o conhecimento dos alunos, tanto em classes especiais como classes regulares conhecer a realidade dos alunos e as características da turma é fundamental para que o professor possa planejar suas ações e para que não haja nenhuma situação desagradável com os alunos, sejam eles oriundos do processo inclusivo ou não. Esta afirmação feita pela autora tem como pano de fundo a escola. Entretanto, quando tratamos do processo inclusivo vemos que essa realidade transcende o universo escolar e se consolida em outros ambientes, entre eles o esporte, deixando clara a necessidade não só da capacitação profissional mas sim o contato prévio para conhecer a realidade local, com suas necessidade e características especificas, a fim de não comprometer o trabalho e desenvolver as competências dos alunos. Questionamos também a respeito das propostas da ACM para o esporte e sobre a existência de alguma especifica para a inclusão das pessoas com deficiência e ao que nos parece, de um modo geral, que o entendimento de inclusão por parte de alguns gestores caminha um pouco distante daquilo que nós levamos 63 como principio inclusivo. Aparentemente é possível perceber que em alguns momentos, o fato de oferecer oportunidades para a participação da pessoa com deficiência, exige da instituição atividades especificas para este grupo de pessoas, quando na verdade, à medida que oferecemos atividades com foco apenas para pessoas com deficiência, estamos reafirmando as condições de segregação e não viabilizando a inclusão. Confrontamos essa afirmação com o seguinte posicionamento: “Hoje não, nós não temos uma atividade que seja especifica para um público que necessite de uma condição especial, relacionada à acessibilidade, a um grupo especial, hoje nós não temos atividades relacionadas a esse público. ”. Nesta perspectiva, Borges et al (2013), as adaptações do programa deve ser a consequência de uma reflexão e conscientização sob o olhar da inclusão. Essa nova visão se faz necessária para que tenhamos mudanças nas constituições das práticas esportivas. Mesmo não evidenciamos uma proposta para questões voltadas a participação das pessoas com deficiência no esporte também, através da fala do gestor geral, vem que existe uma preocupação de estar apto a receber as pessoas com deficiência e eliminar as barreiras que possam impedir o acesso dessas pessoas. Através da desta afirmação: “A primeira preocupação parte da estrutura física dos prédios, das instalações das unidades. Hoje a gente não tem em nenhuma unidade, falando da área esportiva, que a gente tenha uma atividade que contemple portadores de necessidades especiais. ”. De fato, Winnick (2004) aponta que um ambiente inclusivo para a prática de esportes deve ser utilizado de forma que sejam prontamente acessíveis para as pessoas com deficiência, entretanto, quando tratamos das barreiras que impedem o acesso devemos estar cientes de que vai muito além de promover adaptações e reestruturações físicas, devem ser levados em consideração todos os elementos discutidos até o momento, tais como, capacitação profissional, preconceito, planejamento e avaliação, estratégia de ação, entre outros elementos. Por fim questionamos sobre o processo para que sejam realizadas mudanças em atividades já existentes e para isso é necessário que a idéia específica sobre a mudança seja levada até a equipe técnica responsável pelo 64 esporte para que seja verificada a viabilidade da execução de tal proposta. Assim, havendo o interesse e entendendo que é possível, a proposta é colocada em prática. ―O profissional trás uma novidade que seja talvez interessante para a ACM de São Paulo... é levado em consideração e é levado a diante para essa divisão para ver a questão de viabilidade...‖. Mais do que apenas colocar uma nova proposta e prática, faz-se necessário avaliar a necessidade de mudança e também os resultados obtidos que possam ser obtidos por ela. Avaliar, modificar e reavaliar deve ser ações constantes para o sucesso de um programa. A partir do CIPP podemos constatar que, em relação ao contexto do programa de esportes da ACM foi possível verificar que existe um processo de construção e uma necessidade de reestruturação e planejamento prévio das ações que seriam tomadas posteriormente, favorecendo o desenvolvimento do modelo de esporte escolhido pela instituição. Através da análise dos discursos verificamos a existência de um objetivo nas ações implementadas e um método de trabalho proposto. Um dos aspectos referente ao insumo aparece na identificação de possíveis problemas para o desenvolvimento das práticas inclusivas, estando entre elas a dificuldade no atendimento das pessoas com deficiência, uma vez que é entendido como um ―atendimento individualizado‖ e a falta de uma atividade que proporcione a inclusão das pessoas com deficiência e, novamente nos deparamos com as problemáticas relacionadas à formação do profissional e as estruturas físicas, sobretudo a falta de sinalização dentro das unidades esportivas, as dificuldades por falta de rampas que precisam ser modificadas para o real atendimento de todos. Vale ressaltar que todas as propostas, problemas e soluções identificadas na análise do discurso ressaltam a prática do esporte com foco nas pessoas que não apresentam características de deficiência, de modo que não foi possível identificar ações e propostas para a participação das pessoas com deficiência. Neste sentido, vemos no elemento processo, a preocupação em oferecer condições aos profissionais de atuarem nas atividades esportivas da 65 instituição. Entretanto, a formação oferecida busca fornecer subsídios técnicos referentes a uma modalidade ou a um grupo de modalidades esportivas específicas. Não foi possível identificar, quando questionamos sobre as competências e formação profissional, algo que esteja vinculado a melhora da capacitação dos professores em relação ao objetivo deste estudo que é a participação das pessoas com deficiência. A partir destas considerações vemos que o produto atinge seus objetivos propostos quando olhamos para as práticas esportivas, atendendo ao público em geral, com padronização e metodologia de atendimento. Entretanto, com foco no processo inclusivo, ainda carece de uma nova visão e construção de um programa que de subsídios para o processo inclusivo. O que pudemos levantar de informações torna-se insuficiente para que o programa caminhe sob a ótica do processo inclusivo. Assim, segundo Vioto e Vitaliano (2012) o gestor se destaca no processo inclusivo por exercer a responsabilidade planejar e organizar as ações de forma que ele viabilize caminhos para que a prática inclusiva seja estabelecida além de auxiliar os professores na construção de métodos e estratégias que facilitem a participação e o desenvolvimento dos alunos com deficiência. 6.4 Análise da Gestão Nacional A Federação Brasileira das Associação Cristã de Moços é o elo que une todos os movimentos Acemistas disseminados pelo Brasil. Assim, entendemos que informações importantes poderiam ser encontradas através da entrevista com o gestor nacional. Quando questionamos a relação entre a missão da ACM e a inclusão, vemos que existe certo alinhamento entre a ACM-SP e a Federação Brasileira, uma vez que o entendimento de inclusão passa pelo atendimento para todas as pessoas independente de quais características inclusivas ela apresenta. “Qualquer tipo de inclusão se encaixa na nossa missão. Não excluir ninguém faz parte de nosso DNA.” 66 Nota-se também que houve um acompanhamento histórico do processo inclusivo pois, segundo o relato de gestor nacional, o termo inclusão da pessoa com deficiência não era utilizado no inicio das atividades da ACM, eram levados em consideração outros grupos considerados excluídos. Entretanto, ao longo do processo a deficiência já se tornou uma realidade. “Antigamente quando a ACM estava no começo, não se falava “Não excluirá pessoas portadoras de deficiência.” Se falava para não excluir por sua raça ou crença e numa leitura contemporânea é lógico que nós não podemos excluir ninguém, raça, crença, cor, partido político e também os portadores de deficiências especiais.” Ao contextualizarmos estas afirmações vemos que na mesma medida em que houve o crescimento da instituição começaram a surgir discussões. Em seguida questionamos a respeito do diálogo entre a federação brasileira das ACMs, ACM SP e os demais movimentos para saber se há realmente alguma ação ou conversa sobre as questões da inclusão sobre planos para que isso realmente aconteça. Assim, através das respostas percebemos que, embora o movimento das ACMs seja independente, o vínculo estabelecido por meio da federação, viabiliza o fortalecimento das atividades locais pois se existe algo em que uma ACM encontra-se em maior desenvolvimento, o modelo é compartilhado para outros locais a fim de promover uma melhora no atendimento e na prestação de serviços, como diz a afirmação: “Na área da educação física, estamos começando a unificar grandes grupos, como a área de musculação, fitness, natação e desportos. Inquestionavelmente, vai chegar um momento quando isso de fato se cumpra e pretendemos que em 2014 alcance sua plenitude e tenhamos tudo isso sistematizado.” Mesmo com essa abertura e possibilidade de troca de informações, vemos que a inclusão ainda não foi uma questão abordada para a tentativa de firmar uma ação conjunta. Entretanto, esta possibilidade não é descartada em nenhum momento. “Não, ainda não se abriu nenhuma janela específica para portadores de necessidades especiais ou deficiência. Então de fato, no momento não tem esse diálogo a nível nacional... Nós vamos começar a abrir janelas e a janela hoje sem dúvida, é a janela da pessoa portadora de necessidades especiais.” 67 Outro ponto de análise foi em relação às dificuldades que são enxergadas pela ACM em âmbito nacional para que tenhamos um processo inclusivo de sucesso. A resposta obtida transita por três pontos específicos e que comumente aparecem quando tratamos de inclusão. Foi apontada a falta de preparo da sociedade para receber as pessoas com deficiência, a formação profissional, sobretudo no contexto da formação inicial do profissional de educação física e também a participação familiar no processo inclusivo. “Não me atreveria falar em que grau de força essa barreira tem, mas uma dela vem da sociedade que não está preparada para o processo de inclusão... As nossas universidades não preparam os nossos professores para trabalhar com essa necessidade. Nossos recursos humanos não estão preparados para isso... A maior barreira era, justamente, as famílias entenderem que as pessoas podem estar juntas, fazendo atividade.” Quanto ao tocante da família, Sikora (2013) afirma que a família desempenha um papel importantíssimo na educação de seus filhos, pois é com ela que as crianças absorvem os valores de convívio social. Deste modo, nos parece interessante esta relação, pois a partir do momento que o convívio social se estabelece na forma de boas relações e convívio harmonioso, é possível alcançar uma fatia das necessidades de transformação para o processo inclusivo, favorecendo as mudanças sociais e fortalecendo as boas práticas de convivência. Nos relatos trazidos pela entrevista com a gestão nacional das ACMs, percebemos que em relação ao contexto do programa não é possível identificar tomadas de decisões em relação ao processo inclusivo e de participação da pessoa com deficiência nas práticas esportivas da instituição. Identificamos o objetivo de unificar as práticas bem sucedidas nas diversas áreas de atuação da atividade física das ACM, tais como a padronização das atividades esportivas, organização e padronização de um programa de vídeo-aulas para o segmento de fitness, porém, em relação à inclusão ainda existem vagas informações. Em relação ao insumo no âmbito nacional da instituição, nos parece que o maior recurso para que as atividades venham a ser aprimoradas está relacionado ao dialogo entre os diferentes movimentos da ACM pelo Brasil e, sobretudo, nos 68 programas que cada um desenvolve e encontra relativo sucesso em suas atividades locais. Entretanto, as práticas inclusivas não aparecem como tônica atual das discussões entre os movimentos, de forma que aparenta não haver projeto nacional ou alguma atividade em conjunto para buscar desenvolver melhores práticas inclusivas. Nesta mesma perspectiva de mudanças, vemos que na avaliação do processo, a formação do profissional de Educação Física aparece novamente como um dos principais problemas a serem resolvidos juntamente com as questões sociais da inclusão em uma perspectiva mais global. Ainda nos parece bastante prematuro realizar uma análise na perspectiva do produto com base nestas afirmações, uma vez que ainda não existe um diálogo ou ações voltadas para o objetivo de nosso estudo. O que podemos salientar é que, com um movimento de ACM independentes no Brasil, o diálogo e a possibilidade de troca de informações e atividades possibilitam um desenvolvimento maior de ambos os lados, de quem oferece e de quem recebe. Neste sentido nos parece um avanço significativo na busca por oferecer melhores serviços e condições de atendimento. Entretanto, no que se refere à inclusão e à participação das pessoas com deficiência, nos parece que este caminho ainda terá muitos passos a serem dados rumo ao desenvolvimento de atividades que proporcionem a participação de todos e que deem subsídios para um processo inclusivo capaz de atender a todos. 7. Considerações Finais Este estudo teve como objetivos analisar os pressupostos inclusivos inseridos no programa de esporte educacional da Associação Cristã de Moços de São Paulo e verificar a estrutura do programa com relação ao acesso ao esporte educacional para pessoas com deficiência. Assim, a partir do momento em que entendemos que o processo de inclusão vai além das premissas legais e de um momento histórico de intervenção frente às minorias ou até mesmo de uma reestruturação arquitetônica, mas se configura como a oferta de oportunidades iguais para todas as pessoas, 69 independente de qual condição ou característica específica que ela apresente, possibilitando o desenvolvimento integral do indivíduo frente às esferas sociais, podemos traçar um paralelo entre a oferta de serviços de esportes da Associação Cristã de Moços de São Paulo. Com este estudo é possível afirmar que é difícil desvincular a ligação da instituição com o processo inclusivo, uma vez que está instaurado na gênese internacional da instituição e configurada nas considerações feitas por seus gestores, a participação de todos, desde o mais habilidoso até as pessoas que possam apresentar as mais diversas dificuldades de aprendizagem de uma determinada modalidade. Entretanto, percebemos que, mesmo com princípios e valores inclusivos, ainda existe certo distanciamento entre as práticas esportivas ofertadas pela instituição e a participação das pessoas com deficiência no universo acemista. No que tange a participação das pessoas com deficiência, é possível identificar alguns pontos específicos que, se desenvolvidos podem viabilizar a participação de todos. Quando pensamos nas barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência, identificados dois aspectos apontados como principais empecilhos para a efetivação de um processo inclusivo na instituição, sendo eles a estrutura física das instalações e a formação profissional dos professores que atuam com esporte. Ao levantarmos as questões referentes às barreiras físicas é evidente que as adaptações estruturais devam ser realizadas para garantir a acessibilidade de todos. Algumas unidades esportivas da instituição já veem passando por este processo de reestruturação porém ainda há locais onde o espaço físico caminha distante desta realidade. Um dos aspectos mais importantes deste processo e que foi evidenciado nesse estudo diz respeito à formação profissional. Poucos são os profissionais que apresentam um conhecimento técnico para atuar junto à pessoa com deficiência e, mais do que isso, trabalhar para que as modificações no grupo aconteçam, possibilitando a entrada de pessoas com diferentes características e conhecimentos de uma modalidade específica. Neste sentido, entendemos que se faz necessário o investimento em uma reestruturação física das unidades esportivas para que as condições de 70 acessibilidade sejam oferecidas a todas as pessoas, independente de apresentar condições de deficiência ou não. Somado aos fatores mencionados acima, acreditamos que a estruturação de um programa de esportes que atenda a demanda do processo inclusivo é outro fator de fundamental importância, uma vez que existe a necessidade de estruturar e alicerçar o trabalho de inclusão em bases sólidas que apresentem objetivos claros e bem definidos, bem como as estratégias de implantação e atendimento e as metas que se espera alcançar com a aplicação deste novo projeto. Em um ambiente onde a busca pela formação integral do indivíduo é o que move as ações, torna-se fundamental que o profissional seja um agente de mudanças, rompendo com as práticas tradicionais do esporte, fortalecendo os objetivos e a missão da instituição e colocando em prática o respeito pela diferença e a valorização do ser humano através de um modelo de esporte que visa a formação de cada pessoa, fortalecendo os grupos e as comunidades como a própria missão da instituição almeja. Para que essas ações sejam efetivadas é de fundamental importância que instituição e profissionais busquem cada dia mais conhecimentos que darão subsídios para sustentar as ações inclusivas. É de suma importância que os profissionais que atuam nas atividades de desporto tenham plena condição de oferecer o atendimento para todos. Para que isso aconteça, identificamos a necessidade de um aporte maior para a busca de uma formação continuada que objetive, não só o conhecimento técnico do esporte, mas sim uma formação que possibilite ao profissional compreender e identificar as necessidades das pessoas com deficiência e oferecer o melhor atendimento possível. A participação em eventos científicos e cursos de formação continuada como, por exemplo, cursos de pós-graduação ou cursos de curta e média duração são grandes aliados no processo de obtenção de subsídios e aportes para o desenvolvimento de uma prática inclusiva. Quando tocamos nas questões das propostas para o esporte e a inclusão vemos que existe certa preocupação em oferecer práticas iguais para todos os associados através de uma metodologia de trabalho aplicada a todas as unidades da instituição. Entretanto, no que se refere especificamente à inclusão através do esporte percebemos que ainda existe uma lacuna, pois ainda não há um 71 direcionamento de trabalho ou uma proposta voltada para essas questões. Assim, passa a ser necessária a busca por informações e conhecimentos que alimentem a construção de uma proposta inclusiva; uma proposta que permita o acesso de todos e para todos, de forma que as ações práticas estejam amparadas e sustentadas por um aporte teórico que auxilie e fortaleça as práticas inclusivas. A avaliação constante do modelo esportivo proposto pela instituição em relação a seus objetivos, processos, metas e efetiva ação, passa a ser um importante aliado, uma vez que para ela permitirá compreender as reais condições em que as ações deste programa se encontram e proporcionará novas ações para atingir os objetivos propostos. Assim, torna-se um elemento imprescindível, sobretudo para compreender se realmente os objetivos estão sendo ou não alcançados. Para isso, os pressupostos do modelo CIPP podem ser um grande aliado das propostas acemistas já que ele oferece condições para avaliar de forma integral um determinado programa. Este modelo pode oferecer informações de todo o processo, desde sua construção até a efetivação da prática e apontar as qualidades e problemas que determinado programa possa estar enfrentando. A participação dos gestores de esporte da instituição é fundamental para que tenhamos um programa bem desenvolvido e que a tenda a todas as demandas pois segundo Misener (2014), o desafio deve ser assumido não só pelas pessoas que estudam essas questões mas, sobretudo pela gestão que deve entender o processo inclusivo onde a deficiência é apenas uma outra consideração que deve ser integrada ao programa existente. Para que seja possível colocar em prática a missão de fortalecer pessoas, famílias e comunidades, temos que antes de tudo, ter a certeza de que todos que desejarem fazer parte desta instituição tenham assegurados as condições ideais para o desenvolvimento de suas atividades, possibilitando seu desenvolvimento em todas as esferas apontadas pelo estatuto da instituição, mental, espiritual, cultural, físico e social. Segundo Bota, Teodorescu e Serbãnoiu (2014) a inclusão social das pessoas com deficiência tem sido um dos temas consistentes para estudo e pesquisa, bem como para vários programas e atividades práticas em todo o mundo e nesta perspectiva, a criação de ambientes de atividades físicas que estimulem a 72 diversidade e melhoria individual são abordagens eficazes para uma inclusão bem sucedida, para a prática de habilidades sociais e exploração de boas atitudes. Deste modo, entendemos que novos estudos devem ser realizados para que sejam verificadas as continuidades dadas através das informações obtidas e verificar se as ações inclusivas para as pessoas com deficiência possam se tornar uma realidade na Associação Cristã de Moços, que carrega no seu bojo o princípio de igualdade e o desejo de que todos sejam um. REFERÊNCIAS B IBLIOGRÁFICAS : ALA-HARJA, Marjukka; HELGASON, Sigurdur. Em direção às melhores práticas de avaliação. Revista do Serviço Público, v. 51, n. 4, p. 5-60, 2014. Acesso em: 12 de Maio de 2014. Disponível em: http://seer.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/334/30. ALMEIDA, Rosa Karla Cardoso; NUNES, Patrícia Matos Souza; ZOBOLI, Fabio. Acessibilidade e Possibilidade de Lazer: A Pessoa com deficiência como foco de Análise. Projeto Orla: Estrutura, equipamentos e usos da Orla na Praia de Atalaia em Aracaju/SE. 1ed. São Cristóvão: UFS, v. 01, p. 05-118, 2012. ANDRIOLA, Wagner Bandeira. Utilização do Modelo CIPP na Avaliação de Programas Sociais: o caso do Projeto Educando para a Liberdade da SECAD/MEC. REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, v. 8, n. 4, p. 65-82, 2010. Acesso em 12 de Maio de 2014. Disponível em: http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol8num4/art4.pdf ANSELMO, José Roberto; VOLTOLIN, Elvis Donizeti. Direito à acessibilidade da pessoa com deficiência e inclusão social. Revista do Curso de Direito da FSG, ano 4, n. 8, 2010. Disponível em: http://ojs.fsg.br/index.php/direito/article/viewFile/723/514 ARANHA, Maria Salete Fábio. Integração Social do Deficiente: Análise conceitual e metodológica. Ribeirão Preto, Temas em Psicologia, numero 2, p.63-70, 1995. 73 ARANHA, Maria Salete Fábio. Inclusão Social e Municipalização. In: Manzini, Eduardo José. Educação Especial: temas atuais. 1ed. Marília. Unesp: MaríliaPublicações, 2000. p.1-10. ARANHA, Maria Salete Fábio. Paradigmas da relação da sociedade com as pessoas com deficiência. Revista do Ministério Público do Trabalho, Ano XI, n.21, p.160-173, 2001. ARAUJO, Paulo Ferreira de. institucionalização e atualidade. Desporto adaptado no brasil: origem, 1997. Tese (Doutorado em Educação Física) Faculdade de Educação Física. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997. ABNT NBR 9050. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT 2004. AZEVEDO, Paulo Henrique, BARROS, Jônatas de França. O nível de participação do Estado na gestão do esporte brasileiro como fator de inclusão social de pessoas portadoras de deficiência. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v.12, n.1, p.7784, 2004. Disponível em http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/view/546/570 Acesso: 23 de Maio de 2012. BARBIERI, Cesar. Educação pelo Esporte: Algumas considerações para a realização dos Jogos do Esporte Educacional. Revista Movimento, v.5, n.11, 1999. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/2481/1131 Acesso em: 24 de Junho de 2013. BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. BARROZO, Amanda Faria; HARA, Ana Clara Portela; VIANNA, Daniela Carrogi; OLIVEIRA, Juliana de; KHOURY, Laís Pereira; SILVA, Priscila Ludovico da; SAETA, Beatriz Regina Pereira; MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Acessibilidade ao esporte, cultura e lazer para pessoas com deficiência. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo, v.12, n.2, p. 16-28, 2012. Disponível em: 74 http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/CCBS/PosGraduacao/Docs/Cadernos/Volum e_12/2o_vol_12/Artigo2.pdf Acesso em: 23 de Maio de 2012. BISSOTO, Maria Luisa. Educação Inclusiva e exclusão social. Revista Educação Especial, v. 26, n. 45, p. 91-108, 2013. Disponível em: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/educacaoespecial/article/view/5434/pdf Acesso em: 13 de Junho de 2013. BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. BORGES, Adriana Costa; OLIVEIRA, Elaine Cristina Batista Borges de; PEREIRA, Ernesto Flavio Batista Borges; OLIVEIRA, Marcio Divino de. Reflexões sobre a inclusão, a diversidade, o currículo e a formação de professores. Anais do VIII Encontro Da Associação Brasileira De Pesquisadores Em Educação Especial, Londrina, 2013. Acesso em 30 de Maio de 2014. BOTA, Aura; TEODORESCUA, Silvia; ȘERBĂNOIUA, Sorin. Unified Sports – a Social Inclusion Factor in School Communities for Young People with Intellectual Disabilities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, v. 117, n.19, p. 21-26, 2014. Acesso em 28 de Maio de 2014. BRACHT, Valter. Esporte na Escola e Esporte de rendimento. Revista Movimento, Porto Alegre, v.6, n.12, 2000. Disponível em: http://seer.ufrgs/movimento/article/view/2504/1158 Acesso em: 25 de Abril de 2013. BRASIL. Ministério dos Esportes. Politica Nacional do Esporte, Brasília, 2005. BRASIL. Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10098.htm>. Acesso em: 23 de junho de 2012. BRASIL, Decreto Lei 3.298 de 20 de dezembro de 1999; http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/d3298.htm; Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 75 Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências, acesso em 09/05/2012. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei nº 9.394/96 – 24 de dez. 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1998. BRUMER, Anita; PAVEI, Katiuci; MOCEUN, Daniel Gustavo. Saindo da ―Escuridão‖: perspectivas da inclusão social, econômica, cultural e politica de portadores de deficiência visual em Porto Alegre. Revista Sociológicas, Porto Alegre, v.6, n.11, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/soc/n11/n11a13.pdf Acesso em 02 de Julho de 2012. CARREIRO, Eduardo Augusto; RANGEL, Irene Conceição Andrade; DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física no Ensino Superior: Gestão da Educação Física e Esporte. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2007. CASTRO, Shamyr Sulyvan; LEFÈVRE Fernando; LEFÈVRE, Ana Maria Cavalcanti; CESAR, Chester Luiz Galvão. Acessibilidade aos serviços de saúde por pessoas com deficiência. Revista Saúde Pública, São Paulo, n.45, v.1, p.99-105, 2011. Acesso em: 10 de Março de 2014. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/32934/35511 CIDADE, Ruth. A Construção Social da Deficiência e do Deficiente: Uma breve incursão. In: RODRIGUES, David. Atividade Motora Adaptada. São Paulo, Artes Médicas, 2006. CORDEIRO, Taís Prinz. Ambiente e Acessibilidade pra pessoas com deficiência no desenvolvimento de atividades esportivas: Um estudo de caso. 2010. Dissertação (Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento) Centro Universitário UNIVATES. Lajeado, 2010. CORDEIRO, Taís Prinz. Ambiente e Acessibilidade para pessoas com deficiência no desenvolvimento de atividades esportivas: Um estudo de casos. Anais do III Congresso Nacional de Educação Física na Escola. Lajeado, 2010. CORREA, Juliane Cristine Alves; FILHO, Lino Castellani. Associação Cristã de 76 Moços e a disseminação das atividades físicas e esportivas no Brasil: Uma reflexão acerca de suas relações. XVI Congresso Interno de Iniciação Científica da Unicamp. Campinas, 2008. COSTA, Alberto Martins da; WINCKLER, Ciro. A Educação Física e o Esporte Paralímpico. In: MELLO, Marco Túlio; WINCKLER, Ciro. Esporte Paralímpico, São Paulo, Atheneu, 2012. DINIZ, Débora; BARBOSA, Lívia; SANTOS, Wederson Rufinos dos. Deficiência, Direitos Humanos e Justiça. Revista SUR – Revista Internacional dos Direitos Humanos, v.6, n.11, p. 65-77, 2009. Disponível em: http://www.surjournal.org/conteudos/getArtigo11.php?artigo=11,artigo_03.htm acesso em: 23 de Maio de 2012. DUARTE, Edilson; SANTOS, Tereza Paula dos. Adaptação e Inclusão. In: DUARTE, Edilson; LIMA, Sonia Maria Toyoshima. Atividade Física para pessoas com Necessidades Especiais. Experiências e Intervenções Pedagógicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. EGLER, Tamara Tania Cohen. Exclusão e inclusão na sociedade do conhecimento. Cadernos IPPUR, Rio de Janeiro, v. XV , n.2, 2002. FALKENBACH Atos Prinz; LOPES, Elaine Regina. Professores de Educação Física diante da inclusão de alunos com deficiência visual. Pensar a Prática, Goiânia, v. 13, n. 3, 2010. Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/9469/8394 . Acesso em: 30 de Outubro de 2012. FERNANDES, Idilia; LIPPO, Humberto. Política de acessibilidade universal na sociedade contemporânea, Textos & Contextos, Porto Alegre, v. 12, n. 2, p. 281 291, 2013. FILHO, Paulo José Barbosa Gutierres; MONTEIRO, Maria Dolores Ferreira; SILVA, Rudney da; VARGAS, Carla Regiane. Concepções, opiniões e atitudes docentes associadas à inclusão da pessoa com deficiência na educação física: uma revisão da produção científica brasileira. Liberabit, v.17, n.1, pp. 19-30, 2011. Acesso em 12 77 de Maio de 2014. Disponível em: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172948272011000100003&script=sci_arttext FILHO, César Augusto Bridi. Deficiência, Handicap E Alguns Demônios Da Inclusão. Revista Educação Especial, Santa Maria, n.18, p.47-57, 2001. FRANÇA, Inacia Sátiro Xavier de; PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag. Inclusão social da pessoa com deficiência: conquistas, desafios e implicações para a enfermagem. Revista Escola Enfermagem USP, v.43, n.1, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342009000100023 Acesso em: 15 de Maio de 2013. GALATTI, Larissa Rafaela; FERREIRA,Henrique Barcelos; SILVA, Ylane Pinheiro Gonçalves da; PAES, Roberto Rodrigues. Pedagogia do Esporte: Procedimentos pedagógicos aplicados aos Jogos Desportivos Coletivos. Revista Conexões, Campinas, v. 6, ed. especial, p. 397-408, jul. 2008. Disponível em: http://fefnet178.fef.unicamp.br/ojs/index.php/fef/article/view/260 Acesso em: 10 de Agosto de 2013. GIMÉNEZ, Javier; ABAD, Manuel; ROBLES, José. La enseñanza del deporte desde la perspectiva educativa. Revista Wanceulen, n.5, 2009. Disponível em: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/3316/b15548818.pdf?sequence=1 Acesso em: 10 de Agosto de 2013. GORGATTI, Márcia Greguol; GORGATTI, Thiago. O esporte para pessoas com deficiência. In: GORGATTI, Márcia Greguol; COSTA, Roberto Fernandes da. Atividade Física Adaptada. 2ed. Barueri, Manole, 2008. GUERRA, Alexandre; CAZZUNI, Dulce; COELHO, Rodrigo. Altas da Exclusão Social em Osasco: Alternativas de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Osasco, SP: SDTI/PMO, 2007. Acesso em 28 de Maio de 2014. Disponivel em: www.camaraosasco.sp.gov.br. JANnUZZI, Paulo de Martino. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. Revista do Serviço Público, Brasília v.56, 78 n.2, p.137-16, 2005. Acesso em 29 de Maio de 2014. Disponível em: http://www.conei.sp.gov.br/ind/ind-sociais-revista-serv-publico.pdf. KORSAKAS, Paula; ROSE JR., Dante de. Encontros e desencontros entre esporte e educação. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, Barueri, v.1, n.1, p. 8393, 2002. Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/1354 . Acesso em: 07 de Fevereiro de 2013. KRAVCHYCHYN, Claudio; OLIVEIRA, Amauri Aparecido Bássoli de. Educação física escolar e esporte: Uma vinculação (im)prescindível. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, Barueri, v.11, n.1, 2012. Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/2517 . Acesso em: 07 de Fevereiro de 2013. LAPLANE, Adriana. Uma análise das condições para a implementação de políticas de educação inclusiva no Brasil e na Inglaterra. Educação e Sociedade, Campinas, v.27, n.96, p. 689-715, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v27n96/a04v2796.pdf . Acesso em: 01 de Junho de 2012. LEAL, Giuliana Franco. A noção de exclusão social em debate: aplicabilidade e implicações para a intervenção prática. Encontro Nacional de Estudos populacionais ABEP, Caxambu, 2004. Disponível em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_abep/PDF/ABEP2004_42.pdf LEITE, Flávia Piva Almeida. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Amplitude conceitual. Revista de Direito Brasileira, v.3, n.2, p.31-53, 2012. LIMA, Sâmara Sathler Corrêa; FREITAS, Maria Nivalda Carvalho; SANTOS, Larissa Medeiros Marinho. Repercussões Psicossociais da Acessibilidade Urbana para as Pessoas com Deficiência Física, PSICO, Porto Alegre, v. 44, n. 3, pp. 362-371, 2013. LIMA, Gildete Rainha de. As contribuições da educação física para o processo de inclusão escolar. 2011. 61 f. Monografia (Especialização em Desenvolvimento 79 Humano, Educação e Inclusão Escolar)—Universidade de Brasília, Universidade Aberta do Brasil, Brasília, 2011. MACIEL, Maria Regina Cazzaniga. Portadores de Deficiência: a questão da inclusão social. Revista São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v.14, n. 12, 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-88392000000200008&script=sci_arttext . Acesso em: 16 de Abril de 2012. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. A inclusão escolar de deficientes mentais: contribuições para o debate. Rio de Janeiro: WVA, 1997. MANZINI, Eduardo José. Inclusão e Acessibilidade. Revista da SOBAMA, v.10, n.1, suplemento, p.31-36, Rio Claro, 2005. Disponível em: http://www.rc.unesp.br/ib/efisica/sobama/vol10no1suplemento.pdf . Acesso em: Outubro de 2012. MAZZOTTA, Marcos José da Silveira; D'ANTINO, Maria Eloísa Famá. Inclusão social de pessoas com deficiências e necessidades especiais: cultura, educação e lazer. Saúde e Sociedade, v.20, n.2, pp. 377-389, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902011000200010&script=sci_arttext . Acesso em: 15 de Novembro de 2012. MISENER, Laura. Managing disability sport: From athletes with disabilities to inclusive organisational perspectives. Sport Management Review, Queensland, v.17, n.1, p.1-7, 2014. Acesso em: 28/05/2014. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441352313000934#MOREIRA, Ildeu de Castro. A inclusão social e a popularização da ciência e tecnologia no Brasil. Revista Inclusão Social, v.1, n.2, Brasília, 2006. Disponível em: http://revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclusao/article/viewFile/29/51 Acesso em 05 de Janeiro de 2013. MÜNSTER, May de Abreu Van; ALMEIDA, José Júlio Gavião de. Um olhar sobre a inclusão de pessoas com deficiência em programas de atividade motora: do espelho ao caleidoscópio. In: RODRIGUES, David. (Org). Atividade motora adaptada: a alegria do corpo. São Paulo: Artes Médicas, 2006. p 81-91. 80 NEIRA, Marcos Garcia. Programas de educação pelo esporte: qual formação está em jogo? Movimento & Percepção, Espírito Santo do Pinhal, v. 10, n. 14, p.59-66, 2009. NOZI, Gislaine Semcovici; VITALIANO, Celia Regina. Saberes necessários aos professores para promover a inclusão de alunos com necessidades Educacionais Especiais. Revista Educação Especial, Santa Maria, v. 25, n. 43, p. 333-348, maio/ago. 2012. Acesso em 13 de Maio de 2014. Disponível em: http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial NOGUEIRA, Leandro; PALMA, Alexandre. Reflexões acerca das políticas de promoção de atividade física e saúde: uma questão histórica. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 24, n.3, p.103-119, 2003. Disponível em: https://www.rbceonline.org.br/revista/index.php/RBCE/article/download/766/440 . Acesso em: 15 de Novembro de 2012. OLIVEIRA, Anelise Fagundes; RODRIGUES, Graciele Massoli. Intervenção profissional na inclusão de crianças com deficiências no ensino regular: um estudo piloto. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, São Paulo, n.5 (Especial), 2006. Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/1894 . Acesso em: 05 de Abril de 2013. OLIVEIRA, Bruno Filipe Alves. Desporto para todos em Portugal. Anais III Congresso Nacional de Educação Física na Escola, Lajeado, 2010. OMOTE, Sadao. Inclusão e a questão das diferenças na educação. PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 24, n. Especial, p. 251-272, 2006. OMOTE, Sadao; OLIVEIRA, Anna Augusta Sampaio de; BALEOTTI, Luciana Ramos; MARTINS, Sandra Eli Sartoreto de Oliveira. Mudança de atitudes sociais em relação à inclusão. Paidéia, n.15, v.32, p. 387-398, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/paideia/v15n32/08.pdf ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. ONU, 1948. Disponível em: www.un.org Acesso em: 15 de Maio de 2012. 81 MAZZARINO, Jane Márcia; FALKENBACH, Atos; RISSI, Simone. Acessibilidade e inclusão de uma aluna com deficiência visual na escola e na educação física. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Florianópolis, v. 33, n. 1, p. 87-102, 2011. Acesso em: 10 de Março de 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbce/v33n1/a06v33n1.pdf MARQUES, Renato Francisco Rodrigues; ALMEIDA, Marco Antônio Benitte de; GUTIERREZ, Gustavo Luiz. Esporte: Um fenômeno heterogêneo: estudo sobre o esporte e suas manifestações na sociedade contemporânea. Revista Movimento, Porto Alegre, v.13, n.3, p.225-242, 2007. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/3580/1975. Acesso em 30 de dezembro de 2013. MIRANDA, Arlete Aparecida Bertoldo. História, Deficiência e Educação Especial. Reflexões desenvolvidas na tese de doutorado: A prática pedagógica do professor de alunos com deficiência mental. Unicamp, 2003. http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/revis/revis15/art1_15.pdf . Disponível em: Acesso em: 22 de Março de 2014. MIRANDA, Arlete Aparecida Bertoldo. Educação Especial no Brasil: Desenvolvimento Histórico. Cadernos da História da Educação, Uberlandia, n.7, p.29-44, 2008. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/1880/1564 Acesso em: 23 de Março de 2014. MUNIZ, Igor Barbarioli; BORGES, Carlos Nazareno Ferreira. Jogos Cooperativos, jogos competitivos e a classificação subjetiva. Impulso, Piracicaba, v.23. n.58, p.103114, 2013. Disponível em: https://www.metodista.br/revistas/revistasunimep/index.php/impulso/article/view/105/ 1220. Acesso em: 30 de Maio de 2014. PACHECO, Katia Monteiro de Benedetto; Alves, Vera Lucia Rodrigues. A história da deficiência, da marginalização à inclusão social: Uma mudança de paradigma. Revista Acta Fisiátrica, São Paulo, v. 14, n.4, 2007. Disponível em: http://www.actafisiatrica.org.br/detalhe_artigo.asp?id=184 . Acesso em: 05 de Abril de 2013. 82 PAES, Roberto Rodrigues; BALBINO, Hermes Ferreira. A Pedagogia do Esporte e os Jogos Coletivos. In: ROSE JUNIOR, Dante. Esporte e atividade física na infância e na adolescência. 2ed. São Paulo: Artmed, 2009, p. 75-100. PAGLIUCA,Lorita Marlena Freitag; ARAGÃO, Antônia Eliana de Araújo; ALMEIDA, Paulo César. Acessibilidade e deficiência física: identificação de barreiras arquitetônicas em áreas internas de hospitais de Sobral, Ceará. Revista Escola de Enfermagem USP, São Paulo, n. 41, v.4, p.581-588, 2007. PEDRINELLI, Verena Junghähnel; NABEIRO, Marli. A prática do esporte pela pessoa com deficiência na perspectiva da inclusão. In: MELLO, Marco Túlio; WINCKLER, Ciro. Esporte Paralímpico, São Paulo, Atheneu, 2012. PEDRINELLI, Verena Junghahnel; VERENGUER, Rita de Cássia Garcia. Educação Física Adaptada: Introdução ao Universo das Possibilidades. In: GORGATTI, Márcia Greguol; COSTA, Roberto Fernandes da. Atividade Física Adaptada. 2ed. Barueri, Manole, 2008. PEDRINELLI, Verena Junghähnel. Possibilidades na diferença: o processo de 'inclusão', de todos nós. Ministério da Educação Secretaria de Educação Especial. Revista Integração. Ano 14, Edição Especial, 2002. Disponível em: http://www.rc.unesp.br/ib/efisica/sobama/sobamaorg/possibilidades.pdf. Acesso em 28 de Agosto de 2013. Pedrosa, Valéria dos Santos; Beltrame, André L. N., Boato, Élvio. M.; Sampaio, Tânia M. V. A experiência dos professores de Educação Física no processo de inclusão escolar do estudante surdo. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v.21, n.2, p.106-115, 2013. PERANZONI, Vaneza Cauduro; FREITAS, Soraia Napoleão. A evolução do (pre) conceito de deficiência. Cadernos, n. 16, p. 5-14, 2000. Disponível em: http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2000/02/a2.htm . Acesso em 11 de Abril de 2013 PERONI, Vera Maria Vidal. As parcerias público-privadas na educação e as desigualdades sociais. Caderno de Pesquisa: Pensamento educacional, V. 4, n 7, 2009. 83 PINTO, César Augusto Sadalla. Esporte Educacional: Uma possibilidade de restauração do esporte. Revista Mineira de Educação Física, Viçosa, v.17, n.2, 2009. Disponível em: http://www.revistamineiradeefi.ufv.br/artigos/arquivos/9e885b1d6177c4ed1183b9e5aaca8fbd .pdf. Acesso em 10 de Agosto de 2013. PRONI, Marcelo Weishaupt. Esporte-Espetáculo e Futebol-Empresa. (Tese de Doutorado em Educação Física). Faculdade de Educação Física. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998. QUINTÂO, Denise Terezinha da Rosa. Algumas reflexões sobre a pessoa com deficiência e sua relação social. Revista Psicologia & Sociedade, v.17, n. 28, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v17n1/a11v17n1.pdf . Acesso em 13 de Junho de 2013. RATZKA, Adolf. A história da sociedade inclusiva na Europa. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOCIEDADE INCLUSIVA, 1999, Belo Horizonte. Anais. Belo Horizonte: PUC Minas, 2001. p. 21. REIS, Michele Xavier dos; EUFRASIO, Daniela Aparecida e BAZON, Fernanda Vilhena Mafra. A formação do professor para o ensino superior: prática docente com alunos com deficiência visual. Educação em Revista, v.26, n.1, pp. 111-130, 2010. Disponível:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010246982010000100006&script=sci_artte xt. Acesso em: 12 de Maio de 2013. RESENDE, Ana Paula Crosara de. Igualdade e não descriminação. A convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. Brasília, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008, p. 37. RODRIGUES, David. A educação e a diferença. In: RODRIGUES, David. Educação e Diferença: Valores e Práticas para Uma Educação Inclusiva. Porto, Porto, 2001. RODRIGUES, David. Desenvolver a Educação Inclusiva: dimensões do desenvolvimento profissional. Inclusão: Revista da Educação Especial, v.4, n.2, Brasília, 2008. 84 RODRIGUES, David. A Educação Física perante a educação inclusiva: reflexões conceptuais e metodológicas. Revista da Educação Física da UEM, Maringá, v.14, n.1, p.67-73, 2003. Disponível em: http://www.rc.unesp.br/ib/efisica/sobama/sobamaorg/EFeInclusaoDavidRodrigues.pdf . Acesso em 13 de Outubro de 2012. RODRIGUES, Graciele Massoli. ; FREITAS, Danilo Peruchi. Saber do que sabe a pessoa com deficiência: Reflexões sobre a família e a escola na prática pedagógica. In: CHICON, José Francisco; RODRIGUES, Graciele Massoli. (Org.). Práticas Pedagógicas e Pesquisa em Educação Física Escolar Inclusiva. 1ed. Vitória: EDUFES, 2012, v., p. 109-127. ROSADAS, Sidney Carvalho. Atividade Física Adaptada e Jogos Esportivos para o Deficiente. Eu posso. Vocês duvidam? São Paulo, Livraria Atheneu, 1989. ROSSETTO, Elisabeth. Processo de inclusão: Um grande desafio para o Século XXI. Revista Eletrônica de Ciências da Educação, Campo Largo, v.3, n.1, 2004. Disponível em: http://revistas.facecla.com.br/index.php/reped/article/view/499/388 RUBIO, Katia. O trabalho do atleta e o espetáculo esportivo. Revista Eletrônica de Geografia y Ciencias Sociales, Barcelona, v.VI, n.119, 2002. Disponível em: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-95.htm SALERMO, Marina Brasiliano. Interação entre alunos com e sem deficiência na educação física escolar: validação de instrumento. 2008. 125f. Dissertação (Mestrado em Educação Física)-Faculdade de Educação Física. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009. SANCHES, Simone Meyer; RUBIO, Kátia. A prática esportiva como ferramenta educacional: trabalhando valores e a resiliência. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 4, p. 825-842, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151797022011000400010&script=sci_arttext . Acesso em 02 de Junho de 2013. SAN MARTIN, Juan Eduardo Samur; ALVES, Maria Luiza Tanure; DUARTE, Edilson. Análise do Processo Inclusivo de Pessoas com Deficiência no Clube Esportivo: Um estudo de Caso. Revista da Sobama, V. 13, n.1, pp. 31-36, 2012. 85 Acesso em: 30 de Maio de 2014 SANTOS, Jaciete Barbosa dos. A ―dialética da exclusão/inclusão‖ na história da educação de ‗alunos com deficiência. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 17, p. 27-44, 2002. Disponível em: http://www.uneb.br/revistadafaeeba/files/2011/05/numero17.pdf . Acesso em 15 de Maio de 2013. SASSAKI, Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. Revista Nacional de Reabilitação, ano 5, n. 24, jan./fev. 2002, pp. 6-9. SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de janeiro: WVA, 1997. SCHNEIDER, Roseleida. Inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular: Um desafio para o educador. Revista de Ciências Humanas, v.4, n.4, p.85-97, 2003. Disponível em: http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadech/article/view/235 . Acesso em 15 de Maio de 2013. SIKORA, Denise. Algumas considerações sobre a deficiência e o papel da família e da escola. Revista Analecta, Guarapuava, v.11, n.2, p.23-39, 2013. Disponível em: http://200.201.10.18/index.php/analecta/article/view/2715/36 Acesso em: 09 de Janeiro de 2013. SILVA, Alexandra Rosa; KRUG, Hugo Norberto. As trajetórias formativas de acadêmicos de educação física do Curso de licenciatura da UFSM: contribuições na constituição do ser professor, Blumenau, v.7, n.4, p. 1026-1052, 2012. SILVA, Emerson Limeira; RODRIGUES, Graciele Massoli. O acesso ao esporte para crianças e adolescentes com deficiência: da acessibilidade aos programas públicos. Anais do XVI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e III Congresso Internacional de Ciências do Esporte. Salvador, 2009. SILVA, Anselmo de Athayde Costa e et al. Esporte adaptado: abordagem sobre os fatores que influenciam a prática do esporte coletivo em cadeira de rodas. Revista 86 Brasileira de Educação Física e Esporte, n. AHEAD, p. 0-0, 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1807-55092013005000010&script=sci_arttext&tlng=es SILVA, Fábio Silvestre da. Projetos sociais em discussão na psicologia do esporte. Revista brasileira de psicologia do esporte, São Paulo, v.1, n.1, pp. 01-12, 2007. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1981- 91452007000100005&script=sci_arttext SILVA, Maria Odete Emygdio da. Da Exclusão à Inclusão: Concepções e Práticas. Revista Lusófona de Educação, v.13, p.135-153, 2009. SOCHACZEWSKI, Jacques; LOBATO, Lenaura de Vasconcelos. Desenvolvimento da Proteção Social no Welfare State até o pós-industrial. Revista Uniabeu, Rio de Janeiro,v.7, n.15, p.289-304, 2014. Acesso em: 28 de Maio de 2014. Disponível em: http://revista.uniabeu.edu.br/index.php/RU/article/view/1293/pdf_77. SOUZA, Calixto Júnior de; MARTINS, Morgana de Fátima Agostini. Amálgama entre o professor inclusivo e o universo da educação física. Revista Educação Especial, Santa Maria, v.26, n. 46, p. 277-292, 2013. STELMACHUK, Anaí Cristina da Luz; MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. A atuação de profissionais da educação na inclusão escolar do aluno com deficiência intelectual. Revista Educação Especial, Santa Maria, v. 25, n. 43, p. 185-202, 2012. STUFFLEBEAM, Daniel L. CIPP evaluation model checklist. Western Michigan University. The Evaluation Centre. Retrieved June, v. 2, p. 2009, 2007. TAFFAREL, Celi Nelza Zulke. Desporto Educacional: realidade e possibilidades das políticas governamentais e das práticas pedagógicas nas escolas públicas. Revista Movimento, Porto Alegre, v.6, n.13, 2000. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/11788/6986 . Acesso em 10 de Agosto de 2013. TEJERO, Javier Perez; et al. Diseño y aplicación de un programa de intervención de práctica deportiva inclusiva y su efecto sobre la actitud hacia la discapacidad: El Campus Inclusivo de Baloncesto. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del 87 Deporte, v.29, n.8, p. 258-271, 2012. Disponível em: http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3654/diseno_y_aplicacion_programa_de_inte rvencion_practica_deportiva.pdf?sequence=1 . Acesso em 10 de Junho de 2013. THOMAS, J. R. S & NELSON, J. K. Pesquisa qualitativa. In.: Métodos de pesquisa em atividade física. 3ª ed. Porto alegre: Artmed, 2002. p. 322-335. TUBINO, Manoel José Gomes. Movimento esporte para todos: Da contestação do esporte de alto nível a atual promoção da saúde. FIEP Bulletin, v. 73, n.3, p. 47-51, 2003. UNESCO. Carta Internacional de Educação Física e Esporte. Paris, 1978. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216489por.pdf VIANNA, Lucinéia Maria Brunelli Porto; TARDELLI, Paula Gracinda Alves de Souza; ALMEIDA, Luciane Infantini da Rosa. Inclusão e mercado de trabalho: Uma análise das dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência em ingressar no mercado de trabalho da grande vitória (ES). Destarte, v. 2, n. 2, p.95-109, 2012. VIANNA, José Antonio; LOVISOLO, Hugo Rodolfo. A inclusão social através do esporte: A percepção dos educadores. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v.25, n.2, p.285-96, 2011. Acesso em 10 de Maio de 2014. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/16815/18528 VIANNA, José Antônio; LOVISOLO, Hugo Rodolfo. Projetos de Inclusão Social através do Esporte: notas sobre avaliação. Revista Movimento, Porto Alegre, v.15, n.3, p.145-162, 2009. VIOLA, Gisele; PAES, Roberto; GALATTI, Larissa; RIBEIRO, Sheila. Pedagogia do esporte e autonomia: um estudo em projeto social de educação não formal. Revista Pensar a Prática, Goiânia, v.14, n.3, 2011. Acesso em 14 de Maio de 2014. Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/10913/10137 VIOTO, Josiane Rodrigues Barbosa; VITALIANO, Célia Regina. O papel da gestão pedagógica frente ao processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especais. Anais do IX Seminário de Pesquisa em Educação da Região 88 Sul, Caxias do Sul, 2012. WANDERLEY, Mariangela Belfiore. Refletindo sobre a noção de exclusão. In: SAWAIA, Bader.(Org.). As artimanhas da exclusão. 2º ed. Petrópolis: Editora Vozes, p. 8-16. WINCLKER, Carlos Roberto; NETO, Bolivar Tagarró Moura. Welfare State à Brasileira. Indicadores Econômicos FEE. Porto Alegre, v.19, n.4, p.108-131, 1992. Acesso em 14 de Maio de 2014. Disponível em: http://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/view/527/763 WINNICK, Joseph P. Educação Física e Esportes Adaptados. Barueri: Manole, 2004. WORTHEN, Blaine R.;SANDERS, James R.; FITZPATRICK Jhord L. Avalição de programas concepções e pratica. Tradução: Dinah de Abreu Azevedo., São Paulo, Ed. Gente, 2004. ZILIO, Alduíno. O Conteúdo Educacional do Esporte. Revista Movimento, Porto Alegre, v.1, n.1, 1994. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/2001/835. Acesso em 05 de Agosto de 2013. 89 ANEXOS 90 ANEXO 1: T ÓPICOS DE ANÁLISE DO “GESTOR NACIONAL”. Como a inclusão de pessoas com deficiência no esporte se encaixa na missão da instituição? Qual o papel da gestão da ACM no processo de inclusão das pessoas com deficiência nas práticas esportivas? Quais as dificuldades para o atendimento das pessoas com deficiência no programa de esportes da ACM? 4.Existe algum dialogo entre a Federação Brasileira das ACMs e as unidades com foco na inclusão das pessoas com deficiência? 91 ANEXO 2: T ÓPICOS DE ANÁLISE DO “GESTOR GERAL”. Quais os princípios que norteiam a prática esportiva dentro da instituição? Quais os objetivos da instituição em relação ao esporte? Existe uma proposta específica de inclusão para pessoas com deficiência nas atividades esportivas? Qual a preocupação da instituição com relação ao acesso para pessoas com deficiência nas suas unidades? Como a instituição compreende a acessibilidade em suas atividades esportivas? Como são realizadas as proposições para alteração do programa/atendimento esportivo? 92 ANEXO 3: T ÓPICOS DE ANÁLISE DOS “GESTORES DE UNIDADES ”. 1. Como ocorre o desenvolvimento das práticas esportivas nas unidades? Existe um plano estratégico para a inclusão da pessoa com deficiência no esporte? 2. Qual a visão da unidade sobre seu papel no processo de inclusão da pessoa com deficiência? 3. Quais as estratégias utilizadas para inclusão para a participação das pessoas com deficiência no esporte? 4. Qual a condição de atendimento para as pessoas com deficiência em relação à capacitação profissional? 5. Como é feito a avaliação do programa em relação à inclusão? 93 ANEXO 4: CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO Declaração de Autorização e Responsabilidade da Instituição Eu__________________________________________________________________________,CPF_ ____________________RG_________________,residente a __________________________________________________________________, telefone__________________, abaixo assinado, responsável pela Associação Cristã de Moços de São Paulo, declaro, que autorizo e assumo a responsabilidade de zelar para que o pesquisador cumpra os objetivos da pesquisa, a fim de viabilizar a execução do projeto intitulado: “INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESPORTE EDUCACIONAL: UM ESTUDO DE CASO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO”, sob a responsabilidade do aluno Danilo Peruchi de Freitas do Programa de Mestrado de Educação Física da Universidade São Judas Tadeu e com orientação da professora Dra. Graciele Massoli Rodrigues, Assinando este termo de Consentimento estou ciente de que esta pesquisa tem como objetivo analisar os pressupostos inclusivos inseridos no programa de esporte educacional da Associação Cristã de Moços de São Paulo. Para tal, solicitam a minha colaboração na viabilização ao acesso as informações referentes ao programa de esporte educacional oferecido pela instituição e os documentos que fundamentam o programa esportivo. O instrumento de coleta de dados junto aos gestores é uma entrevista e o contato interpessoal não oferecerá riscos de qualquer ordem aos participantes. A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou depois poderão ser livremente esclarecidas, bastando entrar em contato com os responsáveis por telefone ou endereço mencionado. De acordo com estes termos, assino abaixo. Uma cópia será cedida à instituição e outra ficará com as pesquisadoras. São Paulo _____, de _____________________ de 2013. ______________________________________________________________ Nome e assinatura do responsável __________________________ ____________________________ Professora Orientadora Danilo Peruchi de Freitas Profª Dra. Graciele Massoli Rodrigues Aluno do Mestrado Universidade São Judas Tadeu Telefone para contato: (11) 7756-9710 Telefone para contato: (11) 2799-1638 94 ANEXO 5: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Você está sendo convidado/a a participar, como voluntário/a, da pesquisa – “INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESPORTE EDUCACIONAL: UM ESTUDO DE CASO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO ”. Caso você concorde em participar, favor assine esse documento. Sua participação não é obrigatória, e a qualquer momento você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com os pesquisadores ou com a instituição. Você receberá uma cópia deste termo em que constam o telefone e endereço da pesquisadora principal bem como do Comitê de Ética em Pesquisa, para que possa esclarecer eventuais dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação. NOME DA PESQUISA: “INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESPORTE EDUCACIONAL: UM ESTUDO DE CASO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO”. PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Prof. Dra. Graciele Massoli Rodrigues. PESQUISADOR PARTICIPANTE: Prof. Danilo Peruchi de Freitas OBJETIVOS DO ESTUDO: Analisar os pressupostos inclusivos inseridos no programa de esporte educacional na Associação Cristã de Moços de São Paulo. PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: O voluntário responderá a uma entrevista referente à gestão das atividades esportivas oferecidas pela instituição, com foco na inclusão de pessoas com deficiência no esporte. Todos esses procedimentos serão gravados e transcritos. RISCOS E DESCONFORTOS: Os riscos para a realização desta pesquisa são mínimos, devido ao fato de que não há procedimentos invasivos para os sujeitos. Entretanto, entendemos que pode haver uma situação de constrangimento durante as respostas dos questionamentos. Caso esta situação aconteça, e o sujeito verificar a necessidade de acompanhamento, será encaminhado a Clínica Psicológica da Universidade São Judas Tadeu para um acompanhamento profissional. BENEFÍCIOS: O participante terá oportunidade de contribuir para mudanças no processo inclusivo da pessoa com deficiência no esporte educacional. CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá despesas do voluntário para participar no estudo. Não haverá nenhuma remuneração pela participação. CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: As informações obtidas serão utilizadas somente para a pesquisa, não sendo divulgada nenhuma informação pessoal sobre nenhum participante. A gravação dos procedimentos será utilizada para fins acadêmicos e para publicação do estudo. Os dados da pesquisa serão armazenados com os pesquisadores por um período de 5 anos. Eu,_______________________________________________________________________ RG:_________________________, declaro que li as informações contidas nesse documento, fui devidamente informado/a pelos pesquisadores sobre os procedimentos que serão utilizados, os riscos e desconfortos, benefícios, custo de participação e reembolso de despesas bem como sobre a confidencialidade da pesquisa. Declaro que concordo por livre decisão minha em participar da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer prejuízo para mim. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. Qualquer dúvida, poderei entrar em contato com os telefones abaixo discriminados ou com o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu pelo telefone (11) 2799-1944. LOCAL E DATA: São Paulo, ___ de____________ de 2013. NOME E ASSINATURA DO/A VOLUNTÁRIO/A ___________________________ Nome por extenso __________________ Assinatura Assinatura dos responsáveis pela pesquisa Danilo Peruchi de Freitas Mestrando Tel. (11) 77569710 Profa. Dra. Graciele Massoli Rodrigues Universidade São Judas Tadeu Tel. (11) 2799 1638 95 ANEXO 6: ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SÃO PAULO 96 ANEXO 7: DOCUMENTO INSTITUCIONAL INTERNACIONAL 97 ANEXO 8: REGISTRO DE ATIVIDADE COM FOCO NA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Download