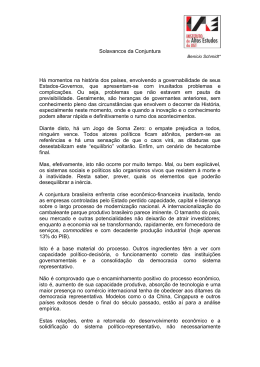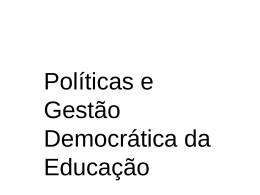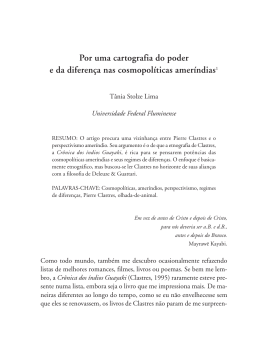UM NOVO CIDADÃO PARA UM NOVO ESTADO A palavra Estado, pela própria etimologia, sugere seu papel em relação à sociedade civil. Tem a ver com o <<estado>> dessa: sua composição, correlação de forças, sua <<instituição>>. Mas a esse aspecto estático, estacionário, acresce um outro: a função <<estabilizadora>> do Estado, de conservar as coisas como estão, de garantir sua estabilidade. Precisa a sociedade humana a tal ponto de estabilidade para ter acrescentado a seus mecanismos um estabilizador desse porte? São tantas assim as forças de desestabilização que, sem esse mecanismo estabilizador, perderia seu rumo e se dissolveria? Os transatlânticos, as aeronaves e espaçonaves têm necessidade de um complexo sistema de pilotagem para executarem com êxito seus percursos. Sucede o mesmo com a sociedade humana? I – Gênese do Estado O Estado nem sempre existiu. Se a sociedade humana tem a duração de 150 mil anos, que se atribui ao homo sapiens, o Estado apareceu há uns 5 mil anos, com as primeiras civilizações, ou seja, num dia de 24 horas, não teria sequer uma hora de duração! Antes, havia as sociedades sem Estado; as estruturas que coordenavam a vida social eram expansões da família, feitas à sua imagem e semelhança: clãs, tribos, e mesmo aldeias, unidos e harmonizados através de uma teia de grupos de parentesco e de aliança – mas esse <<estado de natureza>> não era a <<guerra de todos contra todos>>, como imaginava Hobbes, pois inúmeros mecanismos sutis de convivialidade que evitavam conflitos, e de arbitragem que os superavam quando surgiam, resultavam num estado de paz invejável, se comparamos com a violência interna de nossas sociedades atuais. Depois, quando se foram tornando mais numerosas e complexas, e quando outras já se organizavam em Estado e surgiam as primeiras civilizações, essas sociedades se tornaram, na expressão de Pierre Clastres, no título de seu livro, Sociedades Contra o Estado, ou seja, sociedades organizadas expressamente para evitar o aparecimento do Estado, que iria tirar a liberdade de que gozavam até então as famílias e indivíduos. É o caso dos pastores nômades, que, no lombo dos camelos, fugiam para desertos e estepes – fora do Estado que dominava as cidades e os agricultores ao seu redor. No entanto, nas sociedades mais complexas, sobretudo onde havia confluência de vários povos, o aparecimento do Estado se deu como uma fatalidade ou lei natural: foi-se difundindo pelo planeta, afastando as sociedades tribais para a espessura das florestas amazônicas, a austeridade dos desertos, a solidão das ilhas do sul. O papel <<estabilizador>> do Estado se destaca nesta sua gênese: o Estado surgiu em sociedades divididas em classes, para dar consistência e sanção à dominação de um estrato de senhores sobre uma massa, em geral bem maior, de escravos. Isso não é uma teoria marxista, embora Marx a tenha incluído na sua doutrina das classes sociais. Antropólogos modernos como Lévi-Strauss, Sahlins, Pierre Clastres também a admitem. Essa fissura profunda no sistema social, essa disparidade e divergência estrutural necessitavam de uma força muito grande de coesão para manter a unidade, e os mecanismos anteriores eram incapazes de dar conta dessa função. II – Estado e violência E assim o Estado nasceu sob o signo do <<despotismo>>: o despotismo asiático, uma das primeiras figuras, ilustra bem a violência da situação interna, a crueldade da opressão e a dureza que tinha de usar para impor-se. Mas, ao mesmo tempo que essa função interna, o Estado assumiu uma figura guerreira. Sempre houve conflitos e guerras tribais, mas agora as sociedades organizadas em Estado tinham mais recursos materiais – pelo excedente econômico que era gerado – mais organização e mais recursos humanos para as guerras atingirem outro patamar de violência. Era ocasião de ampliar os territórios, pilhar riquezas e fazer escravos. Os impérios partiam à conquista de povos menores e se chocavam, na sua expansão, com outros impérios. A tendência de fazer do mundo conhecido um império único estava presente; o que não havia eram meios técnicos de alcançá-lo. As muralhas da China protegiam o império-centro do mundo, de tribos indômitas: o limes do império romano isolava a <<pax romana>> dos povos bárbaros que o cercavam. A ânsia de expansão do império de Alexandre foi freada com a morte prematura do Conquistador, como a morte de Gengis Khan fez refluir a expansão de seu império. A guerra reforçava os Estados e, justamente por isso, eles incentivavam guerras e as potenciavam. O filósofo Bérgson acha que a natureza humana, espontaneamente, só chega até à solidariedade tribal e à nacional, que são como extensões do amor próprio, ampliações do <<mesmo>>: a fraternidade universal é um ideal ético, difundido por gênios criadores no campo da moral e da religião. Hegel era ainda mais radical neste ponto: achava que era da natureza do espírito dividir-se nestas <<massas>>, que são os espíritos dos diferentes povos. Um Estado universal era uma fátua utopia. Pensava também que entre Estado e guerra, a união era essencial; que os Estados precisavam partir para a guerra de vez em quando para ensinar os cidadãos a não se estagnarem nos interesses individuais, e fazê-los viver para o bem comum, e que a função suprema e específica do Estado era exigir dos cidadãos <<morrer pela pátria>>. III- Estado e civilização Mas há o outro lado da moeda: o Estado coincidiu, em sua gênese, com a da Civilização. E não foi simples coincidência; um condicionou a outra e foi por ela condicionado. São duas faces do mesmo processo evolutivo das sociedades humanas, sua complexificação e convergência, como diria Teilhard de Chardin. Sem dúvida, a expansão das artes e das técnicas, a invenção da escrita, a metalurgia, as edificações, a observação dos astros, tudo isso, junto com o caldeamento de culturas e tradições de diversos povos, possibilitava uma abertura dos espíritos, para além das tradições e do seu ingênuo etnocentrismo. Uma humanização do homem; e quem diz humanização diz marcha para a liberdade, pois o homem, em sua íntima essência, é liberdade. E, na Grécia, o Estado assumiu uma nova forma, oposta ao despotismo asiático: uma cidade de homens livres, que ditavam suas próprias leis e escolhiam seus magistrados. Não por acaso isso coincidiu com o grande salto cultural da invenção das ciências e da filosofia. Platão dizia que a <<polis>> possibilitava, através do diálogo, que a razão fosse reconhecida pelos homens e iluminasse suas ações e instituições. Essa forma de organização política dos gregos em que não havia súditos mas cidadãos, ficou como um ideal; ou o <<mito fundador>> da democracia. Na verdade, é o único sistema condigno da pessoa humana, pois respeita sua liberdade e lhe reconhece o direito de participar nas decisões que afetam sua vida. Porém uma longa história nos separa da invenção da democracia pelos gregos: uma história em que o Estado se mostrou, na maioria das vezes, de um autoritarismo insuportável, e a sociedade civil não assumiu sua cidadania, mas aceitou, ou por passividade ou por impotência, tiranias de vários tipos. Era o reino da heteronomia e do conformismo; provocando revoltas impotentes, como o anarquismo, ou revoluções libertárias, que degeneravam em tiranias ainda piores. Nas vésperas do 3º milênio, cresce a aspiração de um Estado diferente daquele que marcou tantos séculos com seu menosprezo da liberdade humana. Hoje há outra consciência dos direitos humanos: o direito de exercer a cidadania é fundamental. Mas esse novo Estado exige um novo cidadão que não se contente com a proclamação formal da soberania popular ou com direitos elencados no pórtico das constituições ou em convenções internacionais, mas saiba exercer essa soberania e efetivar esses direitos. Só que, para isso, não basta fazer reivindicações, precisa mudar de uma visão privatista e interesseira para uma cultura de cidadania. Essa cultura sabe ver o bem comum, o interesse coletivo como algo que está acima dos interesses particulares, e que, por sua vez, é sua garantia e fundamento. Vê nas leis e nas autoridades algo de respeitável e digno de obediência, porque a razão mostra o valor da disciplina coletiva, que não é opressão e sim condição da paz social e do respeito ao direito alheio. IV – O cidadão ante o Estado Assim, esse cidadão se coloca ante o Estado numa atitude que o valoriza, - por ser o instrumento privilegiado para promover o bem comum – mas não o considera outra coisa que um instrumento que a sociedade de pessoas humanas usa para atingir seus fins, ou seja, para sua plena realização. Foi assim que, neste século 20, com os progressos da consciência democrática e da organização da classe operária – que assumiu com vigor o exercício de sua cidadania – surgiu o Estado do bem-estar social, segundo Celso Furtado, <<o maior feito da democracia: é o uso do Estado para democratizar a distribuição de renda. Em vez de ser ditada pelo mercado, ela obedece a fatores políticos. Se confiar só no mercado, toma-se a lei do mais forte. O Estado do bemestar social foi a maior experiência de solidariedade que já se inventou, a grande vitória e a nobreza da democracia moderna. A sociedade assume o destino das pessoas, ninguém é abandonado>>. (Entrevista à Revista VEJA, 8 jan 97). Hoje em dia, com a crise de desemprego que assola os países, não está na hora de desmontar o Estado de bem-estar social, mas de encontrar saídas para o enorme problema, com ajuda do Estado. Celso Furtado acha que nossa civilização é bastante criativa para encontrar uma solução. A cidadania plena exige uma plena participação. A falta de mecanismos para tanto foi, entre outros fatores, um obstáculo a essa realização da democracia e, muitas vezes, ficou-se, na democracia formal e na democracia representativa, com alguns corretivos de democracia direta. Mas, já no horizonte das possibilidades, delineia-se um tempo em que o avanço das comunicações vai permitir a consulta instantânea da população e possibilitar ao povo acompanhar as ações e projetos do Estado. Precisa organizar-se para isso, mas sobretudo ter uma cultura cidadã, um acentuado espírito bíblico e uma qualidade ética apreciável. Seria possível alcançar esse objetivos? Quem vê quanto se caminhou em reconhecimento da democracia, dos direitos humanos, desde os começos do século passado até nossos dias, não achará impossível que mais um século de evolução nos conduza ao que hoje parece pura utopia. Que será dentro de um milênio? Ainda persistirá o Estado na sua forma atual, ou os mecanismos de coordenação da sociedade assumiriam outras formas – mais descentralizadas, com grau muito menor de heteronomia e de violência? Lembramos que o Estado surgiu algum tempo atrás não por não se encontrar outro modo de coordenar sociedades complexas e garantir a disciplina coletiva. A unidade do poder estatal era considerada absoluta: o Rei tinha poder legislativo, judiciário, financeiro. Vemos hoje o poder judiciário independente em países em que a corte suprema está acima das flutuações da política partidária e do ocupante do executivo, em que Bancos Centrais também atingem a autonomia para velar sobre a moeda e a política monetária, em que o Parlamento – ora o Senado ora a Câmara – gozam de supremacia em algumas questões fundamentais para o país. E essa divisão dos poderes é salutar não só para garantir a liberdade dos cidadãos, mas também para bom funcionamento do Estado. V – O Estado no futuro Mas há outro ponto em que a evolução do Estado fará que aperfeiçoe novas funções, que já começam a se formar no horizonte atual. Vimos antes como o Estado era guerreiro, que suas relações com a guerra pareciam fazer parte de sua íntima essência. Temos todo um século, todo um milênio para o Estado evoluir em um Estado de paz: um Estado diplomata, um plenipotenciário da sociedade para estabelecer laços, convênios, blocos cada vez mais amplos. Vimos, na Europa, surgir o mercado comum, e uma moeda comum; a união da Europa, que Napoleão não realizou pelos seus exércitos, mecanismos civilizados de diplomacia estão levando a cabo. Há um parlamento europeu, e não seria utópico ver surgir, em algumas décadas, uma confederação européia no modelo da Suíça. E aqui, em nossa América Latina, temos o MERCOSUL. Os cépticos não lhe davam crédito, mas não são os cépticos que fazem a história; se dependesse deles, eles a paralisariam. Os Estados Unidos e a Europa já começam a interessar-se e a preocuparse com nosso MERCOSUL, tal a importância que lhe dão por sua capacidade e pelo futuro que dele esperam. O pacto Andino fracassou: quem sabe se os países que o compunham não viriam com o tempo a formar um grande Mercado Comum conosco? Mas o mesmo movimento que leva a criar Mercados Comuns pode levar a criar uma Comunidade de Mercados Comuns e assim, pouco a pouco, os países iriam unir-se com laços bem mais estreitos e mais fortes do que conhecemos. Com isso se estaria em marcha para um Estado universal? Quando se fala assim, pensa-se numa Autoridade Soberana sobre as nações, como o Estado atual exerce sua soberania sobre seu território. Mas o Estado do futuro, ou essa coordenação entre as diversas unidades políticas, pode ser uma realidade que extravasa os nossos conceitos atuais, que precisa ainda ser inventada pela criatividade humana ante o desafio das novas circunstâncias. Hoje em dia, é evidente que o Estado não tem o monopólio de bem comum: há todo um elenco de agrupações, como a Ordem dos Advogados, que assume tarefas públicas, sem ser estatal. Que melhor exemplo do que certas ONGs, que se ocupam de problemas vitais como o ambiental, às vezes lado a lado com o Poder e, muitas vezes, enfrentando políticas mesquinhas dos Estados? Esse pluralismo da sociedade civil pode ter mais eficácia em problemas importantes e desafios emergentes que a máquina unitária do Estado. Pode bem ser que a evolução futura se faça nessa direção, e o Estado volte a parecer com a coordenação social que havia antes de seus surgimento: o Chefe, nas sociedades neolíticas, era um executor das vontades da assembléia da tribo, e não um soberano ou fazedor de leis. À medida que a consciência cidadã se desenvolver bastante e tiver meios de participação plena, pode a autoridade política voltar a ser o que era na sua pré-história: um administrador dos interesses coletivos, para executar as vontades da sociedade civil e não esse poder soberano, imperial – que é o sonho de todo governante exercer. Mas – também é evidente – para que esse Estado se estabeleça, é preciso que haja um substancial progresso da cidadania. O novo cidadão, para esse novo Estado, deve ter superado os etnocentrismos, os nacionalismos estreitos, como hoje em dia já se consegue superar as discriminações de raça e de religião dentro da comunidade nacional. Olhar o bem da espécie humana, do planeta, acima dos melindres e sensibilidades nacionais. Achar bom que a Comunidade internacional julgue seu país quando viola direitos humanos ou agride o meio ambiente que é comum a todo o planeta; entender o ponto de vista dos outros países, quando precisam de ajuda ou são explorados pelo nosso e desejar uma ordem internacional de justiça, cooperação e equidade. Essa ordem internacional ainda está longe, enquanto houver superpotências tratando os outros povos em função exclusiva de seus interesses de nação dominante, impedindo o livre funcionamento dos organismos internacionais com seu poder político e financeiro, vemos quanto a realidade está distante dessa nova consciência que começa a expandir-se entre os povos. O ritmo da história é demasiado lento para nossa impaciência de indivíduos efêmeros, mas o que nossa geração não conquista não significa que fracassou: as sementes que semeamos podem germinar, no futuro, em árvores frondosas. É essa nossa fé e nossa esperança. REFERÊNCIAS CLASTRES, Pierre. La Societé contre l’État. Paris : De Minuit, 1974. 186 p. (collection critique) FORGNES, Roseli. O mundo do Amanhã. Veja, ano 30, n. 1, p. 8-11, 8 jan. 1997.
Baixar