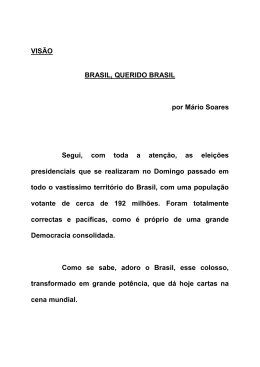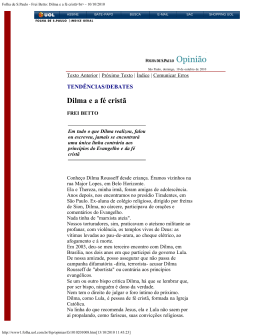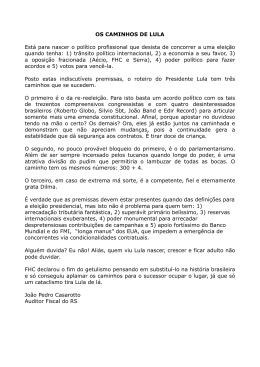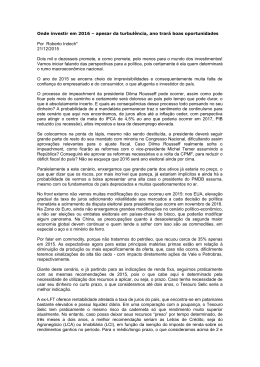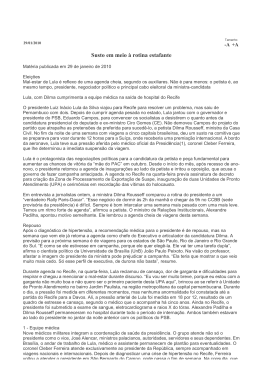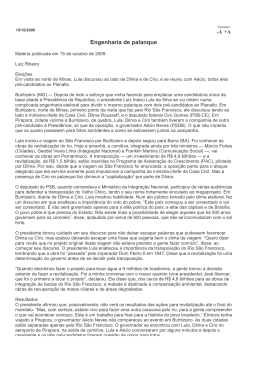Pensamento do Dia Economistas analisam a Economia, o Brasil e o mundo, mundo, na mídia diária 30 10 a 01 11 2010 ------------------------------------------------------------------ISTOÉ Dinheiro - 30/10/2010 "O Brasil deveria olhar para a Índia" Gerard Lyons, diretor do Standard Chartered O economista inglês Gerard Lyons ficou famoso no mercado financeiro mundial como um dos maiores especialistas em China. Por Milton Gamez, enviado especial a Washington (EUA) Como responsável pela área de pesquisas globais do banco Standard Chartered, em Londres, ele já desembarcou inúmeras vezes na Ásia. E o que vê atualmente do alto da Grande Muralha? A Índia. Isso mesmo. Embora a China seja a potência econômica do momento e tenha ultrapassado o Japão, a Índia tem tudo para ser uma grande alternativa de investimentos para o futuro. A democracia, a população mais jovem, a demanda interna crescente e a abertura tardia aos negócios internacionais fazem da Índia um destino obrigatório para quem procura oportunidades, defende Lyons. A Índia tem um potencial de abrir consideravelmente e o Brasil deveria pensar nela de forma estratégica, afirmou à DINHEIRO em outubro, em entrevista exclusiva em Washington. DINHEIRO Há 100 anos, a Argentina era uma das grandes apostas para o futuro. O que a história nos ensinou? GERARD LYONS A principal lição é de que nada é garantido. A Argentina foi muito bem até a virada do século XX. Muitos países têm potencial, a questão importante é o que eles fazem para chegar lá. Há uma década, o Brasil e a Indonésia causavam preocupação; hoje são exemplos do que se pode obter com as instituições corretas e a política macroeconômica adequada. DINHEIRO Como o sr. vê o Brasil de hoje? LYONS Com otimismo. No processo de mudança do equilíbrio de poder, os países vencedores são aqueles que têm recursos naturais ou financeiros ou a habilidade de se adaptar e mudar. O Brasil é um modelo muito interessante, pois em muitos aspectos tem commodities, dinheiro e criatividade. Quando fui ao Brasil pela primeira vez, há dois anos, fiquei surpreso, pois a distância eu pensava na América Latina como uma única região. Isso era errado. O Brasil é muito diferente, fala outro idioma, tem uma cultura um pouco diversa e não quer assumir o papel natural de líder regional. Conheço mais a Indonésia que o Brasil, mas vejo muitas similaridades entre os dois nos últimos dez anos. Os mercados domésticos são fortes, a política econômica tem muita credibilidade. A política transformou as duas economias em curto espaço de tempo. O Brasil tem projetos de infraestrutura a caminho com a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. Provavelmente serão construídos alguns elefantes brancos, mas os dois eventos serão importantes para aumentar o conhecimento sobre o País. O grande negócio para o Brasil são seus laços com a China, com a Ásia, com a Alemanha. E sua habilidade natural para desenvolver o mercado doméstico. A Índia é uma das economias que muitos brasileiros não consideram, pois é muito voltada para o mercado doméstico. A Índia tem um potencial de abrir consideravelmente e o Brasil deveria pensar nela de forma estratégica. DINHEIRO De que maneira? Como destino de investimentos diretos ou para parcerias comerciais, como acontece com a China? LYONS Certamente o setor de serviços é interessante para o Brasil, pois o mercado doméstico da Índia é grande para quem quer vender. As grandes empresas chinesas têm ido mais para o Exterior atualmente, coisa que as indianas já fazem há mais tempo. Isso atrai dinheiro para o Brasil, como um mercado-alvo de vendas. A grande diferença é que a China é muito dirigida pelo Estado. Os negócios envolvendo energia, por exemplo, são tratados na esfera dos governos. Na Índia, as tratativas são mais entre as corporações do que entre os governos. DINHEIRO A Embraer fechou a fábrica que tinha na China. É muito difícil para os estrangeiros fazerem negócios por lá? LYONS Meu pai trabalhou para uma companhia aeronáutica inglesa que foi comprada pelos americanos. A fábrica foi fechada e os planos foram todos para os Estados Unidos. Essas coisas acontecem há muitos anos. A China é um mercado difícil. Os salários estão subindo muito, o que eleva os custos e se torna um problema central. Uma lição da crise é que a China tem que subir um degrau na escala de valor, não pode confiar na venda de produtos baratos para consumidores ocidentais superendividados. O desafio é proteger os direitos de propriedade intelectual e migrar para o topo da cadeia de valor, em que o importante não é o preço. Alguém sempre pode fabricar um produto mais barato que o seu. Você precisa fazer algo que tenha um diferencial não ligado ao preço. Fácil de falar, difícil de fazer. DINHEIRO A Índia é uma aposta melhor que a China para o futuro? LYONS Os dois países são boas apostas, mas as pessoas estão subestimando a Índia. Não deveriam. A China abriu sua economia em 1970 e se desenvolveu de maneira fenomenal, passa por uma revolução industrial. A Índia só abriu em 1991 e não levou muito a sério. Só em 2003 e 2004 começou a avançar e, desde então, tem crescido fortemente. Precisa recuperar o tempo perdido e, se adotar as instituições e o ambiente regulatório adequado, como se espera, tem um potencial de alta muito grande. Não pode ser desprezada. A economia mundial é de US$ 61 trilhões e os Estados Unidos respondem por US$ 14 trilhões. Crescem devagar, mas ainda são a economia dominante. Há crescimento maior em outras economias, como a da China, que produz US$ 5 trilhões, e a da Índia, com US$ 1,3 trilhão. O potencial de alta da Índia é muito grande, pois ela precisa criar empregos para sua população jovem. Ambos os países terão bom desempenho, mas o maior potencial de alta está claramente na Índia. DINHEIRO Quais são as vantagens comparativas? LYONS A Índia é uma democracia, tem uma demanda interna crescente. A infraestrutura é um desafio que precisa ser enfrentado. Em tecnologia da informação e software, no entanto, oferece padrão mundial. O potencial industrial é muito forte. O setor financeiro está ficando mais desenvolvido. E a demografia é vantajosa: a Índia tem 17% da população mundial. Uma em cada 11 pessoas é indiana e tem menos de 25 anos. Isso é um fenômeno. A população da China vai envelhecer significativamente nos próximos anos. A taxa de dependência (de jovens e velhos) da China chega ao fundo do poço em 2015 e a da Índia, em 2040. A China tem um problema de gênero: há 120 homens para cada 100 mulheres. Na Índia, nascem 110 meninos para cada 100 meninas. O normal seria em torno de 105 para 100. É um problema a ser considerado. A Índia tem uma população jovem, mas precisa conseguir fazer as coisas certas na economia. Você pode ter os melhores jogadores de futebol do mundo, mas, se escolher errado, adotar a tática errada, você perde. DINHEIRO Como o sr. vê o risco político na Índia? LYONS É estranho. A Índia tem três milhões de representantes eleitos, dos quais um milhão são mulheres. O maior valor da Índia é a sua democracia, mas isso também pode ser um problema, pois significa mais tempo para conseguir fazer as coisas. O processo é mais lento, o planejamento pode ser vagaroso e isso pode segurar um pouco os negócios. Mas, quando as pessoas precisam, elegem pessoas que adotam boas políticas para a economia. Um bom exemplo é Bihar, um Estado empobrecido que, de repente, fez reformas e passou a atrair investimentos. Agora está crescendo rapidamente. DINHEIRO Quais são os maiores problemas do país do ponto de vista dos homens de negócios? LYONS Falta de infraestrutura e excesso de regulação. Na China, a infraestrutura está melhorando consideravelmente, pois eles não precisam se preocupar com o que a população pensa, simplesmente impõem as mudanças. Nesse aspecto, a China é mais parecida com Singapura, com planos de longo prazo, de cinco a 25 anos. A Índia é mais caótica. Isso aumenta seu charme, mas nem sempre garante o crescimento econômico. DINHEIRO Seria melhor investir agora ou esperar? LYONS Se você tem dinheiro, invista na Inglaterra, que estamos precisando (risos). O Ocidente precisa encarar as oportunidades das economias emergentes. O Brasil faz isso, está certo em olhar para a Ásia e não apenas desenvolver seu mercado doméstico. Eu não colocaria todos os ovos na mesma cesta. Além da China, pensaria em investir no sudeste da Ásia, pois fizeram tratados comerciais. O sul também tem de ser considerado: Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka. Um terço da população vive nesta região. DINHEIRO O governo Lula se aproximou da África. É uma boa estratégia? LYONS Sim, claro. A África está mudando muito, está saindo melhor que a encomenda. Obviamente, é preciso gerenciar as expectativas, ter paciência. Os novos corredores comerciais com a Ásia e a América Latina estão ajudando. O Brasil tem um papel fundamental criando seus próprios corredores comerciais. DINHEIRO O mundo vive uma guerra cambial. Como o rebalanceamento da economia internacional irá ocorrer? LYONS A recuperação da economia mundial está acontecendo. O copo não está 100% cheio, mas tem dois terços de água e o setor privado precisa aproveitar este momento. Porém, o foco nos próximos 12 a 18 meses será no terço do copo que está vazio. As guerras cambiais são um reflexo disso. O problema é que elas levam a guerras comerciais e todos saem perdendo. O importante é não subestimar os riscos no curto prazo nem deixar de ser otimista no médio prazo. ------------------------O Globo - 30/10/2010 O Brasil em ascensão Paulo Nogueira Batista Jr. Há uma semana, na reunião ministerial do G-20, na Coreia, chegou-se a um acordo sobre a reforma do FMI. O acordo alcançado representa a mais importante reforma de governança na história da instituição, como declarou o diretor-gerente do Fundo, Dominique Strauss-Kahn. Para nós, o resultado foi importante, pois o Brasil será um dos principais beneficiários em termos de aumento de quota e poder de voto. Alcançamos alguns objetivos importantes. O Brasil entrará para a primeira divisão, passando a figurar entre os dez maiores quotistas do FMI. O país está na décima oitava posição no ranking dos quotistas do Fundo. A ratificação da reforma de quotas de 2008, que deve ocorrer nos próximos meses, elevará o Brasil para a décima quarta posição. Com o acordo alcançado na Coreia, o país ficará na décima posição. Os dez maiores quotistas do Fundo passarão a ser as dez maiores economias do planeta: EUA, Japão, os quatro grandes europeus (Alemanha, França, Itália e Reino Unido) e os Brics (Brasil, Rússia, Índia e China). A reforma também favorecerá outros países em desenvolvimento. A transferência de quotas para o conjunto de países dinâmicos emergentes e em desenvolvimento será superior a seis pontos percentuais. A cadeira brasileira no Fundo, que compreende Colômbia, Equador, Guiana, Haiti, Panamá, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago, terá considerável aumento de poder de voto, sobretudo por causa do aumento das quotas do Brasil e da Colômbia. A transferência líquida de poder de voto dos países avançados para o conjunto de países de economia emergente e em desenvolvimento será modesta (2,6%). Somada à transferência de poder de voto da reforma de 2008, que foi o primeiro passo, chega-se a uma transferência de 5,3 pontos percentuais. O acordo negociado na Coreia não resolve, portanto, o problema de legitimidade do FMI. Deve ser visto como um segundo passo na direção de um Fundo mais representativo do peso crescente dos países em desenvolvimento na economia mundial. Por iniciativa dos Brics, foram introduzidos três elementos que asseguram a continuação do processo de revisão da distribuição do poder de voto: a) revisão abrangente da fórmula de cálculo das quotas, até janeiro de 2013, para refletir melhor os pesos econômicos relativos dos países; b) compromisso de realizar uma nova revisão das quotas até janeiro de 2014; e c) vinculação do aumento de 100% do total das quotas com uma redução correspondente dos Novos Arranjos de Empréstimo, conhecido pela sigla em inglês NAB (“New Arrangements to Borrow”), evitando que futuros realinhamentos de quotas sejam protelados com o argumento de que o Fundo tem recursos em abundância. Além disso, um acordo entre Estados Unidos e países europeus levou a que a Europa se comprometesse a abrir mão de duas cadeiras na diretoria executiva do FMI, com um aumento correspondente do número de cadeiras comandadas por países desenvolvimento. O tamanho da diretoria executiva foi mantido em 24 cadeiras. em O acordo alcançado no dia 23 de outubro, que ainda precisa ser detalhado e aprovado pela Diretoria Executiva do FMI e depois ratificado pelos países, é resultado de um longo e árduo processo de negociação no qual o Brasil teve papel central. Já tratei desse tema nesta coluna. Em agosto, por exemplo, escrevi que o nosso objetivo era “colocar o Brasil na primeira divisão, entre os dez maiores quotistas do Fundo”. E perguntava: “Temos chance de sucesso?” A resposta que dei na ocasião foi a seguinte: “Não tenho dúvida de que sim. Só não seremos bem-sucedidos se não dermos prioridade à questão. Ou se nós, negociadores brasileiros, tivermos uma recaída no velho complexo de vira-lata.” Leitor, posso dizer com total convicção: o complexo de vira-lata não deu o menor sinal de vida. Em toda essa negociação, por vezes penosa, por vezes desagradável, o Brasil atuou de maneira firme e consistente. E a atuação do nosso país no G-20 e no FMI é parte de algo maior: a ascensão do Brasil no mundo. PAULO NOGUEIRA BATISTA JR. é economista e diretor-executivo pelo Brasil e mais oito países no Fundo Monetário Internacional, mas expressa os seus pontos de vista em caráter pessoal. ---------------------------Folha de S.Paulo - 31/10/2010 Sonho continuísta Rubens Ricupero CONTINUÍSMO PARECE ser a aspiração do país, a julgar pela popularidade do presidente e pelas sondagens eleitorais. Mas será de fato possível sustentar, depois das eleições, a situação de bem-estar que inspira esse humano e natural desejo? E se não for, não se está preparando terrível decepção em curto prazo? Consumir sem poupar gera satisfação e acaba sempre em lágrimas. Durante anos, os americanos viveram além dos próprios meios até o naufrágio do qual tentam sobreviver poupando como nunca, pagando dívidas, dobrando as exportações em cinco anos. No Brasil, a sensação de bem-estar não é inédita. Como antes da crise de 1998, ela provém em boa parte do poder de compra de moeda forte, de importações baratas, de viagens ao exterior ao alcance de muitos. Contudo, o outro lado da moeda forte é o deficit em conta corrente que dobrou em doze meses e a liquidação gradual das exportações de manufaturas. Como descolar o delicioso consumo do deficit aterrador se o primeiro é a causa do segundo? O deficit corrente não só está explodindo: seu financiamento piorou em qualidade. Em lugar do investimento produtivo de longo prazo, o que financia o deficit em proporção de dois para um são os recursos estrangeiros de curto prazo, os mais voláteis, cuja saída produz a morte súbita. A fim de atenuar o impacto do ingresso de US$ 72 bilhões de curto prazo na valorização do real, o Ministério da Fazenda aumentou o IOS e outras taxas. Sua margem de manobra, no entanto, é limitada, pois, ao relutar em cortar os gastos do governo e reduzir a expansão do consumo, ele se torna refém da dependência de financiamento para o deficit. Voltamos, assim, ao ponto de partida. O continuísmo, isto é, consumo sem poupança, ganha eleição, mas agrava o deficit corrente. O financiamento do deficit, por sua vez, precisará de recursos de fora que vão valorizar mais a moeda, sufocar indústria e exportações, aprofundando de novo o deficit até o inevitável momento do pânico dos mercados e do colapso cambial. Alarmismo? "Desta vez é diferente"? A análise apresentada pelo Fundo Monetário Internacional à reunião de Washington, duas semanas atrás, chega à mesma conclusão. A inundação de liquidez despejada sobre os mercados pelas autoridades americanas e de outros países vai acabar criando bolhas e pressionando as moedas nos emergentes. A próxima crise começará em um deles. Os candidatos prováveis são os que já sofrem de valorização aguda da moeda combinada à deterioração fulminante do deficit corrente. Apesar de que o Brasil esteja nessa situação, há quem se tranquilize com o argumento da demanda chinesa pelas commodities e o futuro petróleo. Poderíamos, assim, como a Austrália e a Noruega antes da produção petrolífera, conviver anos com deficits crescentes que seriam utilizados nos investimentos para desenvolver o pré-sal. Mas terá a credibilidade dessas duas economias um país onde a megalomania inventa projetos irracionais e irresponsáveis como Belo Monte e o trem-bala? Essas teriam sido boas questões para o debate eleitoral, mas agora é tarde: a resposta ficará para a contundente lógica da realidade. -------------------------------Valor Econômico - 01/11/2010 Aonde foi parar a crise dos derivativos? Jorge Sant'Anna Passados dois anos da crise, o sistema financeiro brasileiro continua muito bem. Há dois anos podíamos perceber a formação de uma tempestade sem precedentes em Wall Street, centro nervoso do mercado financeiro mundial. Os sinais de desequilíbrio e de uma catástrofe iminente se intensificavam nos radares dos especialistas. Finalmente, em setembro de 2008, o impensável aconteceu, veio ao chão o gigante Lehman Brothers. Junto com ele foram varridos do mapa da elite financeira, ao menos da maneira como conhecíamos, ícones como: Merrill Lynch, Washington Mutual, AIG, Bear Stearns, Wachovia, Fannie Mae e Freddie Mac entre outros. No Brasil, um dos principais efeitos de tais acontecimentos foi o deslocamento imediato do mercado de câmbio. O dólar, que seguia por meses com baixíssima volatilidade, em torno de R$ 1,60, subitamente disparou atingindo o pico de R$ 2,50 nos meses subsequentes. Tal desequilíbrio desorganizou, embora momentaneamente, a lógica das operações de proteção, via derivativos, realizadas entre empresas e bancos. Tanto o ambiente de bolsa como o de balcão, onde as negociações são bilaterais, houve intensa necessidade de ajustes de forma a reduzir o risco de contraparte. Em bolsa, isso ocorreu via alteração do patamar de ajustes diários; e, em balcão, via verificações, espécie de ajuste contratual definidos entre os bancos e seus clientes. Primeira resolução exigindo o registro das operações é de 1994, muito à frente do mercado internacional Algumas grandes empresas haviam avançado muito além das operações de hedge propriamente ditas e se alavancaram de forma insustentável no novo cenário. Na esteira do pânico criado pela divulgação dos imensos problemas que enfrentavam essas empresas, dezenas de outras, menores, passaram a alegar que os contratos firmados com os bancos em um momento de baixa volatilidade haviam se tornado inviáveis. Não fosse o movimento firme e determinado do Banco Central (BC), o fantasma do rompimento unilateral de contratos teria colocado por terra anos de desenvolvimento institucional. Todo esse debate no Brasil foi perigosamente impulsionado pelos acontecimentos nos EUA. A despeito de os veículos de securitização de créditos duvidosos terem sido os principais instrumentos de disseminação da crise, um tipo especial de derivativos, os de crédito, foram largamente utilizados como suporte dessas operações. Impactados pela crise, eminentes políticos americanos iniciaram uma cruzada de demonização dos derivativos de balcão, não negociados em bolsa. Na verdade uma simplificação do problema, uma vez que os derivativos de crédito constituíam apenas uma parte menor do total do valor dos derivativos de balcão no mundo à época. (Volume total de derivativos de balcão em julho de 2008: US$ 684 trilhões em comparação com algo em torno de US$ 57 trilhões de "credit defaul swap"). Ocorre que na Europa e Estados Unidos, diferentemente do Brasil, os derivativos de balcão são contratos bilaterais, sem nenhum tipo de registro centralizado e em muitos casos não se subordinavam a nenhum tipo de regulação. Dois anos depois, para decepção daqueles que previam o caos, o sistema financeiro brasileiro está bem. A exigência de registro de todas as operações entre bancos e seus clientes em ambiente autorizado pelo BC, BM&FBovespa e Cetip, provou-se extremamente benéfica, trazendo alto grau de transparência e sobretudo resiliência ao sistema como um todo. Vale mencionar que a primeira resolução exigindo o registro data de 1994, portanto muito a frente do mercado internacional. Ainda assim o mercado não parou. Buscando diminuir as brechas existentes nos derivativos diretamente contratados no exterior, O Banco Central produziu três normas importantes em tempo mínimo - Circular 3.474 e as Resoluções 3.824 e 3.833. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou a Instrução 475 aprimorando a apresentação de informações sobre instrumentos financeiros por parte das empresas. E, no âmbito da Febraban, um grupo de profissionais, entre os quais me incluo, conceberam e implementaram a Central de Exposição de Derivativos (CED), algo ainda hoje impensável nos Estado Unidos e Europa. Nos Estados Unidos, onde desde a crise a tendência é de forçar a migração de todos derivativos de balcão para o ambiente de bolsa, o presidente Obama só conseguiu aprovar a proposta de reforma do sistema financeiro - Dodd-Frank Act - no último 21 de Julho. O documento preconiza a migração dos derivativos de balcão para o ambiente de bolsas bem como a separação nos bancos de algumas atividades relacionadas com derivativos em empresas afiliadas. Tal regulação deve ser detalhada até julho de 2011, mas antigas questões permanecem em aberto, tais como que tipo de derivativo pode ser considerado padronizado e, portanto passível de migrar para ambiente de contraparte central? Como deverão ser as plataformas de negociação eletrônicas de derivativos não padronizados? O que caracteriza um swap-dealer e quanto capital será requerido?, para citar apenas algumas questões que têm tirado o sono dos legisladores nos últimos dois anos. Na Europa, por sua vez, um grupo de multinacionais alertou a Comissão Europeia quanto aos riscos da padronização dos derivativos de balcão e da exigência de sua negociação via centrais contrapartes. Além da falta de customização necessária em operações complexas, a gestão de caixa das empresas seria comprometida pela necessidade dos ajustes e margens diárias inerentes a uma operação de uma entidade de contraparte central. No extremo, o comprometimento do capital de giro pode prejudicar a própria capacidade de investimento produtivo das empresas. De qualquer forma, enquanto os números voltam a crescer - o valor de derivativos de balcão no mundo alcançou o patamar pré-crise em julho de 2009, com US$ 614 trilhões ficamos cada vez mais distantes de uma regulação global, capaz de evitar arbitragens regulatórias e aumentar a transparência dos mercados. No Brasil, temos que evoluir, principalmente no que diz respeito à capacitação dos profissionais em empresas não financeiras e aprimoramento dos processos de governança corporativa, mas não podemos deixar de mencionar o elevado grau de maturidade dos agentes participantes do mercado financeiro, que em meio a mais severa crise dos últimos 50 anos, foram capazes de engendrar soluções tão inovadoras como a Central de Exposição de Derivativos. Jorge Sant"Anna é "head" de reengenharia do Citi e ex-diretor superintendente da Cetip. --------------------------------Valor Econômico - 01/11/2010 Mudou o mundo, o Brasil ou o BC? Gustavo Loyola As últimas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) parecem indicar que o Banco Central (BC) teria se tornado mais "dovish" quando comparado a sua atuação anterior na gestão Henrique Meirelles. A mesma percepção permeia os documentos escritos da instituição, assim como as manifestações verbais de seus principais dirigentes ao longo de 2010. Diante disso, cabe indagar quais as razões teriam levado o BC a alterar suas ações e seu discurso na execução da política monetária. Teria a economia brasileira mudado estruturalmente, abrindo espaço para uma taxa de juros "neutra" mais baixa? Seria a conjuntura internacional, onde sobressaem os riscos deflacionários, a responsável pela atual postura do BC? Ou seria essa mudança apenas uma consequência da alteração na composição da diretoria da autoridade monetária? Obviamente, não é simples a resposta a essas questões, até porque a execução da política monetária pode estar sendo influenciada simultaneamente por uma multiplicidade de fatores. Não obstante, parece ser interessante examinar os meandros do processo que, aparentemente, tem levado o BC a se mostrar menos avesso ao risco inflacionário do que no passado recente. Inicialmente, abordemos a questão da taxa de juros "neutra". Como salientado na literatura econômica, trata-se de um conceito de difícil mensuração prática. Em linhas gerais, define-se "taxa de juros real neutra" como sendo o nível da taxa básica de juros que assegura o crescimento não inflacionário da economia, presentes certas condições estruturais. Há razoável consenso, e dele fazemos parte, que nos últimos anos os avanços institucionais, a consolidação do regime de metas para inflação e da credibilidade do BC, a redução do prêmio de risco soberano e o desenvolvimento do mercado de crédito, entre outros fatores, conduziram à queda da mencionada taxa de juros "neutra" no Brasil. Aumentou a probabilidade de o BC ser surpreendido pela trajetória de inflação em 2011 Porém, há o problema prático de se conhecer exatamente qual é o nível de taxa real de juros que estaria adequado com o atual estágio dos fundamentos da economia brasileira. Num exercício econométrico realizado pela Tendências Consultoria, encontramos um nível em torno de 7% ao ano que, considerada uma meta de inflação de 4,5%, significaria uma taxa nominal básica ao redor dos 11,5% ao ano. O próprio BC realizou uma pesquisa entre os agentes de mercado para coletar suas estimativas da taxa de juros "neutra". Seu resultado não se desvia muito do número estimado pela Tendências. A média das estimativas do mercado ficou em 6,55% ao ano, com uma mediana de 6,75% ao ano, apresentando a distribuição de expectativas duas modas: 6,5% e 7% ao ano. Ora, a taxa Selic está no momento em 10,75% ao ano, o que subtraída a meta de inflação de 4,5%, (pressupondo que as expectativas tenham convergido para a meta) resulta em taxa real de juros de 6,25% ao ano, percentual abaixo da média da pesquisa do BC. E se considerarmos a expectativa de inflação para os próximos 12 meses, o número é ainda menor, de 5,6% ao ano. Desse modo, parece razoável inferir que o BC está apostando que a taxa "neutra" é, de fato, abaixo do que acredita maioria dos agentes de mercado pesquisados. Porém, outra explicação possível é considerar que a autoridade monetária entende que a conjuntura desinflacionária internacional (pelo menos nos países desenvolvidos), aliada ao movimento de depreciação do dólar americano, estaria se consubstanciando num cenário inflacionário doméstico mais benigno. Nesse sentido, aliás, na ata da última reunião do Copom, o BC afirma que "permanece elevada a probabilidade de que se observe alguma influência desinflacionária do ambiente externo sobre a inflação doméstica". O problema com essa assertiva é que, não obstante a anemia econômica dos países desenvolvidos, não há de fato um ambiente desinflacionário quando se trata dos preços das "commodities", cuja trajetória é volátil e num sentido inverso ao comportamento do dólar dos EUA. O próprio BC, na referida ata do Copom, reconhece tal volatilidade, o que recomendaria, a meu ver, maior cautela na política monetária. Ademais, no contexto de crescente intervenção no mercado cambial, inclusive com o uso de medidas heterodoxas, não se pode mais contar como certa a apreciação do real para amortecer as pressões externas dos preços das "commodities" sobre a inflação doméstica. Em vista das questões aqui discutidas, a postura mais "dovish" do BC poderia ser também consequência da mudança da composição do Copom, cujos integrantes atuais seriam menos avessos ao risco inflacionário do que seus antecessores e, por isso, mais dispostos a correrem o risco da manutenção dos juros no limiar inferior do que poderia ser considerada a taxa "neutra". Não estamos, obviamente, afirmando que o BC tenha deixado de praticar uma política monetária responsável, nem que haja riscos de descontrole inflacionário no futuro. Porém, como refletido nas expectativas inflacionárias coletadas na pesquisa "Focus", aumentou a probabilidade de o BC ser surpreendido pela trajetória de inflação em 2011, hipótese que demandaria um ajuste maior da taxa básica de juros. Gustavo Loyola, doutor em Economia pela EPGE/FGV. Ex-presidente do BC, é sócio-diretor da Tendências Consultoria Integrada, em São Paulo. -------------------------Estadão Online – 01/11/2010 A macroeconomia é dura Paul Krugman Estou recebendo algumas reações bastante histéricas à coluna de hoje, muitas delas na linha de “você é um idiota – eu sei como são as coisas no mundo real dos negócios”, etc… A questão é que nenhuma experiência de honrar uma folha de pagamentos ajuda a compreender questões que são criticamente afetadas pelo modo como as coisas operam num nível macro. Empresas são sistemas abertos; a economia mundial é um sistema fechado, com efeitos de feedback que são cruciais, mas não jogam nenhum papel na experiência normal dos negócios. Em particular, um empresário individual, por mais brilhante que seja, não precisa se preocupar com o fato de que o total de receita se iguale ao total de gastos, de modo que, se algumas pessoas gastam menos, ou alguém terá de gastar mais, ou a renda agregada terá de cair. É por isso que temos um campo chamado de macroeconomia. Infelizmente, os insights duramente conseguidos de macroeconomia estão sendo rejeitados agora em favor de sentimentos viscerais. E todos pagaremos um preço. Uma nota lateral: costumo receber muitos e-mails me atacando violentamente e afirmando em seguida que ninguém está ouvindo o que eu digo. Nesse caso, por que vocês ficam tão aborrecidos quando eu o estou dizendo? Sobre o Japão Paul Krugman David Wessel tem um artigo no qual pergunta o que Milton Friedman diria sobre alívio quantitativo, e conclui que ele teria sido a favor. Mas eu fiquei chocado com as observações de Friedman sobre o Japão em 1998, nas quais ele disse basicamente que aumentar a base monetária faria o truque: “O Banco do Japão pode comprar bônus do governo no mercado aberto…” ele escreveu em 1998, “a maioria dos rendimentos terminará em bancos comerciais, aumentando suas reservas e os capacitando a expandir… empréstimos e compras no mercado aberto. Mas quer eles façam isso ou não, a oferta monetária aumentará… Um maior crescimento da oferta monetária teria o mesmo efeito de sempre. Após aproximadamente um ano, a economia se expandirá mais rapidamente; a produção aumentará e, após outro atraso, a inflação aumentará moderadamente.” Bem, eles fizeram isso: a partir de 2002, o Banco do Japão dobrou a base monetária num período de três anos. E o dinheiro simplesmente ficou lá. O fato é que o bancos não aumentaram os empréstimos. Aliás, a experiência do Japão é um elemento chave do caso contra o monetarismo. Simplesmente imprimir dinheiro não funciona quando se está numa armadilha de liquidez. ----------------------------------ÉPOCA - 30/10/2010 O voto inocente, em meio à crise mundial Paulo Guedes Após uma fase de crescimento sincronizado no período de 2002 a 2007, a economia mundial mergulhou, também de mãos dadas, no buraco negro de 2008 e 2009. Os governos dispararam políticas de estímulo macroeconômico afastando a ameaça de uma Grande Depressão. O mundo prossegue em 2010 nesse roteiro de “reflação”, agora com desempenhos bastante assimétricos. E tudo indica que, em 2011, as diversas regiões econômicas enfrentarão problemas distintos. As economias asiáticas seguem praticando os fundamentos clássicos em busca do crescimento econômico. Trabalha-se muito e poupa-se bastante. Investem não apenas em acumulação física de capital, como máquinas, equipamentos, instalações industriais e infraestrutura. Mas também em educação e tecnologia, dimensões qualitativas que aumentam a produtividade da mão de obra. Os asiáticos aceitam a divisão internacional do trabalho importando matérias-primas da África e da América Latina para processar e exportar sem impostos, encargos sociais e trabalhistas. Buscam uma integração competitiva aos fluxos de comércio global. Seus governos registram superávits fiscais, o que permite derrubar os juros e manter artificialmente favoráveis as taxas de câmbio, estimulando exportações e protegendo a produção local contra as importações. O que disparou os recentes alertas de “guerra cambial”. As economias europeias continuam relativamente estagnadas, à exceção da Alemanha, que exibe sólidos fundamentos. Foram devastadores os abusos da social-democracia contra a saúde financeira de suas redes de solidariedade. O noticiário europeu revela um continente em chamas. O rastilho da crise atravessou Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda, atingindo agora França e Inglaterra. Os franceses pararam em colossal protesto contra um aumento de apenas dois anos na idade mínima de aposentadoria, de 60 para 62 anos. Veremos ainda muitos protestos. Já o governo britânico anunciou o maior pacote de austeridade desde a Segunda Guerra Mundial, com demissões em massa no funcionalismo público, elevação da idade mínima de aposentadoria, cortes em benefícios previdenciários e em programas de auxílio habitacional e familiar, além do fim do seguro-desemprego por prazo indeterminado. O Brasil pode estar no início do ciclo de investimentos, mas precisa de reformas para fugir da crise externa A Europa viveu décadas de excesso. Chegou a hora de pagar a conta. A política econômica de seus países foi reduzida ao manual de recuperação financeira prescrito pelo Fundo Monetário Internacional. O histórico de baixo crescimento da produtividade não sustenta mais as promessas demagógicas de um Estado do bem-estar social que estourou os orçamentos públicos. Os americanos prosseguem com seu experimento histórico de tentar impedir a inevitável desaceleração econômica ao fim de um longo ciclo de investimentos por meio de guerras localizadas (expansão fiscal) e crédito fácil (expansão monetária), políticas macroeconômicas convencionais de fôlego curto. Alquimia perigosa que está empurrando a América para um declínio ainda mais profundo. A tentativa de “reflação” já funcionara de 2002 a 2007, após o estouro das Bolsas e o colapso dos investimentos privados em 2000 e 2001. O kit keynesiano produziu uma recuperação econômica à base da expansão excessiva de crédito criando uma sequência de bolhas nas Bolsas, nos mercados imobiliários e nos gastos de consumo de 200 milhões de famílias americanas. A enorme destruição de riqueza disparada pelo colapso do crédito e o novo mergulho das Bolsas de 2008 e 2009 é que explica tanto a dificuldade da recuperação atual quanto a obsessão dos americanos pela construção de pontes de papel sobre o abismo da depressão. Enquanto colidem dois mundos, de um lado 3,5 bilhões de eurasianos emergentes e de outro um Ocidente em declínio, os brasileiros votam, inocentes, em meio à guerra mundial por empregos. O Brasil pode estar no início de um longo ciclo de investimentos, mas precisa disparar reformas para escapar ao campo gravitacional da crise externa. ---------------------------O Globo - 01/11/2010 Heranças do Antigo Regime Paulo Guedes Uma das características marcantes da globalização contemporânea é a extraordinária mobilidade de capitais. Nunca o dinheiro atravessou tantas fronteiras em tais magnitudes e com tal velocidade como ocorre nos dias de hoje. São fluxos financeiros de todos os tipos e em quaisquer prazos para lubrificar uma engrenagem de produção global. Mas, antes de entrar em uma economia, esses fluxos precisam cruzar os mercados cambiais. Têm de ser convertidos em moeda local. E chegam como verdadeiros tsunamis em direção ao setor produtivo, ondas enormes que ameaçam fazer submergir as exportações e a produção local que compete com importados. Pois recursos financeiros em excesso derrubam o preço da moeda estrangeira, tendo efeitos devastadores sobre a produção e o emprego no país. Em ambiente macroeconômico de extraordinária mobilidade de capitais, a tentativa de estimular a economia por meio de gastos públicos é pouco eficaz. Os juros sobem e o câmbio desce, derrubando o consumo e o investimento privados, as exportações e a produção local dos substitutos de importações. A expansão dos gastos públicos tem seus efeitos sobre a produção e o emprego anulados pela queda da taxa de câmbio. Duvido que o governo tenha criado mais empregos públicos do que estão sendo destruídos com o dólar a R$ 1,60. Estão sob ameaça de afogamento os produtores de eletrodomésticos, eletrônicos, sapatos, têxteis e confecções, indústria moveleira, brinquedos e assim por diante. Ao contrário da política fiscal, uma política monetária expansiva tem seus efeitos ampliados sob regime de câmbio flutuante. Primeiro caem os juros, estimulando o consumo e os investimentos, depois sobem as exportações e a produção local dos importados em consequência da desvalorização cambial. Mas o afrouxamento monetário pressupõe um novo regime fiscal, para que se mantenha a inflação sob controle. Não há nada de errado com as transferências de renda para as populações pobres. Não é desses gastos públicos que falamos. Esses são gastos sociais com a formação de redes de solidariedade inerentes a uma democracia emergente. Por que não foram contidos os gastos com os privilégios do Antigo Regime? As alianças de tucanos e petistas com entidades corporativistas e políticos conservadores do Antigo Regime explicam a ausência de uma dimensão fiscal favorável à criação de empregos no Brasil. ------------------------------ISTOÉ - 30/10/2010 "O novo presidente terá que seguir o caminho de Lula" Michael Reid Para o editor da "The Economist" para as Américas, nos últimos oito anos o Brasil se tornou uma locomotiva da economia mundial e não pode retroceder Claudio Dantas Sequeira O vitorioso neste domingo 31 terá a enorme responsabilidade de administrar o legado de oito anos do governo Lula. O que significa, na opinião do jornalista inglês Michael Reid, realizar o desa-fio de elevar o Brasil ao patamar das grandes potências, além de manter o crescimento econômico e a influência política no cenário in-ternacional. Editor para as Américas da revista The Economist, da qual foi correspondente em São Paulo por 15 anos, Reid afirma, nesta entrevista à ISTOÉ, que o Brasil hoje é uma grande locomotiva da economia mundial. Autor do livro O Continente Esquecido: A Batalha pela Alma da América Latina, Reid diz que o sucessor de Lula terá de agir com pragmatismo e rigor, evitando batalhas ideológicas. Sobre a no-va composição partidária no Con-gresso, Reid prevê que a pe-tista Dilma Rousseff, respaldada pela ampla maioria da base aliada, não teria problemas de governabilidade, o que seria muito diferente com o tucano José Serra. Reid não tem dúvida sobre o resultado do segundo turno: É uma nova eleição, mas Dilma será a nova presidente. Istoé - O Brasil vai eleger o primeiro presidente da era pós-Lula. O que isso significa? Michael Reid - Se Dilma vencer, espera-se que Lula continue interferindo de alguma maneira. Lula não é Getúlio Vargas, que passou o governo Dutra em sua fazenda na fronteira com o Uruguai sem dar um pio por três anos. Ou seja, se o PT continuar no poder, é difícil falar de uma era pós-Lula. Istoé - Mas, se o candidato Serra ganhar, será o fim do lulismo? Michael Reid - Não acredito no fim do que chamam lulismo. Uma derrota de Dilma poderia significar, sim, o fim de sua carreira política, ou pelo menos de suas pretensões em se tornar presidente. Mas não de Lula. Ao contrário, a vitória de Serra reforçaria o movimento dentro do PT para tentar retomar o poder em 2014. E aí o Lula, sem dúvida, seria o mais forte candidato petista para esse desafio. Istoé - De qualquer forma, caberá ao próximo presidente administrar esse legado. Qual o tamanho dessa responsabilidade? Michael Reid - Muito grande. É por isso que tanta gente fora do Brasil vem acompanhando com o máximo interesse estas eleições. Não houve um veículo importante da imprensa internacional que não tenha publicado reportagens sobre essa disputa. Nada mais natural. O Brasil tornou-se uma grande locomotiva da economia mundial. É visto como o país mais poderoso da América Latina e precisará, a partir de 2011, exercitar essa influência com mais rigor. Istoé - De que maneira? Michael Reid - No sentido de garantir maior estabilidade democrática. Quando se analisa a realidade geopolítica da América Latina, há um reconhecimento de que a Colômbia, por exemplo, é uma potência emergente, enquanto a Venezuela é uma potência em declínio. O Brasil, como líder, deve abandonar resquícios ideológicos e ter força para condenar violações e excessos, e preveni-los também, através das instituições democráticas regionais. Istoé - Nesse sentido, o que se pode esperar do sucessor de Lula? Michael Reid - Num cenário de aumento da presença do Brasil na cena internacional, é preciso considerar que o País elevou sua influência também por conta de seu crescimento econômico e também porque a democracia brasileira tem sido bem-sucedida, especialmente em suas políticas sociais. Independentemente de quem seja o próximo presidente, ele terá que seguir o mesmo caminho de Lula. Não terá o mesmo protagonismo, até porque não tem o mesmo carisma nem a mesma biografia. Acho que será menos ativo, com uma diplomacia mais institucionalizada, ou seja, com o aumento do papel do próprio Itamaraty. Istoé - Além do papel regional, o Brasil deve seguir apostando na mediação do conflito no Oriente Médio ou da questão nuclear do Irã? Michael Reid - Já é consenso de que a aposta na mediação da crise nuclear do Irã foi o grande erro da diplomacia brasileira e fez o País perder certo prestígio. Não há dúvida de que Lula tinha suas razões e agiu motivado por um desejo sincero de ajudar, pela crença de poder ser o mediador entre, digamos, o bem e o mal, Deus e o diabo. Não acho que o futuro presidente poderá fazer isso. E o Brasil, antes de tudo, deve se perguntar se é bem-vindo em crises como a do Oriente Médio. Sinceramente, acho que não. Istoé - Então, qual deve ser o foco do próximo presidente em termos de ação internacional? Michael Reid - Creio que a questão iraniana não ajudou muito, por exemplo, a luta pela reforma do Conselho de Segurança da ONU. Minou as intenções brasileiras, na medida em que o Brasil contrariou as grandes potências, a Europa e os Estados Unidos. O que quero dizer com isso? Que a grande questão é que tipo de relação o País quer ter com o Estados Unidos, que ainda será a potência dominante. O Brasil é uma potência emergente e pode ajudar muito no equilíbrio de forças no tabuleiro internacional. Brasil e EUA têm muito em comum, são duas grandes democracias, duas forças dominantes na América e compartilham um grande mercado. Istoé - O sr. escreveu na The Economist um artigo em que considerava como certa a vitória de Dilma no primeiro turno. O que deu errado? Michael Reid - Na verdade, escrevi que poderíamos ter um segundo turno e que seria difícil ela perder. Embora as pesquisas de opinião tenham mostrado um crescimento da candidatura Serra, Dilma se firmou e é a favorita. Certamente, será a nova presidente. Trata-se de uma nova eleição, claro, muito mais competitiva. Istoé - Não lhe parece uma contradição que no Brasil do século XXI o debate religioso tenha influenciado o resultado do primeiro turno? Michael Reid - Sem dúvida! E é lamentável que algo assim possa ter influído na eleição. Isso mostra que o Brasil é um país aparentemente muito liberal, mas também muito religioso. Não está sozinho. Na América Latina, de forma geral, temas como o aborto ainda são tratados como tabu. O único lugar em que o aborto foi legalizado é a Cidade do México. Falta ao Brasil e a seus vizinhos realizarem um debate maduro sobre essa questão. Istoé - É um problema estrutural ou um reflexo do fundamentalismo religioso visto nos Estados Unidos e em vários países europeus? Michael Reid - Na Europa não temos mais esse problema, só mesmo a questão dos muçulmanos. Mas nos EUA esse conservadorismo ainda é forte e explorado politicamente com as chamadas guerras culturais, que marcaram especialmente o governo Bush. Espero que não progridam no resto do continente e em países como o Brasil. A politização dos temas religiosos é nociva. É preciso discutir temas mais importantes, como política econômica e educação. Istoé - Dilma é vista fora do Brasil como desenvolvimentista? Michael Reid - Ela segue o modelo implementado por Lula. Acredito que o Brasil segue um capitalismo mais ao estilo francês do que ao chinês, no qual o Estado apoia a criação de grandes empresas privadas nacionais, além de investir diretamente em estatais fortes, como Eletrobrás e a própria Petrobras. Acho que existem duas Dilmas. Uma é a administradora competente e extremamente pragmática, e outra é mais ideológica, mais nacionalista, mas nacional-desenvolvimentista. Esta segunda Dilma expressa o regime do pré-sal. Acho que vamos ver as duas dependendo do tema e das circunstâncias. Istoé - Considerando essa participação maior do Estado, em que áreas estratégicas ele deve atuar? Qual o limite dessa atuação? Michael Reid - Quando estive com Lula há dois meses, perguntei que lição ele havia tirado da crise financeira de 2008. Lula me disse que o Estado deve estar preparado para atuar, deve regular e mobilizar capital privado e intervir temporariamente. Espero que o Brasil siga isso. Porque o grande perigo é o abuso disso, o uso de dinheiro público para questões que não educação, infraestrutura e outras demandas da sociedade. Acredito que a chave para o investimento público é fomentar a inovação. Istoé - Na nova configuração de forças partidárias que emergiram das urnas, o que lhe chama a atenção? Michael Reid - O fortalecimento do PT, sem dúvida. O partido já não é mais aquele das décadas de 80 e 90, com força nas zonas mais industrializadas, especialmente em São Paulo e na região Sul. O PT tem mudado e crescido, como consequência natural dos oito anos de Lula no poder, agora com sua força crescente nas áreas mais pobres do País, no Nordeste e no Norte. É um PT mais vinculado ao Estado, ao governo. Mas acho que, com Dilma eleita, ela não governará seguindo apenas o interesse de seu partido. Istoé - Mas a ala mais radical do PT tende a impor sua agenda com mais força agora? Michael Reid - É muito difícil responder a essa pergunta. Dilma desenvolveu sua carreira nos bastidores do poder, en-tão não dá para prever como lidará com esses assédios. O Lula, com seu jogo de cintura e sua intuição política extraordinária, restringiu a atuação dos radicais. Até onde sabemos, a Dilma terá que levar em conta não só a força das correntes do PT, mas os interesses de todos os aliados, especialmente do PMDB. Os governos sempre têm que responder às circunstâncias. Então, até que ponto ela terá dificuldade com isso não dá para saber, é uma pergunta aberta. Istoé - De que forma a composição do Congresso interfere na governabilidade do próximo presidente? Michael Reid - Depende de quem for o presidente. Com Dilma, o processo de negociação com o Congresso será muito mais fácil. Na hipótese de Serra, ele teria grande dificuldade para governar. Istoé - Então só com um governo Dilma sairão as ansiadas reformas política e tributária? Michael Reid - Não sei se interessam ao PT essas reformas. Acho que interessam muito ao País, mas a questão de fundo será saber o que acontecerá no mundo. Os economistas do PT acreditam que o Brasil tem tempo para fazer ajustes suaves do déficit fiscal, reduzindo de forma muito lenta o nível de investimento do BNDES. A concepção de pes-soas como Luciano Coutinho é de que o Brasil tem tempo para reduzir o déficit fiscal e o nível de endividamento do BNDES, tempo para desenvolver formas mais sólidas de financiamento a longo prazo. Isso não será um problema se a economia mundial permanecer no nível atual. A sorte é que atualmente não há nenhuma crise ime-diata para resolver. ------------------------------------Correio Braziliense - 30/10/2010 O que nos aguarda Antonio Machado O país que Lula vai legar está bem melhor que o herdado, mas requer outro ajuste para um novo salto O Brasil que vai às urnas continua sem a mínima ideia sobre o que a dupla de candidatos cogita de fato para o país que um deles governará a partir de 1º janeiro, mas não parece muito preocupado. Os dois maiores grupos sociais, o dos jovens, por faixa etária, e o dos pobres, por nível de renda, têm reclamos pontuais, não bem a pegada da insatisfação generalizada. A geração mais jovem, até uns 30 anos, tem vivido a maior parte do tempo sem grande dificuldade. E o grosso do eleitorado, formado pela base da pirâmide de renda, continua pobre, mas experimenta um sentimento de bem-estar inédito quanto à amplitude e à velocidade de ascensão social. O cruzamento dessas sensações está pontuado pelo que dizem as pesquisas. Dê Dilma Rousseff, e provavelmente a escolha foi guiada não bem pela avaliação sobre o mais capaz de preservar a melhora percebida da situação social, mas de expandir as possibilidades de conforto material e de qualidade de serviços, como saúde, educação e lazer. Não está claro nas pesquisas qual o efeito sobre as percepções da sociedade de a recessão de 2009, sequela da crise global, ter sido tão branda. Ela passou despercebida, sobretudo aos atendidos pelas redes sociais. A resistência pode ter criado o senso de que o país está pronto, dispensa ajustes e seria mais forte do que é de fato. É esse um dado significativo a mais na difícil equação econômica que o futuro presidente terá de resolver, premido por demandas de custeio do próprio Estado, de continuidade da repartição de renda aos setores mais frágeis e de financiamento da miríade de projetos públicos de infraestrutura já assumidos, de usinas hidrelétricas a estradas. A totalidade das intenções excede o fôlego da sociedade. Nelas se insere o ciclo de expansão da produção industrial e da oferta de infraestrutura que necessariamente a acompanha, e isso num quadro de restrição do funding requerido ao seu financiamento, tudo embalado pela premissa da estabilidade inflacionária — valor já intrínseco às demandas populares. Inflação é um imposto. Dela governo nenhum, para a sua sobrevivência política, pode ter a expectativa de extrair alguma receita forçada. E menos ainda da carga tributária tradicional. A 35% do PIB, tornou-se excessiva, especialmente à produção e aos que a pagam de fato: a classe média típica, ampliada pela mobilidade da base da pirâmide de renda. Lula esticou a corda A trajetória vislumbrada para 2010 em diante é de continuidade do crescimento econômico, mas a um ritmo menor, meio como fora para Lula o primeiro mandato: tempo de arrumação da casa para soltar as amarras depois. Mas hoje com maior fluência e menos dificuldades. Em 2003, a economia quase embicou na recessão, induzida por juros de 20% e corte de gastos públicos, para amansar a inflação. Hoje, a inflação está comportada e não há desconfiança quanto às contas fiscais. Mas a economia que Lula vai legar ao sucessor não está pronta para outro salto. Ele esgarçou o orçamento fiscal com a recepção de demandas de custeio, sobretudo com aumento da folha de salários do funcionalismo e contratações, e estimulou a banca pública a esticar o crédito muito além da capacidade patrimonial. Do estatal ao privado Quem vier em 2011 terá de coadunar o desejo dos planos e projetos à dimensão fiscal e financeira do Estado, o que implica convocar o capital privado nacional e o estrangeiro para chegar mais perto. Já está certa a reforma regulatória e tributária do sistema bancário e mercado de capitais para fomentar o financiamento de longo prazo com fontes voluntárias. Hoje, só o BNDES dispõe desses recursos. A poupança privada, alavancagem das empresas privadas e funding externo resolvem parte do problema de financiar o investimento. A atenção aos programas típicos de Estado, como educação, saúde e a rede de proteção social, no entanto, exige outras avaliações, não necessariamente implicando mais gasto, mas melhoria de gestão. CPMF é maçã envenenada O novo governo será tentado a recriar a CPMF e há chance de vir a aprová-la no Congresso, redimindo o presidente Lula, que tomou sua derrubada no Senado como ofensa pessoal. Se o fizer, será ao custo de enorme desgaste, talvez criando um conflito com os assalariados de renda média que atravessará todo o mandato. Nem que tivesse a sedução de Lula, seu sucessor conseguirá evitar o trabalho duro de obter maior produtividade da administração e sintonizar a política econômica com o capital privado. Se fizer isso, ainda que pareça pouco, terá feito muito, e estará menos vulnerável às pressões. Colesterol da economia A inflação, os juros altos, o câmbio valorizado expressando não a força do real, mas a defasagem entre a demanda ao nível de pleno emprego e o tempo de ajuste da oferta nacional a ela, função, por sua vez, de investimentos cujo financiamento só é atendido a custo permissível por fundos públicos gerados por dívidas do Estado. E a um custo que reflete as disfuncionalidades do crescimento. O custeio do governo, acumulado ao resgate dos setores sociais à margem do crescimento e ao financiamento do Estado-empresário, é o torresmo na feijoada da economia, em que o arroz e o feijão são a recuperação da renda das famílias e do investimento privado. Algo terá de ser digerido com parcimônia para não haver indigestão. Dos três, o torresminho parece o candidato. A discussão é toda essa. --------------------------------- O Globo - 30/10/2010 Depois do palanque Míriam Leitão Quando novembro vier, será inevitável olhar o quadro econômico sem escapismos. Há muitos dilemas para enfrentar. A dívida bruta está em torno de 60% do PIB, o superávit real caiu, num ano de aumento de arrecadação. O dólar é um preço desconcertante. O governo não sabe o que fazer com o câmbio. Os candidatos evitaram o tema economia e gastaram sua munição em algumas falsas batalhas. Os números ouviram muito desaforo durante o programa eleitoral e os debates. Foram contorcidos para confessar o que não registraram ou foram tomados pelo que se parecem e não pelo que são de fato. O mercado de trabalho teve mais dinamismo no governo Lula, sem sombra de qualquer dúvida. Mas quem procurar no Ministério do Trabalho ou no IBGE vai encontrar números diferentes dos 15 milhões de empregos que Dilma Rousseff tem dito que foram criados. Há de fato boas notícias nessa área. E há um mar de más notícias. O desemprego de jovens de 18 a 24 anos está em 14%, isso é 125% maior do que os 6,2% da taxa média de desemprego, que é a mais baixa desde o começo da pesquisa. No Recife, o desemprego de jovens é de 20% e em Salvador é de 24,5%. Na informalidade estão 22 milhões de trabalhadores. Números que informam que no melhor momento recente do mercado de trabalho, há desafios gigantes pela frente. O número de alta do PIB é mais vistoso do que real. Parte dos 7,5% do crescimento este ano é apenas a recuperação da queda do ano passado. O país crescia a 6%, caiu para taxas negativas, e este ano recuperou o que havia perdido e ainda cresceu. Mas de crescimento real mesmo, segundo especialistas, é entre 4% a 4,5%, o que é uma boa taxa. Isso significa que para repetir o nível de 7% no ano que vem, só mesmo pisando mais o pé na tábua e criando mais distorções. É por isso que as previsões são de crescimento menor em 2011. O Brasil tem sido visto com bons olhos por analistas de bancos, fundos e agências de risco estrangeiros não porque as contas públicas melhoraram, é que o mundo piorou muito. Na comparação com outros países o Brasil parece bem. Mas há dados que afligem. A arrecadação está aumentando mais de 17% e mesmo assim o Brasil está reduzindo o superávit primário e a dívida bruta está em 60%. A dívida líquida só não está aumentando por causa dos truques contábeis como o de registrar como empréstimos o dinheiro transferido para o BNDES. O superávit primário de setembro foi tão gigante quanto falso, mas o governo aproveitou a fantasia e mandou gastar mais. A receita é falsa, o gasto é real. Números marretados são ótimos para inglês ver, mas não enganam quem vive de olhar os indicadores brasileiros. O crédito está se expandindo fortemente e já está perto de 50% do PIB. Mesmo assim, essa medida de crédito/PIB do Brasil é baixa quando comparada com outros países. Só que com os juros brasileiros o custo do serviço dessa dívida tanto para as famílias quanto para as empresas é muito mais alto. Nosso horizonte de endividamento é mais curto. As famílias se endividam a 40% ao ano. Isso é muito alto. O Brasil está melhor do que outros países do mundo e ainda paga juros de 10,75%, por isso tem atraído mais capital estrangeiro; o capital entra derrubando o dólar; o dólar incentiva a importação e aprofunda o déficit em transações correntes. O governo tenta deter a entrada de dólar com aumento do IOF e ameaças de que tem “outras armas” mas não diz quais. Isso apressa novas entradas. O Banco Central compra mais reservas internacionais numa moeda que está perdendo valor em relação às outras e em títulos de dívida de países que não remuneram seu capital. E se endivida a 10,75% ao ano. Está pegando dinheiro no cheque especial para aplicar na poupança. E mesmo com toda essa compra de reservas o dólar cai. Os setores que se sentem ameaçados pelos importados começam a pedir medidas de proteção. Assim, o país vai criando um desajuste atrás de outro. Parte do déficit externo é causado por aumento de investimentos. Isso é ótimo porque aumentará a capacidade produtiva da economia brasileira. Só que parte desse excesso é para financiar consumo. E aí é que mora o perigo. O dólar baixo ameaça os produtores locais, que já falam em “desindustrialização”, como a Fiesp, mas é o que tem garantido que a inflação não suba muito. Os preços de alimentos e serviços estão em alta, mas o de produtos impactados pelo dólar estão subindo mais devagar pela queda da moeda americana. O que significa que se o governo tiver sucesso no seu projeto de desvalorizar o real frente à moeda americana, terá um outro problema para resolver: a alta da inflação. O ministro da Fazenda disse que aumento de gasto não é inflacionário. Ele se engana mais uma vez. A inflação não está subindo apenas porque o dólar está baixo e tem puxado para baixo o índice. Para onde se olhe há circulo vicioso se formando na política econômica, administrada com imperícia e desconhecimento teórico básico. Parte do sucesso atual se deve ao fato de que a China crescendo está comprando mais e elevando preços de commodities que o Brasil exporta. Não fosse isso, o rombo nas contas externas seria maior. Só que parte do crescimento da China se deve às exportações turbinadas por um yuan com preço artificialmente baixo. A torcida é para que este governo e o próximo a ser eleito consigam ver os riscos que estão se formando. Quando forem desarmados os palanques talvez seja possível admitir a existência dos desequilíbrios. Mas isso, quando novembro vier. COM ALVARO GRIBEL --------------------------------- Valor Econômico - 01/11/2010 Um desafio comercial para o pós-Lula Sergio Leo Europa e EUA tendem a criar novas barreiras aos produtos agrícolas Primeiro país onde foram abertas as urnas das embaixadas brasileiras, no domingo, a Nova Zelândia garantiu a José Serra sair na dianteira na apuração das eleições presidenciais. Esse fato circunstancial despertou no Brasil um fugaz interesse pelo país, coincidentemente após uma semana em que esteve por aqui um ministro neo-zelandês, Tim Groser, responsável pelos assuntos de Agricultura e Meio Ambiente da Nova Zelândia. Ele trazia mensagens de interesse ao sucessor de Lula, qualquer que fosse o resultado das urnas. Como o Brasil, a Nova Zelândia é um grande exportador de produtos básicos, e, nessa condição, ativo participante das discussões mundiais de comércio. Groser é, ele próprio, respeitado negociador, e já coordenou os grupos de negociação de agricultura e de antidumping, da chamada Rodada Doha, na Organização Mundial de Comércio. Em 2003, como coordenador de agricultura, até esteve no Brasil, para a reunião da Unctad, órgão da ONU para o comércio e desenvolvimento. Groser alerta para uma mudança importante nas tendências das barreiras aos bens agrícolas, que será tema de decisões já no próximo ano. Por um lado, a forte demanda dos países asiáticos, obrigados a alimentar uma classe média em crescimento e mais sofisticada, continuará a favorecer exportadores de bens agrícolas, com pressão sobre os mercados e os preços internacionais. Essa demanda tem permitido a países como a Nova Zelândia, firmes no compromisso com o câmbio flutuante, um desempenho razoável no comércio, compensando déficits sazonais, apesar da queda na cotação do dólar. Por outro lado, os mercados maduros, na Europa e nos EUA, ainda importantes para os produtores agrícolas mundiais, tendem a criar novas barreiras, dificultando as exportações. Groser, veterano na OMC, afirma que a existência da organização foi fundamental para evitar a repetição do desastre dos anos 30, quando uma crise financeira foi atacada a golpes de protecionismo suicida. "A OMC salvou um mundo de um desastre maior em 2008", garante, mas reconhece: as negociações de liberação comercial travadas em Genebra estão atoladas, sem perspectiva de solução. E só nessas negociações países como o Brasil conseguiriam resultados para remover os maiores entraves ao comércio agrícola - subsídios e incentivos ilegais concedidos pelos países ricos a seus produtores. A euforia nos mercados agrícolas tem encoberto esse problema, que pode aparecer mais adiante, alerta. Nos últimos meses, tem surgido timidamente um debate sobre a possibilidade de acionar a OMC para enfrentar os danos comerciais causados pela moeda chinesa depreciada artificialmente, ou, quem sabe, pela política monetária americana, que incentiva artificialmente uma desvalorização adicional do dólar. Para Groser, o fracasso da OMC em avançar na derrubada de barreiras ao comércio é razão suficiente para ser muito cético em relação às recentes conversas nas esferas internacionais, sobre um possível papel da organização na estratégia para lidar com as distorções na economia mundial provocadas por políticas nacionais no campo monetário e de câmbio. "Discutimos extensivamente esse tema na Rodada Uruguai", lembra Groser, mencionando a rodada anterior de liberalização comercial, terminada em 1993 com a criação da OMC. Na ocasião, o problema era inverso, a valorização excessiva do dólar, mas o resultado das discussões na época não foi diferente do que o experimentado político prevê para o debate atual: "Após sete anos de discussão, ela não produziu absolutamente nada, a não ser um acordo fraco, sugerindo maior discussão do tema com o FMI". Profundamente cético, como se define, comenta que "não soa sério", para ele, o debate sobre a OMC intervir no que o ministro Guido Mantega definiu como "guerra cambial". "A OMC já tem problemas o bastante em sua esfera de atuação tentando resolver problemas estruturais, como os subsídios agrícolas", argumenta. O perigo, para os exportadores agrícolas, não vem só dos governos na área de ação da OMC, mas das grandes corporações multinacionais, tentadas a estabelecer "esquemas mal desenhados" para escolha de seus fornecedores, aponta o ministro neo-zelandês. Segundo identificou o governo da Nova Zelândia, as pressões domésticas sobre grandes multinacionais e tradings devem gerar novos padrões de exigência baseados em critérios ambientais e de sustentabilidade. Etiquetagem de produtos, considerando a emissão de gases de efeito estufa na produção das mercadorias, devem se tornar comuns, acredita Groser, e os exportadores agrícolas devem se preparar para isso. "Esses esquemas mal desenhados se tornaram nosso principal alvo", informa Groser. "E nossa resposta a eles é aumentarmos nossa sofisticação, recrutar cientistas e tecnólogos para aperfeiçoar as medidas de emissão de carbono". Os sistemas de etiquetagem atuais tendem a desfavorecer grandes produtores, como Brasil e Nova Zelândia, distantes dos centros de consumo, e que transportem em largas distâncias. É preciso mostrar que as condições de produção brasileiras e neo-zelandesas são bem mais amigáveis ao meio ambiente que grande porção da produção europeia e americana, argumenta Groser. A Nova Zelândia lançou, em Copenhague, no ano passado, uma "Aliança Global" entre países produtores, para aperfeiçoar a produção agrícola por critérios de sustentabilidade ambiental, e deve formalizar esse esforço coordenado de cientistas e técnicos até o fim de 2011. O Brasil, por meio da Embrapa, participa como observador, ainda desconfiado das verdadeiras intenções dos neo-zelandeses, que também são exportadores de tecnologia. O protecionismo agrícola e respostas como a da Nova Zelândia são, porém, tema inevitável na agenda do novo governo. É uma pena que os debates na campanha não tenham indicado como irá lidar com eles. Sergio Leo é repórter especial e escreve às segundas-feiras ------------------------------Correio Braziliense - 31/10/2010 Passagem para 2011 Antonio Machado 1º desafio é explicitar que os problemas são soluções para o país entrar no clube do mundo rico A passagem do processo de crescimento econômico com distribuição de renda para 2011 é estreita, mas não está interditada. O juízo é favorável, se o novo presidente focar o que é substantivo e largar os adjetivos, algo nada simples, especialmente depois do marketing exuberante do presidente Lula e de sua facilidade de comunicação. O primeiro desafio é explicitar à sociedade que os problemas para 2011 em diante são soluções para a entrada do país no rol do mundo desenvolvido. Superado o desequilíbrio entre o aumento da demanda (criada pela melhora da renda e a distensão social) e a capacidade da oferta doméstica de atendê-la, desfaz-se o nó que tem submetido ao longo das últimas décadas o crescimento econômico ao para-anda via restrições de política monetária, sobretudo por meio de juros. Não há sacrifícios envolvidos, só a necessidade de sincronizar a expansão da capacidade produtiva ao seu financiamento em situação de estabilidade de inflação e do câmbio. Isso implica desenvolver a poupança nacional, entendida como o gasto público não empenhado em sua quase totalidade em despesa corrente, mas em investimentos. E chega-se a ela bastando adequar o ritmo de crescimento do gasto público a um nível pouco abaixo da trajetória do PIB que já vem acelerado, havendo a premissa de que assim continuará. A estratégia que se apresenta para o Brasil, como enfatiza um dos provavelmente muitos textos de referência enviados à assessoria de Dilma Rousseff, é a do crescimento fortemente baseado na expansão do investimento, especialmente o promovido pelo Estado. O dinheiro considerado para os próximos anos é brutal. Se viabilizado o seu financiamento, sem esgarçar o endividamento do Estado, não há como o país não ascender a um estágio superior entre as nações. As condições externas e o amadurecimento da economia brasileira, depois de 20 anos de sua abertura ao exterior e 15 anos de Plano Real, facilitam como nunca a expansão dos investimentos, diz o estudo, indicativo de que a campanha governista se preocupou com a eleição da candidata e com o dia depois ao da contagem dos votos. O orçamento da virada As baixíssimas taxas de juros lá fora e a perspectiva de expansão modesta dos países desenvolvidos, associadas à forte demanda por commodities pelos emergentes (leia-se: China), voltaram a atenção do mundo para o Brasil. Esse interesse é oportunidade, apesar de a curto prazo parecer problema por implicar valorização do real. Este novo ambiente, encimado pela prioridade do investimento para aumentar a capacidade produtiva instalada, requer outra abordagem do Orçamento Geral da União. Conforme o estudo em que se baseia a análise, a peça orçamentária para 2011 enviada ao Congresso mostra a vontade de o governo se valer do contraste entre a situação nos anos 2000 e a atual. No passado, o custo de limpar a economia dos esqueletos acumulados nos 20 anos anteriores freou o crescimento econômico, reprimiu demandas sociais e espremeu o investimento. Emprego alivia governo O quadro mudou de lá para cá. Hoje, o aumento do emprego tenderá a diminuir a pressão sobre os gastos sociais. Mais renda fomenta a disposição das camadas mais pobres a pagar por serviços que noutra situação esperaria receber do governo. O gasto com saúde previsto na lei orçamentária para 2011, por exemplo, cresce o exigido pelo mínimo constitucional. Com a educação também está meio assim. Tais diretrizes explicam porque se diz que não há necessidade de aperto fiscal em 2011. Se aprovado pelo Congresso, o orçamento já o faz. Um processo que leve a Selic a murchar começa por uma lei orçamentária menos frouxa, o que, adiante, verificada a hipótese, pode liberar ao orçamento o superavit primário comprometido com o pagamento de juros da dívida pública. A desmontagem desse circulo perverso é outra condição para o crescimento sustentado. Cunha fiscal e juros A desejável intenção de permitir que os juros possam cair depende de política fiscal firme e transparente, diz o documento, o que é outra condição essencial para se financiar o investimento. A ideia é abrir um espaço entre a trajetória da receita tributária e dos gastos correntes. A cunha fiscal positiva, diz o estudo, não virá só segurando aumentos do funcionalismo e mesmo do salário mínimo. Será preciso, sugere, grande disciplina do conjunto do gasto e a parceria dos governadores para evitar a proliferação de demandas. Um Banco Central forte e com credibilidade completa a transição à nova economia, por assim dizer. E há muito mais já em processo. Progresso sem magias O que está implícito à ideologia concebida para o pós-Lula é o desfecho dos objetivos de estabilidade do Plano Real, que a rigor continua uma obra aberta, para que entre em cena o desenvolvimento com disciplina monetária e fiscal. Parece jogo de palavras. E será se, assumida como programa de governo, promova voluntarismos com a taxa dos juros e relaxe a disposição fiscalista da iniciativa. Mas, se seguido comme il faut, o Banco Central poderá descer do pedestal em que foi posto pelas contradições fiscais e interesses do mercado financeiro. Isso nada tem a ver com as teses dos que propõem superavit primário gordo em 2011 como ardil para esvaziar o BC, não a essência da desfinanceirização da política econômica. Ou se faz crescimento burocrático ou vigoroso como merece o país. ----------------------------Correio Braziliense - 01/11/2010 A hora da verdade Vicente Nunes Ao depositarem seus votos nas urnas ontem, os brasileiros, em sua grande maioria, apostaram tudo que um novo governo começará, de fato, a partir de janeiro de 2011, sem os vícios da corrupção e totalmente empenhado em promover os avanços necessários para superar o atraso na educação, na saúde e na infraestrutura. Com todas as pesquisas de intenção votos mostrando a petista Dilma Rousseff eleita como a primeira presidente do Brasil - essa coluna foi fechada antes do anúncio oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) -, foi declarada a guerra civil entre os partidos que deram a sustentação política à sucessora de Lula. A palavra de ordem é garantir o maior pedaço possível do futuro governo e tirar o máximo de proveito pessoal desse rateio. Nada de pensar no futuro do país. Sei que as palavras acima podem parecer um chavão, pois sai governo, entra governo, a história é a mesma. Mas recorri a elas para mostrar os riscos que o Brasil está correndo de abortar um momento histórico de chegar à condição de potência e corrigir as desigualdades sociais que tanto nos envergonham. Ao depositarem seus votos nas urnas ontem, os brasileiros, em sua grande maioria, apostaram tudo que um novo governo começará, de fato, a partir de janeiro de 2011, sem os vícios da corrupção e totalmente empenhado em promover os avanços necessários para superar o atraso na educação, enterrar a vergonha do sistema de saúde e pôr fim aos gargalos na infraestrutura que limitam o crescimento. A confiança dos brasileiros está em alta. Neste ano, o país dará o maior salto econômico em quase um quarto de século. A sensação é de que o Brasil que está dando certo lema da campanha petista não se transformará em frustração. É aí que mora o perigo. A partir do ano que vem, o país se deparará com graves problemas oriundos dessa expansão e, principalmente, do descaso da atual administração com o bom senso. Cofres abertos Nos últimos dois anos, o governo Lula não mediu esforços para viabilizar a sua candidata à Presidência da República. Abriu os cofres sem nenhum critério, jogou pelos ares a responsabilidade fiscal, transformou as empresas estatais em instrumentos políticos, inchou a máquina pública com cargos comissionados e enterrou qualquer perspectiva de reformas e de avanços institucionais que melhorassem o ambiente de negócios para o setor privado. O Ministério da Fazenda, que deveria dar o exemplo, patrocinou uma farra fiscal sem precedentes desde que o país assumiu o compromisso de economizar recursos para o pagamento da dívida pública (superavit primário), fundamental para consolidar a estabilidade econômica. Maquiagens nas contas elevaram o endividamento do governo a nível escandalosos e o país passou a contabilizar débitos como receitas. Para tentar minimizar os estragos, o Banco Central teve que elevar os juros além do necessário, atraindo recursos especulativos que supervalorizaram o real, incentivaram uma enxurrada de importados e provocaram um rombo histórico nas contas externas. Nada disso, porém, entrou no debate eleitoral. Conquistas Quando tomar posse, porém, Dilma não terá como fugir de temas tão relevantes. Também terá de se conscientizar de que o motor da prosperidade do país não passará pelo governo, mas pelo setor privado. Por mais que a petista acredite que um Estado forte é vital para manter as conquistas sociais obtidas nos últimos anos, é o comércio e a indústria que geram os empregos que garantem o consumo. É a iniciativa privada que sustenta a renda que move toda a estrutura econômica. Se quiser, realmente, manter uma taxa de crescimento acima de 5% ao ano, Dilma terá de ser pragmática e aproveitar toda a força de um presidente em seu primeiro ano de mandato para aprovar reformas importantes, como a tributária. Terá, ainda, que dar um choque de gestão, reduzindo a gastança que está empurrando o Brasil para o descontrole fiscal. Guerra e fracasso É verdade que, dada a estrutura política do país, Dilma terá de acomodar aliados no governo. Mas deverá fazer isso com critério. Caso ela seja engolida pela guerra por cargos, liderada, principalmente, pelo PT e pelo PMDB, tenderá a selar seu destino rapidamente. O destino do fracasso. Nos últimos dias, muitos dos que têm cargos públicos hoje trataram de difundir informações de que o presidente Lula gostaria que Dilma os mantivesse em suas funções. A pressão está grande. Todo mundo sabe que Dilma foi eleita com o apoio de Lula. Mas a administração dele termina no fim deste ano. É a primeira presidente do Brasil que terá de dar a palavra final na nomeação de seus auxiliares. Se não o fizer, já começará o governo menor. E com a capacidade de liderança destruída. Uma pena para o Brasil. --------------------------------Folha de S.Paulo - 31/10/2010 Agora, vamos falar a sério Vinicius Torres Freire É DEPRIMENTE dizê-lo, mas, agora que a campanha eleitoral terminou, espera-se que a liderança política do país minta menos. Talvez não seja mais uma expectativa demasiada conhecer o programa de governo da(o) próxima(o) presidente antes de sua posse. Ou conhecer os auxiliares políticos e intelectuais mais relevantes da(o) candidata(o) que estamos elegendo neste domingo. Espera-se que o novo governo trate de imediato de purificar a atmosfera política, poluída pelos miasmas da campanha: ódio, invalidação dos adversários, demagogia e burrice desavergonhada. Conflito político agudo é uma coisa, vontade de extermínio é outra. Dá em besteira. Vide a Venezuela. Ou a Argentina. Outra demonstração de boa vontade democrática e um meio de pacificação de ânimos seria o anúncio de um plano que desse cabo da politização baixa e indevida do serviço público. Isto é, reduzir ao mínimo necessário a nomeação de livre arbítrio para cargos públicos. Há decerto uma crítica idiota à "partidarização" de governos. Ora, espera-se que o partido eleito ponha suas ideias e seus quadros no governo. De outro modo, do que trataria a política? Mas nomear 25 mil pessoas, caso do governo federal, é um despautério que dá em incompetência, em corrupção e em partidarização mafiosa do serviço público. No que diz respeito a urgências econômicas, não há como escapar do deficit e da dívida públicos: menos, menos. Não fazer nada a respeito será ignorância e/ou má-fé. Ainda menos discutido que macroeconomia foi o problema das empresas. O aspecto mais útil de uma economia de mercado é a criação desimpedida de novos negócios, produtos, serviços e soluções econômicas variadas. Muita vez, o novo vem da pequena e nova empresa. Mas a inovação queima no inferno burocrático brasileiro, na lenha da opressão fiscal. Não custa nada, além de trabalho e inteligência, reduzir os empecilhos à criação de novos negócios, o que demanda meio ano no Brasil, entre outros óbices. É preciso sanear a barafunda de leis tributárias, as quais criam incerteza jurídica e financeira e custam caro. O cipoal jurídico abre ainda mais espaço para o arbítrio de um fisco que já tem carta branca, pois governos deficitários precisam arrecadar avidamente. Enfim, há crédito barato e várias facilidades para a criação de oligopólios. Para o empreendimento novo, migalhas. Reformas modestas, inteligentes, de baixo custo financeiro e político podem fazer a economia dar saltos -vide o que fizeram as normas do mercado imobiliário, o crédito consignado. Custaria muito pouco um plano de incentivo ao mercado de capitais, cadastros positivos de crédito, reformas na gestão da dívida pública, desindexação. Nada disso precisa de planos bilionários, PACs, PECs etc. E faria MUITA diferença. Custa relativamente pouco (uma fração de trem-bala) criar pontes entre universidades e empresas: institutos de pesquisa tecnológica. Temos um caso clássico, quase clichê: a Embrapa, que inventou a agricultura brasileira moderna, que sustenta o país. Mas não damos a mínima para quem será o ministro da Ciência. Porém, o futuro do país e da ação do Estado na economia está aí. São propostas modestas, politicamente pouco inflamáveis. Deixariam o ar mais puro e a vida mais fácil. Sem dramas. Um bom começo. --------------------------Valor Econômico - 01/11/2010 Ajuste fiscal: velho desafio para o novo presidente Eduardo Campos A semana começa com um novo presidente da República e traz consigo o início de uma série de especulações sobre quem será quem em cada ministério, principalmente Fazenda e Banco Central (BC). Independentemente de quem venha a ocupar esses cargos, um dos maiores desafios a enfrentar é um esperado ajuste fiscal, que parece estar na lista de agentes domésticos e externos de coisas que o governo tem a fazer. O assunto é velho, mas ainda desperta paixões. As discussões recentes sobre o tema abordaram não mais o cumprimento ou não das metas de superávit primário, mas o esvaziamento do conceito da economia para o pagamento de juros após as manobras realizadas pelo governo, que podem ser "legais", mas não são "morais". Superávit fiscal é conceito morto para medir austeridade Segundo o economista-sênior para América Latina da empresa de análises de mercado 4Cast, Pedro Tuesta, o uso do superávit primário como indicador de retidão fiscal é, basicamente, um conceito morto. A arrumação grosseira do superávit começou com a retirada dos investimentos em infraestrutura da conta. Tal manobra pode ser justificada com a explicação de que tais gastos vão elevar o PIB potencial, mas isso amplia o grau liberdade para mais gastos correntes. Dito de outra forma, diz Tuesta, em vez de cortar os gastos correntes para poder investir mais, o governo tira os investimentos da conta, fragilizando o conceito de superávit primário. No entanto, diz o economista, tal manobra não é nada quando comparada com a contabilização de receitas de R$ 31,9 bilhões referentes à capitalização da Petrobras. A prática usual, diz, é considerar a venda de ativos como receita não recorrente. "Em outras palavras, o simples conceito de superávit primário mostra tantos furos agora que não é mais um indicador de política fiscal. É melhor olhar para o comportamento da dívida bruta ou para o déficit total", conclui o especialista. Com uma visão mais ampla sobre o novo presidente e sua equipe, o diretor e economista-sênior do Wells Fargo Securities, Eugenio J. Alemán, aponta que o novo comando deve seguir o caminho aberto por Fernando Henrique Cardoso e ampliado por Luiz Inácio Lula da Silva, caminho esse formado por um ambiente econômico estável e com regras claras para que os agentes econômicos possam atuar e prosperar. Outro ponto enfatizado pelo economista é a necessidade de ênfase na distribuição de renda, algo necessário parar qualquer país transitar para a modernidade. Os objetivos mais imediatos do novo governo, segundo Alemán, são manter as expectativas macroeconômicas alinhadas e fazer uma transição com o mínimo de instabilidade. O dólar comercial fechou outubro a R$ 1,703, com queda de 0,64% na sexta-feira, depois de muita briga no pregão que marcou a formação da Ptax (média das cotações ponderada pelo volume) que liquida os contratos futuros. Fica a expectativa com as posições da BM&F sobre qual o arranjo entre comprados e vendidos neste começo de mês. Sabe-se de antemão que não ficaram muitos contratos para liquidação, pois grande parte deles foi rolada de novembro para dezembro. No mês, que contou com duas alterações de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e algumas revisões de normas para conter o capital externo, o dólar comercial subiu 0,65%. No ano, o preço da divisa americana ainda está 2,29% mais barato. Eduardo Campos é repórter ----------------------------------- ECONOMIA E OUTRAS NOTÍCIAS EXAME - 30/10/2010 Empresa forte, país forte Os empreendedores foram os verdadeiros órfãos da campanha presidencial: nem uma misera palavra sobre seu papel na construção do novo Brasil. Perdemos uma chance de ouro de reafirmar o óbvio: é o setor privado, não o governo, o motor da prosperidade Alexa Salomão, Nicholas Vital e Ângela Pimenta A ACALORADA DISCUSSÃO EM TORNO da agressão sofrida pelo candidato tucano, José Serra - afinal, foi uma bolinha de papel ou um rolo de fita crepe que atingiu sua cabeça? -, dá o tom da profundidade do debate desta última corrida à Presidência da República. Serra e sua oponente, Dilma Rousseff, gastaram seu tempo - e o dos eleitores brasileiros - com tudo, menos com questões que deverão ser a prioridade de quem ocupar o Palácio do Planalto a partir de 12 de janeiro do próximo ano. Nas raras vezes em que falaram sobre economia, os candidatos fizeram promessas vagas de que haverá mais emprego, mais renda e menos desigualdade porque o Estado vai se encarregar disso, como se o governo fosse o supremo agente do desenvolvimento, e as empresas, meras coadjuvantes sem importância. Pior. Ambos trataram a iniciativa privada com certo constrangimento, como se falar na sua contribuição à economia fosse algo condenável. O mais perto que se chegou de discussões nesse campo foi o bate-boca estéril em torno da privatização, algo que, sem explicação racional, tornou-se uma coisa mim. No que se refere às empresas propriamente ditas, só uma, entre 4 milhões registradas oficialmente no pais, foi mencionada - em excesso, aliás - na pregação dos candidatos: a Petrobras. Nenhuma palavra a foi dita sobre as demais, em especial sobre as companhias privadas. Os candidatos ignoraram que essas pequenas, médias e grandes empresas empregam 33 milhões de brasileiros, quatro vezes o que emprega o setor público, incluindo as estatais. Ignoraram que elas geram 2 de cada 3 reais de riqueza produzida no Brasil. Ignoraram que elas pagam dois terços do total de salários no pais. Ignoraram que são a maior fonte com que um pais pode contar para criar mais renda, empregos e desenvolver-se. Nada foi falado sobre o que o próximo presidente poderia e deveria - fazer para melhorar o ambiente de negócios no país e estimular o setor privado a crescer e acelerar o desenvolvimento. "Uma coisa é clara: quanto mais empreendedor for um país, melhor será seu desempenho em termos de crescimento sustentável e geração de empregos", diz David Audretsch, do Instituto para Estratégias de Desenvolvimento da Universidade de Indiana e uma das maiores autoridades mundiais no tema do empreendedorismo. "Quanto antes o Brasil aprender essa lição, melhor." Lamentavelmente, os candidatos perderam uma fabulosa oportunidade de levar essa mensagem aos quase 140 milhões de eleitores. O Brasil sai das eleições mais pobre do que entrou, pelo menos no terreno das ideias. Na maior parte do mundo, está patente que as empresas e os empreendedores são a força motriz da economia. Desde 2004, mais de 1 000 reformas foram feitas para incentivar a atividade empresarial em países emergentes. Em abril, o presidente americano, Barack Obama, promoveu um encontro para discutir como incentivar o empreendedorismo não apenas nos Estados Unidos maior economia global, duramente castigada pela crise deflagrada em 2008 - mas no mundo. A pessoa escolhida por Obama para se dedicar ao tema foi a secretária de Estado, Hillary Clinton, segunda pessoa na hierarquia de poder da Casa Branca. Por entender a importância das empresas para o desenvolvimento, EXAME apresentou nas últimas edições uma série de reportagens com sugestões - colhidas perante dezenas de especialistas - para aprimorar o ambiente de negócios no Brasil e fortalecer a economia. São propostas simples para aliviar velhos e conhecidos entraves, como o excesso e a complexidade dos tributos, a legislação trabalhista esclerosada, as deficiências na formação da mão de obra e a carência de regras claras em mui tos setores (veja quadro na pág: 46 ). Por que falar disso num momento em que o Brasil registra seu maior crescimento em mais de duas décadas? Pela constatação óbvia de que essa bem-vinda expansão acontece a despeito - e não graças do ambiente que cerca nossas empresas. A grande questão a ser respondida é qual seria o potencial do país se a livre competição fosse vista como o caminho mais seguro e rápido para gerar empregos, inovar, baixar e controlar preços. O que estamos desperdiçando, como país, devido à falta de visão, de coragem e de vontade de abrir caminho para o espírito empreendedor? Talvez o melhor que poderia ser feito agora fosse a retirada de uma série de obstáculos que o próprio governo impõe aos negócios. Eles vão desde agências reguladoras aparelhadas e movidas por ideologias até uma das estruturas tributárias mais incompreensíveis do planeta e que suga quase 40% do PIB sem que isso signifique uma vida melhor para os cidadãos. "A julgar pelas dificuldades que existem para abrir e manter uma empresa, o Estado se comporta como se fosse oponente da livre iniciativa", diz Fernando Alves, presidente da consultoria PricewaterhouseCoopers. "Os investidores chegam aqui entusiasmados com o mercado, mas se assustam com a burocracia descomunal, a mão de obra despreparada e o sistema tributário que cobra impostos sobre tudo: a folha de pagamentos, a produção, a operação financeira, a renda, a circulação de mercadorias." Quem se deparou recentemente com essa realidade foi o empresário David Neeleman, fundador da JetBlue nos Estados Unidos e da brasileira Azul Linhas Aéreas. Ao desembarcar para montar seu negócio no Brasil, em 2008, Neeleman espantou-se com os tributos, as regras da jornada de trabalho, o sistema de pagamento das horas extras, a infraestrutura caótica dos aeroportos e, principalmente, a falta de lógica das leis. "O Brasil precisa de agilidade, e as leis criam uma burocracia que torna tudo lento", diz Neeleman. Ele critica, por exemplo, o fato de suspeitas de corrupção paralisarem obras, como ocorreu há pouco no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. "O melhor seria tocar a reforma e a investigação paralelamente, como ocorre nos Estados Unidos." Na avaliação de Gabriel Rico, presidente da Câmara Americana de Comércio, esse choque explica o fato de o Brasil ser aclamado como novo celeiro de oportunidades, mas ainda receber um volume de investimento produtivo menor que outros emergentes. "O Brasil atraiu no ano passado 25 bilhões de dólares em investimento direto, enquanto a Índia, um país com estrutura social hermética, centenas de dialetos e conflitos religiosos e de fronteira que podem levar à morte, recebeu quase 35 bilhões", diz Rico. "O que os estrangeiros fizeram foi comparar o ambiente de negócios." A carga tributária brasileira é da ordem de 35%, enquanto a da Índia não chega a 19%. Aqui a taxa de poupança é de 15% do produto interno bruto, lá vai a quase 34%. A taxa de investimento interno no Brasil equivale a pouco mais de 18% do PIE. A da Índia chega a 40%. Parte do descaso do Estado brasileiro em relação às empresas tem origem cultural. Desde os tempos coloniais, empreender no Brasil é algo associado à exploração do próximo. "Sucesso empresarial no Brasil é ofensa pessoal", diz Tarqüinio Teles, fundador da Hoplon Infotainment, um bem-sucedido caso de empreendedor digital (veja quadro na pág. 45). Ao mesmo tempo, há um culto velado ao Estado como grande provedor de bem-estar, segurança e crescimento econômico. Na escola, as crianças aprendem cedo .como o presidente Getúlio Vargas gerou desenvolvimento ao defender que o petróleo era nosso e criar a Petrobras, e como foi esperto ao negociar com os americanos a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em troca da participação dos pracinhas brasileiros na Segunda Guena Mundial. Não há uma única linha nos livros didáticos para explicar a trajetória quase heróica de gente como Leon Feffer. Imigrante ucraniano pobre, ele começou a vida no Brasil vendendo envelopes na porta dos Correios e lutou para criar um fábrica de papel que, pelas mãos de seus descendentes, se transformou no grupo Suzano, conglomerado que fatura 2,6 bilhões de dólares e emprega 4 500 pessoas. "Os primeiros empresários brasileiros foram pioneiros sem os quais o Brasil não teria dado seu primeiro grande salto à frente", diz o economista Jacques Marcovitch, exreitor da Universidade de São Paulo e autor da trilogia Pioneiros e Empreendedores que narra a trajetória de 24 fundadores de empresas, como Valentim Diniz, do Pão de Açúcar, José Ermírio de Moraes, da Votorantim, Attilio Fontana, da Sadia, e Johannes Gerdau, da Gerdau. APTIDÃO PARA O RISCO Apesar de todos os fatores contrários, o Brasil tem um enorme potencial empreendedor, reforçado por um dos mercados internos mais pujantes da atualidade. Um estudo recente divulgado pela Global Entrepreneurship Monitor, um dos maiores projetos internacionais de pesquisa sobre o empreendedorismo, mostra que os brasileiros têm uma grande capacidade individual para correr riscos, habilidade inerente aos empreendedores de sucesso. De acordo com o relatório, 68% dos brasileiros estariam dispostos a abrir uma empresa mesmo sabendo que a chance de fracassar é bem maior que a de obter sucesso. Esta reportagem traz dez exemplos de grandes, médias e pequenas empresas que cresceram a despeito de toda sorte de obstáculos. São casos de superação, como o do Magazine Luiza, que emergiu do interior de São Paulo para se tornar a terceira maior rede de lojas de eletrodomésticos e móveis do país, e o da PifPaf, a maior fabricante de alimentos de Minas Gerais, fundada por um imigrante português. O crescimento delas e de uma geração inteira de negócios verde-amarelos é uma mostra do fabuloso potencial econômico do país. "Eu vi 17 moedas, 16 ministros da Fazenda, vários cortes de zeros e um confisco da poupança", diz Luiza Helena. "Posso dizer que o Brasil aprendeu a trabalhar com as crises: Os relatos dos empresários ouvidos aqui sugerem também quanto poderíamos avançar se o ambiente fosse menos hostil a quem faz negócios. ""Desde os anos 90, grande parte das empresas brasileiras moderniza-se, investe na gestão por resultados, e algumas chegam a exportar a cultura de gestão do Brasil para os mercados externos em que atuam", diz Erik Caramano, presidente do Movimento Brasil Competitivo. ""Mas é preciso que o governo também faça a sua parte, porque a maioria das empresas já fez a lição de casa." Hoje há controvérsias sobre o que seria exatamente "o governo fazer a sua parte". No mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, optou-se por um incremento do papel do Estado na economia por meio do que foi chamado de "defesa de grandes grupos nacionais". Estatais, fundos de pensão e especialmente o BNDES tomaram-se sócios de empresas privadas, ora em operações de socorro, ora para contribuir na internacionalização de grupos nacionais. Esse padrão de atuação do Estado pode ser um prêmio à má gestão. "Há uma espécie de seleção natural no mundo dos negócios em que empresas ruins quebram para que as boas prosperem", diz Armando Castelar Pinheiro, coordenador de Economia Aplicada da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro. "Contrariar essa lógica é o mesmo que deixar que ervas daninhas tomem o lugar das flores no jardim de casa." A política de formação dos "campeões nacionais" é sob medida para os eleitos. Mas não transforma porque não estimula o que há de mais sagrado numa economia de mercado - a concorrência a justa, que faz com que empresas que partem de bases semelhantes se diferenciem pela competência. Sem privilégios. Sem favores. Pelo modelo atual, o dinheiro que sobra em alguns setores anda em falta em outros. Um exemplo de quem passa dificuldade vem das faculdades de informática. O Brasil conta hoje com uma nova geração de estudantes e recémformados da área de tecnologia com gana e criatividade para criar softwares, em especial videogames, um mercado que movimenta mais de 20 bilhões de dólares por ano só nos Estados Unidos. Esse talento pode ser medido pelo desempenho dos jovens brasileiros na Imagine Cup, espécie de copa cerebral realizada anualmente pela Microsoft para estimular os estudantes de todo o planeta a desenvolver projetos na área de tecnologia. Os brasileiros são destaque desde a criação da competição, em 2003. Nos últimos cinco anos, o país foi recordista em número de projetos inscritos. Em 2006, Bill Gates, intrigado com sucessivas vitórias de brasileiros, chegou a encomendar uma apresentação à subsidiária local da empresa para entender por que jovens de um país sem tradição em tecnologia estavam superando asiáticos e europeus. "O brasileiro é criativo e tem habilidade para trabalhar em equipe, duas qualidades essenciais para promover a inovação", diz Paulo Iudicibus, diretor de novas tecnologias e inovação da Microsoft. "Mas não tem capital e estrutura para levar adiante um projeto." Os especialistas são unânimes em afirmar que o caminho do desenvolvimento no século 21, a era do conhecimento, está em apoiar quem se dedica a criar novos produtos capazes de competir globalmente. "Hoje o mundo está cheio de países com práticas inovadoras sofisticadas", diz o guru an1ericano John Kao, consultor chamado de Senhor Inovação pela revista The Economist. "Historicamente, o Brasil se valeu de um grande mercado interno para desenvolver seu parque industrial, mas de agora em diante precisa ter uma participação mais ativa no ecossistema de inovação global." Grandes empresas são capazes de gerar inovação, m muitas mudanças emergem de negócios menores, mais ágeis e arrojados. EMPRESAS GAZELAS "O governo brasileiro deveria prestar o máximo de atenção a um tipo de empresa que chamamos de "gazela" ", diz Julia Rosen, vice-presidente do programa de inovação e empreendedorismo da Universidade do Estado do Arizona. De acordo com a Fundação Kauffmann, entidade americana dedicada ao empreendedorismo e à inovação, esses negócios têm de três a cinco anos de idade, capacidade de criar tecnologias revolucionárias, oferecem alto potencial de crescimento e contam com lideranças incrivelmente ambiciosas. Por isso, são considerados elemento crucial para uma estratégia nacional de inovação. No passado, Apple e Google foram empresas gazelas. "Elas compõem menos de 1% das empresas americanas", diz Julia. Mas geram 10% dos novos empregos." Outros emergentes já entenderam a fórmula. A China segue como a fábrica do mundo ancorada na mão de obra barata, mas, ao mesmo tempo, realiza investimentos em novas tecnologias. A Índia, além de concentrar esforços em serviços de tecnologia da informação, investe nos setores auto motivo e farmacêutico. Um exemplo de ação do Estado em benefício do desenvolvimento vem da Coreia. No final dos anos 50, o país estava arrasado pela guerra. Cerca de 40% do parque industrial havia sido destruído pelos norte-coreanos. Como faz o BNDES hoje no Brasil, o governo sul-coreano há 60 anos concentrava a maior parte dos investimentos em grandes conglomerados industriais. A situação começou a mudar no início dos anos 70, quando o presidente Park Chung-Hee promoveu uma reforma política conhecida como Yushin, ou reforma revitalizadora. Entre as medidas adotadas estavam a privatização (palaVTa maldita na can1panha eleitoral brasileira), o investimento maciço em educação e a abertura da economia à concorrência internacional. As novas regras incentivaram a diversificação da produção e impulsionaram as pequenas e médias empresas. O efeito foi avassalador. Entre 1972 e 1976, o PIB da Coreia do Sul cresceu acima de 10% ao ano. Numa segunda fase, o governo passou a dar prioridade a pesquisa e desenvolvimento, elevando os investimentos em novas tecnologias de 0,6% do PIB, em 1980, para 3%, em 2001. Com isso, o pais entrou em setores mais sofisticados, como os de eletroeletrônicos, telecomunicações, petroquímica e tecnologia digital. A participação das pequenas e médias empresas na geração dê empregos na indústria passou de 20%, nos primeiros anos pós-reforma, para quase 70%, no início dos anos 2000. O impacto sobre a geração de riqueza e o bem-estar da população pode ser medido pelo salto no PIB per capita. Nos anos 50, antes das reformas, era de 876 dólares, menos de 10% do registrado nos Estados Unidos. Hoje, passa de 17 000 dólares, o equivalente a um terço do americano. Uma possível agenda de fortalecimento do ambiente de negócios no Brasil não pressupõe apenas a adoção de critérios mais modernos para decidir o destino de investimentos públicos. Além de aperfeiçoar o sistema tributário, as relações de trabalho e a estrutura do ensino (temas tratados em edições anteriores de EXAME), um Estado que enxergue a iniciativa privada como aliada, e não como inimiga, deve acima de tudo exercer o papel essencial de regulador. Leis claras são a base de qualquer economia saudável e, infelizmente, o Brasil vive hoje num cipoal de regras não raro contraditórias entre si. ""Não é exagero dizer que você dorme com uma lei e acorda com outra", diz José Carlos Costa Pinto, sócio da consultoria Ernst&Young. Um dos setores que se ressentem de deficiências nessa área é o de infraestrutura. "As dificuldades na infraestrutura decorrem da falta de uma legislação adequada que defina governança, alçadas de decisão e mecanismos de controle para os investimentos", diz Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Em muitos setores, o papel das agências reguladoras e dos órgãos de licenciamento não está bem definido. Como exemplo, Lisboa cita o caso de bacias hidrográficas. "Quem regula a construção de uma hidrelétrica, quais decisões estão na alçada das agências e qual o papel de cada uma das instâncias de controle?", pergunta ele. "Todas essas questões estão precariamente definidas:" Se essa equação for bem solucionada, o que hoje é problema pode virar solução. "Da forma como está, a infraestrutura pode parar o país. Mas temos aí uma enorme oportunidade para as empresas do setor", diz Rubens Menin, presidente da construtora MRV, uma das maiores do país, com faturamento de 535 milhões de dólares em 2009. Quem acompanha o trabalho das empresas e sua convivência complicada com o Estado diz que a confiança no potencial do país dificilmente será abalada pelo próximo presidente. O que está em jogo é menos o risco de uma crise de curto prazo e mais a qualidade do crescimento que teremos a partir de agora. Vamos construir um país com empresas fortes, mas que floresçam por seus méritos? Um país em que o Estado finalmente cumpra seus papéis clássicos - segurança, educação, saúde, regulação -, abrindo espaço para que o setor privado atue nas demais áreas? Vamos trabalhar por uma cultura de valorização ao papel do empreendedor na construção do nosso país? Ou vamos perseverar nos velhos estereótipos do capitalista vilão e do Estado protetor? São decisões a serem tomadas por todos - e sobre as quais, lamentavelmente, nossos líderes políticos parecem não ter muito o que dizer. SIM, É POSSÍVEL MELHORAR Em edições anteriores e nesta reportagem, EXAME consultou especialistas de quatro áreas vitais para a economia do país - a tributária, a trabalhista, a da educação e a regulatória - e obteve ideias que o próximo presidente da República pode utilizar para avançar em cada uma delas 1) TRABALHO Azerbaijão, Tonga e Uganda são alguns países em que contratar um novo funcionário é mais fácil que no Brasil - na verdade, há 137 exemplos assim. Após a contratação, vem o peso dos encargos. Enquanto nos Estados Unidos as empresas têm custo de 9% sobre a folha salarial e no Uruguai, 48%, o Brasil impõe 102%. Modernizar as leis trabalhistas e reduzir o custo da folha de pagamentos são medidas essenciais para elevar a competitividade das empresas. Uma das propostas é facilitar a admissão de jovens recém formados, já que na faixa de 18 a 24 anos a taxa de desemprego supera os 16%. Ao mesmo tempo, 8 milhões de brasileiros ficarão mais seguros no emprego se o Congresso aprovar o projeto de um marco legal para contratação de serviços terceirizados. 2) IMPOSTOS A lista de tributos pagos pelo brasileiro é uma das mais extensas do mundo: são 85 entre impostos, taxas e contribuições. Numa das frentes mais caóticas e que mais impactam negativamente os negócios, é possível ao menos simplificar o sistema. Uma das ideias é, como se faz em outros países, exibir na nota fiscal ao consumidor quanto de impostos há no preço de cada produto ou serviço. Também diminuiria muito a confusão e o custo do recolhimento, a unificação de impostos como o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. E, para acabar com a insegurança causada pela emissão de 4 000 novas normas em seis meses, uma saída é fixar que o governo só possa fazer mudanças até 30 de junho, para vigorar no ano seguinte. 3) REGULAÇÁO O emaranhado legal é tal no Brasil que até as leis são questionadas. Nas duas últimas décadas, 4 000 delas foram objeto de ações alegando que ferem a Constituição. A falta de regras claras atravanca os negócios. O Brasil não tem uma legislação que defina a competência para a concessão de licença ambiental. Hoje um projeto, seja de hidrelétrica ou hotel à beira-mar, pode sofrer intervenção do município, do estado e da União, e esperar por anos se houver divergência. Uma saída é aprovar um projeto de lei, em tramitação há sete anos, que fixa a competência para dar a licença em razão da área de influência da obra. No campo da concorrência, é urgente a unificação dos órgãos oficiais de vigilância, com o fortalecimento do Cade, e a simplificação do processo de análise de fusão e aquisiçã. 4) EDUCAÇÃO O nível de escolaridade da população brasileira ainda é baixíssima mesmo na comparação com outros países emergentes. Apenas 38% dos brasileiros entre 25 e 34 anos têm o ensino médio completo. No Chile, a taxa é de 64% e, na Coréia, 97%. É urgente que o Brasil imponha um choque de qualidade nas salas de aula. A adoção de meios de planejamento estratégico e de medir resultados do ensino é uma das soluções para isso, já aplicadas em estados como Minas Gerais e Pernambuco. Outra idéia é,como faz Singapura, treinar os diretores de escola para ser verdadeiros gestores. No caso dos professores, é preciso estimular os melhores, oferecendo a eles ganhos maiores. A definição do currículo a ser ensinado em cada série é uma proposta básica, que ajudaria a melhorar o aproveitamento dos alunos. -------------------------------------Folha de S.Paulo - 01/11/2010 Dilma manterá estabilidade, diz Palocci Nome mais forte para o próximo governo, petista diz que nova presidente não abandonará pilares da economia Ex-ministro da Fazenda, cotado para a Casa Civil, garante que não falou com Dilma sobre sua participação no governo VALDO CRUZ DE BRASÍLIA Principal coordenador de campanha de Dilma, Antonio Palocci disse à Folha que a presidente eleita deu quatro recados em seu pronunciamento de vitória. Primeiro foi a "garantia de que não se abandonará os pilares fundamentais da estabilidade". Depois, que governará com sua aliança, mas dará "a mão à oposição". Destacou ainda que ela defendeu uma "imprensa crítica" e que o pré-sal é uma poupança para o futuro. Ex-ministro da Fazenda, cotado para a Casa Civil, Palocci disse que a redução da dívida pública irá "presidir a postura fiscal da presidente". Folha - Qual será o primeiro passo da presidente Dilma? Antonio Palocci Filho - Com o presidente Lula, combinar como realizar a transição. Apesar de ser um governo de continuidade, temos de fazer um processo formal. Folha - No discurso, a presidente eleita falou em fazer uma poupança suficiente para garantir estabilidade econômica. Significa voltar a meta de superavit para 3,3% do PIB? Palocci - Não temos ainda uma meta preestabelecida, mas ela já se comprometeu com uma suficiente para manter declinante a trajetória da dívida líquida. Isso vai presidir a postura fiscal da presidente. Uma poupança pública suficiente para declinar a dívida. Na campanha, ela falou em redução da dívida líquida para 30% do PIB em 2014. Folha - A meta é ter juros reais de 2% até o final do governo Dilma? Palocci - Não temos uma meta de juros, mas de inflação. O Brasil está em condições de ter juros cada vez menores. Folha - A meta de inflação hoje é de 4,5%. Vai ser reduzida? Palocci - Não é uma decisão tomada por ela, mas é uma possibilidade dada nesse período. Folha - Ela fará um ajuste fiscal? Palocci - Não há crise fiscal. Não estamos num período de ajuste, embora não tenhamos nenhuma dificuldade em fazer a poupança que o Brasil precise para manter uma trajetória declinante da dívida. Folha - O dólar fraco hoje é uma grande dor de cabeça mundial e brasileira. A política cambial sofrerá ajustes? Palocci - Não muda. A presidente Dilma vai manter a política flutuante. Mas essa é uma questão que precisamos acompanhar, o governo está tomando medidas. Folha - O sr. vai para a Casa Civil? Palocci - Não tivemos nenhuma conversa sobre organização de governo. Estávamos esperando o resultado. Folha - Quando haverá nova equipe? Palocci - Não haverá novo ministério antes de um período de dez dias depois das eleições. Folha - Quais foram os recados da presidente em seu pronunciamento pós-eleita? Palocci - Primeiro, a garantia da estabilidade econômica. Não se abandonará os pilares fundamentais da estabilidade. Segundo, o pré-sal é uma poupança de longo prazo, não um gasto a ser feito no curto prazo. Terceiro, vamos governar com nossa aliança, mas estendemos a mão à oposição. Quarto, defendemos ampla liberdade de imprensa e valorizamos a imprensa crítica, que faz bem à democracia. ---------------------------------Correio Braziliense - 02/11/2010 Barreira econômica Controle fiscal e câmbio flutuante são desafios da presidente eleita, que terá de resolver briga fratricida para montar equipe. Vera Batista A presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff, terá que usar de muita criatividade e jogo de cintura para acomodar no governo as forças políticas que a apoiaram. O alto escalão da administração pública não comporta todos os aliados e analistas já preveem uma guerra fratricida, concentrada principalmente na área econômica. Além de atender seu próprio desejo de alçar a cargos mais altos pessoas de sua confiança, como o ex-chefe da Apex Brasil Alessandro Teixeira, o secretário de Política Econômica, Nelson Barbosa, e a presidente da BR Distribuidora, Maria das Graças Foster, Dilma terá de encaixar indicados pelo PMDB, do vice Michel Temer, e pelo PSB. Para tornar a equação mais complicada, Dilma precisa preservar nomes que tiveram ou têm atuação importante no governo atual, como o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, um dos coordenadores da campanha petista, e o titular do Planejamento, Paulo Bernardo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, liberaram seus assessores para plantar notícias nos jornais, segundo as quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria recomendado à sucessora a manutenção de ambos. Assim, pretendem garantir o cacife para uma posição qualquer na nova estrutura. Os investidores financeiros aceitaram bem a chegada de Dilma ao Palácio do Planalto (leia reportagem na página 14), mas ainda estão ansiosos quanto à formação de sua equipe. A preocupação reside, em especial, na escolha dos ocupantes de ministérios estratégicos, como a Casa Civil, a Fazenda e o Planejamento, e de importantes estatais Petrobras, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil , além do Banco Central (BC). Em entrevista ontem ao Jornal Nacional, da TV Globo, Dilma definiu dois critérios na escolha da equipe: o técnico, segundo a capacidade dos indicados, e o político, que respeitará a composição necessária na base aliada. Para a formação da equipe econômica, a preferência do mercado financeiro é claramente pelos ortodoxos, como Meirelles. A presidente eleita, entretanto, não disfarça a predileção pelos desenvolvimentistas, mas teme uma eventual reação negativa ao nome de Luciano Coutinho (atual presidente do BNDES) ou de Nelson Barbosa à frente do BC, por exemplo. No senador Aloizio Mercadante (PT-SP), os operadores não querem nem ouvir falar. Mesmo sem uma posição na área econômica, Antonio Palocci é visto pelos investidores e empresários do setor produtivo como garantia de que Dilma não vai se afastar da política econômica tradicional. Sob sua influência, a presidente eleita reforçou o mantra do tripé da estabilidade macroeconômica superavit fiscal, câmbio flutuante e regime de metas de inflação. É provável que ela aponte tanto ortodoxos como desenvolvimentistas para postos importantes, repetindo o precário equilíbrio mantido nos oito anos de mandato de Lula. Mas há um fator extra a considerar: Dilma é economista. Deve, portanto, interferir mais diretamente no debate do que fez seu ídolo político. As apostas para a equipe são variadas (veja quadro). Para Marcelo Coutinho, sócio presidente da corretora Youtrade, a vitória de Dilma estava dentro das expectativas e nada vai mudar significativamente. Qualquer especulação sobre nomes é prematura, disse. BOMBA ORÇAMETÁRIA Gustavo Henrique Braga A presidente eleita, Dilma Rousseff, corre o risco de assumir, já no começo do mandato, uma bomba no Orçamento federal. Após a promessa de José Serra (PSDB-SP) de elevar o salário mínimo a R$ 600, as centrais sindicais se uniram pela reivindicação de um reajuste mais polpudo para o piso dos trabalhadores. A Força Sindical pressiona o governo a conceder um incremento de 13% em 2011, o que levaria o valor a R$ 576,30 em vez dos R$ 538,15 previstos atualmente. O problema é que uma correção dessa magnitude implica um impacto adicional nas contas públicas entre R$ 11 bilhões e R$ 12 bilhões, considerando os benefícios previdenciários, além do abono e do segurodesemprego. O cálculo é simples: basta lembrar que, para cada R$ 1 a mais no mínimo, o governo precisa desembolsar R$ 286 milhões. Ocorre que, para decidir qual será o reajuste a ser aplicado no ano seguinte, o governo considera a soma da inflação e do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do ano anterior à elaboração do orçamento. Como em 2009, a expansão econômica foi zero, a previsão é de que não haja ganho real em 2011. É exatamente isso que os sindicalistas não aceitam, mesmo diante da perspectiva de um ganho próximo a 8% em 2012, quando o cálculo considerará o PIB de 2010. “Este ano, as principais categorias conseguiram reajustes de 9% a 10%. Se o mínimo crescer abaixo disso, o país vai andar para trás, porque a desigualdade aumentará, argumenta o presidente da Força Sindical”, Paulo Pereira da Silva. Os representantes dos trabalhadores já se reuniram com o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, para negociar o ganho real no ano que vem e têm um encontro com o relator do Orçamento, senador Gim Argello (PTB-DF), na quinta-feira. Pereira quer convencê-lo a considerar o resultado do PIB de 2010 no cálculo e não o de 2009. Isso levaria a um reajuste próximo dos 13%. Brecha A Força Sindical quer que a correção seja determinada, até o fim do ano, por Medida Provisória para dar tempo de vigorar em 1º de janeiro, sendo votada em fevereiro. A luta, entretanto, não será fácil. Segundo Gim Argello, a ideia é chegar a R$ 550 e que, dificilmente, será possível ultrapassar esse valor. Na quarta-feira, ficará pronta a estimativa de receita. Só então, poderei dizer até onde dá para aumentar o salário mínimo. Se houver brecha, não hesitarei em propor o ganho real, disse. Na avaliação do consultor em Previdência João Magalhães Filho, elevar o salário mínimo para R$ 576,30 prejudicará o país. O impacto tem que ser gradual. Não adianta aumentar o valor se as prefeituras não aguentam o baque nas contas. O desemprego e a informalidade tenderão a explodir, já que os empresários não têm condições de arcar com um aumento brusco de custos, disse. O correto é oferecer aumentos de forma sustentável. Dessa forma, o mínimo pode até dobrar em sete ou oito anos, estimou Magalhães Filho. -------------------------------Valor Econômico - 01/11/2010 Orçamento sob medida para 2011 Presidente, Dilma Rousseff não terá o trabalho de modificar o Orçamento para incluir suas prioridades - elas já estão lá. Desde que foi criado, em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) não destinou um centavo à compra de equipamentos e mobiliário para creches e pré-escola. Em 2011, o programa prevê R$ 891 milhões para essa finalidade, que foram incluídos na proposta orçamentária. O PAC também nunca tinha investido na construção de quadras esportivas escolares. Para 2011, R$ 730 milhões foram alocados no Orçamento. O PAC 2 - carro-chefe da campanha de Dilma, que como ministra da Casa Civil coordenou sua montagem - prevê crescimento de 58,2% nos recursos destinados à infraestrutura social e urbana em 2011. Os investimentos públicos na área social crescerão mais do que na infraestrutura logística. Os gastos com o setor de energia terão uma pequena queda. O Orçamento do primeiro ano do novo governo dá ênfase à construção de casas, creches, pré-escolas e quadras esportivas. Os gastos com o Minha Casa Minha Vida aumentam 77,7% em 2011. Durante a campanha, a então candidata Dilma prometeu construir casas para dois milhões de famílias. Pela proposta orçamentária, o novo governo vai gastar R$ 12,95 bilhões com seu programa habitacional, mais que as despesas com construção, recuperação e manutenção de rodovias. Proposta da União para 2011 prevê mais gastos sociais prometidos em campanha Ribamar Oliveira | De Brasília Desde a sua criação, em janeiro de 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nunca tinha destinado um centavo à compra de equipamentos e de mobiliário para creches e pré-escola. Pois em 2011 o programa prevê R$ 891 milhões para essa finalidade, recursos que foram incluídos na proposta orçamentária para o próximo ano. O PAC nunca tinha investido também na construção de quadras esportivas escolares. Mas, agora, para este fim, R$ 730 milhões foram alocados no Orçamento. Além disso, os gastos do programa Minha Casa, Minha Vida vão aumentar 77,7%, em relação ao previsto para este ano. A proposta orçamentária da União para 2011 tem a cara das promessas feitas pela presidente eleita Dilma Rousseff, durante sua campanha. Não poderia ter sido diferente, pois Dilma usou o PAC 2 como seu carro chefe. Como ministra chefe da Casa Civil, foi Dilma que coordenou a montagem do PAC 2, lançado no início deste ano. As prioridades e os projetos definidos no PAC 2 foram contemplados na proposta orçamentária para 2011, encaminhada ao Congresso Nacional pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, seu colega de Ministério. Por isso, a Dilma presidente não terá o trabalho de modificar a peça orçamentária, para incluir suas prioridades. Elas já estão lá. O PAC 2 prevê um crescimento de 58,2% nos recursos destinados à infraestrutura social e urbana em 2011. Os investimentos públicos na área social crescerão mais do que na área de infraestrutura logística, que é representada pelas rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Os gastos orçamentários com infraestrutura energética terão, inclusive, uma pequena queda. No tocante aos investimentos, a peça orçamentária montada pelo governo Lula para o primeiro ano do novo governo prioriza a área social, com ênfase na construção de casas, creches, pré-escolas e quadras esportivas em escolas. Durante a campanha, a então candidata Dilma prometeu construir casas para duas milhões de famílias, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. Esta é a mesma meta do PAC 2 para o período de 2011/2014, sendo que 1,2 milhão dessas moradias serão destinadas a famílias com renda de até R$ 1.395. Para isso, o governo Lula propôs um aumento de 77,7% nos gastos do Minha Casa, Minha Vida no próximo ano, em relação ao previsto para este ano. Pela proposta orçamentária que está no Congresso, o novo governo vai gastar mais no Minha Casa, Minha Vida do que na construção, recuperação e manutenção de rodovias. Para o programa habitacional lançado por Lula, a proposta orçamentária prevê R$ 12,95 bilhões. Para a construção, recuperação e manutenção das rodovias, o orçamento do próximo ano destina R$ 12,698 bilhões. No período de 2011/2014, o PAC 2 prevê gastos orçamentários de R$ 62,2 bilhões com o Minha Casa, Minha Vida. Mais R$ 9,5 bilhões seriam investidos no programa por meio de financiamentos bancários. O total necessário para a construção das 2 milhões de unidades residenciais seria, portanto, de R$ 71,7 bilhões. É interessante observar que na apresentação do PAC 2, o governo Lula fez questão de ressaltar que não estava garantindo a construção de 2 milhões de moradias até o final de 2014, mas a contratação, ou seja, a assinatura de contratos para a construção. A então candidata Dilma Roussef prometeu construir 6 mil creches e pré-escolas em todo o Brasil. É a mesma meta que consta do PAC 2 para o período 2011/2014, que prevê investimentos totais de R$ 7,6 bilhões. Esse montante de recursos será usado para ampliar a oferta de educação para crianças de 0 a 5 anos e reduzir o déficit de atendimento na faixa etária fundamental para preparação do aprendizado. Para começar a cumprir a sua promessa, a presidente eleita terá R$ 891 milhões no próximo ano para gastar com a compra de equipamentos e mobiliários para creches e pré-escolas. Um dos objetivos do PAC 2 é universalizar as quadras esportivas em escolas com mais de 500 alunos. No período de 2011/2014, o PAC 2 prevê investimentos de R$ 4,1 bilhões na construção de 6.116 quadras cobertas e cobertura de 4 mil quadras já existentes. Para 2011, a proposta orçamentária destina R$ 730 milhões para essa finalidade. Durante a campanha, Dilma defendeu a melhoria da qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS), com ampliação das unidades básicas de saúdes (UBS). A proposta orçamentária destina R$ 565 milhões para a implantação de UBS. O PAC 2 prevê a instalação de 8.694 unidades básicas de saúde no período de 2011/2014, com investimentos totais de R$ 5,5 bilhões, incluindo nesse montante os gastos de custeio. Nas UBS serão oferecidos serviços de atendimento de rotina em clínica médica, ginecologia, pediatria, odontologia, além de curativos e serviços de prevenção, como vacinação. Além das UBS, Dilma defendeu, durante a campanha, a instalação de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O PAC 2 prevê um gasto de R$ 2,6 bilhões para a instalação de 500 UPAs, no período de 2011/2014. Nesse montante estão incluídos os gastos de custeio. Nas UPAs serão oferecidos atendimentos de urgência em clínica geral, pediatria, eletrocardiograma, raio X, curativos e outros exames de laboratórios. A proposta orçamentária prevê ainda R$ 350 milhões para a instalação de postos de polícia comunitária. Os gastos com o saneamento básico previstos na proposta aumentarão apenas 4,1% em relação ao previsto para este ano. -------------------------------------Correio Braziliense - 31/10/2010 Crescimento de alto risco Brasil terá, neste ano, o maior salto econômico em um quarto de século. Mas futuro governo será premiado com problemas graves GABRIEL CAPRIOLI A expansão de mais de 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) esperada para o último mandato do governo Lula tem sido comemorada pela equipe chefiada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, e considerada, pelos mais otimistas, como a coroação de uma gestão bem sucedida. Se muitos foram os esforços para conquistar tal situação, maiores têm sido as tentativas de disfarçar uma série de problemas que ficarão evidentes no próximo ano e cairão no colo do futuro presidente, seja lá quem for o escolhido hoje pelos brasileiros para dirigir o país até 2014. Caso o avanço da economia se confirme na magnitude prevista, será o maior dos últimos 25 anos, mas carregará na bagagem um rombo recorde nas contas externas a projeção é de US$ 100 bilhões no ano que vem , uma moeda supervalorizada que está levando à desindustrialização do país, a maior taxa real de juros do mundo, inflação em alta, superendividamento das famílias e deterioração das contas públicas, que ameaça a estabilidade conquistada antes do governo Lula e consolidada nos últimos oito anos. Não bastassem as estripulias realizadas mais recentemente, pesará ainda sobre o futuro governante o abandono da agenda de reformas, como a trabalhista, a tributária e a da Previdência. Seria muito desejável manter um incremento do PIB de 7% nos próximos anos, mas nenhum país cresce o que quer e, sim, o que pode. E os limites para isso são a inflação, o deficit externo ou os dois, pondera o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, sócio da Consultoria Tendências. Ele lembra que há um consenso entre os analistas de que o Brasil, atualmente, tem condições de expandir a atividade a uma taxa média de 4% ao ano, sem provocar desequilíbrios. Acima disso, há riscos e é insustentável, garante. Bolha de crédito Quando coloca inflação e contas externas no vermelho como limites para o avanço econômico, Nóbrega refere-se aos problemas estruturais do país para lidar com o aquecimento do consumo. Por falta de investimentos ao longo de anos no setor produtivo, hoje as empresas instaladas no país não têm condições de atender plenamente a demanda. A oferta, então, está sendo complementada pelas importações. O problema é que, com o dólar derretendo, houve uma avalanche de produtos vindos de fora. Para piorar, a indústria nacional não está conseguindo competir lá no mercado internacional. E o Brasil que já registrava deficits na balança comercial de mercadorias de alta tecnologia, agora opera no vermelho em produtos de médio valor agregado, voltando a ser mero exportador de alimentos e minérios, arrematados, principalmente, pela China. O que assusta os especialistas é que nenhum desses temas foi tratado na disputa à Presidência da República. O candidato da oposição, José Serra (PSDB), do qual se esperava uma paulada nos juros altos e no excesso de impostos cobrados no país para bancar a farra fiscal do governo, tergiversou. A representante da situação, Dilma Rousseff, espertamente, preferiu alardear feitos como a criação de 15 milhões de empregos ao longo da administração Lula, mas sequer tocou no fato de o índice de desocupação entre os jovens de 18 a 24 anos ser de 14%, mais do que o dobro da média geral, de 6,2%. Também não se ouviu uma menção sequer ao excesso de endividamento dos brasileiros. Com prestação e juros, eles já comprometem 39% da renda mensal, nível semelhante ao observado nos Estados Unidos, que foram solapados por dívidas impagáveis no mercado imobiliário. A grande indagação é se o nível de emprego e da renda se manterá crescente nos próximos anos para evitar uma onda de calotes. O próprio presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, já admite a possibilidade de o Brasil estar à beira de uma bolha de crédito. Seca à vista Outra parte da herança negativa do forte crescimento deste ano virá pelo canal do câmbio. Com juros reais de 5,3% ao ano, o Brasil se transformou em um porto seguro para toda a sorte de capital especulativo, que sai dos países desenvolvidos, nos quais as taxas de rentabilidade estão próximas de zero. Pior do que esse fluxo que supervaloriza o real é a possibilidade de haver qualquer quebra de liquidez no mercado internacional. Enquanto conseguirmos financiar o deficit externo com as sobras de recursos, a situação se manterá sob controle. Mas bastará a liquidez internacional secar para que o país mergulhe em dificuldades, alerta o economista-chefe da Prosper Corretora, Eduardo Velho. O rombo nas contas externas atingiu US$ 35 bilhões entre janeiro e setembro um recorde para o período e a previsão do mercado é de que passe dos US$ 50 bilhões até o fim do ano. Paradoxalmente, estamos evoluindo para uma especialização regressiva. Nós mandamos para fora itens menos refinados e trazemos os mais elaborados, dispara o presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro (Corecon-RJ), João Paulo de Almeida Magalhães. Para ele, é necessário reverter essa tendência a fim de evitar o processo de sucateamento da indústria nacional. Se não fizermos esse esforço e continuarmos como uma economia concentrada apenas em insumos básicos agrícolas e industriais, nunca atingiremos um desenvolvimento pleno, considera. ----------------------------ISTOÉ Dinheiro - 30/10/2010 Emergentes versus desenvolvidos No tabuleiro global, países desenvolvidos e emergentes jogam todas as fichas para a definição, nos próximos dias, sobre qual ala irá ditar os rumos econômicos mundiais daqui para a frente. por Carlos José Marques A reunião de cúpula do G-20, marcada para o início de novembro, é decisiva nesse sentido. Os emergentes acabam de levar uma vitória significativa no âmbito do FMI. Em um acordo histórico, o Fundo estabeleceu um aumento no poder de voto do grupo nas deliberações de financiamento do organismo. A concessão reflete a mudança de poder na economia mundial. E, nesse contexto, Brasil e China foram os que mais saíram ganhando. O porcentual de direito a voto brasileiro dobrou, atingindo 2,32% do total. A fatia das nações em desenvolvimento alcançou a soma de 44,7% e isso significa transferência efetiva do peso das decisões dos países desenvolvidos, que até então praticamente monopolizavam o FMI. Dividido o papel de monitorar as finanças internacionais, o time dos emergentes parte agora para a maior das batalhas. Eles querem um entendimento imediato que dê fim à crescente guerra cambial. Em negociações preliminares, EUA e China não chegaram a nenhum acordo quanto ao câmbio. Ao contrário. Os chineses intensificaram ainda mais a sua política de supervalorização da moeda nacional em detrimento do dólar. O FMI ganhou representatividade ao abrir o leque de países influentes nas deliberações de crédito. O G-20 passou a ser o fórum mais adequado no lugar do G-8 para o acerto sobre medidas de caráter mundial. Mas as ordens continuam passando fundamentalmente pelo que querem e pensam os americanos. Eles acusaram os chineses de um triunfalismo perigoso e alarmante perda de confiança. Foram além: encaminharam uma proposta aos demais parceiros do G-20 para que estabeleçam limites aos seus saldos internacionais. Grandes exportadores como o Brasil rechaçam com firmeza a ideia, que, na prática, representa um aumento das importações em contrapartida a uma baixa forçada e artificial de suas exportações. A sugestão não poderia mesmo ser bem recebida. Por enfrentar no momento um quadro de crescente agravamento de sua dívida pública, os EUA partiram para a apelação. Decerto, o reequilíbrio das finanças internacionais requer concessões de todos os lados. Não apenas para favorecer os EUA. Mas o conjunto das nações que estão escrevendo uma nova história. ---------------------------------
Baixar