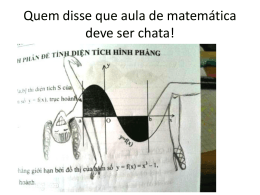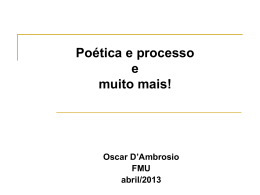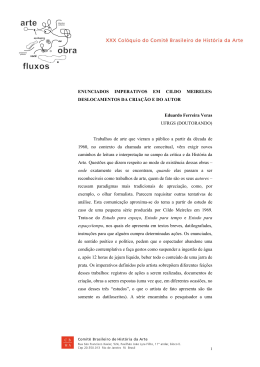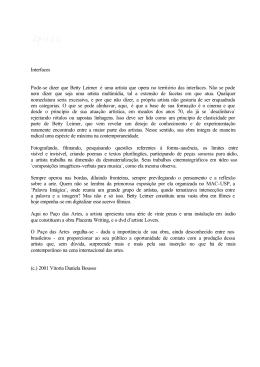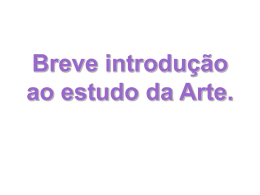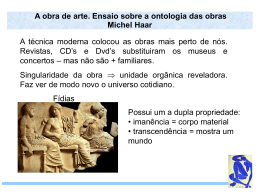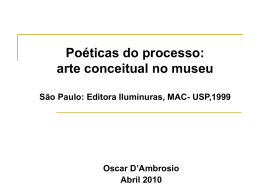1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS CURSO DE DOUTORADO EM ARTES VISUAIS ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM HISTÓRIA E TEORIA DA ARTE LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS DA HISTÓRIA E CRÍTICA DE ARTE TÁTICAS, POSIÇÕES E INVENÇÕES: dispositivos para um circuito da ironia na arte contemporânea brasileira Felipe Scovino Gomes Lima Orientador: Prof. Dr. Paulo Venancio Filho Rio de Janeiro 2007 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS CURSO DE DOUTORADO EM ARTES VISUAIS ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM HISTÓRIA E TEORIA DA ARTE LINHA DE PESQUISA: ESTUDOS DA HISTÓRIA E CRÍTICA DE ARTE TÁTICAS, POSIÇÕES E INVENÇÕES: dispositivos para um circuito da ironia na arte contemporânea brasileira Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro como requisito para obtenção do título de Doutor em História e Teoria da Arte. Felipe Scovino Gomes Lima Orientador Prof. Dr. Paulo Venancio Filho (UFRJ) Co-orientador Dr. Michael Asbury (Camberwell College of Arts/University of the Arts, London) Rio de Janeiro 2007 3 LIMA, Felipe Scovino Gomes. Táticas, posições e invenções: dispositivos para um circuito da ironia na arte contemporânea brasileira / Felipe Scovino Gomes Lima. 2007. XXI, 300 p.: il. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Rio de Janeiro, 2007. Orientador: Paulo Venancio Filho 1. Ironia 2. História e crítica de Arte 3. Século XX 4. Arte brasileira 5. Ética I. Venancio Filho, Paulo (Orient.). II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais III. CDD Título 4 FELIPE SCOVINO GOMES LIMA TÁTICAS, POSIÇÕES E INVENÇÕES: DISPOSITIVOS PARA UM CIRCUITO DA IRONIA NA ARTE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA Tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em História e Teoria da Arte. Aprovada por: Professor Doutor Paulo Venancio Filho Universidade Federal do Rio de Janeiro Professora Doutora Maria da Glória Araujo Ferreira Doutora pelo Institut d’Art et d’Archéologie da Universite de Paris I (PantheonSorbonne) e curadora independente Professor Doutor Luiz Camillo Dolabella Portella Osorio de Almeida Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Professor Doutor Carlos de Azambuja Rodrigues Universidade Federal do Rio de Janeiro Professora Doutora Angela Azevedo Silva Balloussier Ancora da Luz Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Em 17 de dezembro de 2007 5 Agradecimentos Aos meus pais, por me ensinarem a ter paciência e persistência nos objetivos que traçamos. Todo o meu amor... Aos meus tios e toda família por terem me dado suporte e amor nessa longa trajetória. André, meu muito obrigado por tudo. Sempre orgulhoso de nossa amizade. Aos artistas, que gentilmente concederam as entrevistas, transmitindo um caráter de ineditismo a essa pesquisa, meus sinceros agradecimentos: Antonio Dias, Antonio Manuel, Artur Barrio, Felipe Barbosa, Ronald Duarte, Tunga e Waltercio Caldas. Um agradecimento especial transmito a Cildo Meireles por sua extrema atenção, gentileza, amizade, disponibilidade e os seus comentários aguçados aos longos dos vários “papos” que tivemos nesses quase 4 anos. Foi com “Volátil” que toda esta história começou... A Família Clark, em especial Alvaro, Alessandra e Sandra, muito obrigado pela compreensão e amizade. A Fabiene Gama, por seu carinho e seu sorriso ao longo desses anos. Inesquecível.... Ao inestimável Fred Coelho, pelos longos papos, conselhos e indicações quase diários, fosse entre Botafogo-Copacabana ou Londres-New York. Aos meus grandes amigos e companheiros, meu amor e gratidão: Antonio Holzmeister e Luciana, Bruno Carvalho, Eliska Altmann, Emilio Domingos, Erica Coelho, Erico e Neide Coelho, Graziella Moraes, Isadora Travassos, Joana Collier, Leo Alves, Lia Rocha, Lílian Holzmeister, Marcius Coutinho, Nina Galanternick, Renata Fraga, Simplicio Neto. A Andrea Palluch, por me acolher em Londres e sua gratidão inesquecível naqueles meses longe de casa. 6 A Luizan Pinheiro e Wenna, Fernanda Lopes, Daniela Name, Fernanda Pitta e Heloisa Espada pelo fluxo de informações trocadas nesses anos. Meus agradecimentos também se estendem a Catherine Bompouis, Rubem e Rosana Ricalde. A Cristina Salgado e Maria Iñigo Clavo, pelo companheirismo e troca de experiências durante o período em que passamos em Londres. E um muito obrigado a todos os outros amigos que me acompanharam na trajetória dessa pesquisa pela força e companheirismo que cresceram ainda mais. Ao meu orientador, Paulo Venancio Filho, por ter aceitado o convite. Suas indicações de textos e caminhos foram fundamentais para o resultado dessa. Sentirei saudades dos chopps e whisky. Ao meu co-orientador Michael Asbury por ter acolhido o meu projeto, sua generosidade ao longo do período em que estive em Londres e suas indicações de leitura e metodologia, meu muito obrigado. Aos professores da Chelsea College of Art & Design, em especial Oriana Baddeley, Toshio Watanabe e Isobel Whiteleg. A Glória Ferreira, por ter aceitado o convite e enriquecer o debate. A Luiz Camillo Osorio, pela “força” ao longo do processo da bolsa PDEE e ter aceitado de imediato o convite para participar da banca. Obrigado por sua generosidade. A Angela Ancora da Luz, por sua importância em minha acadêmica. Ao professor Carlos de Azambuja, por contribuir para o crescimento da pesquisa. A Ericson Pires, por ter aceitado o convite como suplente e amizade ao longo dos anos. 7 Ao curso “Seminário de Pesquisa em Andamento III” ministrado em 2005 por Milton Machado no PPGAV. As questões levantadas ao longo daquelas semanas foram fundamentais para que mudasse os rumos da minha pesquisa. Aos professores e colegas da EBA, em especial, além dos já citados, Maria Luisa Távora, Fátima Alfredo, Rogério Medeiros e Sonia Gomes Pereira. A Paulo Sergio Duarte e Roberto Conduru, pelas contribuições e indicações. Aos meus alunos do Departamento de Teoria e História da Arte na Uerj, que por meio de seus questionamentos levantaram assuntos intrigantes para a pesquisa. Aos professores do Instituto de Artes - Uerj, meu muito obrigado. A CAPES pelo financiamento do meu estágio no exterior através da bolsa PDEE. Foi uma contribuição fundamental para a pesquisa nos arquivos da Europa e o “encontro real e imediato” com as obras de arte. A FAPERJ, pelas duas bolsas que possibilitaram apresentações de comunicações nos congressos da ANPAP (2005, em Goiânia; e, 2007 em Florianópolis). 8 RESUMO LIMA, Felipe Scovino Gomes. Táticas, posições e invenções: dispositivos para um circuito da ironia na arte contemporânea brasileira. Rio de Janeiro, 2007. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. A presente pesquisa coloca a produção da ironia dentro de um campo amplo (discussões que envolvem política, mercado de arte, ética, participação do espectador, autoria da obra, as suas relações com o sexo e o humor negro, aparências e ilusões proporcionadas pelo objeto) construindo, dessa forma, o panorama de um circuito dessa categoria em seus diferentes suportes e fluxos. A seleção dos artistas investigados nessa tese não caracteriza a inclusão dos mesmos em alguma espécie de grupo ou movimento. A seleção começa com a Experiência no2 (1931), de Flávio de Carvalho, atravessa as ações/performances/situações das décadas de 1960 e 1970, encontra o trabalho de Márcia X. na década de 1980, e como ponto de chegada, os projetos e obras de Felipe Barbosa, Ronald Duarte e Raul Mourão, dentre outros artistas, que entre o final da década de 1990 e o começo deste século, abordaram diferentes operações ou fluxos para a ironia nas artes visuais. Contudo, serão feitas aproximações com a produção artística internacional e a influência dessas práticas para a produção das obras brasileiras selecionadas para o estudo. Entendemos a ironia como uma forma mutante e que difere-se (sutilmente, em alguns casos, é verdade) de outras figuras de estilo, de retórica, de linguagem; em várias ocasiões não é percebida, permanecendo numa espécie de limbo entre o “dito” e o “não dito” e muitas vezes é confundida com o humor. A ironia se constituirá na intenção do interpretador assim como do seu produtor e atuará num contexto específico numa relação entre o concebido e o percebido. Essa pesquisa argumenta que a ironia acontece como parte de um processo comunicativo; o “irônico” se estrutura na e pela linguagem. Delinearemos os diferentes fluxos da “ironia” presentes no circuito de arte e ampliaremos esta questão para a conceituação da (tênue) fronteira existente nos seguintes campos: o humor propriamente dito, humor negro, sarcasmo, verdade, mentira, falsidade, realidade, ficção e, finalmente, o deslocamento desta obra (irônica) dentro do circuito de arte. Palavras-chaves: ironia, história e crítica de arte, século XX, arte brasileira, ética 9 ABSTRACT LIMA, Felipe Scovino Gomes. Tactics, positions and inventions: devices for a circuit of irony in contemporary Brazilian art. Rio de Janeiro, 2007. Tese (Doutorado em Artes Visuais) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. This research places the production of the irony inside an ample field (discussions that involves politics, art market, ethics, participation of the audience, authorship of the artwork and its relations with the sex and the black mood as well as illusions made by object) studying, in this way, the panorama of a circuit of this category in its different supports and flows. The selection of the investigated artists in this thesis does not characterize their inclusion in some species of group or movement. The selection begins with Experience no 2 (1931), by Flávio de Carvalho, crosses the actions/performances/situations in 1960’s and 1970’s, it finds the work of Márcia X. in 1980’s, and as arrival point, the projects and works by Felipe Barbosa, Ronald Duarte and Raul Mourão, amongst other artists, who in the late 1990’s and begin of this century, had approached different operations or flows for the irony in the visual arts. However, there will be approaches with the international artistic production and the influence of these practices into the production of the Brazilian artworks selected by thesis. The thesis understands the irony as a mutant form; it is differed (subtly, in some cases, it is truth) from other figures of style, rhetoric, language; in some occasions it is not perceived, remaining in a species of limb between “said” and “not said” and many times it is confused with the humour. The irony will consist in the intention of the interpreter as well as of its producer and will act in a specific context, in a relation between conceived and the perceived one. This research argues that irony happens as part of a communicative process; the “ironic” if structures “in” and “for” the language. It will delineate the different flows of the “irony” established in the art circuit and it will extend this question for the conceptualization of the (tenuous) existing border in the following fields: the humour, black mood, sarcasm, truth, lie, falseness, reality, fiction and, finally, the displacement of this (ironic) artwork into the art circuit. Keywords: irony, history and art critic, 20th century, Brazilian art, ethics 10 Lista de imagens: Pág. 41 Il. 1- Nelson Leirner, O porco, 1967, porco empalhado e madeira, 83 x 159 x 62 cm, col. Pinacoteca do Estado de São Paulo. Fonte: arquivo do autor. Pág. 73 Il. 2- Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961, ferro e papel, 5 x 6 x 6 cm, col. Tate Modern. Fonte: MANZONI, Piero. Piero Manzoni, op. cit. Pág. 77 Il. 3- Gillian Wearing, Sixty minute silence, 1996, filme, 60 minutos, col. da artista. Fonte: FERGUSON, Russel; DE SALVO, Donna; SLYCE, John. Gillian Wearing. Londres: Phaidon Press, 1999, p. 14. Pág. 107 Il. 4- Carlos Zilio, Para um jovem de futuro brilhante, 1974, valise com pregos e papel, 10 x 40,8 x 31,5 cm, col. MAC-USP. Fonte: VENANCIO FILHO, Paulo (Org.). Carlos Zílio. São Paulo: Cosac & Naify, 2006, p. 51. Pág. 108 Il. 5- Artur Barrio, Defl......situação....+s+..........ruas.........abril..........1970, 1970, fotografia, registro de César Carneiro e Luiz Alphonsus, performance realizada nas ruas do Rio de Janeiro, col. do artista. Fonte: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio. Rio de Janeiro: Modo, 2002, p. 26. Pág. 125 Il. 6- Márcia X., Kaminhas sutrinhas, 1995, bonecos, motor, tecido, madeira, 30 x 30 x 10 cm, col. Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ. Fonte: SALDANHA, Claudia et al. Márcia X revista. Rio de Janeiro: Paço Imperial, 2005, p.19. Pág. 128 Il. 7- Márcia X., Reino animal, 2000, bonecas, pelúcia e motor, 30 x 30 x 10 cm, col. Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ. Fonte: SALDANHA, Claudia et al. Márcia X revista, p. 6. Pág. 132 Il. 8- Antonio Dias, Todas as cores dos homens, 1996, vidro, folhas de ouro e cobre, vinho tinto, malaquita, gesso, grafite, água mineral, fios e lâmpadas elétricas, 11 dimensões variáveis, col. Daros-Latinamerica. Fonte: DIAS, Antonio (Ed.). Antonio Dias, op. cit., p. 120. Pág. 151 Il. 9- Waltercio Caldas, Dado no gelo, 1976, fotografia, 40 x 60 cm, col. do artista. Fonte: DUARTE, Paulo Sérgio. Waltercio Caldas. São Paulo: Cosac & Naify, 2001, p. 125. Pág. 155 Il. 10- Lygia Pape, Roda dos prazeres, 1968, porcelana, conta-gotas e anilinas, dimensões variáveis, col. Projeto Lygia Pape. Fonte: PAPE, Lygia. Gávea de tocaia. São Paulo: Cosac & Naify, 2000, p. 18. Pág. 158 Il. 11- Waltercio Caldas, Convite ao raciocínio, 1978, casco de tartaruga e tubo de ferro, 15 x 45 x 20 cm, col. Luiz Buarque de Hollanda. Fonte: DUARTE, Paulo Sérgio. Waltercio Caldas, op. cit., p. 123. Pág. 161 Il. 12- Waltercio Caldas, Garrafas com rolha, 1975, porcelana e cortiça, 25 x 20 x 9 cm, col. Ruben Knijnik. Fonte: DUARTE, Paulo Sérgio. Waltercio Caldas, op. cit., p. 6. Pág. 187 Il. 13- Lygia Pape, Isto não é uma nuvem, 1997, madeira, nylon e texto, 19 x 17 x 13 cm, col. Projeto Lygia Pape. Fonte: PAPE, Lygia. Gávea de tocaia, op. cit., p. 216. Pág. 188 Il. 14- Cildo Meireles, Ouro e paus, 1982-95, madeira e pregos de ouro, dimensões variáveis, col. do artista. Fonte: arquivo do artista. Pág. 189 Il. 15- Lygia Pape, Não pise na grana, 1996, alfaces, texto e tijolos, dimensões variáveis, col. Projeto Lygia Pape. Fonte: PAPE, Lygia. Gávea de tocaia, op. cit., p. 251. 12 Pág. 193 Il. 16- Antonio Dias, The Illustration of Art/One & Three/Sreetcherst, 1971- 74, latão polido, 110 x 550 cm, col. Ruth Chindler. Fonte: DIAS, Antonio (Ed.). Antonio Dias, op. cit., p. 55. Pág. 201 Il. 17-22 Cildo Meireles, Inserções em circuitos ideológicos: projeto Coca- Cola, 1970, garrafas de coca-cola e silkscreen, 18 cm (altura), col. do artista. Foto: arquivo do artista. Pág. 209 Il. 23-25 Cildo Meireles, Inserções em circuitos antropológicos, 1971, fichas de metal para transporte, telefone ou compra em máquinas, linóleo, dimensões variáveis, col. do artista. Foto: arquivo do artista. Pág. 214 Il. 26- Artur Barrio, Livro de carne, 1978-79, fotografia, 20 x 20 cm, col. Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ. Fonte: BARRIO, Artur. Artur Barrio: a metáfora dos fluxos, 2000/1968. Rio de Janeiro, MAM; Salvador, MAM; São Paulo, Paço das Artes, 2001, p. 60. Pág. 217 Il. 27- Artur Barrio, Situação T/T1, 1970, fotografia, registro de César Carneiro, performance realizada em Belo Horizonte, col. do artista. Fonte: BARRIO, Artur. Artur Barrio: a metáfora dos fluxos, 2000/1968. Rio de Janeiro, MAM; Salvador, MAM; São Paulo, Paço das Artes, 2001, p. 99. Pág. 226 Il. 28- Felipe Barbosa e Rosana Ricalde, A casa enterrada, 2004, materiais diversos, instalação produzida no bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro, durante o Prêmio Interferências Urbanas. Fonte: BARBOSA, Felipe. Felipe Barbosa. Rio de Janeiro: Galeria Arte em Dobro, 2006, s/p. Pág. 233 Il. 29- Antonio Manuel, Clandestinas, 1973, jornal, 55,5 x 37,5 cm, col. do artista. Fonte: BRITO, Ronaldo. Antonio Manuel. Rio de Janeiro: Centro Cultural Hélio Oiticica, 1997, p. 71. 13 Pág. 261 Il. 30- Cildo Meireles, Volátil, 1980-94, col. do artista. Fonte: arquivo do artista. Pág. 268 Il. 31- Cildo Meireles, Cruzeiro do sul, 1969-70, cubo de madeira, sendo uma seção de pinho e outra de carvalho, 9 x 9 x 9 mm, col. do artista. Fonte: arquivo do artista. Pág. 278 Il. 32- Cildo Meireles, O sermão da montanha: Fiat Lux, 1973-79, 126.000 caixas de fósforo Fiat Lux, 8 espelhos, lixa preta, 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha (Mateus V, 3-10), 5 atores, 64 m2 e duração de 24 horas, documentação fotográfica da ação no Centro Cultural Candido Mendes, Rio de Janeiro, 1979. Fonte: arquivo do artista. Pág. 283 Il. 33- Ronald Duarte, Fogo cruzado, 2002, querosene e pólvora, 1500 metros de trilho, fotos da ação realizada durante o evento Interferências Urbanas, Rio de Janeiro. Fonte: arquivo do artista. Pág. 294 Il. 34- Cildo Meireles, Através, 1983-89, redes de pesca, voal, cercas de pasto, papel vegetal, venezianas, cercas de jardim, portões de madeira, grades de prisão, treliças de madeira, cercas de ferro, mosquiteiros, barreiras policiais, aquário, peixes, redes para quadra de tênis, estacas de metal, arame farpado, correntes, telas de galinheiro, cordões de proteção, bola de celofane, vidro, 225 m2, col. Kunststichting Kanaal, Kortrijk. Fonte: arquivo do artista. 14 SUMÁRIO INTRODUÇÃO Propostas de itinerários e fluxos para o circuito da ironia. 16 Operando os circuitos. 20 CAPÍTULO 1: IRONIA: NOTAS PARA UM ITINERÁRIO 1.1 Por falar em fluxos. 26 1.2 Por uma breve história da ironia. 28 1.3 Variantes da ironia: antecedentes, fluxos e tentativas de neutralização. 34 1.4 Qual é o critério para ser obra de arte? 39 1.5 Ironia e humor: políticas e discursos. 50 CAPÍTULO 2: SEM TERRITÓRIO: O LUGAR DA IRONIA NO MUNDO 2.1 A difusão da ironia no projeto moderno. 62 2.2 Diálogos da ironia: aproximações entre a produção artística brasileira e o cenário contemporâneo internacional. 75 2.2.1 Enquanto isso no Brasil... Tomada de assalto: por uma atitude invasiva. 81 CAPÍTULO 3: AS DIFERENTES TÁTICAS DE UM PROCESSO COMUNICATIVO PELA IRONIA 3.1 Antecedentes de uma massa enfurecida: Flávio de Carvalho e a ironia do absurdo. 92 3.2 A ironia como subversão: as táticas dessa prática no cenário artístico brasileiro contemporâneo. 100 3.3 A tática irônica e o kitsch no Brasil: ações e reverberações. 3.3.1 112 O kitsch no circuito irônico da arte: um breve panorama pelas obras de Nelson Leirner e Raul Mourão. 116 3.4 A fronteira entre a ironia e o sexo: Márcia X clichês. 122 3.5 Negócio arriscado: o quase insuportável deslizamento da ironia. 3.6 Vazio e ironia: quando essa aproximação é possível. 136 131 15 3.7 As diferentes posições perversas da ironia. 140 3.8 Nem tudo é verdade ou ironia(?) 150 CAPÍTULO 4: APARÊNCIAS E DISSOLUÇÕES: TÁTICAS DE EXISTÊNCIA DA IRONIA 4.1 Ironia no espaço sagrado. 173 4.1.1 O corpo evento de Antonio Manuel. 4.2 Volumes virtuais. 176 182 4.3 Palavra como enigma. 185 4.4 A ironia exercida como tomada de posição ao sistema econômico. 195 4.5 Ironia e cinismo 4.5.1 Alegoria e investigação: a merda como suporte. 210 4.5.2 Dejetos cínicos ou da possibilidade de um trabalho/risco. 4.6 In(ter)venções e jogos: novas fronteiras da ironia. 4.7 A ironia inventando espaços. 213 220 226 CAPÍTULO 5: CURTOS-CIRCUITOS: DIÁLOGOS ENTRE IRONIA E POLÍTICA 5.1 Leia com atenção: os jornais de Antonio Manuel. 231 5.2 O lugar da intenção e da interpretação no discurso da ironia. 238 5.3 Espalhando contra-informação. 255 CAPÍTULO 6: PROJETO EXPLOSIVO BRASILEIRO 6.1 Uma nova proposta para o cubo branco. 260 6.2 Perversidade e pólvora. 262 6.3 Reinventando lugares: o papel do artista dentro do projeto explosivo. 6.4 Atravessando fronteiras. 292 CONSIDERAÇÕES FINAIS 297 BIBLIOGRAFIA 299 273 16 INTRODUÇÃO Propostas de itinerários e fluxos para o circuito da ironia Como, de fato, a arte se relaciona com a ironia? Em que pensamos quando nos referimos à noção de ironia nos dias de hoje? Ironia e arte são duas categorias que, nos últimos anos, se aproximaram cada vez mais. Nem por isso podemos dizer que toda produção contemporânea é irônica ou, pelo menos, possui traços de ironia. Forma mutante e com características próprias, a ironia difere (sutilmente, em alguns casos, é verdade) de outras figuras de estilo, de retórica, de linguagem; em várias ocasiões não é percebida, permanecendo numa espécie de limbo entre o “dito” e o “não dito” e muitas vezes é confundida com o humor. A ironia se constituirá na intenção do interpretador assim como do seu produtor e atuará num contexto específico (cultural, social e, às vezes, até político), numa relação entre o concebido e o percebido. Essa pesquisa argumenta que a ironia acontece como parte de um processo comunicativo; não é instrumento retórico estático a ser utilizado, mas nasce nas relações entre significados, entre pessoas e emissões e, às vezes, entre intenções e interpretações; o irônico se estrutura “na” e “pela” linguagem. Divide-se, portanto, ininterruptamente - eis por que é uma multiplicidade. Especificando, é ironia justamente à medida que se atualiza, criando linhas de diferenciação que correspondem a seus diferentes dispositivos no campo da arte. Há apenas uma ironia, embora haja uma infinidade de fluxos que participam necessariamente desse mesmo pluralismo. Porque a ironia é questão tanto de interpretação quanto de intenção, ela pode ser classificada como “questão de compreensão silenciosa”: é questão de cumplicidade ideológica, um acordo baseado em compreensão partilhada sobre “como o mundo é”. A 17 relação sujeito/objeto transforma-se em campos de força que desencadeiam processos singulares de individuação. O tornar-se irônico aqui é processo negociado entre duas entidades, no qual nos engajamos dotados de invenção que nos faz sentir e pensar de modo original e compartilhado. Essa possibilidade aberta, levou parte do público a fazer analogias entre o gás (ou a falta dele), usado por Cildo Meireles em Volátil (1980-94), e os campos de concentração nazistas. Meireles, em entrevista ao autor, revela essa “interpretação” feita por parte do público: Desde a primeira vez que eu mostrei [o trabalho], algumas pessoas que o visitaram, vieram comentar comigo. Elas consideraram Volátil como um trabalho de, no mínimo, solidariedade ao martírio judeu, por conta da presença da câmara de gás nos campos de concentração. Na verdade, quando você está propondo alguma coisa, a obra possui certa neutralidade; o que está colocado ali é a minha postura, uma decisão minha, mas em si, o trabalho pelo trabalho, ele é neutro, ou seja, um neonazista pode usar a mesma coisa para fazer apologia do neonazismo. Nada lhe impediria.1 A relação entre boato, falsidade e verdade na interpretação da obra pode gerar uma nova abertura à obra que nem o próprio artista havia imaginado. A ironia constantemente sofre a acusação de ser um desses três conceitos. As poéticas contemporâneas, ao propor estruturas artísticas que exigem do fruidor um empenho autônomo especial, freqüentemente uma reconstrução, sempre variável, do material proposto, refletem “processos em que, ao invés de uma seqüência unívoca e necessária de eventos, se estabelece como que um campo de probabilidades, uma ‘ambigüidade’ de situação, capaz de estimular escolhas operativas ou interpretativas sempre diferentes” 2. Foi o que ocorreu com La nona ora (1999), de Maurizio Cattelan. Nesse trabalho (onde a figura em tamanho natural do Papa João Paulo II tem “a companhia” de um meteorito; a obra, inadvertidamente, acabou sendo exposta com o papa deitado, numa posição que transmite a idéia do mesmo ter sido atingido, nas pernas, 1 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). O artista “brinca” com a nossa percepção já contaminada pelo real: o gás de cozinha não possui cheiro. O que transmite a essência que sentimos, é um elemento químico chamado T-butil mercantileno. Na câmara, não há gás, mas apenas a sua “essência”. Faremos um estudo mais aprofundado sobre essa obra no capítulo da tese denominado Projeto explosivo brasileiro. 2 ECO, Umberto. Obra aberta. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 93. 18 pelo meteorito), o artista, acidentalmente, teve a sua obra reconstruída. Como observa o próprio: Alguns trabalhos chegam com uma história, e você nunca sabe se a história é verdadeira ou falsa. Eu sempre falo que meu Papa não era para ficar no chão. Ele deveria ficar de pé, e então nós espalhamos o boato de que foi uma decisão de último minuto mudar a posição da escultura e arremessar o meteorito. Nem mesmo sei se era esse mesmo o boato.3 O jogo irônico dessa obra continua no título, que supostamente indicaria a morte de Jesus Cristo na cruz. A obra foi severamente atacada pelo Parlamento polonês, chegando a ponto de um parlamentar, Witold Tomczak, líder da Liga Católica Polonesa, ir até onde a obra estava sendo exposta – Zacheta National Gallery of Art, em Varsóvia - para tentar levantar o Papa e remover o meteorito. Tentativa frustrada. O meteorito era pesado demais, segundo o autor da façanha. Como afirma Cattelan, “tudo isso se relaciona com a desinformação. Gosto de embalar as obras de arte com enorme quantidade de desinformação, e assim no final não existe verdade” 4. Cattelan opera com a idéia de público, tornar pública uma idéia, de pertencer ao mundo. Nesse sentido, o real significado do seu trabalho é simplesmente o que as pessoas vão fazer dele. A ironia expressa por um enunciado, mesmo não sendo elemento estruturador de texto, conta necessariamente com os elementos implicados na dimensão enunciativa. Se é possível dizer que a ironia acontece como conflito entre enunciado e enunciação, isso significa que as duas instâncias estão articuladas, relacionadas de uma forma particular e própria à constituição do processo irônico. O fato é que para haver ironia há necessariamente a opacificação do discurso, ou seja, um enunciador produz um enunciado de tal forma a chamar a atenção não apenas para o que está dito, mas para a forma de dizer e para as contradições existentes entre as duas dimensões. Nesse sentido, a ironia é “uma citação, ou seja, o ironista convoca, sob forma de 3 CATTELAN, Maurizio. Entrevista a Hans Ulrich Obrist. In: OBRIST, Hans Ulrich. Arte agora em 5 entrevistas: Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Olafur Eliasson, Cildo Meireles, Rirkrit Tiravanija. São Paulo: Alameda, 2006, p. 26. 4 Idem, ibidem. 19 alusão, em seu enunciado um universo axiológico (coletivo ou individual) estabelecido em outros discursos e com o qual ele não compartilha” 5. O artista está mais interessado em manter essa ambigüidade da mensagem, que possibilita por sua vez o seu potencial entendimento divergente. A arte torna-se, portanto questão de desentendimento, também, no sentido de que as pessoas podem fazer o que quiserem com ela. “Há desentendimento quando você realmente quer alguma coisa e as pessoas não entendem. Para mim, o desentendimento é muito mais forte do que a idéia gerada por ele” 6. A comunicação irônica obedece a um código particular: não se endereça ao objeto da ironia, mas a um terceiro elemento real ou supostamente presente ao ato da palavra irônica – o receptor. Tunga compartilha da mesma idéia: Penso que a obra é independente de mim, mas não do público, porque ele passa a ser [grifo do autor]. Quando você faz uma obra, você faz para que ela exista. Você faz um fenômeno para que ele apareça. Ele, portanto, aparece para alguém; ademais há a aparição e um testemunho de alguém. Todos esses elementos fazem parte da mesma cadeia, constituem uma unidade de trabalho.7 Posso listar de memória e de forma breve algumas produções artísticas realizadas a partir dos últimos 30 ou 40 anos, que tinham em sua comunicação com o outro, o discurso da ironia. Assim, por exemplo, um artista conecta fios de cobre e zinco a alguns quilos de batata transformando-as em baterias e fazendo funcionar um relógio digital. Um outro, interessa-se em inscrever mensagens em circuitos de circulação de objetos e mercadorias. Outros artistas interessam-se pelo ato de caminhar, respirar ou cozinhar. Talvez abrir um restaurante. Um artista elaborou um projeto para colorir nuvens no céu, nuvens reais e não representações pintadas de nuvens. Outro fez um boletim de ocorrência na polícia sobre a sua obra roubada, que nunca existiu, e expôs o boletim como sua mais nova contribuição à arte, numa galeria. Outros colocaram sua atenção nas cidades, para aí intervir nas arquiteturas e nos fluxos urbanos. Outro ficou nu no museu. Um artista queria ensinar pássaros a latir. Outro casou com uma atriz pornô, ampliou fotos em que aparecem 5 BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifônica. Campinas: Editora da UNICAMP, 1996, p. 106. CATTELAN, Maurizio. Entrevista a Hans Ulrich Obrist. In: OBRIST, Hans Ulrich. Arte agora em 5 entrevistas: Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Olafur Eliasson, Cildo Meireles, Rirkrit Tiravanija, op. cit., p. 37. 7 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2006 (documento inédito). 6 20 praticando sexo, emoldurou-as e vendeu-as ao circuito de arte. Uns utilizaram a economia ou a sociologia, a cartografia e a aeronáutica, a física ou a matemática, a genética ou a informática, máquinas, produtos químicos, lixo. Outra artista organizou uma série de bonequinhos elétricos praticando sexo grupal. Atuar de forma suja com o desejo secreto de ser espancado ou rolar na merda com a crença secreta de que o mais nojento pode converter-se no mais sagrado. Nessas ações, atividades, práticas, táticas e produções que citamos, não há, necessariamente, uma especialização. Às vezes, não há de fato um autor, não se trata de produzir um objeto, mas uma experiência. É o que Foucault chama de “apagamento do autor” 8: a função autor excede a obra porque o campo e a seqüência de efeitos produzidos ultrapassam de muito a própria obra. Mas o essencial não é constatar uma vez mais seu desaparecimento; é preciso descobrir os locais onde sua função é exercida. Para Foucault, o autor não é exatamente nem o proprietário nem o responsável por sua obra; não é nem o produtor nem inventor deles. O autor é aquele a quem se pode atribuir o que foi dito ou escrito, e tão somente isso. Semelhanças com as proposições de Lygia Clark e Hélio Oiticica, que transferiam aos (ex) espectadores a autoria da obra, e mais tardiamente com o aparecimento consistente de obras com potencial irônico; fato este que será apresentado nessa tese como um atravessamento dentro da história da arte brasileira, portanto, adiantamos, que o interesse não será o mapeamento total das “obras irônicas” produzidas no Brasil no século XX, mas uma abordagem desses fluxos da ironia e a sua produção imagética pelos artistas. Operando os circuitos Reportando-nos ao título da tese, é interessante atentarmos ao fato que chamaremos “táticas” uma seqüência de atos elementares isolados e passíveis de serem incluídos em um “circuito” e cuja linguagem sugere-nos uma lista com o nome de verbos ativos chamados de “invenção”. Ao menos em um dado nível de análise no campo da arte, ao qual o artista 8 Cf. FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In:______. Estética: literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 264-298. 21 incorpora a instância da ironia (ou o seu trabalho é incorporado por essa categoria, seja pelo contexto ou pelo público), uma “invenção” pode ser identificada como criação poética e ao mesmo tempo mensagem, preenchida por essa potência irônica, dirigida pelo sujeito (o ironista) à obra. Estão distribuídos e apresentados os “dispositivos” desse mecanismo pelos quais os fluxos da ironia (como vimos na introdução dessa tese) são gerados, atravessados e comunicados. O presente estudo coloca a produção da ironia dentro de um campo amplo (discussões que envolvem política, mercado de arte, ética, participação do espectador, autoria da obra, as suas relações com o sexo e o humor negro assim como aparências e ilusões proporcionadas pelo objeto) construindo, dessa forma, o panorama de um circuito dessa categoria em seus diferentes suportes e fluxos. A seleção dos artistas investigados nessa tese não caracteriza a inclusão dos mesmos numa espécie de grupo ou movimento. Pelo contrário, não temos esta pretensão nem tal audácia. Apenas, localizamos obras que compõem o atravessamento de um fenômeno que se mostra cada vez mais presente na operação artística: a articulação da ironia e o processo de cognição do objeto de arte. Também não trataremos da trajetória artística individual de produção do artista, mas apenas uma obra ou um conjunto representativo daquele, que relate a experiência da ironia. A seleção começa com a Experiência no 2 (1931), de Flávio de Carvalho, atravessa as ações/performances/situações das décadas de 1960 e 1970, encontra o trabalho de Márcia X. na década de 1980, e como ponto de chegada, os projetos e obras de Felipe Barbosa, Ronald Duarte e Raul Mourão, dentre outros artistas, que entre o final da década de 1990 e o começo deste século, abordaram diferentes operações ou fluxos para a ironia nas artes visuais. Contudo, serão feitas aproximações com a produção artística internacional e a influência dessas práticas para a produção das obras brasileiras selecionadas para o estudo. Delinearemos os diferentes fluxos da “ironia” presentes no circuito de arte; conseqüentemente ampliaremos esta questão para a conceituação da fronteira existente nos seguintes campos: o humor propriamente dito, humor negro, sarcasmo, verdade, mentira, falsidade, realidade, ficção e, finalmente, o deslocamento desta obra (irônica) dentro do circuito de arte. Refletindo sobre o tema da ironia no ambiente das artes visuais, algumas questões são praticamente instantâneas para o espectador: existe a intenção do artista em propor uma operação irônica para a sua obra? Quais são os limites desta operação? Como 22 estas obras são absorvidas pelo mercado de arte (entendendo que, muitas vezes, a “vítima” dessas operações é o próprio mercado)? Promover um ordenamento e difusão das informações sobre o circuito da ironia no campo das artes visuais brasileiras a partir da leitura de um determinado grupo de obras produzidas marcadamente ao longo do século XX assim como localizar e definir as diferentes situações de “ironia” (seus limites e o campo de atuação de cada uma dessas propostas) na produção das artes visuais brasileiras são pontos estratégicos nesse estudo. O estudo tece as redes e operações que a ironia projeta no seu embate com o mundo: a funcionalidade do elemento da perversidade na operação artística; a função da ironia dentro de um panorama político de extrema repressão; como a arte trata a relação entre a ironia e o sexo; e, finalmente, a articulação entre a ironia e o mercado de arte. Outrora, o grupo “investigado” nesse estudo foi selecionado por conta da diversidade de idéias e suportes (objeto, performance, jornal, vídeo, projetos, elementos do cotidiano, animais empalhados, dentre outros) utilizados pelos mesmos e as diferentes táticas irônicas que seus trabalhos oferecem ao seu receptor. A multiplicidade destes dispositivos irônicos são os pontos que discutiremos assim como a função, a circulação e a recepção destas obras pelos “elementos” do circuito de arte (mercado e espectador). O método empregado para a investigação foram entrevistas com grande parte dos artistas selecionados para o estudo 9. Empregaremos a organização e análise crítica de documentos de época (catálogos de exposição, livros, artigos, depoimentos em áudio e filmes) que relataram a produção da ironia no campo das artes visuais brasileiras durante o período abordado. Ao longo dos capítulos dessa tese, o leitor irá se deparar com algumas inquietações sobre práticas artísticas contemporâneas que se fundaram em experiências de posicionamento surgidas no universo dos fluxos da ironia. A organização dos capítulos está distribuída de forma conceitual e não cronológica. Dessa forma, podemos observar as similitudes entre Experiência no 2 (1931) e o happening de Exposição não-exposição (1967), sem que haja um julgamento ou ordenamento de valores (históricos) entre as duas 9 A razão do emprego das entrevistas se dá pela falta de documentos que analisem a função da ironia nas artes visuais brasileiras, e em especial nas obras abordadas por esta pesquisa, e a produção de documentos inéditos sobre os artistas selecionados, organizando, portanto, novas referências e estudos sobre uma parcela significativa da produção das artes visuais nacionais na segunda metade do século XX e início do século XXI. 23 ações. Estamos interessados em traçar redes, ligar conceitos e não tanto em classificar quem fez o primeiro happening com potência irônica ou o número de obras no campo das artes visuais brasileiras que adotam uma posição irônica. O primeiro capítulo da tese situa o conceito de ironia no plano da discussão teórica; faz um levantamento dos estudos já praticados e as (várias) definições que foram incorporadas a esta categoria. Dissertaremos, entretanto, sobre o conceito de “fluxo” da ironia e o papel do “contexto” no agenciamento do potencial irônico da obra. A obra de Nelson Leirner (O porco) permitirá ao leitor conhecer o primeiro fluxo da ironia do qual analisaremos e iniciará o debate sobre a fronteira entre humor e ironia. No segundo capítulo, a discussão avançará sobre as similitudes e atravessamentos das produções das artes visuais nos campos do Brasil e do plano internacional: como a produção de Marcel Duchamp, Piero Manzoni, Grupo Fluxus e Andy Warhol pode ser interpretada como irônica e qual o legado da trajetória desses artistas para o grupo investigado pela tese. Ademais, observaremos como as produções internacional e nacional, nos últimos anos, têm se conectado, conceitualmente, com cada vez mais intensidade, apesar de não haver uma intenção clara por parte desses artistas. Estabelece-se, portanto, uma rede mundial de comunicação (irônica) sem fronteiras. No terceiro capítulo, dando prosseguimento ao entendimento da ironia como uma categoria que incorpora “fluxos comunicativos”, estudaremos as diferentes “táticas” e “posições” que a ironia (mutante) se consagra. Analisamos o “fluxo psicológico” de Flávio Carvalho ao experimentar o incitamento a uma massa religiosa e o seu “legado” como tática do absurdo nas manifestações contemporâneas da ironia como posição subversiva, notadamente nas obras de Cildo Meireles, Carlos Zilio e Artur Barrio. Ampliaremos a discussão para a relação entre o “não dito” e o “dito” e até que ponto ironia e verdade se tocam, se anulam ou então são duas categorias semânticas distintas. Estudamos o conceito de kitsch como forma de zombaria e ironia na investigação da produção artística de Nelson Leirner e Raul Mourão. De outra maneira, o kitsch também é associado ao sexo e poderemos observar tal fato na análise da obra de Márcia X. Sua obra estabelece uma aproximação com a perversão, e nesse momento, o estudo da tese se conduz para as diferentes “posições perversas” da ironia: a relação entre ética e atuação artística. A relação 24 entre o vazio e a ironia, e o “insuportável deslizamento” ou dissimulação da ironia por outras figuras de linguagem. O quarto capítulo investiga a relação entre os conceitos de real, mentira, ficção e ironia. Examinaremos as relações entre a institucionalização da arte e as obras/situações que questionam o estatuto (ou legalidade) do objeto de arte, usando como um de seus suportes o evento irônico. O leitor encontrará nesse capítulo uma discussão sobre o papel da ética no O corpo é a obra de Antonio Manuel, a relação entre o jogo irônico promovido por artistas (tais como Waltercio Caldas e a dupla Felipe Barbosa e Rosana Ricalde) no espaço urbano e a possibilidade da prática dessas situações no “campo ampliado da arte” 10. Discutiremos a relação entre a palavra e a imagem, e o fluxo irônico que ocorre nessa associação, analisando as obras de Lygia Pape, Tunga e Cildo Meireles, com depoimentos inéditos dos dois últimos artistas. Em seguida, analisamos o fluxo do dinheiro como suporte de idéias para a produção de obras e como esse circuito pode promover interferências e ruídos na compreensão do que o mercado de arte considera como “arte”. Nesse momento, abriremos espaço para a questão do cinismo e a sua relação com o conceito de resíduos (merda, escarro, saliva, unha, cabelo), e a sua absorção pelo mercado. Analisaremos se esse “eterno retorno” (do ponto de vista orgânico, com os resíduos corporais transformados em produto artístico; e, do ponto de vista capitalista, no sentido, desta obra estar sendo “trocada de mãos”) constitui-se numa sabotagem do artista ao mercado de arte ou é apenas mais um produto para esse mercado ávido pelo “novo”. O quinto capítulo dirige seu foco para o “fluxo político da ironia”. Nesse ambiente, abrimos espaço para a contra-informação contida e elaborada nas séries Clandestinas (1970) e Urnas-quentes (1968) de Antonio Manuel, e nas Situações (1969-70) de Barrio. São obras que lidam diretamente com o contexto em que foram produzidas. Pequenas bombas incendiárias prontas a disseminar dúvidas e investigações sobre o cotidiano do homem e o seu lugar no mundo; em paralelo, há a ironia de atualmente serem obras de arte disputadas pelo mercado. Obras sarcásticas e cínicas, que foram incorporadas por um mercado de arte que não enxerga sabotagens. Veremos, entretanto, que o contexto não é dado, mas produzido; o que pertence a um contexto é determinado pelas estratégias de 10 Esse conceito é criado pela historiadora da arte Rosalind Krauss e a sua discussão é levantada no livro The originality of the avant-garde and other modernist myths (1986). 25 interpretação. Ademais, a discussão sobre o papel do artista (até que ponto ele pode prosseguir com a sua obra, se é que existe esse limite) e a ética a qual ele é defrontado permeia a discussão dessa parte da tese. No último capítulo, chegamos ao incêndio propriamente dito. O projeto explosivo brasileiro toma de assalto a herança construtivista no Brasil e explora em seus mais diferentes suportes os fluxos da ironia. Essa investigação será feita por meio da combustão, seja real ou metafórica. Perversão, medo, dúvida... São palavras que nesse momento fazem parte do universo da ironia. Um grupo de obras de Cildo Meireles, Ronald Duarte e Felipe Barbosa se transforma em questionador do espaço e das (supostas) regras que o circuito de arte mantém. Essas obras atravessam espaço e redimensionam o papel do artista no lócus da arte. 26 CAPÍTULO 1 IRONIA: NOTAS PARA UM ITINERÁRIO 1.1 Por falar em fluxos Que lista comparável se poderia fazer dos artistas visuais cuja obra não é irônica de modo algum ou o é apenas ocasionalmente, minimamente ou ambigüamente? Ora, podemos concordar com Kierkegaard, em O conceito de ironia (1840), que diz: “Assim como os filósofos afirmam que não é possível uma verdadeira filosofia sem a dúvida, assim também pela mesma razão pode-se afirmar que não é possível a vida humana autêntica sem a ironia” 11. Não se deve tomar essa frase como defesa da presença irônica em toda obra de arte, muito menos em todo comportamento humano, onde de qualquer modo isto não seria possível, já que a presença da ironia está diretamente ligada ao contexto em que foi produzida ou percebida; contudo, a ironia é algo que atravessa o ar e o espaço que habitamos; localiza-se como presença constante, pronta a ser despertada. Essa pesquisa opera no sentido de entender como e por que a ironia acontece (ou não), com um interesse particular nas conseqüências de se interpretar uma mensagem (em qualquer meio) como “irônico”. Por que alguém iria querer usar esta estranha forma de discurso onde você diz algo que, na verdade, não quer dizer e espera que as pessoas entendam não só o que você quer dizer de verdade, como também sua atitude com relação a isso? Como você decide que uma elocução é irônica? Em outras palavras, o que leva a 11 Cf. MUECKE, Douglas. Ironia e irônico. São Paulo: Perspectiva, 1995, p. 19. 27 decidir que o que você ouviu (ou viu) não faz sentido por si só, mas requer uma suplementação similar de sentido. A ironia possui uma aresta avaliadora e consegue provocar respostas emocionais dos que a “pegam” e dos que a não pegam, assim como dos seus alvos e daqueles que algumas pessoas chama de suas “vítimas”. É aqui que a política da ironia atinge o seu cume. Aquela dimensão afetiva da aresta da ironia é o ponto de partida deste estudo; ela é também seu limite (deliberado). Por causa da grande quantidade de trabalhos já feitos sobre o tópico geral da ironia, escolhemos examinar o que pode se chamar a “cena” da ironia, isto é, tratá-la não como um tropo isolado a ser analisado por meios formalistas, mas como um tópico político, no sentido mais amplo da palavra. A “cena” da ironia envolve relações de comunicação baseadas em relações de poder. Inevitavelmente, ela envolve tópicos sensíveis tais como exclusão e inclusão, intervenção e evasão. Evitamos focalizar a ironia como um meio de obter qualquer tipo de “verdade”. Em qualquer de suas formas, a ironia será uma estrutura comunicativa. De fato, nada pode ser considerado irônico se não for proposto e visto como tal; não há ironia sem ironista, e este será alguém que percebe dualidades ou múltiplas possibilidades de sentido e as explora em enunciados irônicos, cujo propósito somente se completa no efeito correspondente, isto é, numa recepção que perceba a duplicidade de sentido e a inversão ou a diferença existente entre a mensagem enviada e a pretendida. Por isso a ironia pode ter formas e funções extremamente diversificadas, em que há pelo menos dois graus de evidência: um primeiro, em que o dito irônico quer ser percebido como tal, e um segundo – caso da ironia humoresque, como acentua Lélia Parreira Duarte 12 -, em que o objetivo é manter a ambigüidade e demonstrar a impossibilidade de estabelecimento de um sentido claro e definitivo 13. Muitos autores escreveram sobre como se alterou a maneira de ver a ironia como um tropo retórico clássico limitado para tratá-la como um conceito de vida. Outros autores, como Beth Brait, entendem a ironia como um produto do humor, duas categorias indissociáveis. Seu estudo faz uma reflexão sobre o humor “como categoria ampla, ainda 12 Segundo a autora, se a ironia retórica coloca uma dupla possibilidade, mas tem um ponto de chegada, a intenção da ironia humoresque ou “de segundo grau” não é dizer o oposto ou simplesmente dizer algo sem realmente dizê-lo; é, ao contrário, manter a ambigüidade e demonstrar a impossibilidade de estabelecimento de um sentido claro e definitivo, pois o texto construído com essa ironia se configura como código de existência efêmera e lugar de passagem (Cf. PARREIRA, Lélia Parreira. Ironia e humor na literatura. Belo Horizonte: Editora PUC Minas; São Paulo: Alameda, 2006, p. 31-32). 13 Cf. PARREIRA, Lélia Parreira. Ironia e humor na literatura, op. cit., p. 18. 28 que objetivado como traço de linguagem revelador de um ponto de vista, um olhar sobre o mundo, que requer tanto do produtor quanto do destinatário uma competência discursiva, uma vez que o fenômeno só poderia interessar como traço de linguagem”. E complementa: “Conseqüentemente, essa postura funcionou como uma primeira estratégia de delimitação do aspecto particular do humor, concretizado pela ironia” 14 . O foco deste estudo, então, não será a ironia socrática ou ironia romântica, ou concentrar-se em um determinado “tipo” de ironia, como a ironia por analogia, zombaria irônica, ironia autodepreciativa, ironia dramática ou a ironia, simplesmente, como ênfase retórica; mas, exatamente “na” ironia e nos seus “fluxos”, como explicamos nas primeiras linhas desse estudo. 1.2 Por uma breve história da ironia Nesse momento torna-se sensato dissertamos sobre a ironia socrática e a romântica. Na literatura sobre a ironia, aparece de forma mais freqüente essas duas modalidades. A primeira é o modo como Sócrates se subestima em relação aos adversários com quem discute. Quando, na discussão sobre a justiça, Sócrates declara: “Acho que esta investigação está além das nossas possibilidades e vós, que sois inteligentes, deveis ter piedade de nós, em vez de zangar-vos conosco”. Trasímaco responde: “Eis a costumeira ironia de Sócrates”. Aristóteles só faz anunciar genericamente esta atitude socrática quando vê na ironia um dos extremos na atitude diante da verdade. O verdadeiro está no justo meio; quem exagera a verdade é jactancioso e quem, entretanto, procura diminuí-la é irônico. E diz que, neste aspecto, ironia é simulação. Cícero referia-se a esse conceito ao afirmar que “na discussão, Sócrates freqüentemente se diminuía e elevava aqueles que desejava refutar, empregava-se de bom grado a simulação que os gregos chamavam ironia”. São Tomás referia-se a este conceito do termo, como “uma forma (lícita) de mentira” 15. Sócrates lança mão da maiêutica – sua técnica de provocar dúvidas e esvaziar certezas para deixar em seu lugar um vazio. O filósofo não tinha o objetivo de confirmar as próprias ou as alheias 14 15 BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifônica, op. cit., p. 13. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 585. 29 opiniões, mas o de impulsionar a busca da sabedoria através do diálogo, dada a sua desconfiança relativamente às verdades conhecidas ou estabelecidas. O modelo de comportamento irônico de Sócrates consistia basicamente em transformar uma frase assertiva em interrogativa com a finalidade de dar a entender ao interlocutor um desconhecimento ou ausência de uma convicção em relação a um determinado tema. A ironia socrática seria assim um princípio metodológico, que utilizaria a retórica para obter o efeito pretendido do discurso. Segundo Brait, a ironia socrática transforma-se em interrogação: “A ironia socrática é essa arte de interrogar e responder, pela qual Sócrates de uma primeira questão obtém uma primeira resposta, e de questões subsidiárias em questões subsidiárias, respostas variadas que lhe permitem mostrar a incoerência até que o interlocutor admita a sua ignorância” 16. Já a ironia romântica baseia-se no pressuposto da atividade criadora do eu absoluto. Identificando-se com o eu absoluto, o filósofo ou o poeta é levado a considerar a realidade mais concreta como sombra ou jogo do eu, a subestimar a importância da realidade, não levá-la a sério. Encara a ironia como a forma do paradoxo: a ironia, portanto, é a única dissimulação involuntária, e ainda assim, totalmente deliberada; tudo deveria ser jocoso e sério, francamente aberto e profundamente escondido. Origina-se da união entre o savoir vivre e o espírito científico, da conjunção de uma filosofia perfeitamente instintiva com uma perfeitamente consciente. Contém e desperta um sentimento de indissolúvel antagonismo entre o absoluto e o relativo, entre a impossibilidade e a necessidade de comunicação completa. Na obra Erwin (1815) de C.G.F. Solger, o autor localiza a ironia no próprio centro da vida: enquanto o universal, o infinito e o absoluto só podem manifestar-se em formas particulares, finitas ou relativas, isto é, mediante uma autonegação ou aniquilamento, estas, por seu turno, devem “autodestruir-se” no processo de cumprirem a sua função que é revelar o universal, o infinito e o absoluto; a ironia reside no duplo movimento oposto no qual cada um se sacrifica ao outro. Já em Hegel que, por alguns pormenores, se opunha à doutrina Solger (considerando-a platônica) assim definia a ironia: Considerem uma lei, singelamente tal qual é em si e por si: eu estou além e posso fazer isto e aquilo. Superior não é coisa, eu sou superior e senhor; acima 16 BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifônica, op. cit., p. 25. 30 da lei e da coisa, brinco com elas a meu bel-prazer e, nessa consciência irônica, em que permito que o supremo pereça, fruo-o a mim mesmo 17. A ironia romântica, como programa artístico, tem um duplo objetivo: pela incorporação da autoconsciência do artista, imbuir a obra criada (que como tal pode apenas ser limitada e parcial) da dinâmica do processo criativo, e ao mesmo tempo inventar uma forma de exprimir esta ilusão artística de autocriatividade. A ironia romântica amplia e torna mais complexo o fingimento existente na ironia retórica. Acrescenta-lhe auto-ironia, fruto da consciência narrativa, em que o texto, em vez de buscar afirmar-se como imitação do real, exibe o seu fingimento (a idéia de duplicidade como traço essencial a um modo de discurso dialeticamente articulado), revelando o seu desejo de ser reconhecido como arte, essência fictícia, elaboração de linguagem. Ademais, esse estudo tampouco está organizado ao longo de linhas históricas, em parte porque em 3 anos e meio de pesquisa não se poderia chegar a um estudo organizado e condizível com a proposta, e em parte porque, como vocês verão, a maneira particular que escolhemos para examinar as questões da ironia requerem que trabalhemos a partir do presente, para a partir dele, entender como e por que a ironia acontece, e mais do que isto: quais as formas que ela se apresenta na arte contemporânea; quais os mecanismos que o artista utiliza para tornar a ironia uma potência em seu trabalho. É a ironia “em uso”, no discurso, que é a sua preocupação primeira: a “cena” da ironia é social e política. Ainda que investiguemos assuntos formais, é o seu funcionamento em contexto(s) que será o principal interesse dessa tese. A palavra “ironia” tem sido tão usada e abusada que existe o perigo dela perder sua eficácia por completo. Quando por exemplo, teóricos como A.W. Schlegel sugerem que a ironia tem basicamente uma função corretiva. É como um giroscópio que mantém a vida num curso equilibrado, restaurando o equilíbrio quando a vida está sendo levada muito a sério ou, como mostram algumas tragédias, quando não está sendo levada a sério o bastante, estabilizando o instável mas também desestabilizando o excessivamente estável. Connop Thirlwall, teórico inglês do século XIX, introduz os termos “ironia observável” e 17 Idem, ibidem. 31 “dupla ironia”. No primeiro caso, o homem forçado pelas circunstâncias a dizer o que ele pode ver está sendo inevitavelmente mal compreendido, com efeitos desastrosos. Já na “dupla ironia”, a oposição imediata não se dá entre um aparecimento favorável e uma severa realidade (ou vice-versa), mas entre dois lados nos quais estão misturados o bom e o mau. Portanto, o principal perigo da ironia reside em não haver ironia absoluta: ela está sempre a ponto de nomear-se e de instalar-se no centro de um sistema. É que não existe ironia sistemática. A menor complacência da consciência anula o desespero do remorso, torna toda sinceridade suspeita, emana enfim a pureza de intenção. Numa crítica assinada por Roland Barthes sobre Flaubert, no livro S/Z (1970), observamos a relação da ironia e a forma da escritura destinada a deixar aberta a questão do que pode significar o significado literal: há um perpétuo diferimento da significância. A caduca definição de ironia – dizer uma coisa e dar a entender o contrário – é substituída; a ironia é dizer alguma coisa de forma que ative não uma mas uma série infindável de interpretações subversivas. [Flaubert] ao manusear uma ironia incerta, realiza uma salutar preocupação na escritura: recusa deter o jogo dos códigos (ou o faz tão imperfeitamente), resultando que (e este é, sem dúvida, o verdadeiro teste da escritura enquanto escritura) nunca se sabe se ele é responsável por aquilo que escreve (se há um tema individual por trás de sua linguagem): pois a essência da escritura (o significado da obra que constitui a escritura) é prevenir qualquer resposta à pergunta: quem está falando?18 Por outro lado, o fato da ironia ser tanto política quanto apolítica, tanto conservadora quanto radical, tanto repressiva quanto democratizante é que a torna uma forma carregada de “invenção” e “potência”. Enquanto a ironia pode vir a existir através do jogo semântico decisório entre o declarado e o não declarado, a ironia é um modo de discurso que tem “peso”, no sentido de ser assimétrica, desequilibrada em favor do silencioso e do “não dito”. O favorecimento ocorre em parte através do que é implicado sobre a atitude do artista ou do público (interpretador): a ironia envolve a atribuição de 18 Idem, p. 48. 32 atitude avaliadora, até mesmo julgadora e é aí que a existência de um discurso reflexivo carregado de três potências (imaginação, entendimento e sensibilidade) se faz presente, ocasionando um questionamento sobre aquele “objeto” e novas possibilidade de pensar o estar-no-mundo. Em Eureka/Blindhotland 19 (1970-75), como afirma Ronaldo Brito, “a eureka de Cildo Meireles é precisamente a descoberta da possibilidade de trapacear com a Eureka de Arquimedes: 5 cubos de madeira passam a ter o mesmo peso de 6 cubos de idêntica madeira” 20 . O chumbo infiltrado num dos cubos aponta a presença da densidade transformadora: algo que não se vê ou toca e que muda inexplicavelmente as relações de força. Meireles vira subversivamente do avesso a percepção: os objetos que estão dispostos são claramente reconhecíveis, provêm da esfera banal, contudo, logo que são tocados, investigados, mudam, e caímos na incerteza. A combinatória entre o peso e o volume das bolas – na forma de contato e da percepção auditiva – questiona nossa confiança sobre os sólidos. Eureka caracteriza uma impossibilidade por meio de outra: nesse caso, o contraste existe não entre objetos diferentes, mas entre diferentes qualidades do mesmo objeto: o peso da bola não se concilia com a idéia de peso que identificamos. Entretanto, a previsibilidade dos acontecimentos que produz a espera é paradoxalmente próxima da surpresa. O pior que teria podido acontecer não acontece, porque não chegamos a acreditar nele e, entretanto se está sempre pronto a acreditar. A ironia do destino vem freqüentemente desta ligação entre a certeza da realização de um 19 O espaço desta obra é dividido em quatro partes: num ponto iluminado, circundado por redes, o espectador primeiro vê 201 bolas de borracha preta, (cada uma com um peso diferente, variando entre 500 e 1500 gramas), acreditando erroneamente serem idênticas. Essa é Blindhotland. A segunda parte, que Meireles chama de expesos, consiste na trilha sonora com o som de cada bola caindo. Esse som concede uma pista da densidade da esfera, mas é apenas por meio da interação física que se pode tomar consciência de seus pesos distintos. A trilha consistia nas 8 situações dessas esferas, ou seja, as suas possíveis combinações. Portanto, ouvimos o som da esfera envolvida na conjunção de 3 elementos diferentes: a altura da queda, a distância do microfone e o peso da esfera. O terceiro elemento da instalação, consiste num par de balanças colocadas sobre uma estaca. Vemos que alguns objetos postos sobre as balanças são perfeitamente iguais em peso, contradizendo mais uma vez a lógica do olhar. Vêem-se duas peças de madeira que têm o mesmo peso que uma cruz, feita de dois pedaços idênticos de madeira, que se interseccionam em sua parte central. Essa é Eureka. A quarta parte consiste numa experiência que Meireles chama de inserções, que era a situação de liliputismo ao qual o trabalho também se refere, que é o sujeito experimentar a relação com outro objeto em escalas diferentes e simultaneamente. Essa imagem, referindo-se a Liliputh, estava inserida, na época, em 8 jornais diferentes, no mesmo dia, sendo que cada uma delas era uma situação diferente: a imagem do homem grande e a esfera pequenininha; depois o outro, era a esfera grande e o homem pequenininho; os dois grandes; os dois pequenos, e o invertido. A publicação em jornais com essas imagens, sem legenda, ocorreu em 1989, durante exposição Magiciens de la Terre, no Centre Georges Pompidou, em Paris. 20 BRITO, Ronaldo. Freqüência imodulada. In: MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles. Rio de Janeiro, Funarte, 1981, p. 8. 33 destino e a verossimilhança de cenas tidas como reais. O advento do pior, quando não existe nada pior que o pior, faz do real uma máquina simuladora. Mesmo se o acontecimento que se produziu é inverossímil, somos obrigados a aceitar sua verossimilhança. Nenhuma outra saída é possível: poderemos nos guiar apenas pelo som, mas é o tato, fundamentalmente ele, quem nos dará a certeza, quem nos trará a realidade dos fatos. Meireles nos diz que sua obra consistiu em refletir sobre isto: que tudo não está dado. Que tudo não esteja dado, eis a realidade do tempo. Ao mesmo tempo, que o dado supõe um movimento que o inventa ou cria, e que esse movimento não deve ser concebido à imagem do dado. A realidade do tempo é finalmente a afirmação de uma virtualidade que se realiza, e para a qual realizar-se é inventar. Logo, se tudo não está dado, resta que o virtual, na ação das capacidades sensoriais do espectador – na própria intervenção do espectador no objeto, no manuseio das bolas -, é o todo. Virtualidade aqui como potencial, como algo que pode acontecer, ou melhor, como um campo cujos potenciais não foram ainda usados, mas também é algo que reside de modo importante mais no processo do que no resultado. Finalidade, causalidade, possibilidade estão sempre em relação com a coisa uma vez pronta, e supõem sempre que “tudo” esteja dado. Quando Meireles critica essas noções, quando nos fala em indeterminação, ele não nos está convidando a abandonar as razões, mas a alcançarmos a verdadeira razão da coisa em vias de se fazer, a razão filosófica, que não é determinação, mas diferença. Eureka nos mostra inicialmente que há diferença de natureza entre volume e peso, entre a lembrança e a percepção, entre a duração e a matéria. Em seguida, ela nos mostra que ainda não basta falar numa diferença de natureza entre a matéria e a duração, entre o presente e o passado, uma vez que toda a questão é justamente saber o “que é” uma diferença de natureza: Eureka mostra que a própria duração é essa diferença, que ela é a natureza da diferença, de modo que ela compreende a matéria como seu mais baixo grau, seu grau mais distendido, como um passado infinitamente dilatado, e compreende a si mesma ao se contrair como um presente extremamente comprimido. Meireles põe em questão a verdade das “coisas”. Já se sabia, há muito tempo, mesmo se é às vezes difícil de viver, que não existe verdade isolada e imutável, como não existe realidade perene. O que não justifica de maneira alguma uma apologia do 34 relativismo. E isto não é tampouco razão para crer que o “mundo real” deixa de desabar cada vez que um enunciado tenta expressar aquilo que ele é, pois, falando seriamente, “o mundo real” nunca tem o estatuto de objeto para um sujeito que o descreve. O artista expõe o fato de que a verdade é construída, ela não é um entidade única e blindada, mas permanentemente repensada e refeita, fruto de contaminações. Nesse momento, é importante distinguir a ironia da linguagem de seu uso lúdico. A ironia presente nas formas de enunciação não é necessariamente deliberada, pode advir como efeito de colisão entre a linguagem e a realidade quando a indução metafórica parece incongruente. A questão do sentido, porque ela própria é insensata, faz surgir a ironia do mundo no jogo dos signos e dessa contaminação. Ela se coloca como catástrofe do sentido. Entre as idéias que se faz do mundo e as formas da linguagem que se emprega para se dar a certeza de produzir sentido; como observa Henri-Pierre Jeudy, “há sempre um distanciamento, mesmo se ingenuamente pode-se crer que o mundo é tal qual o falamos” 21. A posição sistemática do irônico, em Eureka, corresponde a um debruçar-se sobre mecanismos de linguagem que não se medem mais, de forma alguma, ao real e que o anulam utilizando-o como um objeto da realidade submetida unicamente à construção da interpretação. Como aponta Jeudy, “o que se designa como ‘a realidade’ se apresenta como objeto do desvio de sentido porque o sentido nele já está desviado” 22. 1.3 Variantes da ironia: antecedentes, fluxos e tentativas de neutralização Essa tese começa separando o “inseparável”: isolamos artificialmente, para fins de discussão, uma série de elementos que, na prática, trabalham juntos para que a ironia aconteça: sua aresta crítica; sua complexidade semântica; as “comunidades discursivas” e o papel da intenção e da atribuição da ironia. Cheguamos a estas considerações começando com o que parecia distinguir a ironia das outras práticas discursivas (suas “arestas” ou “posições”, como chamaremos ao longo desta tese) e movendo-me através dos elementos 21 22 JEUDY, Henri-Pierre. A ironia da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2001, p. 101. Idem, p. 102. 35 que se destacaram para nós como sendo importantes para raciocinar num nível teórico. Nosso foco será sempre como a ironia vem (ou não) a existir como interpretadora: a sua resposta aos exemplos, sem dúvida, será diferente – algumas vezes, mais, outras menos – e por um complexo de razões às quais este estudo também procura se dedicar. Como podemos observar existem diferentes teorias para a contextualização e conceitualização da ironia. Cabe agora, dissertarmos mais profundamente sobre elas. Para Protágoras, o homem é um esquecido da natureza. Ele nada é, tudo tem a inventar. Essas idéias comuns de que não somos nada, que vamos desaparecer, que, apesar das nossas construções, somos fadados ao nada, são também pequenos pensamentos com os quais não paramos de jogar, apesar do seu sentido trágico. Sócrates ironiza, falando de Protágoras, “há algo que ele não diz, começando seu Tratado da verdade, é que a medida de todas as coisas é também o porco ou o cinocéfalo” 23. Esse determinismo natural do qual o homem absolutamente não escapa é à prova de sua ironia. Os nominalistas não se enganaram: as palavras são medidas que invocamos para limitar o turbilhão das nossas ilusões. Esse jogo nos lembra permanentemente nossa atividade para produzir a certeza, e quando acreditamos ganhar em convicção, a ironia se faz mais virulenta pois, tornando-se por sua vez a medida de todas as coisas, ela aniquila o sentido de qualquer coisa. Para Kierkegaard, a ironia é primeiramente uma arma construtiva que permite afirmar sempre a subjetividade sem aniquilar a realidade. Esse filósofo mostra como a subjetividade pode ter um ponto de vista ético: “O que é ironia? Uma unidade, onde um fervor ético que interioriza infinitamente o eu se mistura com um savoir-vivre que, exteriorizando-o (no comércio com os homens), faz infinitamente a abstração desse mesmo eu” 24 . Kierkegaard não considera a ironia como distração frente ao mundo mas como tomada de posição que se inscreve no projeto ético de todo indivíduo. Ela é um movimento de interiorização que se abre rapidamente ao mundo, permitindo ao eu escapar do risco de seu próprio isolamento. A ironia não é pensada como a superação do sujeito e de seu relacionamento com o mundo; ela vem fundar a harmonia possível de tal relação. Liga o sujeito à comunidade. 23 Cf. JEUDY, Henri-Pierre. A ironia da comunicação, op. cit., p. 107. KIERKEGAARD, Sören. Journal VI. A. 38. Paris: Gallimard, tomo 1, p. 229 (Cf. JEUDY, Henri-Pierre. A ironia da comunicação, op. cit., p. 107). 24 36 Para Littré, a ironia é uma “troça particular pela qual se diz o contrário do que se quer fazer entender” 25 . Foi a técnica aplicada por Sócrates para minar as espertezas dos sofistas. A maiêutica, método de parto dos espíritos, é ela própria ironia. Sócrates não busca argumentos, como os sofistas. Ele coloca questões judiciosas que conduzirão seu interlocutor a descobrir a verdade que se impõe a ele e contra ele próprio. Sócrates utiliza tal método para ajudar os espíritos a se libertarem de seus preconceitos ou de crenças tomadas por verdades. Ele continua a ser admirado por ter feito da ironia uma arma do espírito 26. A ironia, portanto, é uma astúcia comunicacional, que prende o interlocutor nas malhas de um tecido lingüístico graças à soberana invenção de uma outra certeza. Dizendo o contrário daquilo que se pode querer fazer entender – numa visão muito reducionista da ironia -, o ironista zomba do mundo e aponta para um caminho situado além dos dogmas das verdades absolutas. Porém, é importante deixarmos claro que a relação entre aparência e realidade não é, em outras palavras, uma improbabilidade, nem uma probabilidade ou equivalência, mas um contraste (ou uma oposição, contradição ou incompatibilidade). Certos logros, como mentiras, embustes, hipocrisia e equívocos, que pretendem transmitir uma verdade mas não o fazem, também podem ser considerados contrastes de aparência e realidade. Mas, definitivamente não são “irônicos”. Como observa Muecke, a ironia e o logro são vizinhos próximos, e isto fica claro a partir do termo latino que designa ironia: dissimulatio (bem como ironia). Mas o ironista quer desempenhe um papel eirônico quer um alazônico 27 , dissimula ou, antes, finge, não para ser acreditado mas, como se disse, para ser entendido. Nos logros existe uma aparência que é mostrada e uma realidade que é sonegada, mas na ironia o significado real deve ser inferido ou do que diz o ironista ou do contexto em que o diz; é “sonegado” apenas no fraco sentido de que ele não está explícito ou não pretende ser imediatamente apreensível. Se entre o público de um artista que faz uso da ironia em sua obra existem aqueles que não se dispõem a entender, então o que temos em relação a eles é um embuste ou um equívoco, não uma ironia, embora sua não25 Cf. JEUDY, Henri-Pierre. A ironia da comunicação, op. cit., p. 108. Lembremos aqui que a palavra ironia, vem do grego eiron, que remete à metáfora do fio. Eiron quer dizer: trançar, amarrar, entrelaçar. As astúcias da comunicação consistem em tecer uma cesta e em prender o interlocutor numa armadilha. 27 Para Douglas Muecke, a alazonia varia amplamente em vários aspectos. O alazon pode ser totalmente irreflexivo, ou atrevidamente confiante; ou pode ser infinitamente circunspeto, vendo toda cilada menos aquela em que ele cai, quando por exemplo, um policial, no caso o alazon, tem o capacete roubado: a autoridade que supostamente prende pessoas que afanam coisas de outros, tem o seu símbolo roubado. 26 37 compreensão possa muito bem acentuar o prazer da ironia para o público que entendeu o sentido daquele uso. Insinuações e alusões, onde a pessoa a quem se dirige é convidada a completar por inferência o que foi deixado sem dizer, podem ter a intenção de informar ou de enganar ou podem ser ironia, onde o significado, digamos, real está na relação inferível de causa e efeito entre as duas afirmações. Em sua tentativa de teorização do fenômeno da ironia, Berrendonner toma como ponto de partida a clássica definição de que a ironia é “a figura pela qual se quer fazer entender o contrário do que se diz”. Para este autor, o problema de se definir a ironia como uma contradição apresenta dois inconvenientes: o primeiro está no fato de que essa caracterização instaura a indiferenciação entre os vários níveis de significação aí implicados – o contextual, o explícito e o implícito - que ficam confundidos; o segundo está no fato de que a definição clássica não é suficiente como tal. Para Berrendonner, por um lado, a ironia se manifesta como uma contradição, mas a forma como essa contradição é resolvida pelo receptor nem sempre é a mesma. Mas essa não é a única forma de decodificar a contradição. O receptor pode interrogar-se sobre o conhecimento que o locutor tem da realidade referencial e, ainda, sobre a avaliação que ele faz dessa mesma realidade. Aqui ele esclarece que a pergunta do receptor diz respeito, na verdade, à maneira como os vários códigos simultaneamente usados numa mensagem devem ser hierarquizados. Concluindo, esse estudioso afirma que a ironia “distingue-se das outras formas de contradição pelo fato de ser uma contradição de valor argumentativo” 28. Uma maior depuração entre o que se pode entender por literal, figurado e antífrase, na perspectiva constitutiva do discurso irônico, parece revelar que a ironia é produzida, como estratégia significante, no nível do discurso, devendo ser analisada da perspectiva da enunciação e, mais diretamente, do edíficio retórico instaurado por uma enunciação. Se a partir dos ensinamentos de Bakhtin é possível pensar todo o discurso como o processo de edificação do sentido, da significação como interação, a ironia pode ser pensada justamente como o discurso que coloca em cena, que dramatiza e tematiza esse aspecto. O jogo é jogado quando existe, para usar os termos de Aristóteles, não só uma peripécia ou inversão na compreensão do espectador, mas também uma “anagorise” ou 28 BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifônica, op. cit., p. 88. 38 reconhecimento do ironista e de seu verdadeiro intento por trás da pretensão 29 . A interpretação de insinuações e alusões não-irônicas difere desta na medida em que há reconhecimento mas não inversão. Dessa forma, também podemos concluir que o papel do espectador, que se vê envolvido numa estrutura irônica, é mais ativo e criativo do que sugere a palava “espectador”. O primeiro registro de eiron surge na República de Platão. Aplicada a Sócrates por uma de suas vítimas, parece ter significado algo como “uma forma lisonjeira, abjeta de tapear as pessoas”. Para Demóstenes, um eiron era aquele que, alegando incapacidade, fugia de suas responsabilidades de cidadão. Aristóteles, contudo, talvez porque tivesse Sócrates em mente, considerara a eironeia, no sentido de dissimulação autodepreciativa, superior a seu oposto, a alazoneia, ou dissimulação jactanciosa; a modéstia, ainda que apenas simulada, pelo menos parece melhor que a ostentação. Porém, como afirmar, como faz Protágoras, que “o homem é a medida de todas as coisas; para aquelas que são, por sua existência; para as que não são, por sua não-existência”, sem estar já no coração da ironia? Esta referência sem referência se abre para um arbitrário radical do sentido. Os valores se estabelecem e se transmitem pelas convenções, as alternativas são apenas escolhas subjetivas entre contrários. Se tudo é convenção, nada é fundado por algo além da preocupação da comunidade. É preciso que as convenções se partilhem pela sobrevivência de uma sociedade; passamos nosso tempo justificando o uso delas por uma metafísica do valor e da verdade científica. Que só haja convenções não nos parece suportável frente às nossas esperanças idealistas, e é a incredulidade improvisada frente nossas próprias crenças que nos deixa irônicos. Ao mesmo tempo, podemos pensar que os valores são artifícios e que participam, entretanto, de um ideal que ultrapassa os homens e eu mesmo; sorrimos dessa contradição como sorrimos de pensar no além quando estamos para morrer. A ironia nasce da ruptura entre os artíficios que temos por necessários e as razões de viver que não cessam de escapar 29 Para Kierkegaard, a ironia “não está presente realmente para alguém que é demasiado natural e demasiado ingênuo, mas somente se mostra para alguém que, por sua vez, é desenvolvido ironicamente... Na verdade, quanto mais desenvolvido polemicamente for um indivíduo, mais ironia ele encontrará na natureza” (Cf. KIERKEGAARD, Sören. O conceito de ironia: constantemente referido a Sócrates. 2. ed. Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2005). Para esse autor, ver alguma coisa irônica na vida é apresentá-la a alguém como irônica. Esta é uma atividade que exige, além de uma larga experiência de vida e um grau de sabedoria mundana, uma habilidade, aliada a engenho, que implica ver semelhanças em coisas diferentes, distinguir entre coisas que parecem as mesmas, eliminar irrelevâncias, e estar atento a conotações e ecos verbais. 39 do nosso conhecimento. É neste jogo de conivência com nossas ilusões que a ironia se torna ela mesma a medida de todas as coisas. Um aviso: poucas destas ironias, ou melhor das obras apresentadas nesta pesquisa, são “engraçadas”. Um dos conceitos errôneos que os teóricos sempre têm de enfrentar é a fusão de ironia e humor: “Nem todas as ironias são divertidas” 30 – embora algumas sejam. Nem todo humor é irônico – embora algum seja. No entanto, ambos envolvem relações de poder complexas e ambos dependem de contexto social e conjuntural para que possam realmente existir. De toda forma, existem teorias do humor como incongruência, depreciação e liberação que encontram eco naqueles elementos da ironia que sua política coloca em primeiro plano. A dimensão afetiva da ironia (sua ligação com medo, desconforto, superioridade, humilhação e controle) e suas dimensões formais (justaposição e incompatibilidade) aparecem também nas teorias do humor 31. A atribuição de intenção de zombaria quase sempre leva os teóricos a generalizar e ver toda ironia como se fosse caracterizada por riso “doloroso” 32. 1.4 Qual é o critério para ser obra de arte? Para demarcar essa fronteira, apresentamos O porco (1967), de Nelson Leirner. Esta obra consistia de um porco empalhado, que encontrava-se dentro de um engradado de madeira, sendo que amarrado ao pescoço do animal, estava uma corrente de ferro que trazia na outra extremidade um pernil defumado. O porco foi enviado para o IV Salão de Arte Moderna do Distrito Federal 33, realizado em 1967, e aceito pelo júri. Porém, Leirner, um 30 FREUD, Sigmund. Jokes and their relation to the unconscious. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000, p. 48. 31 Kierkegaard distinguiu vivamente ironia e humor. Para ele, ironia era a manifestação de uma alegada subjetividade infinita que desejou o triunfo sobre a finitude das coisas. A risada irônica da arte romântica é, na sua visão, a expressão da superioridade de artistas que consideram sua própria imaginação subjetiva infinita quando eles são confrontados com a finitude de suas próprias vidas e as coisas do mundo. O humor, pelo contrário, manifesta para Kierkegaard a penetração da subjetividade artística dentro de sua própria subjetividade em comparação ao projeto infinito que ele se propõe a realizar. 32 PALANTE, Georges. L’ironie: étude psychologique. Revue philosophique de la France et de l’Étranger. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 48. 33 Um outro fato irônico é que o porco (empalhado) era uma fêmea. 40 tanto quanto surpreso (e adotando uma atitude irônica), envia uma carta ao júri questionando os critérios de avaliação. Nesse momento, a ironia toma a forma de uma tática de banalizar a seriedade essencial da arte. O artista zomba de si mesmo, extrapola os limites de uma “moralidade” e põe a ironia num movimento oscilatório. Questionar algo bom? Afinal, você foi inscrito, Nelson! O interessante do porco não foi só a polêmica que causou, foi a split decision do júri, só que quando esse tipo de decisão ocorre no esporte, sempre é dado o direito de revanche ao perdedor. Numa decisão não unânime, a revanche tem que ser dada. Que revanche o artista tem numa split decision contra ele? Vocês [Leirner refere-se a Moacir dos Anjos, seu interlocutor nessa entrevista, crítico de arte e curador do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães] dão revanche? O porco entrou porque dois membros do júri votaram contra e três a favor dele no salão. Os cinco membros deveriam ter, supostamente, a mesma capacidade de avaliação.34 Realmente, se nada é intrinsecamente irônico e tudo pode se tornar irônico em certos contextos, então, que sentido faz deixar a mostra o que poderemos chamar de “marcadores irônicos”? A perspectiva dessa tese sobre sinais irônicos – assim como sobre a semântica da ironia e sobre o papel da intencionalidade – é pragmática: quaisquer que sejam eles, para serem chamados de marcadores irônicos, um espectador (interpretador) tem de ter decidido que eles funcionaram em contexto para provocar uma interpretação irônica. Além disso, suspeitamos que eles tenham de ter sido, em primeiro lugar, o que se tem chamado de “gestos de visibilidade”35. Mas não importa quão familiar cada um desses possa ser em seu papel; sua existência como um “marcador bem sucedido” dependerá sempre de uma comunidade discursiva para reconhecê-lo, em primeiro lugar, e, então, para ativar uma interpretação irônica num contexto particular compartilhado: nada é um sinal irônico em si e por si só. Dado esse enquadramento, no entanto, parece-nos que a distinção a ser feita é menos entre os “tipos” de sinais do que entre as “funções” que os sinais podem ter. Existem 34 Cf. ANJOS, Moacir dos. Adoração: Nelson Leirner. Recife; Brasília: MAMAM; Ecco, 2003. RABINOWITZ, Peter. Before reading: narrative conventions and the politics of interpretation. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 60. 35 41 certos marcadores que muitas vezes acompanham uma elocução e cuja função é agir como “sinais de aviso” ou, para dizer de outra maneira, para esperar a possibilidade de que a ironia possa ser acionada. É o caso do porco, de Leirner. Encontrar um porco empalhado num museu não é uma situação das mais banais, temos que convir. Porém, não é tão somente o “lugar do porco”, a “grande” ironia, se é que podemos chamar assim, que a obra quer provocar, mas o fato dele ter sido aceito pelo júri do Salão. Esses se relacionam com o que poderíamos chamar de uma função “metairônica”, que estabelece uma série de expectativas que enquadram a elocução como potencialmente irônica. Sinais que funcionam metaironicamente, por conseguinte, não constituem ironia em si tanto quanto sinalizam a possibilidade de atribuição irônica e funcionam como gatilhos para sugerir que o espectador, ou interpretador, deve estar aberto a outros significados possíveis. A ironia requer de seu produtor uma familiaridade muito grande com os elementos a serem ironizados, o que de imediato torna isomorfa a cisão constitutiva da ironia e a cisão constitutiva do sujeito, do seu produtor. Naturalmente, essa é uma das dimensões que particularizam a ambigüidade irônica. Por outro lado, segundo Beth Brait, “também o artista espelha a cisão, na medida em que capta a sinalização emitida pelo discurso Il.1 Nelson Leirner O porco, 1967 Porco empalhado e madeira 83 x 159 x 62 cm Col. Pinacoteca do Estado de São Paulo e, através dela, aciona sua competência discursiva, o que lhe possibilitará fruir a ironia como vítima, ou como parceiro de um ponto de vista do enunciador” 36. A ironia sugere um “não comprometimento”, a recusa indeferida de engajamento e envolvimento, e, assim, suas associações mais pejorativas são com a indiferença ou mesmo com desdém; uma atitude desestabilizadora contra os padrões da crítica, ou melhor, a revalidação de seus critérios. Isto é um engano. A ironia não é a indiferença. Ela se sustenta do que acontece como objeto de sua derrisão assim como começa a funcionar porque comunidades discursivas existem. 36 BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifônica, op. cit., p. 130. 42 Mesmo discordando dos critérios que levam um curador ou um júri, a escolher seu trabalho para uma exposição, o artista tende a guardar para si sua discordância pela oportunidade de estar participando de algum evento ou publicação que, em última instância, estará divulgando seu trabalho 37 . Ressaltamos o fato de que num período de 4 anos, uma seleção de júri aprovou o porco de Leirner para exposição em Salão, e outro júri invalidou a proposta de Antonio Manuel em expor o seu próprio corpo como obra. Ainda, em 1970, Artur Barrio passou (e criou) por uma situação semelhante a de Leirner. O artista enviou ao II Salão de Verão, realizado no Museu de Arte de Moderna do Rio de Janeiro, um manifesto contra o salão que foi aceito pelo júri na categoria “desenho”. Como informa Barrio, “o manifesto foi inscrito como desenho porque era a única oportunidade que tinha de mostrar ao júri o Regulamento Acadêmico do Salão de Verão, como de resto a estrutura já caduca de todos os salões” 38. Entretanto, o artista fica furioso ao constatar que “o [meu] trabalho, relacionado aos demais desenhos aceitos pelo júri, só pode ser considerado lixo, tal como o lixo das trouxas ensanguentadas” 39 . Para Barrio, o desenho/manifesto não poderia ser levado em conta como pertencente a categoria de belas-artes e o júri, aceitando, causou um efeito inverso na sua potência; ele tornou-se fraco; pior, inexistente. Mas, “[o júri] iludiu-se, caindo numa baita contradição da qual não pode sair. Essa contradição, aliás, é a de toda crítica de arte. Aceitar as críticas contidas no Manifesto é dizer que o salão, pelo contrário, está desestimulando novos valores e revelando o que já deixou de existir há muito tempo” 40 . A crítica de Barrio diz respeito aos critérios usados pelo júri – numa semelhança sem precedentes com Leirner: Como aceitar meu Manifesto e ao mesmo tempo cortar outros trabalhos que são Manifestos? Não dá. Entregando-o à leitura do público, o júri assumiu o 37 Cabe ressaltar que os pais de Nelson Leirner são Felicia (1904-1996) e Isai Leirner (1903-1962). Este foi um próspero industrial e um dos diretores do Museu de Arte Moderna de São Paulo e da Bienal de São Paulo na década de 1950. A casa dos Leirner tornou-se um dos mais importantes pontos de encontro de artistas e intelectuais do Brasil e do exterior na década de 1950. Conforme Chiarelli relata, “em 1961, seu pai [Isai Leirner] conseguiu que a Galeria São Luiz – na época a mais importante da cidade – fizesse uma individual do então iniciante, sem que a proprietária sequer tivesse visto as obras”. E o artista complementa: “Também fui de cara aceito em todos os salões paulistas, sempre com um premiozinho a reboque... A minha vida artística divide-se em AP e DP: antes e depois do pai. Foi DP que, então, começaram as recusas, polêmicas, etc.” (CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte. São Paulo: Takano, 2002, p. 31). 38 BARRIO, Artur. Manifesto contra o júri. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio. Rio de Janeiro: Modo, 2002, p. 148. 39 Idem, ibidem. 40 Idem, p. 149. 43 compromisso de transformar toda a estrutura do Salão, deste Salão, e ao deixar de fazê-lo confessa, publicamente, sua incompetência.41 Todas essas situações/obras foram motivos de questionamento por parte dos artistas, e novamente, em ambos os casos, a ironia foi a arma utilizada como meio para revelar o descontentamento e ao mesmo tempo uma ação agressiva (do ponto de vista de um sistema de arte ainda cambaleante – apesar de haver figuras como Mário Pedrosa - no sentido de avaliar quais direções a arte, naquele momento de transição em direção à abertura de propostas conceituais, deveria tomar) contra as respectivas “instâncias de poder”. No entanto, questionar critérios é colocar em dúvida a pertinência de valores assumidos, de maneira tácita, por uma série de profissionais para os quais a sociedade concedeu poder de decidir se determinados objetos são arte ou não; ou pelo menos, o poder de decidir quais objetos de arte podem figurar em grandes sistemas de interpretação da cultura visual de um grupo ou período. Questionar critérios é forçar efetivamente as instituições – representadas por críticos e curadores – para que definam e explicitem seus mecanismos de seleção, suas políticas culturais. Foram definitivamente atos que tencionaram pôr em jogo ironia e reflexividade não apenas sobre os parâmetros da crítica de arte, mas como de todo a instituição denominada “arte”. No episódio de O porco, Leirner não está jogando apenas contra – ou provocando – o júri daquele Salão. Ele provocava da mesma forma sua categoria profissional, uma vez que fez questão de frisar que aquela era a primeira vez que alguém colocava em dúvida os critérios daqueles que haviam escolhido seu trabalho. Colocando-se contra a crítica e os próprios artistas (tanto aqueles recusados como os aceitos), Leirner estava pondo em xeque todo o sistema de arte e as suas regras nem sempre cristalinas assim como sua rede de cumplicidades. Como expõe com clareza Tadeu Chiarelli: Até então, os raríssimos artistas a colocarem em dúvida os critérios de um júri de salão foram aqueles que tinham seus trabalhos recusados. E, para esses, a melhor resposta sempre foi insinuar, ou afirmar com todas as letras, que tal dúvida era 41 Idem, ibidem. 44 motivada pelo despeito de não terem os trabalhos aceitos. Agora, alguém que havia ingressado no salão, perguntar sobre os critérios? 42 Todos os membros do júri estranharam o fato de Leirner fazer a indagação em público. A ironia é primeiramente essa evidência radical, essa evidência que desarma o jogo dos argumentos mais contraditórios por uma sentença de morte do sentido. Dos cinco membros, apenas Clarival Valadares não respondeu ao artista 43 . Walter Zanini respondeu em carta a Leirner que considerava justa a indagação e que “de minha parte estarei disposto a arrazoar o meu voto no caso em apreço, onde não houve unanimidade; gostaria de fazer isso desde já, mas só o farei se os demais membros do júri concordarem” 44. Já Mário Barata escreveu uma carta ao editor do Jornal da Tarde, na qual sugere a Nelson Leirner que tomasse as seguintes providências caso quisesse saber porque foi escolhido: Em primeiro lugar, o Leirner terá resposta fácil à sua pergunta ao ler os livros ou os ensaios de G. Apollinaire, de E. Crispolti, ou de Harold Rosemberg, P. Restany e A. Jouffroy entre outros (...) Mas não é por correr risco ante o desconhecimento ou incultura por parte do artista que se deve impedir que as obras inscritas legalmente num Salão sejam examinadas nos aspectos diversos que incluem ou provocam esteticamente e que podem superar a lucidez ou coerência do próprio autor por vários motivos. 45 Frederico Morais responderia a Leirner utilizando uma série de ironias que aproximam-se do mesmo tom usado pelo artista durante o episódio. Como notaremos na artigo (publicado no jornal Diário de Notícias, em 14 de janeiro de 1968, com o título irônico “Como julgar uma obra de arte: o porco de Leirner”), Morais não deixou de mostrar que não ficara satisfeito com a provocação do artista, embora a tenha aceitado. Ele chamou a atenção para a possibilidade da criação de uma armadilha ou ironia, nesse caso, por Leirner: enviar um conjunto de obras com uma preocupação clara e distante das 42 CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 107. Nelson Leirner chamará o episódio de resposta dos críticos à sua carta, de happening da crítica. Fez parte do júri do IV Salão de Arte Moderna do Distrito Federal: Frederico de Morais, Clarival do Prado Valladares, Mario Barata, Walter Zanini e Mário Pedrosa. 44 Idem, p. 110. 45 Idem, ibidem. 43 45 circunstâncias da origem dos objetos que as compunham e, uma vez aceito esse conjunto, inquirir o júri justamente sobre a origem de um dos objetos enviados: À crítica de arte não interessa a obra em si; ela julga mais, academicamente, os chamados valores plásticos, as qualidades artesanais. A esta crítica interessa o problema, a proposição (daí se falar de uma arte proposicional) e como ela foi resolvida. Digo de alto e bom som: tudo é válido para mim, tudo é passível de se transformar em arte. A vida, o viver, o próprio homem, e até o porco de Leirner (...) Agora, se me permite, pergunto a você: por que só colocou a questão nos jornais depois que seu trabalho foi aceito? E mais, se não fosse aceito seu porco, faria a pergunta no sentido inverso? Antecipo minha resposta: seu porco foi cortado pelos motivos pelos quais o aceitei.46 Mário Pedrosa respondeu à Leirner publicando o artigo “Do porco empalhado ou os critérios da crítica”, no jornal Correio da Manhã. Nesse artigo, o porco é colocado lado a lado com as práticas duchampianas, como observamos neste trecho: Esperava Nelson Leirner que o júri a tivesse recusado? Por que não tinha valor plástico? Por que não era uma ‘obra de arte’? Por que não fora ‘criada’ ou não tinha originalidade? (...) Mas, se ele apenas comprou o porco empalhado engradado e mandou a Brasília, a obra cai na categoria dos ready made à la Duchamp. Quereria o jovem artista que o júri fosse negar validez (ainda reconhecendo seus precedentes) a essa proposição, uma das mais ricas de conseqüências, que se bolaram desde Dadá, no mesmo contexto de desmistificação cultural e estética? 47 Nesse mesmo artigo, Pedrosa relata um episódio envolvendo as obras de Andy Warhol numa galeria canadense, em 1965, onde os galeristas tiveram que pagar impostos sobre produtos industriais para exibi-las, ao invés de taxas sobre obras de arte. Pedrosa aproveita este fato para ironizar a atitude de Leirner e fecha o seu artigo, deixando claro os critérios que o fizeram aceitar o porco: 46 MORAIS, Frederico. Como julgar uma obra de arte: o porco de Leirner. Diário de Notícias. Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1968. In: CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 111. 47 PEDROSA, Mário. Do porco empalhado ou os critérios da crítica. In: FERREIRA, Glória (Org.). Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006, p. 210. 46 Ignoro se pelas [leis] de nosso fisco, aquele produto, o Porco Empalhado (aliás, com valor de venda inscrito) devia pagar alguma taxa. Também havia a considerar que nenhum de nós, membros do Júri, tinha qualquer autoridade oficial para decidir sobre a natureza fiscal do objeto ou mesmo qual a natureza que Leirner emprestara mentalmente à obra mandada para Brasília. Tinha, porém, o júri toda autoridade para aceitá-la no Salão uma vez que o Porco Empalhado havia de ser para ele conseqüência de todo um comportamento estético e moral do artista. Na arte pós-moderna, a idéia, a atitude por trás do artista é decisiva. 48 Pelos trechos citados é possível observar que a maioria dos jurados do Salão possuía condições para aceitar o porco, uma vez que estava não apenas familiarizada a respeito das fundamentações que estavam por trás da atitude artística de Leirner como também porque vinha dedicando suas atividades profissionais à divulgação desse novo paradigma assumido pela arte naquele período. A ironia, quando vista como uma estratégia de oposição, pode funcionar para problematizar a autoridade, inclusive suposições modernas sobre estruturas de museus e formas de autoridade histórica. A ironia é sempre arriscada, mas, nesse contexto, o que estava em jogo era particularmente valioso para esse conceito de instituição, que o Brasil lentamente demarcava naquela época: um desprendimento das suas “heranças modernistas” ou do seu projeto de “ser moderno” através de uma leitura demasiadamente cansada e tardia do modernismo europeu; aproximação com a crítica americana e européia; a Bienal de São Paulo e a sua política de exposição deste conceito do “novo” que os novos suportes na arte traziam, como a performance e o happening. A ironia é uma estratégia discursiva que depende do contexto e da identidade e da posição de ambos, o artista (ironista) e o público. As variações e combinações infinitas possíveis são o que tornam a ironia tanto relativamente rara quanto dependente de marcadores ou sinais. De certa forma, é quase um milagre que a ironia (ou quando a obra é pretensamente irônica) seja compreendida como um artista possa tê-la intencionado: todas as ironias, de fato, são provavelmente ironias instáveis. 48 Idem, ibidem. 47 A resposta de Leirner à aceitação do júri serviu para que outros segmentos da crítica brasileira se posicionassem sobre o episódio, usando algumas vezes a atitude de Leirner como arma de ataque ao posicionamento mais aberto demonstrado pelo júri do Salão. Desta forma, Leirner viu-se obrigado a se posicionar publicamente, por meio de uma nova carta endereçada aos membros do júri e publicada em alguns jornais: Quando o suíno, ainda em meu ateliê, apesar de empalhado, ganhava vida ao ser engradado, ao mesmo tempo em que do lado de fora ficava dependurado um presunto, notei que o espaço entre o animal e o produto industrializado caracterizava todo um processo social, no qual o espectador poderia tomar consciência de sua condição. Logo, não houve provocação no sentido de deboche, como muitos o querem, mas sim a tentativa de provocar uma conscientização da realidade do aqui-agora. A provocação era geral. O único meio de conhecer a extensão da reação seria por meio daqueles que julgavam a obra e a enfatizavam. Para tanto, utilizei-me do mesmo veículo que estes senhores utilizavam, visando somente tirar a obra do seu confinamento em Brasília.49 O caso do porco é interessante no sentido de expôr conceitualmente a diferenciação entre humor e ironia. A ação de Leirner (de enviar um porco empalhado para o júri de uma Salão de arte) é inovadora e irônica, não necessariamente nesse ordem, mas além disso, trava um diálogo com o contexto; é essa categoria que insere o porco no âmbito da ironia e não no do humor. A obra, passados 41 anos, pode adquirir um conteúdo de humor ou, e ao mesmo tempo, perder substancialmente a sua potência irônica, caso o “contexto” daquele período não seja explicado ou sinalizado (o questionamento de Leirner ao júri, as cartas enviadas pelo júri respondendo ao artista e o enunciado final de Leirner sobre a situação) e o porco seja simplesmente exposto no meio de um cubo branco. A ironia desfaz-se e um acento humorístico toma o seu lugar. A vontade questionadora do porco esvazia-se e um sorriso amarelo (do espectador) surge no canto da boca. Nota-se que Leirner buscava, por meio de uma provocação, uma explicitação pública sobre os critérios da crítica de arte contemporânea brasileira. Que fenômeno é esse? Qual é o lugar da crítica? Qual é o papel do artista? Existem limites para a produção? Em caso afirmativo, quais seriam? Essas são 49 A carta publicada na coluna de Quirino da Silva consta dos arquivos do artista, porém sem nenhuma informação sobre a fonte jornalística e data (CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 113). 48 questões levantadas por Leirner em sua carta ao júri. Como meio de tornar aparentes essas questões, usou a ironia numa situação audaciosa. Para tanto, usou publicamente um mote fundamental em júris de Salão. Em tais situações, o júri desvenda ou se preocupa com as bases estéticas que sustentam invenção e potência nas futuras obras que participarão do Salão. Parece ter sido neste sentido que Leirner interpela o júri, utilizando-se do mesmo veículo que eles usaram. Leirner sabia do caráter polêmico que a sua carta assumiria, transformando em debate público a crise (de uma arte acadêmica assim como a chegada ao Brasil, por meio principalmente da Bienal de São Paulo, das linguagens da pop art, expressionismo abstrato e arte conceitual 50 ) que a arte brasileira atravessava naquele período. Chamando a atenção para a estética e os meios da sua produção, Leirner assume ironicamente “o papel de porta-voz do senso comum que, como visto obrigava o segmento mais participativo da crítica de arte do período a explicitar desconfortavelmente” 51 o seu próprio pensamento frente a produção contemporânea. Por sua vez, o porco ainda não havia virado presunto. Leirner, depois de todo o ocorrido no Salão de Brasília e após enviar o porco empalhado para a sua sala especial no II Salão da Bahia, em 1968 52, acabou por participar de uma perfomance na qual o porco seria condecorado por “serviços prestados à arte brasileira”. Essa performance ocorreu no programa-piloto de televisão, Ver De Verdade, veiculado pela TV Cultura, em 1969. Esse programa, segundo Chiarelli, era: Uma espécie de talk show de caráter performático, muito inserido no clima tropicalista da época. Apesar de todas as conotações entranhadas no título (que poderia ser entendido como ver de verdade o “outro lado” da realidade brasileira; fazia uma relação com o verde da bandeira brasileira, relacionando-a, por sua vez, ao caráter simbólico da cor verde – esperança – que os militares queriam associar ao verde exército), a censura permitiu que [Samuel] Szpigel [apresentador e 50 A IX Bienal de São Paulo, de 1967, trouxe ao Brasil, pela primeira vez, a obra de Andy Warhol, Claes Oldenburg, David Hockney, Edward Hooper (que já havia participado da primeira edição da Bienal), James Rosenquist, Jasper Johns, Michelangelo Pistoletto, Robert Rauschenberg (que já havia participado da V Bienal), Roy Lichtenstein. Em 1965 (VIII Bienal de São Paulo) já haviam participado obras de Barnet Newman, Donald Judd, Frank Stella, Man Ray e Marcel Duchamp (que havia participado da II e V Bienais de São Paulo). 51 CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 113. 52 Sala esta que o artista fecha logo em seguida à abertura da mostra, em solidariedade aos artistas que haviam sofrido censura de seus trabalhos. 49 produtor do programa] realizasse alguns exemplares do programa (...) O caráter performático do programa – no qual o convidado poderia aparecer fantasiado ou desenvolver atividades pouco usuais, como a que Leirner iria desenvolver – buscava trazer para o universo da televisão o clima típico das performances e happenings que tornavam-se mais comuns em galerias e museus de São Paulo e do Rio de Janeiro. 53 No início da entrevista, aparece ao lado do porco empalhado um taxidermista 54, que fica calado ao longo de todo o show. Logo em seguida, entram no palco, Leirner e Szpigel. O artista, sendo entrevistado por Szpigel, conta sobre o episódio do porco e o Salão de Brasília. Afirma que o porco havia sido enviado dentro de um engradado de madeira e com um presunto preso ao animal. Em seguida, denunciava que o engradado havia sido colocado apenas para proteger o animal durante a viagem, mas que o júri, confuso não tinha tido a coragem de libertar o porco do engradado. Leirner também insinua que o presunto havia sido roubado – já que não havia voltado junto com o porco – em Brasília. Logo depois dessa crítica do artista, tanto ao júri quanto ao clima desonesto da capital federal (leia-se, militares), Szpigel convida o taxidermista, que explica sobre as funções do seu trabalho. Leirner contesta, discordando sobre a maneira como o porco havia sido empalhado. Terminada essa discussão, o artista começa a cerimônia de condecoração do porco “por serviços prestados”. Segue um trecho do dicurso do artista: Hoje é um dia de festa. Desde cedo, a cidade amanheceu embandeirada. Durante todo o trajeto do aeroporto até aqui, acenos, aplausos, papéis picados esvoaçando davam uma grandiosa demonstração do que pensa o povo de São Paulo daquele que acaba de cumprir heroicamente seu papel. Nada mais justo do que o prêmio que ora lhe damos, o prêmio de sua liberdade. Em nome da classe, outorgo-lhe a grã-ordem da Aica – Seção Brasileira [Associação Internacional de Crítico de Arte]. Antes, porém, alguns dados biográficos: ele viajou para Brasília, onde teve seu presunto consumido, e posteriormente foi lançado pelo Jornal da Tarde conseguindo, então, ser manchete nos principais jornais do país (...) desprovido 53 CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 137. De acordo com Chiarelli, nem Leirner nem Szpigel se recordam se a pessoa que participou do programa era realmente o taxidermista que vendeu o porco empalhado a Leirner, se era um outro profissional ou se era um ator convidado a fazer o papel de taxidermista (Cf. CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 137). 54 50 de seu presunto, esteve presente na Bienal da Bahia onde, após severo interrogatório, heroicamente não denunciou os consumidores do seu presunto. Foi protagonista do primeiro happening da suposta crítica de arte brasileira (...) volto às minhas palavras iniciais: nada mais justo do que libertá-lo, condecorá-lo e restituir-lhe o que de todo direito é seu: o presunto. 55 Observamos portanto que a ironia nas artes visuais não se expressa apenas na obra plástica nem no discurso gerado por sua presença ou o seu contexto, mas o “fluxo irônico” do qual nos referimos pode gerar novos significados e fronteiras, que não se limitam apenas a tridimensionalidade da obra, mas também ao discurso do artista. 1.5 Ironia e humor: políticas e discursos Muitos dos exemplos mais extensos de ironia discutidos nessa tese, entretanto, não são especificamente divertidos. O propósito não é diminuir nem o poder nem a presença do humor na ironia, mas é o resultado “de um certo desejo consciente” desta pesquisa de simplificar aquela rejeição involuntária da ironia (em todas as suas formas) como trivial e trivializadora. Como ressalta Carlos Vergara, “as artes plásticas pretendem quase sempre, a não ser quando tem um elemento desagregador objetivo colocado para fora, ser grande arte” 56. A forma como a ironia e o humor desagregam essa pretensão é a chave. O humor promove em seu circuito uma atitude de não levar tão a sério a coisa, e essa relação promove um risco: o eventual esvaziamento de potência da obra, um gesto que provoque um riso; algo momentâneo, uma resposta rápida e efêmera. Como observa Bergson, “o riso tem justamente a função de reprimir as tendências separatistas. Seu papel é corrigir a rigidez, transformando-a em flexibilidade, readaptar cada um a todos, enfim aparar arestas” 57 55 . Ora, a ironia não apara arestas, mas, sim, cria, multiplica arestas, funda posições e Trecho do roteiro do programa (CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 138). DUARTE, Luisa; PONTES, Ana Paula; VERGARA, Carlos. Entrevista com Raul Mourão. In: MOURÃO, Raul. Raul Mourão. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007, p. 101. 57 Ao abordar a questão da ironia, Bérgson utiliza o conceito de “interferência de séries” que, sem ser um mecanismo exclusivo do discurso irônico, pois pertence a outras formas consideradas cômicas pelo filósofo, é 56 51 estratégias de dissipação de idéias (por meio mordazes, nem sempre cômicos) na sociedade. Para Bergson, “o riso [no contexto do humor] é, acima de tudo, uma correção. Feito para humilhar, deve dar impressão penosa à pessoa que lhe serve de alvo. A sociedade vinga-se por meio dele das liberdades tomadas com ela. Ele não atingiria o seu objetivo se não trouxesse a marca da simpatia e da bondade” 58 . Entretanto, o riso não pode ser absolutamente justo. O riso, como “procedimento de fabricação” do humor, estabelece que sua função é intimidar humilhando. O riso, porém, nada teria de benevolente. Outrora, o humor, segundo Marcos Chaves, “é uma forma de tirar a tragicidade das coisas” 59, de olhar o mundo de outra maneira, menos fatal. Bergson declara, ainda, que as impertinências, a sociedade replica com o riso, que é uma impertinência maior ainda. Segundo esse autor, há dois termos de comparação extremos: o muito grande e o muito pequeno, o melhor e o pior, entre os quais a transposição se pode efetuar num sentido ou noutro. Diminuindo aos poucos o intervalo, obteremos termos de contraste cada vez menos bruscos e efeitos de transposição cômica cada vez mais sutis, que são realizados em duas direções inversas. “Ora se enunciará o que deveria ser fingindo-se acreditar ser precisamente o que é. Nisso consiste a ironia. Ora, pelo contrário, se descreverá cada vez mais meticulosamente o que é, fingindo-se crer que assim é que as coisas deveriam ser. É o humor” 60. Por outro lado, uma anedota caracteriza a função da ironia, como demonstra HenriPierre Jeudy: Um monge zen observa um outro monge cortando ervas daninhas no jardim do templo. Quando o mestre zen passa ao lado dos dois monges, o primeiro pergunta por que é preciso cortar as ervas que a natureza faz crescer, e o segundo lhe diz que é preciso limpar a terra para que o jardim do templo continue bonito. O mestre zen responde ao primeiro monge dando-lhe razão e se volta para o segundo monge para lhe dizer que ele igualmente tem razão. Passa um terceiro monge que acaba de ouvir a frase do mestre, e pergunta, por sua vez: ‘como podem os dois ter razão?’ E o mestre responde: ‘tu também, tu tens razão’.61 o aspecto que possibilita uma reflexão em torno de um mecanismo discursivo propriamente dito (BERGSON, Henri. O riso. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 132). 58 Idem, p. 146. 59 CANONGIA, Ligia. Chaves para leituras. Laura Marsiaj arte contemporânea, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: <http://www.lauramarsiaj.com.br/frame_artista.htm>. Acesso em: 21 mai. 2007. 60 Cf. BERGSON, Henri. O riso, op. cit. 61 JEUDY, Henri-Pierre. A ironia da comunicação, op. cit., p. 73. 52 Essa soberania da ironia ultrapassa o poder do sábio pela mesma medida que lhe impõe o jogo da destruição e da afirmação do sentido. É o paradoxo da ironia: não se trata mais de suplantar as contradições mas de transformá-las pelo arbítrio da certeza. Quando se está habituado a pensar que se passa o tempo a vencer e a resolver contradições, é difícil admitir essa forma da ironia pois ela se faz passar sempre por uma maneira de rir-se do mundo, cujas ilusões não pará de desmontar. Não oferece a segurança construtiva que caracteriza a racionalidade da ação pois aparece como uma ameaça para os programas e as decisões, para os objetivos estabelecidos ou os ideais inventados para si. Frente à determinação da ação, exaspera e desespera o sentido. Quando é sistemática, a ironia irrita. Nada parece lhe resistir pois nada mais pode ser levado a sério. Essa desenvoltura no que diz respeito à tragédia humana, a exibição da irresponsabilidade, a demissão doentia aparecem como signo de uma destruição do sentido que inflige aos outros as vicissitudes de uma ridicularização sem moderação. O irônico não ri mais, verdadeiramente: satisfeito de sua soberania beata, adota a posição convencional de uma negação dos outros e se condena à sua própria perda pelo desprezo que não pára de manifestar. Contudo, a ironia passa por um perigo: o reconhecimento do absurdo legitima a ironia. Se uma ação pode continuar a se cumprir porque tudo é finalmente absurdo, então pouco importa o sentido que lhe é dado e pouco importa se o mundo muda ou não. O não-sentido se torna tão positivo quanto o sentido; “o lugar reservado à ironia não é mais que o de uma estética do recuo: as perturbações do mundo se fazem passar por espetáculo da ridicularização do sentido” 62 , como afirma Jeudy. Pôr a ironia num pedestal para melhor confirmar o caráter vão de seu papel é uma negação de sua capacidade de criar elos sociais. Isolada do destino, ela passa “pelo anjo exterminador das intenções e ações” 63. Quando Wittgenstein anuncia que o sentido do mundo deve se encontrar fora do mundo, ele nos alerta que o real advém por acidente, e a realidade tida por objetiva nada mais é que uma construção da interpretação. A ironia é então a única possibilidade de viver o desapego ao sentido. Ela se reduz freqüentemente ao refúgio do pensamento quando toma 62 63 Idem, p. 74. Idem, ibidem. 53 o ar de uma distância desdenhosa e se faz passar por uma posição adquirida. Tem-se frequentemente o humor por uma qualidade do espírito mais sutil do que a ironia. Ter humor é ser capaz de rir de si mesmo. A ironia parece mais maldosa; ela é antes de tudo uma arma voltada contra os outros. Preconceito! Segundo Jeudy, uma antropologia do humor mostraria as singularidades culturais que trabalham nos jogos de linguagem assim como nas relações do sujeito à linguagem; não deixaria de confirmar, por exemplo, que “é com ele mesmo que dialoga o homem que tem verdadeiramente sense of humour” 64 . Ela desvendaria sem dúvida alguma quanto o espírito humorístico está livre no que concerne às regras de linguagem enquanto que a ironia parece bastante determinada pelas regras da retórica. A ironia pode também ser repentina e incongruente, não está sempre submetida a uma estratégia prévia. Surge como um efeito de conivência coletiva em situações cujo deselance é inesperado, quando o sentido do acontecimento se esconde adotando um sentido contrário ao que fora esperado. Ela não é mais, então, que um negócio exclusivo de linguagem, não mais depende de uma posição adotada, se manifesta por si mesma e se impõe à coletividade. Assim, a retórica participa da articulação dos modos do pensamento antes mesmo de traduzir uma vontade de jogo com o sentido. Para Philipe Lacoue-Labarthe, em sua obra Le Sujet de la Philosophie (1979), a retórica não é apenas um sistema de regras prévias à comunicação. Ela é, antes de tudo, uma forma independente de toda imposição da verdade. “A retórica é uma certa força persuasiva, uma força destinada a persuadir. A essência da linguagem, sua origem e seu fim, é esta própria força – cuja primeira qualidade é de não ser a força da verdade” 65 . A força da retórica vem de um movimento de dissimulação e de revelação, graças ao jogo de substituição e translação que ela permite e que não se refere nem a uma verdade originária, nem a um real que lhe seria exterior. Acusa-se o “retoricador” de se investir unicamente na linguagem e de se manter em posição de desdenho frente a toda tentativa de ligar a linguagem a uma realidade qualquer, como aponta Henri-Pierre Jeudy. As palavras são palavras; fora delas, não há nada. Os raciocínios são construções do espírito que designam uma realidade pelo efeito de uma crença pura, não se fundam representações com outro fundamento que não a própria linguagem. 64 65 ESCARPIT, Robert. L’humour. Paris: P.U.F., 2001, p. 47. Cf. JEUDY, Henri-Pierre. A ironia da comunicação, op. cit., p. 95. 54 Entretanto, as palavras não são carregadas de finalidade a priori; elas assim se tornam pelos investimentos afetivos, pelas determinações da razão. Para Jeudy, a verdade é intra-retórica: “Não se pode tomar os enunciados verdadeiros por satisfatórios pela única razão que eles correspondem ao que as coisas são na realidade” 66. As construções teóricas do mundo, as relações entre a linguagem e o que se pensa ser a realidade são só metáforas. Estas não podem ter por critério uma verdade cuja medida seria ela própria a realidade. Recusar um estatuto metafísico à linguagem, é querer correr o risco necessário de perder para sempre qualquer referência a um “significado transcendental”; é, parece, terminar uma vez por todas com a própria metafísica. Para Wittgenstein, “a única teoria possível é a teoria para a qual só há apenas os fatos da linguagem”, e se a filosofia pode ser “realista”, o é ainda na única abordagem dos fatos de linguagem e não propondo sempre uma visão do mundo como perspectiva de realidade. Ninguém pode brincar com o desabamento do sentido sem ser levado ao jogo de um destino comum. Não há nisso nenhuma gratuidade. A ironia não é mais um fim em si, não é buscada como a única solução dada ao desespero do sentido, ao fato de que vivemos num mundo insensato. Ao arbitrário de nossas escolhas e de nossas decisões, a ironia não oferece saída salvadora. Impõe-se como o momento de uma liberdade radical no que diz respeito às nossas representações da realidade. Quando Marcel Duchamp propôs o readymade e tornou obsoletas todas as práticas que ainda preservavam algum ideal de beleza, em seus termos clássicos. Ao belo e ao bom gosto, reagiu com a indiferença. A técnica manual e os suportes da arte convivem agora com objetos já tomados diretamente do real, já produzidos, mistura-se ao cotidiano. Nesse momento, apontamos a obra de Marcos Chaves e o papel do riso na fronteira tênue dos discursos da ironia e do humor; a instalação deste artista, Morrendo de rir (2002), exposta na XXV Bienal de São Paulo configura numa série de pôsteres com a imagem do artista rindo, gargalhando. No centro dessa instalação, almofadas para os espectadores relaxarem; são oferecidos fones de ouvido, por meio do qual o público ouve ininterruptamente o som da gargalhada do artista. Como anuncia Bergson: “Numa repetição cômica de palavras há geralmente dois termos presentes: um sentimento comprimido que se estira como uma mola e uma idéia que se 66 Idem, p. 97. 55 diverte a comprimir de novo o sentimento” 67 . Morrendo de rir é um trabalho fronteiriço não só pela sua natureza mista e pela criação de um espaço híbrido, como também pela semântica não delimitada das imagens. Do que ele estará rindo: de dor, um grito, ou gozo? Bergson expõe o lugar do riso dentro de uma sociedade preocupada em manter o seu mecanismo funcionando em acordo com o seu automatismo: A comicidade é esse lado da pessoa pelo qual se assemelha a uma coisa, aspecto dos acontecimentos humanos que, em virtude de sua rigidez de um tipo particular, imita o mecanismo puro e simples, o automatismo, enfim o movimento sem a vida. Exprime, portanto, uma imperfeição individual ou coletiva que exige correção imediata. O riso é essa correção. O riso é certo gesto social que ressalta e reprime certa distração especial dos homens e dos acontecimentos. 68 Esclarecemos, entretanto, que a obra de Marcos Chaves não lida somente com o humor. Em Não falo duas vezes (1995) a ironia aparece (como estratégia tangencial) ante as convenções identitárias das coisas. A obra resume-se a uma placa de vidro transparente colocada a certa distância da parede. Na placa está escrito “não falo duas vezes” e na parede fica impresso “falo duas vezes”. Este descompasso nos planos onde os termos estão inscritos, apesar da distância ser mínima e reduzida pela transparência da placa, é fundamental, e aí reside toda a diferença. O título está em primeiro plano mas é o objeto – vidro – que possibilita as múltiplas leituras da palavra. A projeção do enunciado que está na placa – “não falo duas vezes”- surge na parede como uma sombra, que superpõe o seu antônimo, pois, ao repetir o “falo duas vezes” duas vezes, nega o enunciado inteiro original. Apresenta a afirmação como mentira. O “não” é deslocado para um plano onde ele não está: parece que somente na placa lemos a afirmação inteira que é por sinal uma negativa; enquanto que o que estava apenas na placa parece ser o que está na parede, sendo essa projeção em sombra a afirmação daquela negativa. O trabalho de Chaves tem o poder (aquela expressão transmite uma exaltação de autoridade) como alvo de sua ironia (todavia, podemos deslocar a palavra “falo” para um contexto sexual, apesar da idéia de poder estar mais potencialmente exacerbada nesse caso), e a idéia de poder pode ser desdobrada na 67 68 BERGSON, Henri. O riso, op. cit., p. 54. Idem, p. 64-65. 56 idéia de convenção, porque a frase “não falo duas vezes” já se tornou tão ordinária que, muitas vezes, quem a profere não se propõe verdadeiramente a cumpri-la. O humor entra aí como uma lâmina fina que critica o lugar do senso-comum, da uniformização e da falta de discernimento no consumismo “selvagem”. O humor, porém, é mais do que isso: intervém sobre o significado original do objeto e enxerta outro por um movimento imprevisto, um desconcerto, uma piada. De certa forma, para o artista, o uso do humor aponta para uma idéia “divertida”, que o interessa, na medida em que minora o sentido da sua “responsabilidade”. A ironia, por outro lado, tem um comprometimento maior com o gesto para não ser esquecido. O humor, muitas vezes, promove esse caráter efêmero, fugaz e ordinário. É claro, mesmo o humor pode ter conotações muito sérias. O humor se distancia da ironia na medida em que não pretende sugerir correções nem apresentar novos sentidos. Observemos, como estudo de caso, a obra Solitário (1967), de Antonio Dias. Olho e tato estão a serviço dos impulsos agressivos ou sexuais envolvidos no humor sobre o fofo – a materialidade da borracha é constitutiva do caráter da obra. O volume macio e visceral dessa obra recusa a figuração muito descritiva. Henri Bergson nota que “a matéria resiste e se obstina”, justamente no momento em que analisa o cômico das formas. A violência erótica da obra está nas vísceras e volumes fálicos, “alguns como restos organizados de um banquete” 69 . Sua matéria dura insiste em restaurar a elasticidade. A verdade é que agora ele aponta como um falo assanhado, saindo da obscuridão. Ao deslocar seu humor também para a própria instância material do objeto, Dias estabeleceu seu foco na própria materialidade da borracha com um humor negro ímpar. A estética de Dias trama as fontes da violência política e sexual articuladas na sociedade patriarcal; seu convite – tátil – ao fofo, em exercício das pulsões do toque do riso, é a chave do dispositivo erótico da obra. Os objetos de Dias, portanto, rompem as regras sociais e partem para uma lógica dos sentidos. Em determinados momentos a fronteira entre o humor e a ironia é tênue, no sentido de sorrir da vã aparência do mundo, e por isso mesmo, existem similitudes entre elas. A ironia nem sempre tem um compromisso com o riso, o que de certa forma torna-se um fim no humor. Como observa Bergson, “rimos todas as vezes que nossa atenção é desviada para o físico de uma pessoa, quando o que estava em questão era o moral”, ou ainda “obteremos 69 HERKENHOFF, Paulo. A gentil arte de burlar. In: MOURÃO, Raul. Raul Mourão, op. cit., p. 29. 57 efeito cômico se fingirmos entender uma expressão no sentido próprio quando ela é empregada no sentido figurado”, ou quando “nossa atenção se concentra na materialidade de uma metáfora, a idéia expressa se torna cômica” 70. Todavia, o riso nem sempre é engraçado ou tem um fim cômico. O riso pode ficar na fronteira entre a tragédia e a comédia, como podemos observar nesse relato de Jorge Luís Borges: ele, instado a interromper uma aula por exigência da direção da escola e ameaçado com o apagamento das luzes, teria dito: “Não importa, tomei a precaução de ficar cego” 71. Borges ri assim de sua própria deficiência física. Além disso, mostra que, para ele, o trabalho intelectual é humorístico, talvez por lidar com a linguagem que, no seu simbolismo, disfarça o destino trágico do ser humano. O humor é para ele um ditame de beleza que encerra em seu mecanismo poético o descobrimento: ante o estupor que provoca a incorrigível estupidez humana, o humor provoca o riso e impõe a sua desmesura, indicando uma infração que, de alguma maneira, oferece uma ordenação do caos, rindo para fazer sair de toda a verdade e usando talvez a única forma de salvação: a do absurdo. Essa oscilação entre tragédia e comicidade pode ser resolvida com o humor, que ensinará a não rir indevidamente e a desmascarar as falsas tragédias. O (artista) humorista, portanto, é aquele que convida a perceber a alteridade, a ver um outro aspecto da mesma coisa, por estar ao mesmo tempo tão próximo e tão distante de sua obra. 70 BERGSON, Henri. O riso, op. cit., p. 85-86. Lembremos da “teoria da ironia fechada” de Muecke: para esse autor, a palavra “cômico” sugere uma certa “distância”, psicologicamente falando, entre o observador divertido e o objeto cômico; a palavra “liberação”, característica da ironia, mas não peculiar a ela, sugere desobrigação, desinteresse, e estas por sua vez lembram objetividade e desprendimento. Tomadas em conjunto, constituem o que podemos chamar de postura arquetípica da ironia fechada, que se caracteriza, emocionalmente, por sentimentos de superioridade, liberdade e divertimento e, simbolicamente, por um olhar do alto de uma posição de poder ou conhecimento superior. Segundo esse teórico, Goethe seria um exemplo de autor a utilizar esse tipo de teoria: “Goethe diz que a ironia ergue o homem ‘acima da felicidade ou infelicidade, do bem ou do mal, da morte ou da vida’” (MUECKE, Douglas. Ironia e irônico, op. cit., p. 67). Muecke vai indo mais longe ao dividir esta teoria em quatro tipos: “ironia cômica” (que “revela o triunfo de uma vítima simpatética”), “ironia satírica” (“que revela o malogro de uma vítima não simpatética”), “ironia trágica” (onde “predomina a simpatia pela vítima”) e “ironia niilista” (“o desinteresse satírico equilibra ou domina a simpatia, mas resta sempre um certo grau de identificação desde que o espectador compartilhe necessariamente a condição da vítima”) (Cf. MUECKE, Douglas. Ironia e irônico, op. cit., p. 71). Em contrapartida, a “ironia aberta” ou “paradoxal”, tende, “como mostraram Kierkegaard e Wayne Booth, a desenvolver um relativismo galopante, do qual ela pode ser salva pelo menos em teoria, por uma chamada à ordem na forma de um riso irônico renovado a partir do alto, porém mais provavelmente pelas exigências práticas da vida” (MUECKE, Douglas. Ironia e irônico, op. cit., p. 70-71). 71 Cf. PARREIRA, Lélia Parreira. Ironia e humor na literatura, op. cit., p. 64. 58 Em circunstâncias trágicas, o riso nos libera de nossos tormentos e de nossos medos, é salvador, desafia a dor e a morte. O riso repetitivo ou mecânico, por exemplo, não é cínico, ultrapassou a amargura e a ridicularização para se conformar a um puro encantamento. Para Bachelard, o homem que parece animal ou tem um comportamento mecânico provoca o riso, assim como a repetição, o ato falho, o trocadilho e a inversão, porque insinuam que o homem, ser racional e soberano, deveria ter e, porém nem sempre tem, o suposto, necessário e racional domínio sobre si mesmo. Quando este comportamento mecânico advém, é o momento último do desabamento da relação entre o sujeito e o objeto. O riso como tique não pertence verdadeiramente àquele que o manifesta, ele se separa dele para se dirigir a esmo (a ninguém em especial), não goza de nada, perdeu o objeto de sua ridicularização. O sujeito e o objeto da gozação se tornam o próprio riso. Eis porque se é freqüentemente surpreendido pela irrupção do riso mecânico que nos parece estrangeiro a nós mesmos; ele se autonomiza nos sinalando seu próprio poder. Em Os chistes e sua relação com o inconsciente, as brincadeiras com os costumes do povo judeu indicam o humor de Freud, já que o riso tem fundamentalmente dois objetos: “o outro” ou “o eu”. Provocado pela ironia, o riso é uma afirmação de poder sobre o outro, considerado então de alguma forma inferiorizado. No humor, pelo contrário, o riso volta-se para o próprio eu, que brinca com seus costumes, crenças e manias. O humor provoca o riso em muitos chistes recolhidos por Freud, pois neles o autor parece rir de si mesmo ao rir de seu povo, de sua relação com o dinheiro, de seus hábitos. Os chistes também mostram uma consciência lúdica da repressão, com a qual o humor ajuda a lidar. Na visão de Freud, riso (como prazer) é a forma suprema de renúncia da repressão; desse modo aparências misteriosas são reduzidas ou canceladas pelo riso nervoso. Freud escreve em seu texto Humor (1927): “Humor não é renunciado; ele é amotinado. Isto significa não somente o triunfo do ego mas também do princípio do prazer” 72. No que diz respeito especificamente à ironia, Freud leva em conta não só o locutor e o processo instaurador da ironia, mas também o ouvinte, visualizando o conjunto a partir de uma perspectiva que envolve principalmente, mas não exclusivamente, aspectos produzidos pelo inconsciente. Para delinear uma definição do discurso irônico, procura demonstrar que o ironista diz o 72 Cf. BARSON, Tanya. Powers of Laughter. In: BARSON, Tanya; GRUNENBERG, Christoph. Jake and Dinos Chapman: bad art for bad people. Liverpool: Tate Publishing, 2006, p. 78 (tradução do autor). 59 contrário do que quer sugerir, mas que insere na mensagem um sinal que, de certa forma, previne o interlocutor de suas intenções. Sugere que o receptor da mensagem não só está pronto para decodificar o contrário do que é dito, como extrai seu prazer justamente do fato da ironia lhe inspirar um esforço de contradição, de cuja inutilidade ele logo se dá conta 73. Para Bataille, o riso tem um sentido totalmente oposto: anuncia a passagem do conhecido ao desconhecido, é o momento de ruptura das incertezas, nunca está “fora de cena” 74 . Rir é pôr a vida em risco, é jogar com a morte, não para vencê-la pela ridicularização ou para exorcizá-la, mas para viver a experiência extrema de sua negatividade. Bataille retoma a definição kantiana do riso: esta espera que é, de uma só vez, reduzida a nada. O riso é um face a face com o nada. Além de qualquer distinção entre o positivo e o negativo, o riso é a colisão instantânea dos contrários. Para Baudelaire, ele exprime o conflito interno do homem entre o sentimento de sua grandeza e o de sua miséria. Ora, a tensão dos contrários não é nem concluída nem resolvida pelo riso; ela se repete infinitamente como surgimento do nada. O costume de ter o nada por uma manifestação do negativo e de salvaguardar os restos de uma dialética entre o negativo e o positivo nos incita a considerar o riso como uma marca de insuficiência, já que ele não cessa de ser fechado sobre si mesmo. Assim, a soberania do riso exaltada por Bataille se aprisiona a si mesma, assim como o nada se torna, por sua vez, figura soberana e termina por ter um papel quase metafísico. Inominável, incomensurável, o riso afirma a negação da totalidade na e por sua própria totalidade. Não se trata da positividade da negação, mas de sua potência afirmativa; ele anuncia a alegria dos contrários. Não está fora de cena no sentido em que não está “acima de...”; ele é o signo magistral da “inocência do vir-a-ser”. Levado pelo esquecimento, bem mais do que pelo desconhecido, não tem nada de vencedor, nem de trágico, nem de cômico; perdeu todo objeto no movimento de assunção jubilatória da afirmação dos opostos. 73 BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifônica, op. cit., p. 44. No livro O nascimento da arte, Bataille deixa uma dúvida no ar: a arte e o sorriso teriam sido duas invenções humanas que surgiram exatamente na mesma época e pelo mesmo motivo: o espanto do Homem ao perceber que era mortal. Nesse momento, ele tomou duas iniciativas: sorriu e produziu arte, isto é, manifestou-se no desenho nas grutas. O interessante é ressaltar que o Homem respondeu à primeira consciência do seu limite humano com um sorriso uma ação artística. Como ressalta Waltercio Caldas em entrevista ao autor, “E cada vez que o Homem se defrontar de novo com o desconhecido, de uma certa forma, ele vai rir” (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2006, documento inédito). 74 60 A interferência de dois sistemas de idéias na mesma frase é uma fonte inesgotável de efeitos jocosos. Há muitos meios de se obter a interferência, ou seja, de dar à mesma frase dois significados independentes que se superpõem. O menos estimável desses meios é o trocadilho. Um exemplo pode ser a seguinte sentença: “Meu filho, a bolsa de valores é um jogo perigoso. Você ganha um dia e perde no dia seguinte. – Então só vou jogar dia sim, dia não.” No trocadilho, a mesma frase parece apresentar dois sentidos independentes, mas isso não passa de aparência, pois na realidade há duas frases diferentes, compostas de palavras diferentes, que fingimos confundir, aproveitando-nos do fato de terem o mesmo som para nossos ouvidos. Do trocadilho, passa-se, aliás, por meio de gradações insensíveis a um jogo de palavras. Aqui os dois sistemas de idéias se sobrepõem realmente numa única frase, e temos as mesmas palavras; aproveitamos simplesmente a diversidade de sentido que uma palavra pode ter, em sua passagem do próprio ao figurado. Por isso, muitas vezes só encontraremos uma nuança de diferença entre o jogo de palavras, por um lado, e a metáfora poética ou a comparação instrutiva, por outro. Como analisa Bergson: Enquanto a comparação que instrui e a imagem que impressiona nos parecem manifestar a harmonia íntima entre linguagem e natureza, vistas como duas formas paralelas da vida, o jogo de palavras nos faz mais pensar num descuido da linguagem, que se esqueceria por um momento de sua destinação verdadeira e pretenderia regrar as coisas de acordo consigo mesma, em vez de regrar de acordo com as coisas. 75 O jogo de palavras denuncia portanto uma distração momentânea da linguagem e por isso, aliás, é engraçado. Utilizando a categoria de “transposição” adotada por Bergson, conseguiremos traçar as fronteiras, que esse próprio autor, demarcou entre humour (a idéia de uma forma espirituosa de apresentar a realidade, de tal maneira que dela são depreendidos os aspectos jocosos e insólitos, às vezes absurdos, com uma atitude de indiferença e muitas vezes de formalismo) e ironia. A mais geral dessas oposições seria talvez entre real e ideal, entre o que é o que deveria ser. 75 BERGSON, Henri. O riso, op. cit., p. 90-91. 61 Pode-se enunciar o que deveria ser, fingindo acreditar que isso é precisamente o que é: nisso consiste a ironia. Pode-se, ao contrário, descrever minuciosa e meticulosamente o que é, fingindo acreditar que assim as coisas deveriam ser: desse modo procede freqüentemente o humour. O humour, assim definido, é o inverso da ironia.76 Bergson continua estabelecendo as diferenças: “Ambos são formas da sátira, mas a ironia é de natureza oratória, enquanto o humour tem algo mais científico”. Ademais, no humor, ideal social e ideal moral não diferem essencialmente. Podemos, portanto, admitir que, em regra geral, são exatamente os defeitos alheios que nos fazem rir – desde que acrescentemos, é verdade, que esses defeitos nos fazem rir em razão da sua “insociabilidade”, e não da sua “imoralidade”. Traçando as diferenças entre os dois campos – ironia e humor -, observamos que a ironia, como figura retórica, contém em si um fingimento que é absolutamente contrário à natureza do genuíno humorismo. Implica também uma contradição, fictícia, entre o que se diz e o que se pretende dar a entender; já o humor não contém, necessariamente, as idéias de burla e mordacidade, características da ironia, que por sua vez, tem em sua natureza um sentido que nunca se fixa. 76 Idem, p. 95. 62 CAPÍTULO 2 SEM TERRITÓRIO: O LUGAR DA IRONIA NO MUNDO 2.1 A difusão da ironia no projeto moderno É impossível enumerar em tão curto tempo as atividades e invenções que envolveram o conceito de ironia na recente produção artística mundial. Dizemos “recente”, ou ainda “contemporâneo”, dois termos conceitualmente criticados e difíceis de serem localizados, quando falamos de um espaço-tempo entre o século XX e o início dessa década. Entretanto, identificamos um grupo de artistas que foram fundamentais para se entender as diferentes “posições” metamorfoseadas pela ironia nesse contexto contemporâneo e que pode ser transferido para o campo de estudos das artes visuais brasileiras para que possamos traçar suas similitudes com os artistas estudados nessa tese. Quando reunimos Marcel Duchamp, Andy Warhol, grupo Fluxus e Piero Manzoni não estamos falando de pinturas ou esculturas, mas de idéias e gestos. A metaironia apontada por Octavio Paz em Duchamp não é sinônimo de antiarte ou uma qualidade em identificar quais são as obras de arte mas levantar a questão: qual é a nossa percepção de algo se o vemos como arte? O readymade não pretende postular um dado novo mas interrogar o que era identificado como “valioso” ou “obra-prima”. Objetos medíocres, do dia-a-dia, deslocados de sua função ordinária e alçados como objeto de arte no mercado. Não interessam enquanto obras plásticas mas sim enquanto dúvidas. A ironia é que atualmente no mercado de arte são objetos tão valiosos quanto um Monet ou Degas. Como assinala Duchamp: “A 63 escolha dos readymades nunca era ditada por um deleite estético. A escolha era baseada numa reação de indiferença visual com uma ausência total de bom ou mau gosto... uma completa anestesia” 77 . Aqui está a prática (irônica) do antiartista: ele deve eliminar qualquer grau artístico para fazer de algo arte. Como acentua Venancio Filho: “Aí está o artista reduzido ao seu contrário. Ao invés de potencializar sua sensibilidade artística, deve se anular” 78. As reverberações de Duchamp continuam no panorama atual. Talvez a pergunta que se deva fazer não seja se estamos lidando com o fim da arte mas o que define algo como sendo arte e qual função desse objeto “mágico” na transformação subjetiva ou social do homem. O artista, dessa forma, se transforma num outro tipo de “fazedor”: não realiza mais obras como empreendimentos dedicados ao belo mas como atos. O readymade, objeto serializado e deslocado de sua função de uso transforma-se em vazio. Perde bruscamente seu significado utilitário para se tornar um provocador de espaço, uma idéia movida pelo fluxo irônico que engendra questões sobre qual lugar o objeto de arte, o artista, o espectador e o mercado devem ocupar diante desse “nada”. O readymade impõe-se como um espelho: objeto que interroga sobre a nossa aparência, sobre o que somos ou o que deveríamos (ou gostaríamos) de ser. Mas o que lhe transmite maior potência é o fato de ser irônico: penetrou no circuito de arte, ocupou seu espaço, fundou um lugar. Questiona as engrenagens desse circuito estando dentro dele. Mais do que isso: é parte dele. Transformou-se ao longo do tempo em objeto fetiche de colecionadores, seu valor de troca só inflaciona no mercado. Aquele micro agente desestabilizador foi engolido pelo próprio sistema que questionava. Talvez Duchamp já tivesse planejado isto, talvez não... Mas o fato é que o gesto de Duchamp revela a quantidade de ironia que um objeto manufaturado pode ter. As questões sobre deslocamento e contexto, tão inerentes à funcionalidade da ironia, não podem de forma alguma ser esquecidas quando falamos no readymade. Como observa Paz, “a injeção de ironia nega a técnica porque o objeto manufaturado se converte em readymade: uma coisa inútil” 79. Em suma, o gesto de Duchamp não é tanto uma operação 77 VENANCIO FILHO, Paulo. Marcel Duchamp: a beleza da indiferença. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 68. 78 Idem, ibidem. 79 PAZ, Octavio. Marcel Duchamp ou o castelo da pureza. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 2002, p. 28. 64 artística quanto um jogo (conceitual e filosófico), ou antes, dialético: é uma negação que, pela ironia, se torna uma afirmação. Porém os readymades não eram escolhidos a esmo, havia uma seleção, ou melhor, um encontro entre criador e criatura. Havia algo de erótico naquele encontro assim como foi a produção do artista. Não era um encontro que resultaria numa afirmação da verdade, mas um comprometimento com a dúvida. Isto é o que Duchamp chama de “beleza da indiferença”. A função da ironia agora aparece com clareza: “negativa, é a substância crítica que impregna a obra; positiva, critica a crítica, nega-a e assim inclina a balança para o lado do mito. A ironia é o elemento que transforma a crítica em mito” 80. Estamos falando de idéias, o conceito crítico no instante em que se reflete sobre o nada ou o quão ordinário é a nossa própria existência. A ironia é que os readymades afirmam simultaneamente a ausência de significado e a necessidade de significar e nisto reside a sua significação. Se os objetos representam linguagem, Duchamp nos revela o seu reverso: o outro lado, a sua face vazia. Os readymades buscam significado e almejam preenchimento de idéias. Não podemos esquecer da ligação entre Duchamp (assim como Francis Picabia) e os dadaístas. Contudo, este movimento (ou momento da arte) estava mais diretamente ligado a uma tradição de humor e negação 81 do que essencialmente ironia. O humor entra aí como elemento satírico ao senso comum, intervém sobre o significado original do objeto e enxerta outro, por um movimento imprevisto, um desconcerto, quase piada. A acidez de seu humor opõe-se à banalidade do objeto, empregando-lhe originalidade: o desvio “afirmativo”. Sobre isto seria melhor citar o próprio Duchamp (em depoimento no livro Marcel Duchamp ou o castelo da pureza): 80 Idem, p. 50. Como vimos existe uma fronteira entre humor e ironia e neste momento se torna mais uma vez oportuno fazer essa distinção. Apresentamos, portanto, a visão de Vito Acconci sobre essa diferença: “Vamos dizer que existam duas formas de vida: o trágico e o cômico. Na visão trágica, o protagonista viaja ao longo de um caminho, um canal, em direção a um objetivo; chame essa transcendência de objetivo, ou Deus. Nada interrompe esta trajetória; a atenção do espectador está unicamente determinada, o espectador está insensível pela implacável trajetória. Na visão cômica, há o mesmo protagonista, a mesma trilha, o mesmo objetivo. Agora, no meio do caminho, porém, o protagonista desliza em uma casca de banana; de repente, o objetivo não parece mais tão importante - a mente do protagonista está em outras coisas, e assim é o espectador. O que o humor faz é permitir um segundo pensamento, uma reconsideração. O humor questiona o julgamento - ele cria uma série de buracos (dúvidas) na idéia de um último julgamento – enquanto a ironia julga. O humor deixa uma bagunça - Quem se importa? – enquanto a ironia é certeira e vai direto ao ponto. O humor é carnaval - é o prazer de se fazer tolo; a ironia é o prazer de fazer os outros de tolo” (WARD, Frazer; TAYLOR, Mark; BLOOMER, Jennifer. Vito Acconci. Londres: Phaidon, 2002. Tradução do autor). 81 65 Enquanto dadá negava e, pelo próprio fato de negar, se convertia no prolongamento daquilo mesmo que negava, Picabia e eu queríamos abrir um corredor de humor que não tardaria em desembocar no onirismo e, em conseqüência, no surrealismo. Dadá era puramente negativo e acusador 82. Os readymades não representam nada além deles próprios. A arte deixa de representar o mundo, para estar no mundo. Nesse momento, o Branco sobre branco (1918) e o Porta-garrafas (1914) representam um mesmo projeto, apesar disto não ter sido “combinado” entre Malevitch e Duchamp. É a idéia que toma uma coisa e o retira simplesmente da abstração para transmitir, essencialmente, uma dúvida. Ao mesmo tempo, o Porta-garrafas continua sendo um porta-garrafas: ele quer ser isto. Mas o readymade também solicita para que atravessemos o olhar, pensemos sobre o lugar e a função que ocupa naquele momento. A ironia está nisso: não estamos falando de “fim da arte”, mas de alargamento de fronteiras, questionamento de limites (da arte) e transferência/deslocamento de sentidos. Não há um saber disto ou daquilo, não há a imposição de uma afirmação ou negação, mas vazio e saber de indiferença. O readymade nos coloca defronte um impasse: ou condena a arte ao desaparecimento ou tudo se torna arte. Ele explora o limite 83 , sua natureza é a reprodução (não há original) completamente despossuída de qualquer “aura” benjaminiana. Estas aproximações não se referem apenas aos modernos, mas se intensificam nas experimentações das décadas seguintes, momento em que a questão não é mais quais são os limites da arte, mas o que é esse limite e como (nós, artistas e público) nos relacionamos com ele. Como apresentaremos ao longo dessa tese, a ironia é o constante questionamento, o lançamento de dúvidas que nem sempre são facilmente respondidas ou, ainda mais, muitas vezes não necessitam ser esclarecidas. O readymade é o resultado de uma escolha intrinsecamente ligada ao acaso. Como ressalta Duchamp, “acrescento aos meus readymades o mínimo possível, procuro conserválos puros. É evidente que tudo isso mal dá para sustentar uma discussão transcendental, 82 PAZ, Octavio. Marcel Duchamp ou o castelo da pureza, op. cit., p. 55. Venancio Filho esclarece que o readymade, neste sentido, está muito próximo (e ao mesmo tempo distante) das preocupações da Bauhaus: ambos visam o objeto industrial como meio, porém, “através de um procedimento, a Bauhaus tentava unir utilidade prática e forma artística desfazendo a contradição entre o objeto utilitário e o objeto artístico. Duchamp, rejeitando qualquer procedimento, através de uma atitude, desfaz a contradição; transforma um objeto utilitário em objeto artístico” (Cf. VENANCIO FILHO, Paulo. Marcel Duchamp: a beleza da indiferença, op. cit., p. 68). 83 66 pois muita gente pode provar que escolho um objeto entre outros e que assim estou impondo algo do meu gosto pessoal”. E acrescenta: “Repito que o homem não é perfeito, mas pelo menos tenho tentado permanecer tão imparcial quanto possível, e não penso por um instante sequer que essa tarefa tenha sido fácil” 84 . O mais irônico de tudo isto é que Duchamp virou um modelo a ser seguido pelas gerações seguintes. Daquilo que tinha mais medo (seu procedimento se tornar um hábito e ao invés de ser questionador, se transformaria num processo exaustivo de cópia que faria com que a “eficiência de sua dúvida” fosse se exaurindo aos poucos, e pior: sua figura se tornaria uma referência dominante) a produção contemporânea tratou de tornar como fatalidade. A ironia também sofre o temor do “coeficiente artístico” de Duchamp. Como observaremos, nem sempre ela é absorvida ou notada pelo público. Nesse campo há uma série de esforços, sofrimentos, satisfações, recusas e decisões do artista, que também não podem e não devem ser totalmente conscientes, pelo menos no plano da ironia. O resultado deste conflito é uma diferença entre a intenção e a sua realização, uma diferença que o artista não tem consciência. A ironia passa a pertencer ao mundo. Ela nem sempre é uma intenção do artista (e nesse caso o contexto reforça ainda mais a condição irônica da obra); em muitos casos, nem é notada pelo espectador (e só ganha um potencial de ser identificada como “irônica” quando a história da obra, artista ou contexto é indicada). Duchamp desvaloriza a arte como ofício manual em favor da arte como idéia, e como num percurso tangencial a ironia é agregada a esse sistema. Os objetos visuais de Duchamp são a cristalização de uma idéia e sua negação, sua crítica. Nesse momento, traçamos uma similitude, por exemplo, com as Situações (1970-74) de Artur Barrio; o objeto em questão nessa obra não é a trouxa nem simplesmente a idéia de lançá-las no riacho ou nas ruas, mas todo o processo/trajetória: o fato de serem compostas por dejetos ressalta essa dialética do valor de uso e troca do objeto. Os limites da arte dialogam com o contemporâneo e dirigem-se ao infinito. A ironia se estabelece no fato dos resíduos alçarem ao status de objeto e mercadoria disputada pelo circuito de arte. Acentuamos o fato de que essas “idéias” estão intrinsecamente associadas à “crítica”. O legado de Kant se renova nos métodos empregados por Duchamp: os readymades não são se constituem apenas como 84 VENANCIO FILHO, Paulo. Marcel Duchamp: a beleza da indiferença, op. cit., p. 72. 67 presença, mas fundamentalmente como idéia. Só que é uma idéia continuamente destruída por si mesma: cada uma de suas manifestações, ao realizá-la, nega-a. Entretanto, Duchamp que lutou sistematicamente contra o que era chamado de “arte” ou as fronteiras restritivas desse termo, acabou entrando para o museu, pela porta da frente. Como sinaliza Venancio Filho, teria Duchamp, o antiartista, então fracassado? Sua obra foi disputada agressivamente e absorvida pela instituição a qual sempre questionou. Por outro lado, a sua “derrota” não teria significado uma conquista? O museu, no final das contas, não foi obrigado a absorver sua obra? Não são perguntas tão fáceis de serem respondidas e esse método está longe de ser reducionista. A sua obra está na Filadélfia, mas cada obra “destila um humor e ironiza sua própria situação” 85. Mais do que criar um “novo pensamento” para a arte, o readymade coloca esse sistema em questão. Todos os elementos que integram o circuito de arte estão sob suspeita. Uma onda de incertezas e dúvidas toma conta. A arte definitivamente está infiltrada na vida. Como assinala Venancio Filho, “Duchamp, que queria fazer da arte um meio e não um fim, acaba sendo feito por ela um meio: através de Duchamp a arte acontece no mundo”86. Porém essa aproximação pode se tornar banal. Em Warhol, todos os artefatos modernos, imagens de sopa ou de Marylin, acidentes de carro e notas de dólar tendem a se tornar para nós naturais, de tanto que são repetidos, banalizados. Warhol “introduz o fetichismo de uma imagem sem qualidade” 87 , de uma presença sem desejo. Ora, as imagens de Warhol não são banais apenas por serem o reflexo de um mundo ordinário, mas sim porque resultam da ausência de toda pretensão do sujeito a interpretar. A arte, portanto, deixa de ser ilusória, artesanal e idolátrica, para tornar-se crítica e desmistificadora do objeto. Este é o legado do Porta-garrafas de Duchamp e da herança dadá para as gerações seguintes. A ironia transforma-se em meio articulador dessa proposta; é a arma que dispara e aniquila o objeto para melhor demarcar a função da arte e do sujeito. Estamos no pós-guerra. Tempo de registro em alta velocidade. A máquina já está (representada) no Grande vidro, mas em Warhol o processo se converte em maquinal, industrial, a fim de propagar a produção de arte e a si mesmo como realidade automática do 85 VENANCIO FILHO, Paulo. Marcel Duchamp: a beleza da indiferença, op. cit., p. 25. Idem, p. 67. 87 BAUDRILLARD, Jean. A arte da desaparição. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997, p. 180. 86 68 mundo moderno. Reduzir ao nada a grande potência que o significado daquela imagem poderia ter (para Warhol, “o nada é perfeito porque não se contrapõe a nada” 88 ). Tornar meticulosamente inexpressivo o ícone, trabalhar a palidez em pura perda, o elemento do exagero, o estado debilitado do tédio e a perda daquela aura que não enfeitiça mais como deveria: a ironia em Warhol é perversa e ao mesmo tempo dialoga com o real. Não é utópica, pelo contrário, tem um compromisso com o estado de alteridade do qual vivemos. Warhol alerta para o acento irônico disso tudo: as imagens de Warhol se desejam e se fabricam umas às outras, porque não há mais outro destino para a imagem senão a imagem. Como disserta Baudrillard: “Tudo em Warhol é fictício: o objeto é fictício, porque não é mais relativo ao sujeito, mas apenas ao desejo único do objeto” 89. No universo de Warhol nada se opõe a ninguém, porque é o insignificante que liga as coisas entre si. Deslocando esse conceito para a glória, notamos o fato de que Warhol trata esse estado como sinônimo do tédio. A glória repousa no tédio, como o impacto das imagens na sua insignificância. São os 15 minutos de fama. Ninguém mais se lembra do personagem dos 15 minutos de ontem. A glória e o tédio da glória constituem-se na matéria-prima um do outro. Tanto Duchamp quanto Warhol testam a existência da arte. Porque, no fundo, não precisamos disso. As pessoas acordam, trabalham, comem, bebem, transam, respiram e a vida delas segue. Bem ou mal, ordinariamente ou não, o fluxo da vida não pára. Com esses dois artistas (ou não-artistas ou propositores) nunca havíamos rompido, pela ironia, com o status privilegiado do criador ou do gênio artista. E mais do que isto: não há um desprezo ou demagogia, mas notamos em Warhol, por exemplo, uma inocência e “uma forma graciosa de abolição dos privilégios” 90 . Ambos não fazem parte (somente) da história da arte; fazem parte do estado do mundo simplesmente. Por isso é que, visto da perspectiva da arte, no tempo de cada um deles, foram vistos como fatos decepcionantes. Notem que a questão, em Warhol, não é a de uma arte sem valor ou sentido, mas uma arte que finge insignificância como forma de significar. É o estado de nulidade que é sugerido, quando na verdade já estamos lá. Warhol nos estimula a oferecer um sentido àquilo que é desprovido de sentido. A conseqüência disto seria roubar a estas imagens sua radicalidade superficial “e, ao mesmo tempo, sua inocência material, transformando-as em 88 Idem, p. 184. Idem, p. 186. 90 Idem, p. 194. 89 69 mensagens quaisquer, enquanto sua qualidade é justamente a de refratar toda interpretação no vazio” 91. A arte transformou-se na idéia da arte. É a merda do artista, Klein vendendo o ar em troca de um cheque em branco numa galeria, o ar de Paris sendo engarrafado. Estamos falando de signos, alusões, conceitos, idéias. O que chamamos de arte parece testemunho de um vazio irremediável. A arte está sendo atravessada por uma idéia e particularmente (pelo que Baudrillard chama de) “pelos signos de sua desaparição” 92 . Porém, o estatuto incerto e paradoxal da imagem é atualmente seu estatuto ideal, como é o objeto na esfera da arte. Não há mais universo real atrás das imagens de Warhol; há, portanto, uma superfície de aparição, de figuração, “uma superfície virtual”, como chama Baudrillard, que é, no estado atual das coisas, o que poderíamos obter de mais original em matéria do nosso cotidiano como em matéria de arte. A figura de Warhol é a mídia desta gigantesca publicidade que se faz mundo por meio da técnica, fotografia, das imagens, por si só. Nossa imaginação é mutilada a cada instante por novas informações que no minuto seguinte se transformam em supérfluo. Assim opera Warhol: ele nada mais é que o agente da aparição irônica dessas situações. Como salienta Baudrillard, a ironia também participa do complô da arte. Warhol faz da nulidade e da insignificância um acontecimento que ele transforma numa estratégia fatal da imagem. A lacuna entre os (hoje) tão desgastados conceitos de arte e vida se estreitou ainda mais por volta da década de 1950. Mais do que um movimento, o momento Fluxus promoveu, em muitos casos, uma nova sensibilização do homem frente ao anônimo, ao dejeto, aquilo que freqüentemente rejeitávamos. Muitas vezes, esses artistas falavam do silêncio, mas não como estado de nulidade e sim como potência vibrante. A peça para piano 4’33”, escrita por John Cage em 1952, consiste num pianista que senta-se a frente de um piano, encena uma peça mas não toca as teclas. O silêncio é interrompido pela mudança de páginas, feita pelo pianista, da partitura a qual está lendo e o fechamento e abertura da tampa do piano que demarcava a mudança de movimento da música. Ademais, o silêncio também passou a incorporar os suspiros, vaias, protestos do público. O silêncio transformado em música incorpora o acaso e passa a ser o processo de sua própria existência. Em Winter carol (1959) de Dick Higgins, um coro composto por um ilimitado 91 92 Idem, p. 192. Idem, p. 189. 70 número de pessoas ao invés de reproduzir um cântico de natal, permanece em silêncio e desloca toda a sua atenção para o som da neve caindo. Havia no Fluxus uma desconfiança muito grande ao que se denominava como “arte erudita” 93 . O modernismo deixou à mostra a crise da representação, mas não tratou de “curá-la”, pelo contrário, não interessava apenas apontar mas distender ainda mais essa questão. O Fluxus assim como os dadaístas tangenciaram o “fim da arte” mas essencialmente queriam deslocar o mundo terreno e ordinário do homem para a arte. Até que ponto essas duas instituições (vida e arte) estão tão distantes? Pelo menos naquele momento do Fluxus, esta distância existia e crescia com rapidez. A idéia de George Maciunas é de que algo poderia ser arte sem ser necessariamente arte erudita, como afirma em entrevista publicada no artigo de Danto: “Existe muita arte erudita, um excesso, na verdade: é por isso que estamos fazendo Fluxus (...) Nós nunca tivemos a intenção de fazer arte erudita. Nós surgimos como um bando de zombadores” 94. Neste sentido, arte não seria um produto especialmente construído, pensado ou organizado para tal função, mas essencialmente experimentação, e o espaço de percepção e apreensão (desse suposto “objeto artístico”) era o mundo. Ao mesmo tempo Fluxus demonstra o estado de “inutilidade da arte”: são objetos de arte (muitas vezes constituídos por brinquedos ou materiais baratos) e não servem para nada, além de suas próprias funções, nem sequer para as “mais elevadas necessidades do espírito” para as quais, segundo Hegel, a arte uma vez serviu. Como aponta Maciunas em carta publicada no ensaio de Danto: Fluxus é definitivamente contra o objeto-arte como mercadoria não funcional – para ser vendida e ser o sustento do artista. Pode ter temporariamente a função 93 O termo high culture designado por Arthur C. Danto foi publicado no seu artigo “O mundo como armazém: Fluxus e filosofia” e traduzido como “arte erudita”. Segundo este filósofo, “antes do Fluxus, obras de arte eram consideradas em termos de Arte Erudita [grifo do autor] e, conforme demonstrado pelos argumentos de William Kennick [de que não há diferença entre os objetos, sejam eles considerados “arte” ou “utensílios domésticos”, de que somos capazes de navegar pelo mundo sem o tipo de definições que filósofos, desde Platão, assumiram que era sua incumbência fazer], eram diferenciadas do resto das coisas. Elas eram colocadas primeiro em Gabinetes de Maravilhas e depois em museus, segregadas do fluxo da vida. A revelação do Fluxus foi de que tudo é maravilhoso”( DANTO, Arthur C. O mundo como armazém: Fluxus e filosofia. In: HENDRICKS, Jon. O que é Fluxus? O que não é! O porquê. Rio de Janeiro, Centro Cultural Banco do Brasil; Brasília, Centro Cultural Banco do Brasil; Detroit, The Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection Foundation, 2002, p. 25). 94 Idem, ibidem. 71 pedagógica de ensinar às pessoas a inutilidade da arte inclusive a inutilidade dela mesma. Por isso, não deve ser permanente. 95 A questão conceitual que existia portanto na fronteira entre a arte erudita e o Fluxus era a seguinte: o que ambas possuíam que poderia ser denominado como “arte”? O Fluxus removeu do conceito de arte o que se considerava que estabelecia “a distinção, exclusividade, raridade, inspiração, destreza, complexidade, profundidade, grandeza, valor institucional e de mercadoria” 96 desse objeto. Como observa Danto, “[o propósito desse pensamento] não era negar que a história da arte tinha sido marcada por essas qualidades, [mas] negar que qualquer delas era essencial para um conceito de arte que incluiria o ‘simples evento natural, um objeto, um jogo ou uma piada’” 97 . A ironia se infiltra numa prática artística que evoca os acontecimentos mais burocráticos do nosso dia-a-dia. A arte ou o que define esse campo deveria agora passar a lidar com esses objetos baratos e pouco atraentes. Não era uma questão de negar o estatuto da arte mas aproximá-lo da vida e questionar os seus limites e campos de atuação; e nisso está incorporado o ato de encontrar as diferenças de cada um deles. Não existe um grande mistério a ser desvendado, ele não é maior do que a nossa própria convivência com o mundo. A síntese disso é uma das apresentações Fluxus de George Brecht, onde a “peça”, como ele diz, é a ação de apagar e desligar um interruptor de luz. Afinal, fazemos isso todos os dias, não? O readymade deixa de ser um objeto comum, simples, sem nada de extraordinário, para transformar-se em ação. O Fluxus cria outra perspectiva para o readymade: não apenas um objeto como representação de uma idéia, mas efetivamente uma ação. Ações que se ramificam, atravessam fronteiras e chegam às Sculture viventi (1961) de Piero Manzoni. O artista assina corpos e os reconhece como “obras de arte”. Este gesto catártico consiste da assinatura do artista em alguma parte do corpo “da obra” e a emissão de um certificado de autenticidade. Este recibo era arrancado do livro de registros e o canhoto era numerado indicando o nome das pessoas que haviam “doado” o seu corpo para o ato. Em cada certificado e canhoto, Manzoni fixava um selo de cor vermelha, amarela, verde ou púrpura. Cada cor tinha um significado diferente: vermelho indicava que o 95 Idem, p. 30. MACIUNAS, George. Fluxus Manifesto. In: HENDRICKS, Jon. O que é Fluxus? O que não é! O porquê, op. cit., p. 26. 97 Idem, p. 26. 96 72 indivíduo assinado passava a ser uma obra de arte completa e deveria permanecer com aquela assinatura até a morte; amarelo significava que somente a parte do corpo assinada era válida como obra de arte; verde impunha condições e limitações no gesto ou “atitude escultural” do corpo, por exemplo: o corpo era somente arte em certas atividades, como quando a pessoa dormia, falava ou corria; por último, púrpura significava o mesmo que o vermelho, exceto que neste caso o serviço era pago. Esculturas sem base ou pedestal, são formadas por aquilo que a própria obra clássica nega: o corpo real, vivo. Agora, o corpo não poderá mais ser visto como uma estrutura simplesmente biológica. Passa a pertencer ao reino das proposições artísticas. Difere-se das antropometrias de Yves Klein (1960) porque as “marcas” de Manzoni estão no corpo e por lá permanecem; é um processo contínuo que não transfere para a bidimensionalidade o seu resultado como práxis artística. Entretanto, Manzoni não está interessado em “chocar” o público mas em estratégias de subversão, a validação do lugar da ironia na arte e questionamentos sobre os limites e a ética que o artista deve seguir ou se comprometer no circuito. O pedestal daquela escultura moderna é resgatado por Manzoni (Base mágica, 1961) não mais como suporte da obra, mas como objeto mágico que transmite a qualquer um que suba nele o estatuto de obra de arte. O artista visto como herói ou grande orador não de uma batalha ou de um discurso de posse, mas ironicamente exaltando a sua própria potência como obra de arte. No evento nomeado pelo artista como Consumazione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte (1960), Manzoni cozinhou inúmeros ovos e imprimiu a digital de seu polegar nas cascas desses alimentos. Uma vez marcados, os ovos eram dados ao público para a sua degustação. Cabia ao público a decisão: comer ou não a obra de arte? Esta reformulação do rito eucarístico estabelecia a categoria do artista como mártir e da arte como “objeto mágico/potente/religioso/cerimonioso” ou ainda como relíquia de seu tempo. A relação entre arte e vida atinge um grau de transitoriedade inédito: a vida da arte sendo complementar à vida do homem. A ironia é que esse objeto poderia desaparecer a qualquer momento e não restar nenhum vestígio dessa ação; a outra forma de aparição dessa estratégia irônica é que a tomada de decisão, em último caso, não era do artista. Manzoni desestabiliza o mito do artista como grande gênio das artes, senhor das ações da “sua” criação, e ironiza os termos “autor” e “original”. O processo artístico passa a lidar com 73 questões de desapropriação e transmutação de valores e funções. Em 1961, o artista constrói o Socle du monde, um pedestal que apresentava o título da obra escrito de cabeça para baixo e que metaforicamente sustentava o mundo inteiro (que também estava invertido). Essa “base mágica”, segundo Manzoni, transformava todos os habitantes da Terra em objetos de arte. Paralelos com o discurso e a autorização de Duchamp em transmitir esse mesmo poder a um urinol, em Fonte (1917), são bem definidos. Todo animal, vegetal ou mineral é então reconhecido como obra de arte (evocando a declaração de Duchamp de que “tudo é arte”), e a arte definitivamente torna-se um fenômeno total por um tempo infinito, conceitualmente e territorialmente falando. Como Manzoni claramente demonstrou, o pedestal expressou uma das questões críticas daquele momento que era como os artistas situariam a si próprios no mundo depois dessas experiências envolvendo arte e vida. Ainda em 1961, Manzoni começa a produzir as séries Fiato d’artista (respiração do artista) e Merda d’artista, assim como planeja também criar recipientes para o Sangue d’artista. Fluídos, elementos vitais e dejetos passam a incorporar o circuito da arte. As questões trazidas pela arte conceitual e o minimalismo também são provocadas nessas ações de Manzoni, porém não são mais utilizados como meio metaenunciativo o pensamento, os materiais nobres ou as palavras, mas apenas gestos e ironia. Uma intensificação da integração entre o binômio arte e vida surgiu durante a década de 1960 em várias partes do mundo, muitas experiências foram realizadas nesses últimos 40 anos, Il. 2 Piero Manzoni Merda d’artista, 1961 Ferro e papel 5 x 6 x 6 cm Col. Tate Modern mas mesmo assim podemos afirmar com convicção que Manzoni continuaria sendo transgressor mesmo realizando essas ações em 2007. O artista parece anunciar: “Você (mercado de arte) quer uma obra de arte assinada por mim? Então contente-se com o meu ar ou a minha merda. Afinal, sem isso não sobreviveremos!”. Benjamin é revisitado, revisto, ampliado e finalmente transfigurado. O homem é a própria obra de arte, não em termos das experiências sensoriais de Lygia Clark ou Hélio Oiticica, para citarmos os artistas brasileiros que realizaram proposições envolvendo o corpo naquela época, nem no homem político de Beuys, mas como questionamento sobre a hipocrisia e a 74 ganância do mercado de arte. A produção em massa do “sangue”, “merda” e “ar” do artista refletem os meios de deslocamento e formação de materiais que o mercado exigia e no qual o artista estava inserido e, neste sentido, a idéia de Manzoni também se transforma em denúncia e ironia contra esta máquina capitalista: não estamos mais falando de quadros ou esculturas como mercadorias, mas o próprio corpo e seus respectivos dejetos. Ao mesmo tempo, seria muito reducionista da nossa parte acreditar que somente isto motivou Manzoni a deliberar suas “práticas orgânicas”. Ele equacionou sublimações imaginativas com “criação anal”, suscitou dúvidas, incorporou a ironia como ferramenta de pesquisa para os caminhos que a arte tomava para si. Enlatando excremento (90 latas foram numeradas contendo, supostamente, 30 gramas de merda do artista que eram vendidas ao preço do seu peso equivalente em ouro) e associando isto com ouro, envolve um questionamento da idolatria dos vestígios deixados para trás pelos artistas. Aqui se estabelece uma das ironias de Manzoni: se o excremento é a vida morta do corpo, a arte parece preferir vida morta a viver e, portanto terá que tratar como excremento não só o seu próprio corpo mas também o mundo de objetos à sua volta, reduzindo tudo à matéria inerte e quantidades inorgânicas. Entre 1959 e 1961, o artista produziu uma série de linhas de diferentes tamanhos, que foram guardadas em tubos de papelão e assinadas. Cada um destes tubos possuía um selo indicando a data em que a linha foi usada e o seu tamanho (que variava entre 1,76 e 1140 metros), porém em 1960 o artista criou a linha que demarcaria o infinito, chamada Linea di lunghezza infinita (Linha de tamanho infinito). Como a vida, o tempo da linha também pode ser encapsulado num tubo: ele foi calculado de acordo com o requisitado para a sua execução. O visível passa a dialogar com o invisível, o indefinido passa a ser concreto: o tempo é reconhecido na linha e esta é refletida no tempo. Em 1960, Manzoni executa na Dinamarca uma linha com 7200 metros, que segundo ele seria a primeira de uma série de linhas de grande tamanho que realizaria nas principais cidades do mundo até a soma total dos tamanhos dessas linhas igualarem a distância da circunferência da Terra 98 . Tática correspondente à de Cildo Meireles dentro do seu projeto Arte física (1969). O artista estendeu ao longo do litoral de Paraty vários quilômetros de linha e no final recolheu o que havia sobrado. A partir dessa ação, os trabalhos dessa série começaram a dialogar 98 Cf. MANZONI, Piero. Piero Manzoni. Londres: Serpentine Gallery, 1998, p. 36. 75 com os aspectos históricos do Brasil. Com a palavra, Meireles: “Um dos projetos se chamava Tordesilhas e consistia em traçar uma linha desde a cidade de Laguna até o estado do Amapá e dessa forma refazer fisicamente [a linha de] Tordesilhas. Daí, portanto, o nome desse tipo de trabalho, porque havia realmente uma atividade física” 99 . Portanto, vemos manifestados em dois casos, e em toda sua determinação, a necessidade do artista em objetivar, não somente no aspecto mental mas também fisicamente, uma linha e tempo sem limite. 2.2Diálogos da ironia: aproximações entre a produção artística brasileira e o cenário contemporâneo internacional Os fluxos da ironia, obviamente, não se restringem apenas ao cenário das artes visuais brasileiras mas em fronteiras cada vez mais extensas. A ironia não possui nacionalidade nem um espaço bem definido, mas ao mesmo tempo podemos observar similitudes entre o movimento das táticas irônicas no painel das artes nacionais e na produção internacional. São sintomas que se confundem, interagem e formam essa rede comunicativa para o atravessamento do circuito irônico, porém cada obra/pensamento/ação possui a sua própria especificidade ou “diferença”. Nem todas as ironias sérias ou humorísticas trabalham para desmistificar ou subverter a autoridade assim; algumas manuseiam o poder para fins diferentes. Esta natureza transicional de sua política, significa que a ironia, no campo das artes, pode ser usada (e tem sido usada) ou para minar ou para reforçar uma posição conservadora. A essa questão política/apolítica deve-se acrescentar outra, incisiva e politizada: a ironia funciona primariamente de maneira afirmativa ou destrutiva? Para responder ou confundir ainda mais esse enunciado, podemos citar o caso da 6a Bienal do Caribe, organizada em 1999 por Maurizio Cattelan e pelo curador Jens Hoffmann, que – apesar de ter a aparência de uma exibição internacional – não apresentava nenhuma obra e servia como férias pagas para os artistas participantes. Ambos convenceram museus, colecionadores e patrocinadores a 99 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 09 de julho de 2007 (documento inédito). 76 financiar uma bienal - que reuniria Olafur Eliasson, Rirkrit Tiravanija, entre outros - que nunca existiu. Cattelan e Hoffmann levantaram uma importante discussão sobre o formato das bienais e o perigo de sua transformação em pólo turístico com a sua crescente disseminação geográfica. Em entrevista a Nancy Spector durante a produção dessa bienal, Cattelan expõe como a circulação da economia pode ser usada para promover um ato irônico, e dessa maneira não só o conceito de exposição ganha um novo sentido, como os papéis e as definições no circuito de arte passam a ser categorias mutáveis. A ironia associa-se ao descontentamento, passa a ser um ato político. Todos os trâmites para a organização de um evento foram produzidos, tais como: verba para as reservas em vôos e anúncios em revistas de arte. Tinha tudo para ser uma bienal de artes como outra qualquer: conferência de imprensa, publicidade largamente disseminada, artistas de renome, além do local escolhido, uma ilha no Caribe com amplos, digamos, “dotes turísticos”. Eu darei férias para todos os artistas convidados. Será uma exposição porque haverá convites. Será uma exposição porque haverá publicidade. Será uma exposição porque faremos uma coletiva de imprensa. Será uma exposição porque, ao final, também demarcará uma posição contra a proliferação de todo o conceito de bienal e trienal. Portanto, férias é um ótimo conceito para fazer tal comentário. Isto pode soar como uma piada, mas é realmente um caso muito sério. De uma certa maneira, estamos falando sobre moralidade – assumindo a responsabilidade por algo, tomando algo que precisa ser feito pelas nossas próprias mãos. Arranjar 50 mil dólares é muito sério. Uma piada pode durar 2 minutos. Essa piada custará, para mim, 6 meses de trabalho para arranjar os fundos e organizar toda a coisa. É um compromisso enorme.100 A exposição acabou não apresentando nenhuma obra, ao invés disso, a bienal acabou funcionando como um “feriado tropical” para os seus participantes e como um golpe violento contra a proliferação de locais exóticos para o chamado evento “bienal de artes” (que acabou tornando-se uma franchising). Uma ironia ao fato da crítica comparar o “trabalho de arte” a uma jornada de trabalho, onde o operário deve sempre produzir, incansavelmente e tenazmente ao longo do dia, e também ao campo ampliado de uma indústria de arte contemporânea que não pára de produzir “novos trabalhadores”, que por 100 BONAMI, Francesco et al. Maurizio Cattelan. Londres: Phaidon Press, 2000, p. 35 [tradução do autor]. 77 sua vez “fabricam obras de excelente nível técnico”, que por isso mesmo devem ser expostas (então, paralelamente, cria-se um novo mercado de exposições, bienais e trienais, que é largamente explorado), adquirirem valor simbólico e finalmente serem vendidas. Cattelan usa as próprias contradições do sistema como material para o seu trabalho; ele não é tímido em explorar a sociedade como um estúdio aberto englobando todas as suas injustiças, dilemas, violência e a sua realidade dramática. Ele não se satisfaz em qualquer análise ou tentativa para encontrar uma solução; ele é um dos muitos jogadores desse jogo social. O caráter contestador (e irônico) contra uma atitude politicamente conservadora também é discutido na obra Sixty minute silence (1996), de Gillian Wearing. Essas obras de Cattelan/Hoffmann e Wearing ressaltam o “ser político” que existe em qualquer pessoa. O Il. 3 Gillian Wearing Sixty minute silence, 1996 Filme 60 minutos Col. da artista trabalho de ambos tem sido sobre a política de todos os dias, a dificuldade em atravessá-la. Na obra de Wearing, um grupo de 25 atores vestidos como policiais (homens e mulheres) é filmado durante uma hora; poucos movimentos são observados e um estado de letargia e semi-repouso é constante durante esse período, causando, portanto, uma distorção, em alguns momentos, do que o espectador achava que fosse uma fotografia. O tempo mecânico é usado como um fator alienador e a transformação da (ilusória) fotografia numa mídia de vídeo eventualmente força o espectador a ver ele mesmo como um elemento absurdo dessa esfera. Conceitos como verdade/mentira, controle/desordem e destruição/afirmação fogem de uma operação da moral nessa obra. A situação inusitada, inédita e anormal de (supostos) policiais ingleses 101 – a instância mais conservadora do Reino Unido, fora a realeza – sendo comandados, por alguns instantes, por uma cidadã, e mais (ou pior) do que isso por uma artista, com o propósito de produzir uma obra de arte gera o absurdo dessa situação. O vídeo cria assim 101 A idéia original de Wearing era usar verdadeiros policiais, mas “devido aos seus diferentes turnos de trabalho, foi impossível coordenar numa única oportunidade todos eles. O mais importante para mim era a metáfora do controle que os uniformes representavam” (In: FERGUSON, Russel; DE SALVO, Donna; SLYCE, John. Gillian Wearing. Londres: Phaidon Press, 1999, p. 13; tradução do autor). 78 um incômodo momento na inversão dos sentidos: é o espectador que vigia a polícia, numa lenta tortura voyeurística de olhares. A metáfora do controle que Wearing suscita também está no olhar. A própria artista revela que, no costume de caminhar dispersamente pelas ruas, num súbito encontro com um oficial da polícia, ela direciona seus olhos para baixo: “Nunca fiz nada para que pudessem deter-me! Ainda assim, costumo baixar os olhos quando passo por uma autoridade” 102 .O hábito de desviar o olhar hierárquico, que está sempre alerta, fiscalizando atos, prevenindo desvios, imperando a moralidade é mencionado por Foucault 103 como um instrumento simples e de sucesso, proveniente de uma disciplina ‘fabricante’ de indivíduos, técnica específica que toma esses indíviduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. Numa vertente da arte que se misturou à vida, ao cotidiano e às atribuições econômicas e psicológicas da sociedade desde a década de 1960, Wearing segue esse caminho, aponta uma nova discussão e chega à fronteira da verdade e da ilusão. Não é um impasse: o que ela nos diz é que a arte nunca se esgota em suas tomadas de posição e nem mesmo está além da ética e da moral estabelecida, mas produzindo (ou interpretando) um segundo poder. Uma terceira margem do rio. Quando o personagem do Pai, em Seis personagens à procura de um autor, de Pirandello, diz (falando em nome das personagens e dirigindo-se ao produtor): “Nós, sendo nós mesmos, não temos outra realidade fora desta ilusão! Que outra realidade poderíamos ter? O que para você é uma ilusão que você tem de criar, para nós... é a nossa única realidade” 104 . Quando o Pai se dirige ao Produtor como um produtor, um dos efeitos de Pirandello se teria perdido inteiramente se não víssemos que este Produtor está, por sua vez, sendo produzido por um produtor real e é tanto um personagem do livro quanto o Pai. A ironia é, assim, esta capacidade de fazer a lei (da moral) justificar disposições performativas que lhes pareceriam contraditórias. Como questiona Deleuze, a ironia funciona como um modo privilegiado de recurso a transcendentalidade da idéia. De onde se 102 WEARING, Gillian. Entrevista com Carl Freedman. In: WEARING, Gillian. Gillian Wearing. Fundação La Caixa, Barcelona; Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela, 2001, p. 26. 103 “O indivíduo é, sem dúvida, o átomo fictício de uma representação ‘ideológica’ da sociedade; mas é também realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder que se chama disciplina” (In: FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 161). 104 Cf. PIRANDELLO, Luigi. Seis personagens à procura de um autor. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 79 segue a definição: “Sempre chamamos de ironia o movimento que consiste em ultrapassar a lei em direção a um princípio mais alto, isto a fim de reconhecer à lei apenas um poder segundo” 105 . O que nos interessa aqui é a maneira de Wearing em insistir na necessidade de reabilitar o simulacro e sua desarticulação das noções de cópia e de modelo, isto a fim de fornecer um dispositivo de crítica ao pensamento da representação. O simulacro coloca-se como se fosse o que se modela a partir da idéia. No entanto, este “como se” é uma estratégia para mostrar que a idéia não tem a força de assegurar um campo fundamentado de aplicação. Pois o simulacro é aquilo que se coloca como realização da idéia, mas tem deliberadamente apenas um “efeito de semelhança exterior e improdutivo obtido por astúcia e subversão” 106 . Daí porque Deleuze poderá afirmar que “a cópia é uma imagem dotada de semelhança”, e que, “o simulacro é uma imagem sem semelhança” 107 . Dessa forma, o simulacro desautoriza a partilha entre verdadeiro e falso a partir da aplicação da idéia e bloqueia a lógica da representação como subsunção da imagem à determinação do objeto. Ele será “a mais alta potência do falso” 108 , dirá Deleuze, parafraseando Nietzsche. Uma certa realização da idéia que inverte as expectativas performativas da imagem. Wearing deixa transparecer um riso que zomba das expectativas de determinações empíricas em fundamentar o advento do sentido. Os olhos enganam o que a nossa memória tinha como certeza. As funções políticas afirmativa e destrutiva não podem ser realmente separadas uma da outra, porque os que vêem a ironia como primariamente destrutiva também tendem a vêla como totalmente cúmplice – e logo hipocritamente afirmativa. Tal mudança só é possível por causa da natureza transideológica da ironia: enquanto pode-se usar a ironia para reforçar uma certa posição ou pensamento, também pode-se usá-la para fins de oposição e subversão – e ela pode tornar-se suspeita exatamente por isto. Isso é o que torna a política transideológica da ironia tão difícil de resolver. De uma certa maneira, não importa que papel o artista ou o público atribuam à ironia, ela sempre será vista tanto por uma perspectiva negativa (como humilhação e desestabilização) quanto por uma positiva. 105 DELEUZE, Gilles. Présentation de Sacher-Masoch. Paris: Minuit, 1967, p. 75. DELEUZE, Gilles. Logique du sens. Paris: Minuit, 1969, p. 298. 107 Idem, p. 297. 108 Idem, p. 303. 106 80 Uma das discussões mais levantadas e problematizadas, nos últimos anos, no campo das artes visuais é a relação mesquinha e opressora que os artistas sofrem do mercado: seus trabalhos tornando-se simples mercadorias sem qualquer atenção ao valor poético que carregam e a transformação da arte num mundo de negócios altamente especializado e lucrativo. Ao mesmo tempo, formas de resistência e protesto são projetadas e executadas por uma parcela desses artistas. Porém, uma pergunta é lançada: como contestar o sistema se ele (artista) está totalmente dentro? Podemos entender realmente como um protesto contra o mercado, se o artista continua participando dele? Cattelan declara, com todas as palavras, que quer os benefícios desse sistema. “Eu não quero estar contra as instituições e os museus” 109 . Talvez ele apenas queira dizer que todos são corruptos de uma certa maneira, e ele só quer uma fatia desse bolo, assim como qualquer outro. Nesse momento, a ironia ocupa o seu espaço e define sua tática. A “política econômica” da ironia volta-se para o artista. No projeto Oblomov Foundation (1992), Cattelan oferece uma bolsa de 10 mil dólares, com vigência de um ano, para o artista que se dispuser a não produzir nada durante igual período. Apenas poderiam candidatar-se artistas que “saturavam o mercado de arte” e aceitariam não expor durante um ano. “Você teria o dinheiro, mas teria que desaparecer do mundo da arte” 110 . Ninguém ofereceu-se, nenhum artista quis correr esse risco. O projeto encontrou o fracasso 111 , tanto na sua tentativa de “obra” quanto no outro lado: o do “bolsista”. Era um acordo perigoso, o artista, tão acostumado a deixar o outro no limite de suas percepções, agora era colocado em questão. Mas o resultado foi a decisão de não seguir em frente: revela uma hipocrisia do artista que deseja liberdade artística, mas ao mesmo tempo tem medo de perder as oportunidades que podem aparecer para o desenvolvimento de suas carreiras. O artista, finalmente, é colocado em xeque-mate. Cattelan não tem escrúpulos; de fato, ele construiu sua história na arte questionando os dogmas de propriedade e privacidade, eventualmente tornando-se até um ladrão. Todo conteúdo de uma galeria pode desaparecer de uma noite para a outra, reaparecendo em outro local, disposto como uma exposição de arte, com a sua assinatura e o título da “obra” 109 BONAMI, Francesco et al. Maurizio Cattelan, op. cit., p. 35 [tradução do autor]. CATTELAN, Maurizio. Entrevista a Hans Ulrich Obrist. In: OBRIST, Hans Ulrich. Arte agora em 5 entrevistas: Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Olafur Eliasson, Cildo Meireles, Rirkrit Tiravanija, op. cit., p. 29. 111 Cattelan fixou uma placa na parede externa da Academia de Belas Artes Brera, em Milão, com o nome de todos os doadores, semelhante ao que assistimos na abertura de uma exposição. O dinheiro arrecadado foi usado na mudança do artista para a cidade de Nova York. 110 81 como Another fucking ready made (1996). Questionando os limites da apropriação e da moral nas artes, a ação de Cattelan funciona ao mesmo tempo como uma admissão pública ao plágio e um sutil anúncio para uma negligente guerrilha contra as tradições da arte contemporânea. Como alerta o artista, “a parte do roubo foi a idéia menos interessante do projeto; eu realizei aquilo que, afinal de contas, era muito mais sobre a troca de uma realidade por outra” 112 . Em 1996, Cattelan foi convidado para participar da coletiva Crap shoot, na De Appel, e como obra teve a idéia de roubar o conteúdo da galeria, que ficava em frente ao local da exposição, na noite anterior à abertura da exposição. O roubo foi um sucesso (Cattelan empacotou as obras, máquinas de fax, todo o material de escritório), mas uma testemunha chamada “polícia” existiu e, desta forma, o artista foi obrigado a devolver tudo ou então enfrentar a lei. Tão irônico quanto isso, foi o fato de anos depois, a galeria roubada, Galerie Bloom, ter feito inúmeros pedidos a Cattelan para que ele apresentasse uma exposição no local. A arte está em presença de algo que a preocupa, não somente como um sintoma, mas como uma ameaça clara. Pelo medo que passa a inspirar, a ironia reprime as excentricidades, mantém constantemente vigilantes e em contato recíproco certas atividades de ordem acessória que correriam o risco de isolar-se e adormecer; flexibiliza enfim tudo o que pode restar de rígido na superfície do corpo social. 2.2.1 Enquanto isso no Brasil... Tomada de assalto: por uma atitude invasiva A galeria sendo saqueada, de certa forma, implodida, não é um privilégio da produção internacional. No final de 1967, o grupo Rex organiza a sua última exposição denominada Exposição não-exposição, representando o fechamento da sua galeria 112 113 , Rex BONAMI, Francesco et al. Maurizio Cattelan, op. cit., p. 34 [tradução do autor]. Nelson Leirner faz uma observação sobre esse fato: “Durante o ano em que funcionou, a Rex cumpriu uma missão que estava estreitamente ligada à espécie de pesquisa artística a qual nos devotávamos: a pesquisa do happening, do acontecimento, da reação do público. Desde seu início ela nunca teve uma função comercial, não se enquadrava no convencionalismo que permite às galerias de arte equilibrarem os seus orçamentos (...) quando, em nosso trabalho, eu e meus sócios vimos que esta fase estava superada, fizemos o cálculo do nosso prejuízo, que foi maior ainda do que pensávamos. Para que a Rex se mantivesse pelos meios tradicionais de 113 82 Gallery & Sons, formada pela associação de Nelson Leirner, Geraldo de Barros, Wesley Duke Lee, Carlos Fajardo, Frederico Nasser e José Resende. Cabe um parênteses sobre o grupo Rex e o seu meio circulante, o jornal Rex Time (lê-se time e não taime). Segundo Geraldo de Barros, o jornal (que, em 2 anos, teve 5 edições assim como o número de exposições do grupo) era produzido numa espécie de brain storm: Nós fazíamos o brain storm. Às vezes gravávamos, às vezes tomávamos notas e compunha-se o jornal. Havia toda uma característica de gozação no jornal e no movimento Rex; manipulavam-se os meios de comunicação, indo-se contra o conceito de inauguração de mostra – o vernissage -, contra a crítica de arte de um modo geral, exacerbando o sentido atual assumido por aqueles elementos, através do próprio acontecimento artístico que se transformava num happening. Em cada exposição lançava-se um jornal.114 Sem dúvida, a decisão de se criar um espaço próprio para exposições e eventos artísticos dá-se pela virtual inexistência, na São Paulo da época (mesmo sendo sede de uma bienal de artes visuais), de espaços de arte capazes de sustentar e exibir as propostas desses e de outros artistas. Esse descompromisso com um mercado que, de fato, não existia para a arte contemporânea menos previsível já estava exposto no primeiro número do Rex Time: Considerando que não há locais (eles [grupo Rex] insistem em não chamar de galerias de arte esses locais que com esse nome por aí abundam, e os motivos se seguem) que tenham um objetivo determinado ou uma linha de conduta idem, ou seja, que se atenham a um movimento e não passem de um primitivo sofisticado hoje para uma poplhaçada amanhã (...) pois o artista – já não tendo galeria – também não tem representante comercial, o que faz com ele se vire por conta própria, dependendo de oportunidades fortuitas e de acasos muito mais ocasionais do que a própria palavra sugere, dependendo de amizades influentes ou da influência de amizades.115 compra e venda de trabalhos, teria de cair no comercialismo. Eu não quero ser marchand, não o querem ser Wesley e Geraldo. A solução foi o fechamento” (Cf. CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 82). 114 BARROS, Geraldo. Depoimento. In: FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1. São Paulo: Centro de Estudos de Arte Contemporânea, 1979, p. 81. 115 CORRÊA, Thomaz Souto. Rex Time: aviso é a guerra. In: FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1, op. cit., p. 82. 83 O Rex Time não era apenas irônico (“nós vemos tudo, ouvimos tudo, falamos tudo e e eles não vêem nada, não ouvem nada, e não dizem nada – a não ser o que todo mundo sabe” 116 ) mas atestava os fatos de um hipócrita e ao mesmo tempo incipiente mercado de arte que concedia privilégios a quem lhe interessava. Esse grupo propunha entre outras coisas, a superação dos sistemas viciados de produção artística assim como de seleção dos salões de arte, desafiar os valores vigentes no campo da crítica de arte e da circulação dos objetos. As proposições do grupo estavam muito próximas das estratégias duchampianas (pela banalidade dispensada aos objetos, mas além disso havia algo de uma ação imediata mesclada com certo improviso como no último vernissage destrutivo que organizaram) e também possuíam um vínculo muito estreito com a polis e o vocabulário pop. O próprio nome do jornal, apropriando-se da língua inglesa e utilizando o jogo de palavras, era uma ironia ao imperialismo norte-americano e a disseminação de sua mídia no plano internacional. Um fato interessante é que no quinto número do Rex Time, há um elogio extensivo aos “acontecimentos”, “as mais importantes reviravoltas culturais do país (chamados mais tarde de happening pelos norte-americanos)”, e a enumeração da prática dessa poética no país (os seus primórdios), que dentre outras, figurava a da “clarabóia da cozinha da Leiteria Campo Bello” de Flávio de Carvalho, ou como ficou famosa no meio artístico: a épica e famigerada Experiência no 2. A ironia do Rex Time não perdoa os agentes do circuito: Nelson Leirner, durante exposição na Galeria Atrium, em 1964, “vendeu um único trabalho para o Sr. Geraldo Loeb que o devolveu depois de 30 dias, dizendo que não se adaptava às paredes de seu lar. Desde então corre o boato de que os trabalhos de Nelson não são bons para o Lar” 117. Em Exposição não-exposição (que tinha o subtítulo “Pare...Olhe...Entre...Pegue”), Leirner dispôs 20 de seus objetos no interior e no jardim da galeria. Todos estavam presos por correntes à parede ou a pedestais. Ao lado desses, serras sugeriam ao público cortá-las. Às 21:00 horas, o público entraria na sala e poderia levar as obras que quisesse ou que 116 BARROS, Geraldo et al. Regulamento Rex. In: FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1, op. cit., p. 84. 117 BARROS, Geraldo et al. Aviso: Rex Caput. In: FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1, op. cit., p. 90. 84 conseguisse pegar. Quando saísse a última obra, a galeria seria fechada definitivamente. Daí o título. Segue um relato da época, publicado na Folha de São Paulo: O público que compareceu à loja da rua Iguatemi já sabia com antecedência que poderia levar os quadros colocados nas paredes. O interesse foi tal que às 19 horas já havia fila. Quando, lá dentro, Nelson deu ordem para abrir as portas da galeria, a invasão foi como um estouro: em 5 minutos, não sobrou um só quadro ou objeto nas paredes. Acorrentados, presos em blocos de cimento ou dificultados pelas águas num reservado especial, mesmo assim todos os trabalhos foram arrancados ou arrastados em tempo recorde (...) Na rua, com o trânsito todo emperrado, os ‘colecionadores’ exibiam sorridentes o que haviam apanhado, enquanto Nelson demonstrava satisfação pelo resultado obtido: ‘Houve reação do público. Isso é muito importante’. 118 Neste contexto, o Grupo Rex lança o desafio à autoridade cultural dos museus como instituições de modernidade. Nesse sentido discutir o papel do museu, e os contra-discursos ou táticas de assalto surgidos pela sua política totalizante, é discutir o conceito de “modernidade”, também. O que Exposição não-exposição também observa é a estruturação dos museus (e de todas as instituições ligadas ao campo da arte, tais como: centros culturais, galerias e institutos públicos ou privados de exibição de arte) de acordo como uma “taxonomia”, ou seja, o museu ainda é, de algum modo, a corporificação do que se pode chamar do desejo da modernidade de criar ordem e, por conseqüência, significado. Esse modelo administrativo do museu como guardião do legado humano implica ir além dessa função de conservar para incluir uma expansão de suas fronteiras curatorias, de idéias sobre novas mídias e colecionismo. Significava, também, um apontamento radical para um esgotamento da crítica e da instituição museológica naquele momento, ainda marcada por uma prática colecionista do “projeto coletivo moderno brasileiro”, que na realidade nunca aconteceu 118 119 . Décadas depois da (não) exposição, Nelson Leirner concede um depoimento Happening termina rápido e no escuro. Folha de S. Paulo, 27 de maio de 1967. In: CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 83. 119 Paulo Sérgio Duarte comenta que o modernismo no Brasil nunca existiu enquanto projeto coletivo, mas como ilhas: “Ilha Tarsila do Amaral, ilha Di Cavalcanti, ilha Guignard, ilha Malfatti”. Eram agrupamentos individuais que não estabeleciam conexões estéticas entre si. Cada artista possuía seu próprio modelo de construção simbólico, isolando-se um dos outros. Diferentemente do posterior movimento neoconcreto (definido por Duarte como um segundo estágio da modernidade no Brasil), os ditos “modernistas” brasileiros 85 onde fica claro que as instituições brasileiras apresentavam (e de certa maneira ainda apresentam, ainda que exista uma tímida mudança no panorama contemporâneo) uma visão muita tradicionalista sobre as suas coleções: Quando resolvemos fechar a Rex, achei que, para encerrar o nosso percurso, nada melhor do que oferecer gratuitamente os meus trabalhos, pois a Rex foi exatamente fundada em cima de uma crítica a todo um sistema existente nas artes, formado por galerias e críticos que visavam conservar o status quo daquele momento. Dar os trabalhos, mesmo que exigindo um certo esforço do espectador para consegui-lo, não seria uma atitude para desmistificar a aura que a arte sempre carregou? 120 E a ordem desse contexto particular de Leirner parecia criar condições de produção, circulação e difusão de ações contra um modelo tradicional e pouco propenso a mudanças como era o mercado de arte na década de 1960. Nelson Leirner ainda preparou mais um golpe contra “instituição” na forma de romper em definitivo com o objeto de arte como objeto único e artesanal – base, não apenas do mercado, mas de todo o circuito de arte: foi em 1967, durante exposição realizada na Galeria Seta (São Paulo). Em declaração à imprensa, Leirner afirma a venda de múltiplos da série Homenagem a Fontana por 112 cruzeiros novos, resultado da soma de todos os custos operacionais que ele teve. Nada mais honesto sobre os custos da produção e mais condizente com a dessacralização do objeto e a sordidez do mercado de arte 121 . Significado ordinário e significado artístico passam a constituir um só significado (inclusive econômico), o qual procede a uma diferenciação de funcionamento simbólico segundo o uso do objeto. Se a função ordinária implicaria uma ação direta, uma verdadeira instrumentalização do objeto enquanto ferramenta/material de não possuíam qualquer planejamento, manifesto ou invocação para o coletivo (Cf. Aula concedida em 10 de abril de 2007 no auditório da Universidade Candido Mendes – Campus Ipanema durante o curso Arte e Cultura no Brasil: anos críticos, 1958-1972 – ministrado pelo próprio, pelo autor e pelo pesquisador Frederico Coelho -, Rio de Janeiro; documento inédito). 120 Depoimento de Nelson Leirner. In: CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 83. 121 Em depoimento ao jornal O Estado de São Paulo, em 1967, Leirner traça as diferenças entre as invenções da Galeria Seta e a sua experiência artística, junto ao Grupo Rex, então recentemente finda: “Durante um ano, mais ou menos, mantive junto com Geraldo de Barros e Wesley Duke Lee a Galeria Rex, num regime deficitário. Esse déficit era previsto e fazia parte da experiência artística que realizávamos, e não podemos considerá-lo prejuízo. O caso agora muda de figura, já que existe um processo de industrialização que tem que ser pago. Se não vender os quadros, o prejuízo é certo” (Cf. CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 72). 86 fabricação, a função artística o remete antes a uma metáfora. O modo de funcionamento apenas dependeria das circunstâncias em que a experiência se realiza. A ironia ilustra o fato – evidente – de que, na prática, nós não criamos significado fora de situações particulares. A criação de significados é sempre uma atividade que ocorre num contexto específico. Por causa disto, o que a maioria dos lingüistas chama de “uso” 122 – e o que Saussure chamou de “fala” – levou algumas pessoas a argumentar que toda linguagem é irônica: “Meu significado não é necessariamente o mesmo que o significado que você me atribui. E nenhum dos nossos significados está necessariamente de acordo exato com as ‘coisas como são’” 123 . O que estamos sugerindo é que para tratar da questão do significado irônico, você tem de ir além de conceitos tradicionais de semântica, nos quais se discute o significado em termos de condições de verdade ou da relação de palavras com coisas, e olhar também para a pragmática, para a troca social e comunicativa da linguagem. Parece não haver outra maneira de falar sobre o estranho fato semântico de nós podermos usar a linguagem para transmitir mensagens que são diferentes do que estamos realmente dizendo. Este conceito ganha um exemplo na seguinte passagem de Nelson Leirner sobre os múltiplos da série Homenagem a Fontana. Neste depoimento, parece ficar clara não apenas a confusão gerada pelos múltiplos no âmbito do colecionismo, mas, sobretudo, uma característica singular do artista: destruir um dogma para colocar em seu lugar uma outra possibilidade de encarar o papel da arte e do artista na sociedade liderada pelo capital. Variações da ironia. Mutações da ironia na linguagem: Quando fiz minha primeira exposição de múltiplos, perguntas como estas eram dirigidas a mim: ‘E agora que eu queria comprar dois ou três de seus trabalhos, sendo todos iguais, como devo fazer? Ou ‘você pode escolher o melhor?’ E quando eu trabalhei neles usando zíper e tecido, chegaram a me perguntar se eu era alfaiate. E, mais ainda, toda uma insegurança do colecionador, que via no múltiplo um perigo ao valor da obra única (...) ‘Se isto pega, o que vai ser da minha coleção de quadros?’ Mas poucos estavam percebendo que aquela manifestação artística era um grito dado pelo artista tentando mostrar muito mais 122 GIBBS, Raymond. Literal meaning and psychological theory. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 90. 123 MARTIN, Graham. The bridge and the river: or the ironies of communication. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 90. 87 sobre a sua função dentro da sociedade do que a criação do objeto em si como obra de arte.124 Solicitar ao artista que escolhesse “o melhor” dimensiona a capacidade do artista de desestruturar ou abalar as “verdades” consagradas pelo meio. Observamos, portanto, que o significado irônico, na prática – em seu contexto artístico/comunicativo – é algo que “acontece” mais do que algo que simplesmente existe. E ele acontece no discurso, no uso, no espaço de exibição, na proposta do artista e do público. Discute-se agora portanto quem é esse artista que cede o seu espaço para o absurdo, sai de cena e deixa a obra como um elemento de compulsão pela massa enfurecida. A obra que tinha o dever de trazer a imortalidade recebeu agora o direito de matar, de ser assassina de seu autor. A marca do artista (autor) não é mais do que a singularidade de sua ausência. O artista torna-se agora um fundador de discurso: por meio de sua obra, ele estabelece uma possibilidade infinita de discursos ao espectador. Queremos dizer que os artistas - por meio de seu discurso irônico – não tornaram apenas possível um certo número de analogias, eles tornaram possível (e tanto quanto) um certo número de diferenças. Abriram o espaço para outra coisa diferente deles e que, no entanto, pertence ao que eles fundaram. Como alerta Foucault no discurso de O que é um autor? no qual discute as bases do que seria a chamada autoria de um texto ou de uma obra e a função desse “criador” na interpretação da obra pelo público, “o autor não é uma fonte infinita de significações que viriam a preencher a obra, o autor não precede as obras. Ele é um certo princípio funcional pelo qual, em nossa cultura, delimita-se, exclui-se ou seleciona-se” 125. Era o princípio pelo qual se entrava a livre circulação, a livre manipulação, a livre composição, decomposição e recomposição da ficção que o artista cria. Se temos o hábito de apresentar o artista como gênio, como emergência da constante novidade, é porque nós o fazemos funcionar de uma maneira inversa. Segundo Foucault, “diremos que o autor é uma produção ideológica na medida em que temos uma representação invertida de sua função histórica real” 126. O papel do artista e a transmissão de mensagens que a obra oferece ao espectador assim como a leitura (irônica ou não) da mesma é a armadilha a qual a arte se presta. Como observa Cildo 124 CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 75. FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: _______. Estética: literatura e pintura, música e cinema, op. cit., p. 288. 126 Idem, ibidem. 125 88 Meireles em sua síntese sobre esse processo ardiloso de interpretação da obra, muitas vezes decodificada como irônica, sem pretender ser, ou o processo de frustração dessa operação. O artista anuncia que a obra pertence ao mundo: Quando você está fazendo um trabalho, você faz porque quer ou pretende falar alguma coisa sobre aquele assunto para alguém. Agora é claro que a pessoa receberá aquilo, se relacionará com aquilo, de acordo com a sua sensibilidade. E, portanto, ela poderá ir além do que qualquer artista tenha proposto. Penso que esse também é o objetivo da arte. Em certos momentos, o artista tem a presunção de dar um start. É um pouco a ilusão de um arquiteto que tivesse que desenhar uma cidade inteira, desconhecendo-se que a cidade tem vida própria. Na verdade, ele é o arquiteto da cidade inteira, até um certo ponto; a partir de um certo ponto, a cidade se faz: os habitantes da cidade vão desempenhar um papel tão ou mais importante que a estrutura, que o próprio iniciador, que o próprio arquiteto. Então, talvez ocorra uma sensação de frustração, por você não ter conseguido chegar até aonde a pessoa chegou, ter visto o que ele viu ali. 127 O que especifica um autor é justamente a capacidade de remanejar, de reorientar esse plano discursivo que a obra acaba oferecendo ao espectador. As vanguardas artísticas do século XX e notadamente a “beleza da indiferença” de Duchamp recusaram a função de autor como figura máxima da criação e da interpretação do mundo, permitindo uma vez mais à ficção funcionar de acordo com outro modo, mas sempre segundo um sistema obrigatório que não será mais o do autor, mas que fica ainda por determinar, abrindo permanentemente um campo de experimentação para o objeto. O artista adentra no território da ficção: nem verdade nem mentira, mas como Tunga alerta, ficção: O artista trabalha com o exercício da ficção no território da credibilidade, da verdade, e pode aparentemente passar por mentira. Portanto, uma mentira, uma falsa notícia, uma ficção pode mudar o destino de coisas reais e concretas de uma maneira tão eficaz quanto uma informação verdadeira. Na arte, esse processo também funciona assim, no sentido que você tem a construção da ficção, e esta pode acontecer. Na arte, pode acontecer da ficção ter uma conseqüência num 127 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). 89 campo onde não se esperava que ela se inscrevesse. Isto pode acontecer no campo ético ou do comportamento; este é um dos territórios conquistados pela arte contemporânea e que de jeito nenhum cabe ficar no limbo de que a ética da arte é salvaguarda de qualquer confusão nesse gênero. Penso que a arte é, antes de tudo, honesta e procura a verdade. Então, não é preciso falar de mentira neste sentido; é preciso falar de ficção. 128 A respeito da duplicidade (mentira/ironia), vários autores já escreveram a respeito129. Devemos ressaltar, entretanto, a idéia de que a ambigüidade irônica reside no fato de que o enunciador, ao mesmo tempo que simula, aponta para essa simulação. Podemos compreender a ironia como uma simulação ou dissimulação que é arquitetada deliberadamente para ser desmascarada. Diferentemente da mentira, em que a simulação pretende se passar por verdade, o engano irônico se oferece para que o receptor o adivinhe ou perceba como engano. Nesse sentido, a dissimulação só se torna irônica no momento em que é denunciada ou percebida como tal. A ficção invade o território do real. Em 1986, a Academia Performance instala-se no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Como qualquer academia de ginástica, o lugar era repleto de aparelhos de musculação para quem deseja “manter-se em forma”. Márcia X., a idealizadora da “academia”, pensou em “ocupar a Academia Performance com performances variadas, transformar o espaço numa ampla ‘instalação’, transmutar os aparelhos em obras de arte readymade, exercitar o corpo em manobras imprevistas sem objetivos estéticos etc.” 130. O evento durou apenas uma noite de exercícios: a artista, vestida com uma espécie de vestido plástico de ginástica, exercitou-se pelos mais diversos aparelhos, fez demonstrações, movimentou uma máquina de pintura, levantou halteres. A artista divulgou na ocasião o texto Noite de artes marciais, do qual reproduzimos um trecho: “Exercícios, testes físicos, testes de tolerabilidade a matérias de teor experimental e de adaptação às condições dadas, representam um grande passo na transformação de toda atuação artística num labor-arte” 131 . No momento em que discutimos a relação cada vez mais próxima entre arte e vida, Márcia X. já havia nos 128 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2006 (documento inédito). Podemos citar René Schaerer e Beth Brait, por exemplo. 130 BASBAUM, Ricardo. X: percursos de alguém além das equações. In: GERALDO, Sheila Cabo (Org.). Concinnitas: arte, cultura e pensamento. vol.1. n.4. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Arte, Instituto de Artes, UERJ, 2003, p. 165-173. 131 Idem, ibidem. 129 90 antecipado esse comprometimento de uma maneira irônica, mas clara. Onde fica essa fronteira? O que é encenação e o que fica compreendido como real? Do que se trata, afinal, uma experiência artística? Muito provavelmente o “X.” de Márcia vem daí. Essa exposiçãoacontecimento-happening é mesmo um diálogo sobre o circuito de arte (a participação de cada elemento desse mecanismo) e mais do que isso, a apresentação dos atores sociais da cidade e suas relações inter-pessoais numa camada comunicativa chamada Academia Performance. Em 1988, Márcia X. organiza Exposição de ícones do gênero humano. A proposição consistiu em construir uma estratégia de exibição em que os próprios convidados para o vernissage de uma exposição da artista fossem as obras, os chamados “ícones do gênero humano” 132 : diversidade composta por aqueles atraídos pelas situações culturais, personagens do microuniverso das artes visuais. Como escreveu a artista no convite da exposição: “Convite extensivo a artistas e habitués (marchands, críticos, galeristas, colecionadores), juntamente com representantes do fenômeno fã-clubista e público em geral, que a partir desta coletiva passarão a figurar num mesmo quadro estatístico e fotogramas de flagrante”. A obra foi feita ou dividida em dois dias. No primeiro, constituiu-se como uma exposição em que os convidados eram as obras: galeria vazia, as pessoas encontravam-se para conversar, beber, comentar, ver e ser visto. Um livro de assinaturas especialmente feito para a ocasião, intitulado Minha cara Marlene, celebrava a presença, entre os convidados, do fã-clube oficial da cantora Marlene, conectando o acontecimento à movimentação do fanatismo pelos artistas. Nessa imagem da artista cercada de fãs ressoa um traço peculiar dos anos de 1980, em que o artista diversas vezes retratou a si mesmo como “celebridade”, isto é, procurando pensar seu lugar de inserção social de modo semelhante aos pop stars tal como Jeff Koons fez, aventurando-se a discutir o perfil do artista em diálogo com o universo da mídia. Esse período é marcado pela ideologia do sucesso, e tem o “artista como celebridade” como o principal personagem desta virada da arte em direção ao espetáculo. Um artista que não recua diante do confronto com a dimensão imagética do mundo, mas que dimensiona sua atuação dentro da “sociedade do espetáculo” no sentido de tomar parte do “jogo do espetáculo comunicativo”, defrontando-se com as questões da massificação, do consumo e da publicidade. A estratégia 132 Idem, ibidem. 91 de comunicabilidade (e ironia frente ao mass media) passa pela construção do personagem Jeff Koons como “ferramenta de comunicação”, promovendo a si mesmo a um papel paradigmático e auto-referenciado, como observamos nesse trecho da entrevista concedida pelo artista ao crítico Robert Stoor e publicado na revista Art Press, em outubro de 1990:: “Tudo o que tento fazer é deixar o devir Jeff Koons se manifestar (...) ir ao topo de meus limites” 133. É muito importante que Márcia X. tenha insistido em construir seu lugar de visibilidade como artista em meio à exposição de ícones, pois essa estratégia conduziu à segunda etapa do trabalho, com a documentação fotográfica dos diversos “ícones do gênero humano”. No dia seguinte, a galeria foi ocupada com esse material documental, e todos aqueles que haviam estado presentes na noite anterior eram esperados para apreciar as imagens, agora nas paredes da sala de exibição. Estava exposto, identificado, apontado e imortalizado o mais canibalizador momento das artes visuais: a estranha cerimônia de inauguração de exposições. 133 Cf. BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual. Porto Alegre: Zouk, 2007, p. 131. 92 CAPÍTULO 3 AS DIFERENTES TÁTICAS DE UM PROCESSO COMUNICATIVO PELA IRONIA 3.1 Antecedentes de uma massa enfurecida: Flávio de Carvalho e a ironia do absurdo Como ressaltamos, essa tese não se propõe a fazer um levantamento histórico de todas as obras com acento ou potencial irônico realizadas no século XX e início desse século no Brasil, mas sim um atravessamento de propostas/ações/situações/obras que ao longo desse período podem ser entendidas como “estudo de caso” para o fenômeno dos fluxos da ironia. A escrita da tese não pretende ser cronológica mas assim como a ironia estabelecer ou apresentar uma multiplicidade de fluxos. As “histórias” que são assinaladas nessa tese são conectadas pelos seus contextos ou conceitos, e nem sempre com a linha do tempo. Estamos na cidade de São Paulo no ano de 1931. Percorrendo em sentido contrário a procissão de Corpus Christi 134 , que se arrasta lentamente pela Rua Direita em direção à Praça do Patriarca, com seu boné de veludo verde, Flávio de Carvalho teve a oportunidade com essa experiência (chamada de Experiência no 2) de ver atentamente as conseqüências 134 Carvalho não percorreu o cortejo apenas uma vez (apesar de somente numa única oportunidade ter feito o percurso no sentido contrário ao da procissão), mas faz várias movimentações ao redor e por dentro do mesmo, sempre vestindo o boné apesar da massa sempre adverti-lo ou olhá-lo agressivamente antes de enfurecer totalmente e querer linchá-lo. 93 de uma multidão enfurecida, e no seu quase linchamento poder “desvendar a alma dos crentes por meio de um reagente qualquer que permitisse estudar a reação nas fisionomias, nos gestos, no passo, no olhar, sentir o pulso do ambiente” 135 . Segundo o noticiário do Estado de São Paulo em 9 de junho de 1931: Os crentes que acompanhavam o cortejo, revoltaram-se com essa atitude e exigiram em altos brados que ele [Flávio de Carvalho] se descobrisse. Ele, no entanto, sorrindo para a turba, não tirou o chapéu, embora o clamor da multidão já se tivesse transformado em franca ameaça. 136 É interessante notar que a multidão gradativamente vai notando aquele elemento estranho e perturbador à ordem. Aos poucos, a massa de crentes torna-se cada vez maior contra Carvalho (“apenas os velhos e as crianças permanecem isolados dessa massa furiosa”, diz ele). Em determinado momento da experiência, Carvalho permanece parado no meio do cortejo e é advertido a “tirar o chapéu”. Um conhecido tenta rapidamente, para não se comprometer, convencê-lo do ato. Flávio de Carvalho não o faz. Nesse momento, é empurrado, sacudido violentamente e o chapéu é arrancado de sua cabeça. “Via apenas um tumulto de braços, pernas e gente que continuava a gritar ‘tira o chapéu’, conservando uma distância de 3 metros de mim. Pareciam querer avançar, mas estavam indecisos, gesticulavam muito” 137 , observa Carvalho. Logo depois de ter o seu chapéu retirado pela massa, o mesmo é oferecido por um componente da multidão no seguinte tom: “Ponha se for homem!”. Diante da massa enfurecida, resta a ele apelar para a realidade e responder da seguinte forma: “Eu sou apenas um, vocês são centenas”. O artista é provocado a brigar com o coletivo, mas o desenlance não ocorre. Ele está nesse momento cercado. Não há muito o que fazer diante da fúria que foi arregimentada e grita incessantemente “lincha” ou “mata”. Carvalho corre por entre a multidão, iniciando uma perseguição que termina no telhado de um prédio onde funcionava uma leiteria, na Rua São Bento. Cercado pela massa (“permanecendo imóvel, em contemplação introspectiva, começava a ter medo” 135 138 ), ele é Cf. CARVALHO, Flávio de. Experiência n.2: realizada sobre uma procissão de Corpus-Christi, uma possível teoria e uma experiência. Rio de Janeiro: Nau, 2001, p. 16. 136 Idem, p. 4. 137 Idem, p. 23. 138 Idem, p. 40. 94 salvo pela polícia. Primeiro, entretanto, foi preso, mas logo em seguida liberado, sendo acusado pela polícia tão só somente de “comunista”. São esses momentos que interessam a Carvalho: estudar o comportamento das massas e traçar um estudo psicológico do indivíduo quando este está em grupo no instante em que acontece um fato moralmente ofensivo a uma instituição que defende. 139 No mesmo ano da experiência, Carvalho publica um livro - que mais do que uma explicação conceitual sobre o caso, transforma-se em parte dessa mesma criação e se torna o único registro da experiência, visto que nenhuma foto foi motivo de documentação da performance – narrando os acontencimentos e as reflexões causadas pela experiência e dedicando-o a “S. Santidade o Papa Pio XI e a S. Eminência D. Duarte Leopoldo”. O teor do livro narra em tom aventuresco as peripécias pela qual Flávio de Carvalho passou. A publicação possui uma aproximação fortemente influenciada por Freud, que por sua vez dialoga com as tensões sofridas pelo artista antes, durante e depois do acontecimento/provocação/experiência. A ironia, mas traduzida como absurdo por essa massa de crentes enfurecidos, é transformada em ousadia, risco, vivência do desconhecido 140 (Carvalho entende a multidão e o seu fervor religioso como “pontos de refúgio muito procurados pelo homem para esconder a sua inferioridade”; segundo ele, “o homem parece procurar sempre um ponto de segurança anímica, um atrativo, uma imagem encantada que satisfaça a sua necessidade de exaltar o Eu” e portanto, “as aglomerações se refugiam sob a proteção dessas imagens fetiches; a mulher encantadora, a santa, a virgem, o chefe, o Cristo, o deus, a pátria, são refúgios comuns da aglomeração em perigo” 139 141 ). A ironia É interessante notar que essa insurgência contra a massa católica e o cotidiano provinciano já surge na palestra proferida durante o IV Congresso Pan-americano de Arquitetos, realizado em 1930 no Rio de Janeiro. Na sua apresentação, intitulada “A cidade do homem nu”, Carvalho começa conclamando: “cumpre a nós, povos nascidos fora do peso das tradições seculares, estudar a habitação do homem nu, do homem do futuro, sem deus, sem propriedade e sem matrimônio (...) [urge, se contrapor às] concepções cristãs da família e da propriedade privada”. Segundo Carvalho, há que se romper com a veneração do passado: “O homem máquina do classicismo moldado pela repetição contínua (...) não pode aturar mais a monotonia dessa rotina, [ele precisa] apresentar-se nu, sem tabus escolásticos, apresentar sua alma para pesquisas; procurar a significação da vida” (In: MORAES, Antonio Carlos Robert. Flavio de Carvalho: o performático precoce. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 25). A ironia é a passagem do “homem nu” para os estudos de moda que Carvalho realizará na década de 1950, com a apresentação do traje New look (1956). Nas palavras de Flávio de Carvalho, “os povos necessitam da moda para sua estabilidade mental. O equilíbrio do curso da etapa histórica também necessita da moda. A moda funciona como reguladora mental dos povos”. Enfim, ela articula o indivíduo com a história, “hipnotiza o homem no seu roteiro inevitável” (Idem, p. 72-73). 140 Cf. OSORIO, Luiz Camillo. Flávio de Carvalho. São Paulo: Cosac & Naify, 2000, p. 19. 141 CARVALHO, Flávio de. Experiência n.2: realizada sobre uma procissão de Corpus-Christi, uma possível teoria e uma experiência, op. cit., p. 144-145. 95 estava, no primeiro momento, concentrada na idéia e provocação de Carvalho ao cortejo, mas o circuito que ela traça e amplia fogem ao controle do ironista. A conseqüência disso foi o tipo e a intensidade da resposta dada pelos fiéis e por conseguinte a saída ou fuga intempestiva de Carvalho que não estava planejada. O artista compara no livro o cortejo religioso a uma parada militar (“a pátria numa parada nacionalista funciona como o Cristo numa procissão” 142 ). Conclui que a religião e a pátria têm prática semelhantes e são maleáveis ao desejo do homem. Facilmente moldam Cristo e a pátria à sua semelhança (“a presença de um reagente provocador e humilhante como era a minha presença, perturbava de maneira deplorável a piedosa exultação narcisista mais do que qualquer outra aglomeração, e destacava com mais contraste o sentimento antitético de adoração e ódio”, sendo assim, “para mim, [a experiência consistiu numa] “bipolarização que parecia oscilar entre o Cristo e eu” 143 ). O homem busca a religião pela “ilusão da onipotência”, pelo medo. O cortejo é, para a massa, um “gozo narcisístico”. Ao impedi-lo, o artista transforma-se no “concorrente do Deus-pai”. Passa a funcionar como “monopolizador sexual e como objeto totemizado”. As mulheres, segundo Carvalho, vêem heroísmo no competidor que passa a dividir com Cristo “os favores do ajuntamento de caras pálidas e véus brancos”. “Eu humilhava a virilidade”. O linchamento seria um meio de rebaixar o totem. Carvalho termina a sua obra propondo a tarefa de desacreditar Deus, pois a religião seria um refúgio que traz a rotina e leva o homem à “uniformidade imbecil” 144. Também observamos no decorrer da estrutura narrativa que Carvalho partiu de uma posição inicial, isenta e fria, e foi levado pelo pânico a um total descontrole de suas emoções, fugindo da massa irada até uma claribóia, de onde só saiu quando a polícia deu garantias de sua sobrevivência. Sua atitude irônica nada mais era que uma experimentação que buscava testar e entender a agressividade de uma multidão religiosa e os seus limites de civilidade e moral. A consequência disso foi a vivência de dicotomias como civilização e barbárie, repouso e ação, humanidade e animalidade. A forma como Carvalho é notado, observado e analisado pela massa chama muito a atenção quando tomamos conhecimento do seu livro. Há uma espécie de imitação e frenesi coletivo pela ação daquele homem. A imitação, compulsória ou espontânea, eletiva ou 142 Idem, p. 51. Idem, p. 54-64. 144 Idem, p. 25-42. 143 96 inconsciente, transforma a descoberta individual num fato social. A opinião, a idéia ou o desejo de um elemento daquele cortejo torna-se progressivamente a opinião, a idéia ou o desejo de um grande número. À questão de saber sobre o que repousa esse fenômeno de imitação de um indivíduo por outro, depois por uma multidão, o sociólogo francês Gabriel Tarde responde que ele provém da “sugestão”, que não é mais que uma forma de “hipnotismo”. Para esse teórico, desde sempre o estado social é um estado hipnótico. Para Tarde, toda a vida social e, por conseguinte, toda opinião, reduz-se em última instância a uma sugestão: “O estado social, como o estado hipnótico, não é senão uma forma do sonho, um sonho imposto e um sonho em ação. Ter apenas idéias sugeridas e julgá-las espontâneas, tal é a ilusão do sonâmbulo, e também desse homem social” 145. Tarde deixa a mostra que se temos hoje o sentimento de sermos mais autônomos, é porque a sugestão tornou-se mútua. Nesse sentido, naquele cortejo, cada um daqueles elementos agiu sobre todos; cada indivíduo sugerido “sugere” a seu redor. A relação de hipnotizador a hipnotizado não desapareceu, simplesmente tornou-se recíproca ou alternativa. Em outras palavras, o fenômeno social não reside fundamentalmente no sentido da opinião, num conteúdo particular de que aqueles elementos do cortejo seriam portadores, mas no fato de opiniar no mesmo sentido – teoricamente, qualquer que seja esse sentido. O coletivo promove a adição e o reforço de similitudes entre seus pares, que tem anulado, por sua vez, o caráter de “diferença”. A questão do sentido não se coloca portanto, e isso tanto mais que o critério de “verdade” de uma opinião só se encontra em potência quantitativa, ou seja, no número de indivíduos que a partilham. “A verdade de uma idéia, no sentido social da palavra, aumenta na medida em que a fé nessa idéia se expande num maior número de espíritos de igual importância social e fortifica-se em cada um deles. Ela diminui no sentido inverso” 146 . Portanto, para esse teórico, da mesma forma que o uso de um bem define seu valor econômico, o uso de uma opinião define seu valor de verdade. Dessa forma, o vínculo social realmente moderno, ou seja, o nosso, é a opinião pública e não uma verdade determinada; a opinião deixa de ser uma realidade individual para se tornar um fato antes de mais nada coletivo (“os protestos aumentavam. A multidão me comprimia: o ambiente 145 146 TARDE, Gabriel. A opinião e as massas. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 20. Idem, p. 22. 97 estava pesado e hostil” 147 ). É por meio da conversação entre a multidão que a notícia de que Carvalho está caminhando (de chapéu) e em sentido contrário ao deles é repassada. Logo uma rede comunicativa é montada contra esse ato (agressivo) ao pensamento coletivo e à Deus, fundamentalmente. Uma segunda forma de associação humana é montada dentro dessa multidão, limitada de início a certas categorias de pessoas, gradualmente ampliadas com a informação sobre esse corpo estranho, e sendo transmitida de uma forma brutal, com uma convicção mesmo fanática, do orgulho mesmo desvairado, que se torna contagioso. A formação dessa multidão é vista pelo próprio grupo de uma forma totalmente legal e ao mesmo tempo urgente (“o panorama era realmente curioso; um alto potencial de ódio pairava sobre uma massa, exigindo uma saída” 148): notamos, portanto, a maneira como um pensamento ou uma vontade entre milhares se tornará dirigente e pela maior ou menor facilidade que nela é oferecida à propagação do pensamento e da vontade dirigente. Lançando um olhar histórico, traçamos vinculações entre essa experiência e as performances dadaístas e futuristas (lembremos do traje “masculino para climas quentes” New look de Carvalho e as associações possíveis com o figurino dos balés futuristas), situações que só ganhariam um corpo extenso e mais bem definido nas décadas de 1960 e 1970. Examinando um pouco mais sobre essa observação podemos refletir sobre a experiência de cidade e o espaço público que é destinado aos seus cidadãos e como a ironia (à essa fronteira) é operada. Qual é o limite que podemos circular e o que podemos fazer nesse espaço dito público? Nesse momento, traçamos uma singular comparação entre Experiência no 2 e Following piece (1969), de Vito Acconci, quando o artista segue a cada dia uma pessoa, escolhida aleatoriamente, dentro do espaço da cidade durante 23 dias. Essa pessoa é perseguida até o momento em que adentra num espaço privado. Se a pessoa entrasse no cinema ou num restaurante, por exemplo, a perseguição continuava. Nos dois artistas, temos portanto o espaço público como um “espaço de encontro”, onde regras de conduta são postas de lado em nome do “público”, espaço dado ou transferido “gratuitamente” ao cidadão, que faz dele o que bem entender. De forma premonitória, temos um dos primeiros casos no Brasil de um teste sobre os limites da experimentação artística e “desatrelamento das amarras institucionais”, colocando em xeque o senso comum 147 CARVALHO, Flávio de. Experiência n.2: realizada sobre uma procissão de Corpus-Christi, uma possível teoria e uma experiência, op. cit., p. 20. 148 Idem, p. 24. 98 e as normas convencionais de uma sociedade tradicional e pouco afeita ao “novo” em se tratando, ainda mais, de temas como religião, vestimentas, moral e política. Entretanto, como observa Osorio, “o fato de [Experiência no 2] não ter sido tomado como manifestação artística, dá ao acontecido um acento mais trágico, o de pôr-se à mercê do destino” 149. Mas ele conclui que a Experiência no 2 pode ser tratada artisticamente, pois “a interdisciplinariedade, a opção antiinstitucional e a procura por brechas no cotidiano para desafiar seus parâmetros de orientação subjazem a muitas dessas práticas performáticas” 150 . A experiência do artista é, justamente, a de um homem capaz de penetrar o mundo para atingir as raízes que a sustentam e para desvelar o entremeado de fios que articulam sua consistência. Entre a experiência comum e a experiência artística não podemos estabelecer uma ruptura radical e, sim, revelar a estreita comunicação entre ambas, pois, “a experiência artística é uma forma peculiar da experiência do ser-no-mundo, e como tal, completamente engajada nas estruturas existenciais, plenamente participativa do mundo” 151 . Flávio de Carvalho levou ao extremo o conceito de Merleau-Ponty em O olho e o espírito (“emprestando seu corpo ao mundo é que o pintor transforma o mundo em pintura”). Para dar conta do modo como se realiza esse empréstimo e, com ele, a transformação “do mundo em pintura” exige-se a compreensão do corpo como evento de realização contínua, isto é, como corpo operante, movido não apenas ao desejo de Carvalho mas pelo efeito da massa, da expressão do mundo: emprestar o corpo para que seja o cenário da manifestação. Ter o corpo é ter o movimento que nos dirige às coisas que vemos e aos “outros” que também vemos em movimento. A idéia fenomenológica do corpo como esse duplo paradoxo (vidente/visível) aparece em Carvalho como “mundo”: ver o mundo é fazer o mundo e não simplesmente apropriar-se daquilo que se vê. Ao ver, a visão de Carvalho “jorra” redes de relações com as coisas, estabelece um estranho sistema de trocas, de fusões, irrelevantes, quiçá, para a experiência ordinária, mas que para a experiência artística constituem, de uma parte, a matriz dos problemas e das soluções e, de outra, o modo da participação e do êxtase, com o mundo. 149 OSORIO, Luiz Camillo. Flávio de Carvalho, op. cit., p. 20. Idem, ibidem. 151 GÓMEZ, Diego Léon Arango. Experiência e expressão artísticas como fundamentos para uma crítica da arte em Merleau-Ponty. 1991. Tese (Dissertação em Filosofia) – Departamento de Filosofia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 82. 150 99 Na tensão entre o eu e o mundo, a experiência antropológica/artística de Carvalho, que também incorporou a ironia, buscava uma intervenção selvagem desse fenômeno chamado “coletivo” que expressava violentamente os seus desejos. Ser uma experiência, portanto, é comunicar interiormente com o mundo, o corpo e os demais, ser com eles em ver de ser ao lado deles. Como afirma Merleau-Ponty, “o mundo fenomenológico é senão o sentido que transparece na intersecção das minhas experiências e na interseção das minhas experiências com as do outro” 152 . Nesse sentido, se fizermos uma analogia entre o corpo quase sacrificado e concretamente exposto de Carvalho e a massa, pensar esse corpo significa recuperá-lo na instância que antecede ao mundo objetivo, como sendo anterior às objetivações, tematizações e predicações que a consciência possa estabelecer sobre ele. Isto significa querer assumi-lo tal como ele se dá na experiência e no mundo natural, como um ser em seu estado “bruto”, “selvagem”, antes que a consciência e o pensamento possam moldá-lo, defini-lo. Recuperar o corpo é localizá-lo, situá-lo e descrevê-lo nas formas primeiras do seu estar, do seu ser no mundo, como sendo o prévio da experiência. Antes da aquisição subjetiva, pessoal, que faz do corpo “este corpo”, “meu corpo”, estar em posse dele é tê-lo como ser vivente, como uma existência anônima e, no entanto, conformando uma unidade sistemática, complexa e inata, que nos é dada pelo fato de existir como seres vivos 153 . Para Merleau-Ponty, a “apreensão de mim por mim é coextensiva à minha vida como sua possibilidade de princípio, ou, mais exatamente, essa possibilidade sou eu, eu sou essa possibilidade e, por ela, todas as outras” 154 . Ter o corpo é ser uma experiência; corpo e experiência se confundem numa dinâmica cuja unidade e poder visam à constituição de uma subjetividade – de novo porte – e à instauração de um mundo, como horizonte de realização pessoal (“o mundo não é o que eu penso, é o que eu vivo”). Experiência é também o campo de encontro onde se cruzam e inter-relacionam os homens, as coisas e as perspectivas que os seres-no-mundo estabelecem, na expansão das suas existências particulares. É um campo de comunicação onde os seres se captam, se percebem, estabelecendo relações de afinidade ou não, participando de perspectivas que lhes são comuns e que os vinculam. 152 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 19. Cf. GÓMEZ, Diego Léon Arango. Experiência e expressão artísticas como fundamentos para uma crítica da arte em Merleau-Ponty, op. cit., p. 41. 154 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. São Paulo: Perspectiva, 1992, p. 63. 153 100 3.2 A ironia como subversão: as táticas dessa prática no cenário artístico brasileiro contemporâneo O conceito de uma ironia subversiva e de oposição possui uma tradição na história da arte brasileira no século XX, na qual o uso que a sátira faz dela tem um papel igualmente importante. O funcionamento subversivo da ironia costuma ser ligado ao conceito de que ela é um mode de autocrítica, autoconhecimento e auto-reflexão 155, que tem o potencial de desafiar a hierarquia dos próprios “locais” do discurso, uma hierarquia baseada em relações sociais de dominação, assim como minar e transformar este status quo. O conceito de ironia como “contra-discurso” 156 tornou-se um dos principais suportes de teorias de oposição que atacam tais hierarquias. Como estratégia, a ironia passa a ter uma intimidade com os discursos dominantes que ela contesta: nisto reside sua força, pois ela permite ao discurso irônico tanto ganhar tempo (ser permitido e até ouvido, mesmo que não entendido) quanto “tornar relativas a autoridade e a estabilidade [do dominante]” 157, em parte apropriando-se de seu próprio mecanismo de circulação de poder, como é o caso de Inserções em circuitos ideológicos (1970), de Cildo Meireles. Essa intimidade, assim, é o que torna a ironia potencialmente uma estratégia de oposição eficaz. Mas, por outro lado, a intimidade também pode ser vista como cumplicidade. O limite entre a eficácia da ação, a qual o artista se propôs, e a vulnerabilidade deste objeto ser reassimilado aos modos de poder e conhecimento que se busca romper, é tênue. Aqui se coloca o mercado de arte, como personagem desta política irônica. O colecionismo e a voracidade do mercado em adquirir objetos, que no caso de Inserções, como uma de suas práticas, é uma ação contra este mesmo agente capitalista, para se auto-sustentar, mostra até que ponto este circuito irônico pode chegar. Nesse ponto, Lygia Pape estabeleceu uma fronteira nesse circuito de “apropriação canibalista” pelo mercado: 155 WHITE, Hayden. Metahistory: the historical imagination in Nineteenth-century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973, p. 37. 156 TERDIMAN, R. Discourse/counter-discourse: the theory and practice of symbolic resistance in Nineteenth-century. Londres: Cornell University Press, 1985, p. 12. 157 HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 83. 101 Eventualmente vendo uma obra, mas não produzo sistematicamente para o mercado. Acho que criar, inventar é correr riscos (...) Não me interessa realizar uma obra que dá certo e depois fazer dez outras iguais para atender ao mercado e ganhar muito dinheiro. Não é que considere essa atitude antiética, mas me dá um certo tédio (...) Durante muito tempo trabalhei fora desse circuito. Não me interessava em vender obra alguma (...) Atualmente, já admito a galeria – isto tem muito pouco tempo, nem dez anos – porque acho que ela assumiu um lado cultural de divulgação da obra. Eventualmente, pode até estar mais interessada em vender, mas ela é hoje um espaço para se mostrar a obra. Chega um momento em que você tem de mostrar e atualmente os museus não têm mais condições econômicas para fazer, a toda hora, grandes exposições. A galeria tem uma dinâmica cultural de divulgação do trabalho que acho muito interessante. É rápido, o trabalho circula. A galeria hoje me é simpática. Esse meu preconceito ficou mais atenuado. 158 Outras vezes, é a ironia que faz uso de uma violência numa tentativa de situar quem é mais feroz nesse campo. O artista questiona e parece que essa pergunta não tem resposta: “Você quer me comprar? Então compre isto!”. Esse é o caso de um projeto de exposição de Maurizio Cattelan. Deixemos a descrição do mesmo com o artista: Houve [um projeto] que foi recusado para uma exposição coletiva sobre a violência na galeria Andrea Rosen. Eu não queria exibir algo já produzido, então eu disse: ‘Posso dar a vocês uma obra nova’ (...) A idéia era ter um cachorro preso na coleira, e que a coleira fosse tão longa quanto um dos lados da galeria. Quando você entrasse no espaço, teria a impressão de que o cachorro estava correndo em sua direção. Eu queria um cachorro bem agressivo, com muita maldade.159 A ironia carrega uma linguagem que podemos entender como acusadora de mentir para si própria e mesmo assim apreciando seu poder. Que a ironia possa ser usada como 158 PAPE, Lygia. Lygia Pape: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998, p. 23-24. 159 CATTELAN, Maurizio. Entrevista a Hans Ulrich Obrist. In: OBRIST, Hans Ulrich. Arte agora em 5 entrevistas: Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Olafur Eliasson, Cildo Meireles, Rirkrit Tiravanija, op. cit., p. 24. 102 uma arma, sempre se soube: a humilhação social e a farpa satírica têm seus corolários até na autoridade que os críticos exercem sobre os textos através de sua atribuição de ironia. Isto é o que chamamos de “posições” que a ironia possui em suas formas verbal e estrutural que faz com que esteja em jogo aqui mais do que está em jogo, digamos, no uso da metonímia. Contudo, se “as armas da ironia apontam para todos os lados”, então, qualquer um pode vir a estar na linha de fogo. É quase, como se, em termos éticos (e os discutiremos a seguir), a ironia fosse inescrutável. Mas não fará mal algum lembrar que nenhuma posição epistemológica ou ideológica jamais é intrinsecamente certa ou errada, perigosa ou segura, reacionária ou progressista. E o ponto de vista irônico não é uma exceção. O interesse desta pesquisa numa política transideológica ou, mais especificamente, nos “fluxos” da ironia foi o que sugeriu a necessidade de uma abordagem da ironia que não a tratasse como um tropo retórico limitado ou uma atitude mais ampla de vida, mas uma estratégia discursiva que opera no nível da linguagem (verbal) ou da forma (visual, textual e até olfativa). A natureza transideológica é a capacidade de conseguir funcionar a serviço das mais distintas posições políticas e culturais, legitimando ou solapando uma grande variedade de interesses. Foi esse foco que determinou o que chamamos de “cena” da ironia. Por consistir em uma estratégia discursiva de sentido ambivalente, está apta para transitar pelas mais diversificadas ideologias. A multifuncionalidade de suas “arestas cortantes”160 possibilita promover efeitos de zombaria, ridicularização, exclusão, embaraço, irritação e humilhação. Estejamos sempre atentos para a imprevisibilidade do alvo. Eis a sua política transideológica, que nos permite também usufruir essa forma de discurso no avesso do ataque: a ironia, aponta Hutcheon, consiste ainda em um meio de expor ou subverter ideologias hegemônicas opressivas, eclodindo, nesse sentido, à feição de uma estratégia discursiva de resistência. Essa escolha de discurso como o escopo e o local de discussão tem também o propósito de levar em conta as dimensões sociais e interativas do funcionamento da ironia, quer a situação seja um jornal (as Clandestinas, 1975, de Antonio Manuel) quer uma câmara cheirando a gás (Volátil, de Cildo Meireles). 160 HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 63. 103 O caso de Volátil 161 é singular para entendermos as posições de atitude do espectador em contato com uma linguagem que tem potencial irônico. O espectador pode ter “interpretado mal” uma ironia – isto é, tê-la lido como não irônica ou assumido que ela era irônica, quando não era essa a intenção. Entre as “consequências de se perder” (ou mesmo de ter acusado de tal falha hermenêutica) poderiam estar sentimentos de embaraço, irritação, chateação e mesmo raiva, de parte do espectador. Volátil fornece um caso perfeito para o estudo das complexidades comunicativas da ironia – com um foco especial na questão de saber se a ironia é considerada apropriada e até mesmo ética como uma estratégia discursiva. Podemos, também dizer, que as arestas da ironia cortam de vários lados. A ironia também pode deixá-lo com os nervos à flor da pele, irritadiço, ao tentar fixar o sentido com segurança e tentar determinar a motivação. A ironia desagua reações. Podemos entendê-la, dentro dos discursos ocidentais sobre julgamentos e suas explicações da intenção e do impacto da ironia como um pêndulo: eles têm sido separados entre modelos de sedução e agressão, entre percepções de sua capacidade de incluir e excluir, entre idéias de desarmamento (e difusão) e de detonação violenta de efeitos e afetos. Esta duplicidade da ironia pode agir como um meio de neutralizar qualquer tendência de assumir uma posição rígida ou categórica de “verdade” por intermédio precisamente de um reconhecimento de um caráter provisório e de contingência. Esse é uma tática da ironia que não significa evasão ou falta de convicção, mas uma admissão de que há ocasiões em que não conseguimos ter certeza, não tanto porque não sabemos o suficiente quanto porque a incerteza e a dúvida são intrínsecas, essenciais. Se, de certa maneira, pode-se afirmar que o receptor/espectador “produz” a obra, é porque ele a reconstitui segundo suas expectativas ao mesmo tempo em que a apreende. Por outro lado, como a obra procede de intencionalidade, o confronto com ela leva o receptor a redimensionar seu universo de referências e, por conseguinte, seu horizonte de expectativas. A experiência do sentido provém então, por um lado, do objeto da experiência e, por outro, daquele que o experimenta. Nesse campo exploratório, a obra escapa às regras em seu sentido restrito. Podemos sustentar, então, que a relação artística de fato põe em curso uma produtividade. 161 Discutiremos essa obra em outro contexto no capítulo Projeto explosivo brasileiro. 104 As arestas ou as posições que a ironia pode se camuflar transmitem a ela um senso de acaso, acaba por incorporar o acidente e um certo mistério, um não sabido, melhor dizendo. Exercício para um campo ampliado de criações. Para Merleau-Ponty, através da arte nos abrimos para a estranheza das coisas e isto nos faz ver o mundo como um nascimento continuado, como produção originária de sentido. O indispensável na obra de arte, o que a torna muito mais do que um meio de prazer, um órgão do espírito, cujo análogo há que se encontrar em qualquer pensar filosófico ou político se for produtivo, é que contenha, melhor do que idéias, matrizes de idéias [grifo do autor], que nos forneça emblemas cujo sentido não cessará nunca de se desenvolver, que, precisamente, por nos instalar em um mundo do qual não temos a chave, nos ensine a ver e nos propicie enfim o pensamento como nenhuma obra analítica o pode fazer, pois que a análise só revela no objeto o que nele já está. 162 Assim, embora se apresente em superfície por uma ordem perturbada pela deriva e fuga de sentidos (pois é um corpo heterogêneo), a obra ampliada conjuga-se em várias formas organizadas segundo o poder formador do receptor/espectador. Também, quanto mais o contexto auto-referencial proceda da dinâmica do tecer, mais a totalidade representacional se desloca e se reorganiza à deriva das novas manifestações. Ao reunir uma diversidade de objetos e ações, o contexto auto-referencial dá lugar a um campo amplo de representações em que certas manifestações particulares ganham força. Assim, os sentidos que uma proposição adquire emergem do espaço intersticial que a rede das manifestações proporciona. Pode-se supor que, em se articulando umas às outras, as proposições engendrem a totalidade representacional dessa obra ampliada. A obra de arte como expressão primordial de um mundo cujos sentidos não se petrificam, mas se reinventam por meio da linguagem. Sendo que a “linguagem não está a serviço do sentido nem, todavia, o governa. Não há subordinação entre eles. Aqui ninguém manda, nem obedece. O que queremos dizer não se mostra, fora de toda palavra, como pura significação. Não é senão o excesso do que vivemos sobre o que já foi dito” 162 163 . Neste MERLEAU-PONTY, Maurice. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: _______. Husserl e Merleau-Ponty. São Paulo: Abril Cultural, 1975, p. 170. 163 Idem, p. 175. 105 aspecto, essa potencialidade da obra ser (lida como) irônica aparece com força singular, apostando na possibilidade duchampiana da criação de “obras” de arte que não se assumiam imediatamente enquanto tais, ou seja, quando surgiam tinham sua condição de arte como algo problemático e não evidente. Como afirma Osorio, “o que se busca com esta condição problemática da arte é a disseminação de uma experiência criativa na medida em que não se tem de antemão uma condição específica pré-definida para a manifestação da arte” 164 . Entre tudo poder ser arte (ou ironia) e qualquer coisa tornar-se arte (ou ironia) há uma distância que diz respeito a este compartilhamento de experiências; enfim, de abrir novos campos de possibilidade para a arte. Mas quem são os participantes desse ato social chamado “ironia”? O establishment diz que há o “ironista” e a sua platéia – a que “entende” ou “pega” a ironia e a que não “entende” ou “não pega” a ironia. Mas, o que fazer com o fato óbvio de existirem ironias sem intenção, mas que com a maior certeza são interpretadas como tais? Também existem ironias que são produzidas com esta intenção, mas que permanecem desapercebidas dos outros. A ironia estabelece relações dinâmicas e plurais entre o texto, o “ironista” (neste caso, o artista), o interpretador (ou o público de arte) e as circunstâncias que cercam a situação discursiva (o espaço museológico, o meio social e as condições históricas, por exemplo). É isso que atrapalha as teorias “bem organizadas” da ironia que vêem a tarefa do interpretador simplesmente como a de decodificar ou reconstruir o sentido “real” (chamado, muitas vezes, de “irônico”), um sentido que é oculto, mas tido como acessível, por trás do declarado. Se o caso fosse esse, a política da ironia seria muito menos dúbia. Porém, na verdade, os participantes do jogo da ironia são o interpretador e o ironista. O interpretador pode ser – ou não – o destinatário visado na elocução do ironista, mas ele ou ela (por definição) é aquele que atribui a ironia e então a interpreta: em outras palavras, aquele que decide se a elocução é irônica (ou não) e, então, qual sentido irônico particular ela pode ter. Este processo, muitas vezes, corre à revelia das intenções do artista. A ironia, portanto, significará coisas diferentes para diferentes jogadores. Do ponto de vista do interpretador, a ironia é uma jogada interpretativa e intencional: é a criação ou inferência de significado em acréscimo ao que se afirma – e diferentemente do que se afirma – com 164 Cf. OSORIO, Luiz Camillo. Lygia Pape: experimentation and resistance. In: MOSQUERA, Gerardo et al. (Ed.) Third Text, Londres, Routledge, volume 20, n. 5, 2006, p. 571-583. 106 uma atitude para com o “dito” e o “não dito”. A jogada é simplesmente disparada (e, então, direcionada) por alguma evidência textual ou contextual ou por marcadores sobre os quais há concordância social. Entretanto, do ponto de vista do que eu também (com reservas) chamaremos de ironista, a ironia é a transmissão intencional tanto da informação quanto da atitude avaliadora além do que é apresentado explicitamente. No final das contas, as questões políticas sensíveis que surgem ao redor do uso e da interpretação da ironia invariavelmente enfocam o problema da intenção (quer do ironista, quer do interpretador). O interpretador como agente desempenha um ato – atribui tanto sentidos quanto motivos – e o faz numa situação e num contexto particulares, para um propósito particular e por meios particulares. Atribuir ironia envolve, assim, inferências tanto semânticas quanto avaliadoras. A aresta avaliadora da ironia nunca está ausente e é o que a faz trabalhar diferentemente de outras formas com as quais faz fronteira ou parece ter semelhança estrutural (metáfora, alegoria, trocadilhos). Esse é o caso do tom ser levemente provocativo ou devastadoramente rude, do motivo inferido ser uma brincadeira benigna ou uma crítica corrosiva. É difícil tratar a dimensão semântica isoladamente, sem manter não apenas “um olho no receptor, mas o outro no ambiente tenso que o circunda”. A ironia simplesmente “acontece”. Ela acontece no espaço entre o “dito” e o “não dito”. O que queremos chamar de sentido “irônico” é inclusivo e relacional: o “dito” e o “não dito” coexistem para o público, e cada um faz sentido em relação ao outro porque eles literalmente “interagem” para criar o verdadeiro sentido “irônico”. O sentido “irônico” não é, assim, simplesmente o sentido “não dito” e o “não dito” nem sempre é uma simples inversão ou o oposto do “dito”: ele é sempre diferente. É por isso que não se pode confiar na ironia: ela mina o sentido declarado, removendo a segurança semântica de “um significante” e revelando a natureza inclusiva e diferencial da criação do sentido irônico. Em Para um jovem de brilhante futuro (1974), se o nominalismo não é acidental, ele exprime a posição de um cinismo furioso. Caracteriza também a forma retórica essencial às sociedades modernas que consiste em utilizar a linguagem para criar uma outra realidade. Nesse momento, cabe salientar que Carlos Zilio possui uma trajetória distinta dos outros artistas brasileiros desse período: a tensão entre arte e política não se deu no trabalho, essencialmente, mas na existência, no envolvimento pessoal que travou com a militância, com a luta armada, entre 1968 e 1972, quando permaneceu preso (mas sempre 107 produzindo e sendo obrigado a esconder essa produção de seus “detentores”). A mala cheia de pregos é um exemplo de humor negro dos mais significativos na história da arte brasileira. Os pregos que substituem os documentos e papéis, quando a obra é apresentada com a sua seqüência de fotos, onde “aparece” o artista (sempre de costas) empunhando a mala “e, naturalmente, a própria escolha desse signo social tão elucidativo da realidade nacional dos últimos anos dão a idéia segura do plano crítico” Il. 4 Carlos Zilio Para um jovem de futuro brilhante, 1974 Valise com pregos e papel 10 x 40,8 x 31,5 cm Col. MAC-USP mala 165 é de operação desse trabalho. A o símbolo desse burocrata, capitalista, vencedor, é um símbolo de poder e da economia, e ao mesmo tempo representa ocultação. O que ela esconde? O que ela detém? O artista oculto nas fotos de Zilio passa a ser anônimo, não tem rosto nessa multidão, que é regida por instâncias de poder 166. A arte passa a atuar nos conflitos sociais. Lembremos do deflagramento, por Artur Barrio 167 , de Situações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. O artista espalha 500 sacos plásticos contendo todo o tipo de dejeto humano, enrolados e com o tamanho aproximado de um corpo humano, lembrando os opositores esquartejados pelo governo. Os artistas se travestem em infiltradores, micro agentes que despejam suas informações-dinamite pela cidade (“a interferência dos trabalho/atuação provoca automaticamente a transformação do meio ambiente, dessacralizando-o, daí o sentido da atuação em função do inesperado” 168). Táticas para o circuito irônico de circulação da arte. Luiz Alphonsus ao volante do carro e com o motor ligado, Barrio saindo do automóvel e lançando os sacos nos logradouros públicos e César Carneiro documentando tudo: a captura (irônica) do olhar desejoso por mudança, a reação dos pedestres, que no seu agudo desinteresse por tudo aquilo que não 165 BRITO, Ronaldo. O estranho dono de uma mala cheia de pregos. In: VENANCIO FILHO, Paulo. Carlos Zílio. São Paulo: Cosac & Naify, 2006, p. 50. 166 Também encontraremos esse anônimo em Massificação (João), 1966, onde os rostos sem identidade, como fragmentos da multidão anônima, são reconhecidos apenas pelos seus números, ou ainda em Visão total (1966) e Em busca (1967). 167 Referimo-nos a Defl..... Situação....+s+..........Ruas.........Abril..........................1970. 168 BARRIO, Artur. As formas de atuação. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 145. 108 compõe o elenco de suas ações ordinárias, encara o bizarro, o desconhecido (“poderíamos ser um deles?” parece ser a pergunta que passa na mente dos transeuntes). Cada saco, embora pleno de matéria e energia, metamorfoseia-se em simples receptáculo de dejetos. É o corpo sem órgãos do Anti-Édipo, um corpo improdutivo, porém, não se trata de uma projeção. Lixo entre lixos. Este é o destino das coisas que colocamos à margem da Il. 5 Artur Barrio Defl......situação....+s+..........ruas.........abril.................. ........1970, 1970 Fotografia, registro de César Carneiro e Luiz Alphonsus Performance realizada nas ruas do Rio de Janeiro Col. do artista experiência. Porém esse “corpo” não é uma estrutura neutra; consideramos o mesmo como parte de um processo de transformação em progresso, que não se iniciou naquele momento, mas que veio de outro lugar qualquer, resultado não-causal de outros devires e fluxos. Esse corpo, portanto, é povoado por intensidades. “Ele é a matéria intensa e não formada, não estratificada, a matriz intensiva, a intensidade = 0, mas nada há de negativo neste zero, não existem intensidades negativas nem contrárias. Matéria igual energia” 169 . A ironia reside na conexão instantânea entre pelo menos duas realidades disjuntivas heterogêneas (matéria/função, conteúdo/expressão, enunciados/visibilidades, palavras/imagens) e a conseqüente produção de real com instauração de um novo agenciamento compreendendo pensamento, objetos, gestos. A situação de Barrio não se trata de, hoje tão proclamada, intervenção urbana, mas redes de sensibilização coletiva. A década de 1970 e o legado neoconcreto das proposições trazem a ruptura, no sentido de apontar o esgotamento da noção de artista como gênio ou instância máxima na criação da (grande) obra de arte. O artista é mundano, vive, trabalha e opera com o cotidiano. Como afirma Zilio, “a partir do momento em que o artista rejeita o estatuto social ele se volta também, é claro, contra as formas tradicionais de comportamento que de certo modo era obrigado a assumir” 169 170 .O DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. vol. 3. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996, p. 13. 170 BRITO, Ronaldo. O estranho dono de uma mala cheia de pregos. In: VENANCIO FILHO, Paulo. Carlos Zilio, op. cit., p. 50. 109 artista engendra novos posicionamentos: seu “trabalho” (e aqui reforçamos o emprego irônico dessa palavra e nesse contexto) passa a evitar uma leitura retiniana (aquela mesma que Duchamp evitava) e dialoga com a manipulação de idéias. O indivíduo oculto passa a representar aquele ser alienado, mergulhado num mundo que alterna supressão aos seus direitos civis e anúncios de televisão, garrafas de Coca-Cola, discos e outras reproduções, revelando a ambigüidade da nossa avançada e arcaica modernidade. Como Paulo Venancio Filho aponta em relação a esse trabalho de Zilio, “tal como na minimal, a presença física do espectador é engajada, até mesmo ameaçada – a iminência de um desastre está presente o tempo todo” 171 . O desconforto é presente, torturante; o aniquilamento está próximo de acontecer. Mais uma vez, arte e vida se confundem. Expressões que ficaram vagas hoje em dia – arte e vida – onde qualquer obra, movimento ou conceito contemporâneo incorpora essa relação, assim como o fatídico do tal do “orgânico”, em Zilio essa conjunção é propícia e verdadeira. Arte e política, pode ser outro binômio usado para revelar a autenticidade da obra desse artista. Embora, a arte tenha ficado a serviço da Igreja, do Estado e da burguesia durante séculos e lutou durante igual tempo para ter a sua integridade e ocupar o seu espaço, diversos exemplos de criatividade no campo da experimentação no século XX – construtivistas russos, futurismo italiano tenderam a aproximação entre arte e política. É exatamente nesse campo que Para um jovem de brilhante futuro se coloca, mas agora, adicionando a ironia como novo elemento. No caso particular de Zilio, arte e política adquirem um significado distinto das produções da contemporânea Nova Figuração, por exemplo. A explosão de uma linguagem pop e o seu acento político ainda era visto como algo inocente para um indivíduo que encontrara na luta armada a saída para os conflitos que vislumbrava no campo artístico; faltava um engajamento naqueles trabalhos e um vinculo inevitável com o real. Nesse momento, destacamos que as situações, propostas e instalações de Zilio, Cildo Meireles, Artur Barrio e Antonio Dias (no caso da série Illustration of art), na transição das décadas de 1960 para 1970, funcionavam como estratégias dissonantes dentro de uma certa produção brasileira que dialogava com uma linguagem marcada por elementos da pop art. Essa produção foi acusada pelo circuito de arte como uma releitura da pop art americana e inglesa, ainda que 171 VENANCIO FILHO, Paulo. Retrato do artista (antes e depois da pintura). In: _______. Carlos Zilio, op. cit., p. 12. 110 ela possuísse dados que a associavam exclusivamente com a situação brasileira daquele período histórico, fornecendo portanto a essa produção não um caráter de cópia ou pastiche da produção internacional, mas diagnosticando o seu caráter singular e o seu alto grau de invenção, seja na forma ou no conteúdo de suas telas e objetos. Na obra de Zilio, notamos a crítica ao universo do trabalho alienado submetido ao ritmo cotidiano onde não há lugar para a subjetividade. Não mais a geometria sensível dos neoconcretos que buscam a linha orgânica, mas uma organização espacial ordenada (e daí seu diálogo com o construtivismo) de elementos agressivos e pontiagudos 172 . A geometria dos pregos passa a ser o conteúdo da mala; a ironia transforma em clichê o acessório do profissional e a sua qualidade como indivíduo bem sucedido. Na década de 1970, houve uma revisão na história da arte brasileira a respeito da linguagem neoconcreta e da idéia de funcionalidade construtivista. Não era algo cínico ou desprovido de conteúdo, mas uma parcela dessa revisão explorou ironicamente esse passado, colocando em evidência, no mínimo, o esgotamento desse segundo postulado. Zilio e Umberto Costa Barros expõem que as suas idéias são simetricamente opostas ao dessa tradição. Observamos tais conceitos em seus respectivos projetos Atensão (1976) 173 e a (des)ambientação com mobiliário de uma sala de aula através de empilhamento, deslocamento e uma nova ordem de equilíbrio e tensão que foram dadas a um conjunto de cadeiras que foram sobrepostas, formando uma torre desconcertante ou então quando apenas um dos vértices da cadeira apoiava-se no chão sustentando todo o peso daquele objeto. Esse conjunto foi apresentado no III Salão de Artes Plásticas da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (1969). Contra o formalismo idealista, Zilio e Costa Barros propõem o comprometimento ideológico da linguagem da arte; contra a proposta de integração funcional da arte no ambiente social propõem o acirramento das contradições desse ambiente. Outro aspecto 172 A fronteira dessa diferença fica marcada, em depoimento do artista a Paulo Sérgio Duarte e Fernando Cocchiarale, “na ocasião da Nova Objetividade e da Opinião [66], essas questões de público, da arte estetizar a vida – o velho projeto construtivo – eles [os neoconcretos, nas figuras de Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape] estavam levando adiante. Eu achava que isso era irrisório. Era impotente (...) [porque] não atingiria seus objetivos, não seria operacional, quer dizer, era muito mais alguma coisa que se dava no imaginário dos artistas do que na potencialidade do trabalho” (Cf. COCCHIARALE, Fernando et al. Entrevista. In: VENANCIO FILHO, Paulo. Carlos Zilio, op. cit., p. 30). 173 Série de trabalhos que se desenvolvem em torno da idéia de tensão e busca tematizá-la em diversos níveis, como por exemplo: uma pedra, pesando algumas toneladas, é suspensa por um cabo de aço que por sua vez é sustentado por um poste de madeira. Em 1976, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, foi realizada a exposição, composta por vários objetos, inclusive fotografias, que apresentavam a pressão e o equilíbrio como conceitos básicos dessa demonstração. 111 dessa oposição emerge na própria escolha e manipulação dos materiais. Não é por acaso que são utilizados madeiras, cadeiras, tijolos e pedras nessas duas instalações e que todas as peças desnudam as articulações. Essa presença do trabalho manual desmente a mítica tecnológica construtiva e abre novos espaços para o conceito de linha orgânica no campo da investigação das artes visuais. Essa atensão eclodirá no projeto explosivo brasileiro, como analisaremos adiante. Esses trabalhos marcam uma vontade de compromisso de “politizar a arte”, citando Benjamin, cada vez maior. Era o discurso de quem produzia e de quem dissertava a respeito. Como observamos nesse trecho de Ronaldo Brito sobre a citada exposição de Zilio: “A direção de trabalhos como o de Zilio prende-se à seguinte perspectiva: como propiciar uma participação do espectador que não se esgote nos dados psicológicos e de fato mobilize uma inteligência crítica?” 174. Tratava-se não de envolver o espectador, conquistá-lo mediante signos de cumplicidade, mas mobilizá-lo para uma leitura crítica do real. Ele deve portanto tomar uma posição (ideológica); não mais uma leitura de si, mas uma direção oposta à interioridade, vai exigir a sua ação exterior, o confronto físico com a polis, com a ordem estabelecida 175. Segundo Muecke, as ironias serão mais ou menos poderosas proporcionalmente à quantidade de capital emocional que o espectador investiu no tópico da ironia. Dizer isso não significa abandonar os reinos da arte e da ironia e entrar nos da pura subjetividade; segundo este autor, “as áreas de interesse que mais prontamente geram ironia são, pela mesma razão, as áreas que mais se investe capital emocional: religião, amor, moralidade, política e história” 176 . A razão é que essas áreas se caracterizam por elementos inerentemente contraditórios: fé e fato, carne e espírito, emoção e razão, o eu e o outro, teoria e prática, liberdade e necessidade. 174 BRITO, Ronaldo. Leitura crítica do real. In: VENANCIO FILHO, Paulo. Carlos Zilio, op. cit., p. 59. VENANCIO FILHO, Paulo. Retrato do artista (antes e depois da pintura). In: _______. Carlos Zilio, op. cit., p. 12-21. 176 MUECKE, Douglas. Ironia e irônico, op. cit., p. 76. 175 112 3.3 A tática irônica e o kitsch no Brasil: ações e reverberações Na década de 1960, podemos destacar na produção da arte brasileira, uma série de artistas que usam a apropriação, quer de imagens extraídas dos meios de comunicação de massa, quer de objetos retirados do cotidiano para justapô-los ou inseri-los em outras situações por meio da colagem, fotocolagem e da assemblage 177 . Deixemos claro que não era uma estética subversiva contra a situação política do Brasil, como a história mais uma vez quer os colocar, mas uma atitude que pode ser lida como algo assim: “Destruir para construir”. É possível afirmar que o uso de procedimentos de montagem e apropriação está atrelado ao objetivo de destruir ou, pelo menos, desestabilizar a supremacia do suporte da pintura, e apresentar “algo novo”, nos termos do presente, do aqui e do agora. Era uma estratégia 178 que acontecia paralelamente em outros locais, apesar das práticas e resultados serem distintos. Nos Estados Unidos, Robert Rauschenberg, Roy Liechtenstein e Andy Warhol aproximavam do conceito de “caráter alegórico da montagem”, de Walter Benjamin. Para esse autor, muitas das características do procedimentos figuram no barroco, como a apropriação, o desgaste do significado original da imagem confiscada, a fragmentação e a justaposição 179 . Embora as estratégias dessa alegoria também estivessem presentes na produção de certos artistas brasileiros, na pop art 177 Muitos desses artistas foram “enlatados” sob o termo (de um coletivo chamado) Nova Figuração. Entendemos esse coletivo não como um movimento que “levantava a bandeira” de um manifesto ou uma postura conjunta, única e inflexível, mas como um grupo de artistas que estabeleceram um “compromisso estético” entre eles: movimentos coletivos que praticaram um adensamento do terreno das artes visuais no Brasil (em contraponto às “ilhas” modernistas); possuíam um interesse que se baseava na disseminação de um tripé que aglutinava os seguintes conceitos: modernidade, vanguarda e informação (Cf. COELHO, Frederico Oliveira. Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado: cultura marginal no Brasil dos anos 60 e 70. 2002. Tese (Dissertação em História Social) - Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro). Neste sentido, podemos destacar as obras de Nelson Leirner, Antonio Dias, Rubens Gerchman, Wesley Duke Lee e Antonio Henrique Amaral. 178 Essa característica de acumulação, apropriação, hibridação e impermanência foi comum tanto na produção de artistas brasileiros da década de 1960 – como os citados na nota anterior – quanto na pop art. Por exemplo, a obra de Nelson Leirner e Rauschenberg possuem como elemento comum o fato de lidarem com uma série de imagens, objetos e/ou procedimentos técnicos (pintura, desenho, etc.) num mesmo suporte unidos por meio da justaposição ou do hibridismo. Problematizando o plano pictórico, retiram dele a capacidade de comunicação unidirecional com o espectador. As inúmeras mensagens naquele plano pulsam e embaralham sentidos originais anteriores à justaposição, permitindo novos significados. 179 Cf. BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. 113 americana aconteceu o que Chiarelli chama de “frieza modular” 180 : em trabalhos de Warhol, por exemplo, é notável a apropriação de imagens transformadas em módulos e repetidas à exaustão, como produtos industrializados em linhas de montagem. No Brasil, diferentemente, havia um estratégia de revisitar o desejo oswaldiano da antropofagia: apropriamo-nos de algo, deglutimos e devolvemos aquela massa ao mundo, de uma outra forma. Não mais o “modernismo de ilhas da Semana de 22” 181 mas uma estratégia irônica: apropriação de símbolos nacionais, mas sem querer “representar” esse infâme termo chamado “brasilidade”. O tropicalismo foi um marco para esse pensamento. Ele consistiu em submeter os arcaísmos culturais “à luz branca do ultramoderno, apresentando o resultado como uma alegoria do Brasil” 182 . Tem-se uma construção, feita “de imagens estranhas, de caráter onírico, que, desmontadas, iluminam como numa cena as indefinições do país” 183 . A mistura e dramatização das relíquias do Brasil evidenciam a aberração resultante da justaposição dos anacronismos e da modernização. A ambigüidade dessas imagens provém do fato delas resultarem da combinação de elementos díspares, segundo uma lógica da complementariedade – a da elaboração onírica. Segundo Favaretto, “como no sonho, as imagens tropicalistas significam algo diferente do que é manifestado” 184. Em retórica, essa figura proposta como resultado da composição de deslocamento e condensação resultante do processo de complementariedade, é a alegoria: particularizando o significado, aclara-o devido ao seu poder de ressaltar o sensível. É uma operação que exige um movimento prévio de deslocamento para designar o outro reprimido. Esse movimento responsável pela descentralização do sonho é a paródia. Ela “desatualiza os significados primitivos” 185 , neutraliza-os pelo ridículo, fazendo vir à tona o reprimido e articulando-se, assim, à designação alegórica 186. 180 CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 40. Ver nota 119. 182 SCHWARZ, Roberto. Nota sobre vanguarda e conformismo. In:______. O pai de família e outros estudos. São Paulo: Paz e Terra, 1978, p. 43-48. 183 FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. 2 ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996, p. 99. 184 Idem, p. 100. 185 Idem, p. 104. 186 Como acentuamos, uma das causas de apontar a definição de “ironia” seria o obscurecimento do conceito pela freqüente conjunção de ironia com sátira, paródia, humor, cômico ou grotesco, com os quais ela nem sempre se relaciona, embora se lhes sobreponha, em algumas situações. Um diferencial da sátira será a sua referência ao contexto, enquanto a paródia fará sempre uma relação intertextual. 181 114 No Brasil, do modernismo ao tropicalismo, segundo Favaretto, a paródia vem sendo empregada com o objetivo de descolonizar. Em Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, e nas canções Tropicália (1967), de Caetano Veloso, e Geléia Geral (1968), de Gilberto Gil e Torquato Neto, o elenco de valores patriarcais, elementos folclóricos, os mitos do desenvolvimentismo, os novos mitos urbanos veiculados pela indústria cultural, são misturados e desatualizados, sempre com ironia. Pastiche de estilos, apropriação de fragmentos, imitações, comparecem em profusão. As canções tropicalistas, por exemplo, resultam quase sempre da mescla de ritmos brasileiros tradicionais (urbanos ou folclóricos) com ritmos que foram difundidos pelo rádio, Chacrinha, televisão, cinema, baião, repente e rock. O tropicalismo é identificado pelo excesso, seja na forma como os artistas se apresentavam em público seja na composição das músicas e suas diversas influências. Daí a sua forte ligação com o carnaval e por sua vez com o “canibalismo” modernista. O carnaval como “acontecimento religioso da raça” 187 como os modernistas o viam; era para eles um fato marcante da raça, ao lado das culinárias regionais, do barroco mineiro e dos mitos indígenas. Como aponta Favaretto, “o tropicalismo foi reduzido à extravagância: o terno branco de tropical, o lenço de três pontas no bolsinho do paletó, o concurso de miss banana real em que as participantes eram as beldades de Ipanema” 188 . O tropicalismo foi muitas vezes acusado ou assimilado a um vago sentimento de “tropicalidade”, tributário de uma volta às raízes nacionais. Porém, o tropicalismo e sua aparência kitsch nunca firmaram esse pacto. O tropicalismo, reatualizando ruínas históricas, faz saltar, como numa iluminação, o reprimido, presentificando despudoramente o que se ocultara. Assim, de forma sensível, em toda a sua produção, há uma operação que oferece ao ouvinte uma imagem alienada do Brasil (imagem essa que conectava as manifestações do contemporâneo e os elementos, populares, que identificavam o conceito de cultura brasileira numa inversão de hierarquias através do exagero grotesco de fatos e clichês) e, simultaneamente, um espetáculo de suas indeterminações, chegadas intactas ao presente. O espectador fica com a sensação de que o Brasil é e não é o que se anuncia: este descentramento impede a formação de uma imagem definida, pois a alegoria não aspira a captar o todo no particular. 187 ANDRADE, Oswald de. Manifesto Pau-Brasil. In:_______. Obras completas de Oswald de Andrade: do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1978, p. 5. 188 FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria, op. cit., p. 107. 115 Mesmo não sendo identificada como uma obra tropicalista, a Clandestina Matou o cachorro e bebeu o sangue (1973), de Antonio Manuel, encaixa-se nesse conceito da linguagem kitsch do excesso: incorpora, por sua vez, o irônico e a linguagem contemporânea do folhetim e da televisão, como de certa forma operava o tropicalismo. Com o título “‘Mulher-vampiro’ age em Ipanema” e o subtítulo que dá nome à Clandestina, Manuel expõe as aproximações que a sociedade pode ter no elemento mais incomum que poderíamos usar para fazer tal avaliação. Segundo ele, Matou o cachorro e bebeu o sangue nasceu de uma manchete que chamava minha atenção. A arte gráfica, a paginação com duas mulheres em close, onde uma é misse [sic] e a outra horrorosa, a forma-força do apelo sensacional me levaram a comprar de imediato esse exemplar. Achei um mistério muito grande uma mulher ter matado o cachorro e bebido o sangue. E depois essa misse [sic] ao lado da outra mulher, como se fossem vampiras insaciáveis, me remetiam para o lado da fome, do sensual, da antropofagia. Peguei esse jornal e dei-lhe um tratamento, transformando a misse [sic] em vampira, como se ela incorporasse a outra e vice-versa. As duas mataram o cachorro e beberam o sangue. 189 Instala-se a dissonância: os contrários passam a conviver no mesmo espaço, se superpõem, se identificam, gerando sincretismo e indiferenciação. Reina a diferença. Nesse fluxo imagético, é excluída toda a idéia de totalidade. “Daí o caráter ativo e subversivo da alegoria tropicalista, pois, ao libertar o desejo da totalidade, lança-o no fragmentário puro”190. O fragmento é agressivo porque ironiza o todo, desapropriado pela operação parodística: é neste sentido que se pode dizer que “o tropicalismo é interpretação de interpretação” 191 . Música regional brasileira e Beatles, mau gosto e bom gosto, irônica e satírica, roupas de plástico e guitarras, música concreta e música popular, foram inventariados, processados, reinventados e empacotados como o “novo”, o símbolo de uma modernidade antagônica; e provavelmente foi exatamente esse último elemento – a diferença – que fez a Tropicália ser moderna. 189 MANUEL, Antonio. Antonio Manuel. Rio de Janeiro: Funarte, 1984, p. 45. FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria, op. cit., p. 112. 191 Idem, ibidem. 190 116 3.3.1 O kitsch no circuito irônico da arte: um breve panorama pelas obras de Nelson Leirner e Raul Mourão No começo dos 1960, o denominado “projeto construtivo brasileiro” e toda a discussão sobre a participação desse ex-espectador apresenta um certo esgotamento em sua prática artística, como analisaremos no capítulo Projeto explosivo brasileiro. É claro que na produção entre as décadas de 1960 e 1980, e inclusive hoje em dia, podemos identificar artistas que mantiveram a prática construtivista na sua produção 192 assim como identificamos outros que re-leram o construtivismo e incorporaram, em alguns casos, a instância da ironia 193. Outros foram além. Adotaram o construtivismo como idéia, a ironia como circuito e o kitsch como matéria. É aqui, portanto, que nos concentraremos. Em Construtivismo rural (1999), Nelson Leirner apresenta três tipos de série: a primeira, seriam as “pinturas de couro de boi”, que parecem ser apropriações de tapetes populares feitos com retalhos de couro, com a costura aparente, desses que servem de acento para cadeiras ou decoração e são vendidos por ambulantes ou lojas de artesanato; o segundo grupo são as “pinturas” monocromáticas, cujo material, também se constitui por couro de boi; o terceiro grupo, produzido para o Panorama de Arte do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1999, constituiu-se de paródias de obras concretas e neoconcretas, utilizando dessa vez, não a tinta automotiva ou tinta industrial (típicas daquele período), mas – adivinha o quê? – o couro de boi. Leirner, dessa forma, expandia de forma irônica o concretismo: interessava-se na possibilidade (mais irônica ainda) de buscar na geometria popular dos tapetes de couro, produzidos manualmente e vendidos por camelôs (um elemento essencialmente kitsch, por natureza), uma relação com a arte construtiva. No texto Suprematismo, Malevich (mestre e citação obrigatória para todos os concretistas e neconcretistas), defende o suprematismo e as correntes abstratas: “O meio de 192 Podemos citar os casos de Antonio Manuel (as suas pinturas geométricas iniciadas na década de 1980), Cildo Meireles (Malhas da liberdade, 1976), Waltercio Caldas, Jac Leirner, dentre outros. 193 É o caso da obra Observation Plan, 2003, de José Damasceno, por exemplo. Uma obra construída com 30 mil lápis (a obra apresenta uma projeção de uma série de pessoas – crianças, homens e mulheres – dispersos num espaço que lembra a estrutura de uma sala de museu, com três grandes painéis) sob uma parede do Museum of Contemporary Art, Chicago, medindo 800 x 1700 cm. 117 expressão será sempre o dado que permite à sensibilidade exprimir-se como tal e plenamente, e que ignora a habitual representação”. E complementa: “Tudo o que determinou a estrutura representativa da vida e da arte: idéias, noções, imagens... Tudo isso foi rejeitado pelo artista, para se voltar somente para a sensibilidade pura” 194 . Leirner consegue, ironicamente, alcançar a meta da arte construtiva, de estreitamento com a vida. E não é abstração pura e simples! Vacas concretas, que exalam cheiro; nada de representações figurativas. Como afirma Abraham Moles, o kitsch “é a mercadoria ordinária (duden), é a secreção artística derivada da venda dos produtos de uma sociedade em grandes lojas que assim se transformam em verdadeiros templos” 195. O kitsch, fenômeno universal, não é um estilo, mas um tipo de relação que o indivíduo mantém com as coisas, “uma maneira de ser” muito mais do que um objeto. Fruto da ascensão burguesa egressa do capitalismo industrial, o kitsch evoca o “excesso de meios” em face das necessidades. Construtivismo rural resgata, em sua composição kitsch, a universalidade de fato do “artificial” em relação ao que se costumava chamar de “natural” e que hoje não passa de um termo de referência, ou de oposição. Reflexos do fenômeno kitsch, baseado numa civilização consumidora que “produz” para “consumir” e “cria” para “produzir”, em um ciclo cultural onde a noção fundamental é a da “aceleração”, revertendo no fetichismo do objeto praticado pelo colecionador, que transforma o conceito de apropriação do objeto em novo modelo de relação entre o sujeito e o objeto alvo do fetiche. Em meio a essa atividade consumidora, promove-se a idéia de bens e serviços consumíveis, assim como a própria cultura, com a qual ela se confunde em larga medida. O kitsch aparece como algo doce e insinuante, rivaliza entre o original e o banal. O kitsch é a aceitação social do prazer pela comunhão secreta com um “mau gosto” repousante e moderado. Em tempos de discussão sobre o couro, o seu uso pela indústria de moda e mobiliário e os contragolpes de entidades protetoras do meio ambiente, como o Greenpeace, Leirner dribla essa polêmica e “dispara” as suas invenções contra outro circuito: as instituições e as coleções de arte. O evento no Panorama de Arte ainda adquire uma forma mais política (e irônica) pelo fato de São Paulo ser o “berço” do concretismo no 194 MALEVICH, Kasemir. Suprematismo. In: AMARAL, Aracy A. (Org.). Projeto construtivo brasileiro na arte: 1950-1962. Rio de Janeiro: MAM; São Paulo: Pinacoteca do Estado, 1977, p. 32. 195 MOLES, Abraham. O kitsch. São Paulo: Perspectiva, 1986, p. 10. 118 Brasil. Como afirma o diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo naquela época, Tadeu Chiarelli, a própria função do museu era posta à prova: O que o museu poderia fazer? Recusá-los? A crítica à instituição de arte, afinal, está tão institucionalizada quanto a própria arte. E, além do mais, as peças apresentadas pelo artista podem ajudar numa compreensão maior e extremamente crítica sobre o próprio circuito (...) Irônicas cópias em couro de animal, expostas com todo o rigor museográfico, essas peças do artista escancaram a fragilidade e complexidade das regras do jogo da arte e do poder nos dias atuais.196 Leirner alertava (ao apresentar durante este Panorama, uma paródia, em couro de boi, de obras emblemáticas do concretismo e neoconcretismo, tais como Espaço modulado, de Lygia Clark, Concreção 5521, de Luis Sacilotto, e outras obras, de Rubem Ludolf e Volpi, por exemplo) ao mesmo tempo para uma dedicação exacerbada sobre as tendências construtivas como “modelo a ser seguido pela arte brasileira” ou uma espécie de “estandarte de ouro” do patrimônio nacional 197 (este “disparo” também atingia o seu primo, Adolpho Leirner, um dos mais importantes colecionadores de arte construtiva brasileira, e naquele momento proprietário de todas as obras “matrizes” 198 que originaram essa série do Construtivismo rural) e debatia sobre o papel da instituição como defensora dessa atitude; em suma, pôs em questão, de uma forma aberta e definitiva o caminho que o Museu deveria tomar frente a esse ponto de vista: ou dava as mãos com Leirner ou o deixava ser atacado, sem prestar o mínimo auxílio. Segundo as palavras de Chiarelli, podemos deduzir o caminho que o Museu de Arte Moderna de São Paulo tomou: Qual a posição do Museu diante dessa atitude do artista? A instituição não estaria sendo, no mínimo, irresponsável em aceitar exibir ‘cópias’ em couro de vaca de 196 CHIARELLI, Tadeu. Panorama 99: o acervo como parâmetro. Panorama de Arte Brasileira. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1999, p. 38 (catálogo de exposição). 197 Foi criado um projeto curatorial, largamente explorado nos últimos anos, com relação às exposições de artistas brasileiros no exterior: os curadores estrangeiros estão ávidos em confirmar suas suposições de que no Brasil a sensualidade do seu povo e uma arte construtiva com um legado participativo se “alimentam”, ou rendem tributo, um ao outro. 198 Adolpho Leirner vendeu a sua coleção de arte construtiva, em 2007, para o Museum of Fine Arts, Houston. 119 algumas das peças-chave de uma vertente que não se cansa de exibir e adquirir para seu acervo? Quais são os parâmetros, as regras? 199 Aproximando-se das ações de Jeff Koons e de Maurizio Cattelan, a série Luladepelucia (2005-06) de Raul Mourão, deixa claro que a legibilidade (do mundo pop) está socialmente aceita. Qual é o limite entre o sarcasmo e a produção de arte? Quem acredita que Koons casou por amor com Anna Ilona Staller, vulgo Cicciolina? Ou será que foi a maior produção artística dos anos oitenta? Coloca-se em questão, portanto, o lugar do cotidiano, ou melhor, do contexto, como fator influenciador para a obra/performance/ação adquirir um posicionamento irônico. A série de Mourão 200 foi criada num momento em que a mídia e a população saudavam o presidente da república com euforia e reverência: uma espécie de mito salvador da espécie humana. Um homem vindo do povo que salvaria os seus conterrâneos da pobreza econômica e injustiça social. Um líder, uma figura pop, um figura icônica em movimento constante pelo ambiente social (já altamente saturado de propostas políticos corruptos e frágeis). Pedidos de autógrafos, entrevistas e reconhecimento (histérico) da população. Mas o que acontece? O contexto exerce o seu lugar na produção irônica. Nas palavras do artista, “o que era apenas um trabalho de arte cheio de ironia se transformou num brinquedo assassino” 201. Crise na política. Escândalos de corrupção: dinheiro na cueca, deputados acusados de roubo, o Partido dos Trabalhadores tendo os seus valores éticos comprometidos. Surge o Luladegeladeira: por uma distorção ontogenética, o bico deste pingüim lustroso cresceu distorcidamente como o nariz do Pinóquio, e a cara de nosso presidente. Como ressalta Herkenhoff: Luladegeladeira não mente; é o que se vê. A verdade é que agora ele aponta como um falo assanhado. “Sexo explícito não cabe sobre a geladeira moral da classe média, ainda que o Luladegeladeira se esforce por restaurar dissimuladamente a ordem fálica adormecida em Luladepelúcia” 202. 199 CHIARELLI, Tadeu. Panorama 99: o acervo como parâmetro. Panorama de Arte Brasileira, op. cit., p. 38. 200 Além de Luladepelúcia, há os dois bonecos encaixotados em Lulacaixa2 (2006); Luladegeladeira (2006); Luladejardim (2006) e a fusão de duas imagens/personalidades no retrato individual Luiz Inácio Guevara da Silva (2006). 201 MOURÃO, Raul. Luladepelúcia de Raul Mourão na Lurixs. Canal contemporâneo – revista eletrônica de arte, Rio de Janeiro, a. 5, n.130, 2005. Disponível em: http://www.canalcontemporaneo.art.br/enformes.php?codigo=960#6bis_b. Acesso em: 30 ago. 2007. 202 HERKENHOFF, Paulo. A gentil arte de burlar. In: MOURÃO, Raul. Raul Mourão, op. cit., p. 29. 120 Uma nova interpretação é atribuída ao personagem, e por sua vez, à obra: não mais uma visão estereotipada do presidente comunicativo e agregador, mas agora, uma representação debochada de um líder, sujo de lama, improvisando uma imagem de tranqüilidade e bom humor. O trabalho atravessou fronteiras e mudou de lugar: ele passou a não ser mais discutido pela imprensa e crítica como um objeto de arte, mas como uma piada, como o próprio artista relata: Ele é um objeto de arte na medida em que foi apresentado numa galeria, foi formulado no ateliê, em conversa com outros artistas, dentro do meu processo. Mas ele circulou por outro ambiente que não é o da arte. [São] os cadernos de economia, política, as revistas de fofocas e celebridades. 203 No final das contas, Mourão aponta novas inserções em circuitos ideológicos, diálogos com o acontecimento, com o agora. Não mais um discurso que necessitava ser marginalizado mas uma linguagem clara, preocupada em circular, ser veiculada, deixar ser contaminada pelo mundo, pela esfera pública do acontecimento de arte. Como apontamos, toda vez que se discute a intenção de ironizar, é possível encontrar esse mesmo tipo de codificação avaliadora dupla (negativa e positiva): pode-se ver o intento irônico quer como uma evasão moralmente suspeita, quer como uma suspensão saudável da certeza. A fusão do intelectual e do moral nessas discussões de intenção é também duplamente codificada. A ironia é vista ou como o modo do desligado e do testemunho 204 , do desapaixonado e do distanciado 205 desinteressado e do despreocupado, do indiferente e do superior ou como a marca do 206 . De qualquer maneira, há uma dimensão moral implicada. Por outro lado, alguns teóricos foram ao outro extremo para argumentar que a ironia não é de maneira nenhuma um caso de intenção do ironista (artista), mas o resultado de um modo particular de interpretar que infere ou implica logicamente sobre o que o ironista 203 DUARTE, Luisa; PONTES, Ana Paula; VERGARA, Carlos. Entrevista com Raul Mourão. In: MOURÃO, Raul. Raul Mourão, op. cit., p. 103. 204 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Lisboa: Seuil, 1985, p. 86. 205 FRYE, Northrop. Anatomia da crítica. São Paulo: Cultrix, 1989, p. 40. 206 MUECKE, Douglas. The compass of irony. Londres: Methuen, 1969, p. 216. 121 intentou 207 , mesmo que involuntariamente 208 . Segundo Eco, o intento irônico pode ser visto apenas como o produto da inferência do interpretador 209. Talvez a função intencional irônica seja ativada e colocada em jogo pelo espectador. A ironia seria, então, uma função de leitura 210 , no sentido amplo da palavra, ou, no mínimo, a “ironia se completaria na leitura” 211. Não seria algo intrínseco ao texto, mas, em vez disso, algo que resulta do ato de interpretar levado a efeito pelo interpretador, que funciona dentro de um contexto de suposições de interpretação. Podemos argumentar que essa posição dá conta de ironias de situação, mas pode-se vê-la sendo aplicada igualmente a ironias verbais e estruturais, uma vez que todos os atos de fala indiretos envolvem “uma habilidade por parte do ouvinte de fazer inferências” 212 . A ironia é sempre (não importa o que mais ela possa ser) uma modalidade de percepção – ou melhor, de atribuição – tanto de significado quanto de atitude avaliadora. A natureza participativa da ironia envolve um conhecimento culturalmente partilhado de regras, convenções e expectativas interagindo num contexto particular. Assim, deve existir uma comunidade discursiva, e o contexto imediato e o próprio texto devem sinalizar ou provocar alguma noção de que a ironia é possível; os “significados” produzidos assim são tanto produto de atos intencionais quanto as “intenções” que estão sendo lidas: ambos, o artista e o espectador, criam intencionalmente, em outras palavras. Não é o caso do interpretador (espectador) “reconstruir” o significado exato que o artista intencionou. A regressão ao artista como a única garantia semântica não parece necessária, dessa perspectiva. Isso não quer dizer que isso não ocorra: em muitos casos os interpretadores inferem não só o significado, mas também a intenção (acertada ou errônea) como o resultado simplesmente do fato deles existirem numa relação social com o artista e funcionarem numa situação comunicativa. O artista não é o único atuante ou participante e, logo, a responsabilidade pela comunicação irônica (ou sua falha) é partilhada. A ironia pode acontecer – ou não. O público intencionado, por exemplo, pode não vir a ser o real; ele pode rejeitar o significado irônico, ou achá-lo inadequado ou 207 JUHL, Peter. Interpretation: an essay in the philosophy of literary criticism. Princeton: Princeton University Press, 1980, p. 148. 208 ECO, Umberto. Tratado geral de semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2002, p. 18. 209 Idem, p. 156. 210 HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 48. 211 SAID, Edward. The world, the text and the critic. Cambridge: Harvard University, 1983, p. 87. 212 SEARLE, John. Speech acts: an essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 61. 122 censurável de algum modo; ele pode simplesmente optar por não ver ironia numa dada elocução. 3.4 A fronteira entre a ironia e o sexo: Márcia X clichês Márcia X. fez, na década de 1980, o caminho inverso da tão proclamada “volta à pintura”. E o mais impressionante é que não vacilou um só instante. Seu trabalho atravessa, de forma única, as preocupações sobre as fronteiras da arte e seu lugar nesta última década. Márcia X. está interessada na ironia, no jogo sarcástico que o circuito e os agentes da arte viraram. Sua postura é ácida, ao usar o deboche, tão comum na cultura brasileira, como elemento de criação para seus trabalhos, que envolvem ícones religiosos, erotismo e elementos infantis, mas de maneira alguma querendo criar ou reforçar o tão temido “símbolo de uma identidade nacional na arte”. A artista está próxima das ações de Nelson Leirner (com a série Trabalhos feitos em cadeira de balanço assistindo televisão, 1998 213 ) ou ainda Jeff Koons, e Jake e Dinos Chapman (como em Death II, realizado em 2004, quando dois “supostos” bonecos de borracha infláveis – arquétipos de um homem e uma mulher - feitos para um sexo solitário, por assim dizer, estão nus e simulando sexo oral um no outro) quando realiza Os kaminhas sutrinhas (1995). Márcia X. provoca uma atitude antiinstitucional e a procura de brechas no cotidiano para desafiar seus parâmetros de orientação. A obra é uma instalação composta de 28 caminhas de boneca dispostas em colunas no chão da galeria. Sobre cada uma dessas camas, uma dupla ou trinca de bonecas, sem cabeça ou qualquer vestimenta. Unidos por fios de aço, elas se encaixam umas nas outras e através da movimentação de braços e pernas criam um repertório de simulações sexuais, ao som de It’s a small world, canção-tema entoada na Disneyworld. Bonecos sem sexo, sem identificação. Esses seres inanimados possuem motores elétricos que permitem com que eles simulem movimentos iguais ao do ato sexual. Um pedal permite que o espectador acione todos os bonecos ao 213 Leirner apropria-se de fotos de Anne Geddes, que registram geralmente bebês nus, em poses inocentes e envoltos em flores e frutos, e desenha sobre elas, ilustrações de pênis, vaginas e outras conotações explícitas de sexo. 123 mesmo tempo. A escala dos trabalhos bem como a escolha de instalá-los ao nível do chão convida o espectador a assumir uma postura física que o traga ao nível da criança. Para apreciar a obra, o espectador precisava regredir ao estado infantil214. Nas palavras de Márcia X, Minha estratégia era transformar objetos pornográficos em objetos infantis e objetos infantis em objetos pornográficos, fundindo elementos que estão situados por convenções sociais e códigos morais em situações antagônicas. Usar elementos tão conhecidos e acessíveis acaba por estabelecer com o público uma relação imediata. 215 Nesse cenário, podemos localizar a produção de Márcia X. como um conjunto de trabalhos que surpreendem e desestabilizam pelo excesso. Tendo a sexualidade como conteúdo, esse “excesso erótico” é utilizado como provocação, no sentido de ultrapassar os limites dos princípios sociais correntes; nessa acepção, o excesso produz “escândalo”. Isto também é realçado no “excesso de representação”, ou na “desmesura quantitativa e qualitativa” 216 das bonecas nuas. O fenômeno do choque pelo público quando toma contato com a obra de X. é passível de acontecer; entretanto, não estamos falando de um choque, que cada vez com mais freqüência acontece no circuito da arte contemporânea, um choque contra o elitismo ou algo essencialmente político, que acaba tornando-se trivial, mas um conceito nada superficial ou vulgar que dá ao choque a conotação de um nervo que pressionamos para conseguirmos as mais severas controvérsias na arte. Controvérsias com o público que consome arte contemporânea e os seus museus (as filiais de “arte contemporânea” não param de crescer e se alastrar pelo mundo) e até mesmo disputas sobre o ensino da arte e a história da arte. A questão do choque na arte não é um debate sobre o choque stricto sensu; é um debate sobre como a arte se promoveu em termos de choque. Uma das razões porque existe tanta confusão sobre o conceito de choque na arte é que o termo tem sido usado para distorcer e alterar um campo eclético de efeitos e situações. A famosa frase “o choque do novo” falha ao tentar capturar o espectro total do 214 BESSA, Sérgio. X-rated. In: BASBAUM, Ricardo; COIMBRA, Eduardo. Item. n.4. Rio de Janeiro, nov. 1996, p. 81. 215 X, Márcia. Márcia por Márcia. Márcia X.: revista eletrônica, Rio de Janeiro, n.1, 2005. Disponível em: http://marciax.uol.com.br/mxText.asp?sMenu=3&sText=16. Acesso em: 27 jul. 2007. 216 CALABRESE, Omar. A idade neobarroca. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 77. 124 choque da arte porque falsamente sugere que seus efeitos são baseados no fato de estar sendo “novo”. Em muitos casos, entretanto, o choque na arte não tem nada de novo; quiçá choca precisamente porque não é “novo”, e isto está claro nos exemplos do readymade e a função que transmite aos objetos do cotidiano. Como observa Dave Beech, existem dois modelos de choque que são os mais discutidos: o “choque duchampiano”, que invariavelmente choca os nossos conceitos sobre o que é ou não é arte; e o “choque moral”, que inclui ações controversas ou representações ditas (a)morais que são assim julgadas pelos elementos do circuito de arte. Este último termo, por sinal, foi o usado pelo júri da Sociedade dos artistas independentes para recusar a Fonte de Duchamp. Duchamp estava ao menos certo ao dizer que uma peça de encanamento em si mesma não é chocante; mas trazida para o campo da arte, o urinol é uma novidade, o que pôde ser notado no riso sarcástico de Duchamp e no nervosismo e perturbação do júri em classificar “aquilo”. “[O] choque duchampiano é o choque da anti-arte e da vanguarda onde a fronteira entre arte e todo o resto é questionada, desafiada e dissolvida” 217 . Entretanto, o “choque moral” e o “duchampiano” podem estar em diferentes direções ou podem se combinar e sobrepor, mas sempre terão suas características próprias. A Fonte foi chocante porque o objeto estava fora de seu lugar e função; do mesmo modo, os Kaminhas sutrinhas de X. foram chocantes porque são exibidas poucas ou nenhuma das habilidades conhecidas do “artista” assim como também foi uma obra inconveniente, inadequada, indecente e rude. O choque não tem nada de pejorativo ou redundante, como a mídia o explora muitas vezes dessa forma, nem está em decadência, mas caminha com o tempo. Sua linguagem está próxima à produção das ditas vanguardas 218 . É quase impossível para muitas pessoas hoje em dia imaginar o que foi tão chocante no impressionismo do século XIX. Era uma pintura parecendo demasiadamente inacabada e barata, e hoje parece tão dócil e domesticada assim como facilmente consumida: seu choque foi absorvido completamente, assim como uma roda de bicicleta de cabeça para baixo. O chocante também pode se transformar num belo artigo de comércio e enfeitar a parede mais austera; a anestesia, da 217 BEECH, Dave. Shock: a report on Contemporary art. In: BARSON, Tanya; GRUNENBERG, Christoph. Jake and Dinos Chapman: bad art for bad people, op. cit., p. 107. 218 Não iremos nos aprofundar na discussão sobre os termos “choque” e “vanguarda” nem em sua relação mútua. Para uma leitura mais atenta, leiam os seguintes artigo e livro, respectivamente: BEECH, Dave. Shock: a report on Contemporary art. In: BARSON, Tanya; GRUNENBERG, Christoph. Jake and Dinos Chapman: bad art for bad people, op. cit., p. 99-110; e, McEVILLEY, Thomas. The triumph of anti-art: conceptual and performance art in the formation of post-modernism. Nova Iorque: McPherson, 2005. 125 qual falava Duchamp, entre o bom e o mau gosto parece ter perdido importância nessa discussão em que o mercado de arte não julga padrões estéticos, mas avalia financeiramente falando a (suposta) potência daquela obra. Por outro lado, temos sido insensibilizados com relação ao choque da arte, porque a repetição desse choque e a sua conseqüente expectativa acabam atenuando seus efeitos. Entretanto, poderemos saber e predizer o choque em geral sem conhecer as suas técnicas e efeitos? Claro que não! Mesmo afirmando que uma surpresa está guardada para você, isto não significa que você saberá antecipadamente o que o aguarda e enquanto você se prepara para os modelos dessa surpresa, você pode pensar que existe sempre a possibilidade que esta surpresa, em particular, não é nenhuma delas. Choque se torna, dessa forma, um conjunto de obras que desafiam nossas predefinições sobre arte, estética, prazer, gosto e moral. Como afirma Beech, “para entender a persistência do choque é preciso prestar atenção para tais obras em seus contextos históricos assim como creditá-las pelas inovações que elas produzem e, de modo algum, quando estas inovações se inserem e tornam-se geralmente aceitas” 219. Essa rede irônica está mais interessada na provocação do outro do que simplesmente numa rasa atitude de diversão do público ou provocação contra o espaço do museu. Por outro lado, se essa atitude for considerada prática, tal transgressão pode não fazer sentido, e essa velha vocação da vanguarda pode estar no fim, porém, “repensando a transgressão não como uma ruptura produzida por uma vanguarda heróica de fora da ordem simbólica, mas como uma fratura traçada por uma vanguarda estratégica, dentro da ordem” 220 . Sendo assim, a meta dessa estratégia não é romper de forma absoluta com essa ordem, Il. 6 Márcia X. Kaminhas sutrinhas, 1995 Bonecos, motor, tecido, madeira 30 x 30 x 10 cm Col. Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ 219 mas o de expô-lo em crise, registrando seus pontos não só de falência, mas de passagem, as novas possibilidades que uma tal crise poderia abrir. Esta BEECH, Dave. Shock: a report on Contemporary art. In: BARSON, Tanya; GRUNENBERG, Christoph. Jake and Dinos Chapman: bad art for bad people, op. cit., p. 109. 220 FOSTER, Hal. O retorno do real. In: GERALDO, Sheila Cabo (Org.). Concinnitas: arte, cultura e pensamento. vol.1. n.8. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Arte, Instituto de Artes, UERJ, 2005, p. 180. 126 atitude encaminha-se para uma representação da condição desse objeto para provocar a sua operação – para pegar o objeto em seu ato, para torná-lo reflexivo, até mesmo repelente, em sua condição própria. Ruídos também fazem parte da arte contemporânea. A exposição Erótica: os sentidos da arte, realizada em 2006 no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, contou com a obra Desenhando com terços (2000-01). Essa obra, que usa terços como meio para desenhar, numa área determinada, pênis, sofreu diversos ataques de um grupo cristão obscuro (Opus dei), que deu um ultimato ao Banco do Brasil: ou eles retiravam a obra, ou uma série de fechamento de contas bancárias aconteceria. O Banco não pensou duas vezes e “castrou” Márcia X., provocando uma série de discussões sobre a legitimidade da obra, sua ética e moral 221. A relação entre o kitsch, que Márcia X. emprega em sua obra, e a moral católica fica evidente em outras apropriações da artista (como veremos adiante, na performance Ação de graças). Temos aí duas direções para essa linguagem. A primeira associa-se à mecânica do souvenir cuja futilidade proposital se sujeita aos imperativos da produção em massa, em oposição à idéia tradicional de artesanato, no qual temos o terço que é comprado em qualquer paróquia ou quermesse e, aqui faz uma ligação com a segunda direção que apontamos: a distorção da função do objeto. O terço passa a ser comprado em qualquer lugar, passa a adornar casas, a decorar paredes, a estar presente no cotidiano, não mais simplesmente como objeto de devoção mas como “emoção estética”. E é exatamente neste ponto que ele é apropriado por Márcia X. A multiplicidade de ações de sua ironia veio nos defrontar com uma certa conduta de pensamento: a investigação por excelência do objeto de arte, mas como vontade de surpreender, expor e reinventar a própria existência. O desafio pode ser patético, mas, novamente, também pode ser perverso: como desvio de uma norma, desvio de uma expectativa de norma. A ironia, em Márcia X., é possibilitar estratégias de circulação, deslocar elementos de seu plano habitual de vivência, dirigir o poder de fogo para uma situação em que se 221 Ao largo dessas discussões, importantíssimas, a maior perplexidade, porém, é o obscurantismo dos critérios que pautam a atuação cultural de entidades privadas que investem o dinheiro público da cultura. Será que uma ação tão importante e intricada quanto a produção cultural não necessitaria de um grupo autônomo para discutir critérios e processo de seleção, tornado esse acesso democrático e rico, em vez de deixarmos nas mãos de banqueiros ou pessoas do gênero? 127 extingue a obrigatoriedade de existência de um sentido por ser aquilo uma obra de arte, simplesmente porque aquilo pode não ser uma obra de arte. Às vezes, impõe um cansaço mais fundamental: um estranho impulso em direção a indiferenciação, um desejo paradoxal de não ter desejo, de acabar com tudo, uma chamada da regressão para além do infantil em direção ao que Hal Foster chamou de “abjeto”: [O abjeto] toca a fragilidade de nossos limites, a fragilidade da distinção espacial entre nosso dentro e fora, assim como da passagem temporal entre o corpo materno e a lei paterna. Tanto espacial como temporalmente, portanto, o abjeto é a condição na qual a subjetividade é perturbada, ‘em que o sentido entra em colapso. 222 O abjeto de Foster (o autor traça uma diferença entre abjetar - expulsar, separar – e ser abjetado – que significa ser repulsivo, preso, “sujeito suficiente apenas para sentir a ameaça a essa subjetividade”) pretende ser também uma atitude reguladora, no sentido que o sujeito ou uma sociedade abjetam o estranho que se encontra dentro. Dessa forma, o trabalho de Márcia X. parece afirmar que a arte não se reduz ao objeto que resulta de sua prática, mas ela é essa prática como um todo. Prática estética que abraça a vida como potência de criação em diferentes meios em que opera. O objeto desfetichiza-se e se reintegra ao circuito da criação, como um de seus momentos e de importância igual à dos demais. Ele perde sua autonomia, “é apenas uma contaminação de idéias”, ressalta a artista, que será ou não ‘atualizada’ pelo espectador. Márcia X. coloca em xeque os gêneros de performance e a própria atuação da mulher no campo das artes visuais. Destoa do ícone de musa ou artista sensível/frágil, para uma obra vigorosa que toca duas convenções sociais e morais muito delicadas no universo brasileiro: a infância e o sexo. A obra de Márcia X. está interessada nas empathias, as relações de afinidade ou de oposição que possam surgir, a ressonância que a obra possa suscitar. A artista estuda minuciosamente a disposição dos elementos componentes de suas ações, que deverão estar conformados de tal maneira que consigam convocar, atingir, tocar, mover, incitar e, numa palavra, vincular o espectador, 222 FOSTER, Hal. O retorno do real. In: GERALDO, Sheila Cabo (Org.). Concinnitas: arte, cultura e pensamento, op. cit., p. 179. 128 fazendo-o instaurador do campo relacional que constitui o mundo vivido, experimentado, desejado, imaginado por Márcia. Podemos apontar algo que é perene na obra de Márcia: a banalidade – e talvez seja aí que resida sua potência. Em Reino animal (2000) e Ação de graças (2001), uma série de provocações é iniciada a partir destes elementos cotidianos (pelúcia, brinquedos, animais de plástico) que são retirados de uma situação já esperada para serem Il. 7 Márcia X. Reino animal, 2000 Bonecas, pelúcia e motor 30 x 30 x 10 cm Col. Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ transformados, serializados, em objetos de caráter afável, numa primeira aproximação, embora com alto poder de fogo, para olhos mais cristãos, digamos assim. Em Reino animal, bonecas do tipo barbie, nuas e coroadas, encontram-se deitadas sob uma espécie de cama de pelúcia com um falo ereto entre as pernas das bonecas. Como um vibrador, o falo não para de balançar. Márcia X. argumenta que “essas engenhocas sexuais, anônimas e impessoais, nas prateleiras das lojas, acabam por incorporar personas diversas, transformando-se em objetos simultaneamente fálicos e femininos, pornográficos e infantis, sagrados e profanos”223. Nada resta ao espectador do que um riso obsceno, “preenchido por uma ironia que acompanha os momentos de apreensão quando ninguém pode gritar” 224. Já em Ação de graças 225 , os galos que calçam Márcia X. remetem às “pantufas de pelúcia com formas de bichos, coelhinhos e gatinhos” 226. Mas isto não passa de ironia fácil 223 X, Márcia. Natureza humana. Márcia X.: revista eletrônica, Rio de Janeiro, n.1, 2005. Disponível em: http://marciax.uol.com.br/mxText.asp?sMenu=3&sText=44. Acesso em: 27 de jul. 2007. 224 BATAILLE, Georges. O azul do céu. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 151. 225 Nessa performance, a artista, vestida com uma camisola branca, permanece deitada numa sala, cujo chão é um gramado natural. Num dos extremos da sala, estão duas bacias de louça contendo um líquido branco perolado. A artista permanece deitada todo o tempo, movimentando apenas a cabeça. Cada um de seus pés está enfiado na cloaca de um galo. Os galos depenados têm o corpo e as cristas cravejados de pérolas. Os pés e as cabeças dos galos são ornados com pequenas coroas douradas. Estas coroas estão ligadas por correntes douradas a uma coroa fixada na parede. A performance termina com a artista se levantando, molhando os pés no líquido das bacias e depois jogando o mesmo em cima dos galos. 226 JARDIM, Ana Teresa. Entrevista com Márcia X. In: SALDANHA, Claudia et al. Márcia X revista. Rio de Janeiro: Paço Imperial, 2005, p. 6. 129 acerca dos lances de uma máquina sócio-econômica que muitas vezes funciona no vazio. Se houvesse uma propaganda do kitsch para esses objetos, seria algo do tipo: “Eis alguns objetos práticos, simples e de bom gosto, para alegrar seu trabalho cotidiano ou complicar sua vida ao simplificá-la” 227 . Por meio desses objetos, você deixa de lado as tragédias do mundo para concentrar-se na maciez dessas alegóricas “pantufas”. Em larga escala, o kitsch nos coloca o seguinte problema: lidamos com uma sociedade global, em meio a um mercado imaginário que constitui um imenso arranjo de objetos – ou de produtos a serem consumidos – onde o indivíduo circula. O Saara, zona de comércio popular do Rio de Janeiro, torna-se o ateliê e o lugar de invenção da artista. “Seu comércio [relatando a sua experiência com o Saara] é o paraíso do kitsch e da novidade. Como num universo paralelo suas lojas se encontram repletas de artificializações, desatualidades e imitações baratas” 228. Abraham Moles divide o kitsch em cinco princípios: inadequação, acumulação, percepção sinestésica (estabelece um vínculo com a acumulação e consiste em “assaltar o máximo de canais sensoriais, simultaneamente ou de maneira justaposta; a arte total [grifo daquele autor] corre a todo momento o risco de tornar-se kitsch” 229 ), meio-termo (“ por meio da acumulação de meios, deste vasto display [grifo daquele autor] de objetos, o kitsch fica a meio caminho do novo, opondo-se à vanguarda, e permanecendo, essencialmente, uma arte de massa, aceitável para a massa e proposta a ela como sistema”230) e conforto (a idéia de sentir-se em harmonia com toda a gama de sensações, sentimentos, formas difusas e aceitação fundamental). Entretanto, são os dois primeiros princípios – inadequação e acumulação - que nos chamam a atenção quando a obra de Márcia X. é analisada. O kitsch oferece uma função de prazer ao indivíduo, ou melhor, de “espontaneidade no prazer [grifo daquele autor] que parece alheia à idéia do belo ou do feio transcendente” 231, concedendolhe a extravagância. A inadequação ocorre quando há um desvio permanente em relação à função que se supõe deveria cumprir, torna-se portanto inútil; um objeto que contém uma 227 MOLES, Abraham. O kitsch, op. cit., p. 210. X, Márcia. Natureza humana. In: http://marciax.uol.com.br/mxText.asp?sMenu=3&sText=44. Acessado em: 27 de julho de 2007. 229 MOLES, Abraham. O kitsch, op. cit., p. 74. 230 Idem, p. 74-75. 231 Idem, p. 76. 228 130 falsa funcionalidade232. São os bonecos elétricos das Kaminhas sutrinhas e os terços. A ironia e os princípios do kitsch também se encontram em Lavou a alma com Coca-Cola (2003): a artista permanece deitada durante uma hora dentro de um tanque preenchido com a marca de refrigerante do título. Fixado à parede, um néon vermelho que dá nome ao trabalho. A artista usa uma camisola branca de 4 metros de comprimento que vai inflando à medida que a Coca-Cola vai lentamente penetrando no tecido. As diferentes opções de banhos que são oferecidos no mercado (de santo, de chocolate, de luz, de beleza) encontram na acumulação kitsch – o frenesi do “sempre mais” ou povoar o vazio com um exagero de meios – o meio para dispensar o sarcasmo dessa inocente bomba atômica, que é a Coca-Cola: produto químico usado como detergente, removedor de gordura e capaz de dissolver até carne. O destino de muitos brinquedos de pelúcia, alvo deslocado da afetividade, é se converterem em fetiche. Em O fetichismo (1927), Freud explica o fetiche como um substituto do falo materno. Sua função é sustentar a crença infantil na existência do pênis da mãe. Walter Benjamin, sem desconsiderar as condições de produção artesanal e industrial, assinala com outro Freud (Para além do princípio do prazer) que os brinquedos, por um lado, tendem a certas realizações da libido; por outro, tendem a absorver projeções dos adultos, inclusive ideológicas. Nesse sentido, “as crianças são duras e estão afastadas do mundo” 233, elege Benjamin. Ironia, perversão, pornografia, ludismo, tudo vai se contaminando, se apropriando e misturando em Márcia X., sobrando para nós, leitores/espectadores, uma atitude de perplexidade. Um sorriso amarelo, talvez. Mas nunca descaso. A performance deixa de ser uma invenção ficcional da mulher sofredora ou perturbada pelos caminhos que o CAPETAlismo tomou e sua nova condição frente a esse paradigma. Márcia X. aponta os paradoxos da (hipócrita) classe média brasileira e as suas ambigüidades sexuais; sua arte, de forma alguma, é acusatória ou sofre da chamada crise da “inveja do pênis”, que tantas artistas que usaram a performance como suporte foram acusadas. Portanto, o espectador agora está defronte do cotidiano que ele mesmo criou, dos elementos e perversões que ele 232 Abraham Moles usa o termo “alienação” para descrever esse frenesi que o kitsch provoca numa certa camada da população, ávida em colecionar objetos inúteis ou multifuncionais, que representam, objetivamente, uma falsa funcionalidade. 233 BENJAMIN, Walter. Reflexiones sobre niños, juguetes, libros infantiles, jovenes y educación. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1974, p. 66. 131 glorifica e necessita. Seria aquele erotismo dos objetos de Márcia X. tão bizarro? Bem, não importa o que aconteça, o espectador está condenado ao riso irônico. As exclamações comuns – “passaram dos limites!” – exprimem inutilmente a indignação, que fica sem eco. Se a imagem é a garantia absoluta de uma impossibilidade de agir sobre ou no real, ela só é por ser ela própria uma paródia permanente do real. A credibilidade dos atos se torna difícil de compreender no real, e é por isso que ela se apóia nessa demonstração ostensiva que lhe oferece o meio da imagem. 3.5 Negócio arriscado: o quase insuportável deslizamento da ironia Como observamos na Introdução, em Volátil uma das possíveis leituras feita pelo público é que Cildo Meireles faria uma homenagem ao povo judeu, que foi exterminado na Alemanha nazista. Lido sem ironia, o trabalho provocativo “pode” ser e tem sido interpretado dessa maneira. Esse tem sido sempre o risco de usar a ironia. O gás, diz Meireles, é associado a violência, poder e mal; ele está lá e temos de lidar com ele. E assim é. Mas como as “coisas do mundo” estão sujeitas a interpretação, a obra não está totalmente sob o controle do artista, quaisquer que sejam as suas intenções. E aqui temos o relato do artista sobre estas diferentes, digamos, apropriações, a respeito de Volátil: Existem casos opostos [à interpretação da obra como uma homenagem ao martírio do povo judeu], de pessoas que não se relacionaram com o gás, por exemplo, ou se relacionaram de outra forma. Surgiu um cara viciado em gás. Imagine: existe um cara que cheira cola e outro que cheira gás, inclusive. Em outra situação, um senhor entrou na câmara do Volátil, tirou a calça e ficou nu. Ficou rolando, mergulhando e rindo no talco.234 Ao argumentar em favor de uma ironia em Volátil, denota pensar a ironia não como dizendo uma coisa e significando outra mas, em vez disso, como um processo de comunicação que implica dois ou mais significados sendo jogados um contra o outro. Em 234 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). 132 Todas as cores dos homens (1995), de Antonio Dias, a ironia foi a forma como a obra foi recepcionada pelo público. A ironia está na diferença; a ironia faz a diferença. Ela joga entre significados, num espaço que é sempre carregado afetivamente, que tem sempre “posições” irônicas. Aqui surgem as reverberações dessa interpretação, que é múltipla, e inclusive, irônica. A origem de Todas as cores dos homens foi uma composição retirada de um pedaço de desenho de caveira de pirata. Ninguém observava que eram praticamente quatro esqueletos. Todos diziam: “Aquele monte de cacete grande”. Para mim, as cores e a distinção dos materiais revelavam os homens. Havia, portanto: o homem de vinho, o homem de água, o homem verde e o grafite. Mas ninguém conseguia visualizar essa representação, e esse efeito tornou-se, para mim, muito engraçado.235 A ironia é uma tática discursiva que não pode ser compreendida separadamente de sua corporificação em contexto e que também tem dificuldade de escapar às relações de poder evocadas por suas “posições” avaliadoras. As restrições (paradoxalmente) habilitadoras que são operativas em todos os discursos obviamente funcionam aqui também, mas não se trata apenas de quem pode “usar” a ironia (e onde, como e Il. 8 Antonio Dias Todas as cores dos homens, 1996 Vidro, folhas de ouro e cobre, vinho tinto, malaquita, gesso, grafite, água mineral, fios e lâmpadas elétricas Dimensões variáveis Col. Daros-Latinamerica quando) e sim de quem pode (ou consegue) interpretála. Vista quer como um tropo isolado, quer como a articulação da situação humana, a ironia envolve as particularidades de tempo e espaço, de situação social imediata e política. Falamos de riscos, também. Um porco empalhado pode continuar sendo um porco empalhado, assim como uma garrafa de Coca-Cola, pode continuar sendo um pedaço de vidro. E eles são isto mesmo, mas também são muito mais... E não estamos falando do poder institucionalizante que o museu concede a este objeto quando é exibido dentro de seu 235 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 15 de março de 2006 (documento inédito). 133 espaço. O objeto guarda “histórias”. E a ironia dialoga incessantemente com estas histórias. Neste sentido, o espectador corre o risco de não pertencer a este circuito do “não dito” e o poder “simbolicamente irônico” do objeto é esvaziado. Como uma política estratégica e como um meio de construir significados, a ironia tem sempre carregado consigo o fator de risco. Como vimos, a ironia diminui consideravelmente a sua potência quando funciona fora do contexto no qual ela é apreendida ou então, em determinadas situações, como quando o público não tem acesso a própria história daquela obra ou ao contexto ao qual foi produzida. Portanto, a fim de agrupar as condições ideais de experiência e instaurar um evento artístico para um certo público, o artista se serve de estratégias específicas as quais têm um determinado efeito sobre esse público. Assim, onde quer que ele se ache nem sempre o objeto funciona como irônico em face de qualquer indíviduo. De fato, a obra exposta só vem a ser irônica no momento em que se erige como obra em face da experiência do público. Por outro lado, ao selecionar certas táticas para a constituição de uma aura irônica à sua obra, o artista acaba por estabelecer as condições de recepção da obra. Voltando à análise política e contextual de Volátil, uma das questões que permanecem na obra não é se “Meireles homenageou os judeus mortos no holocausto?”, mas “a ironia é o modo ideal de se lidar com o terror fascista?”. Talvez a resposta seja que este gesto conceitual, nos lembra que, realmente, a cultura nazista ocupou, explorou e abusou de maneira muito efetiva o poder do visual, especialmente o poder de uma perspectiva confinadora e mesmo disciplinadora. No espaço discursivo entre a vela e o “gás” se ergue uma ironia que transforma o artista numa figura divina, mas esperando a morte - de quem se atreve a penetrar a câmara - e literalmente brincando com o fogo. Um cheiro de gás que não é “o gás”, é tanto jogar com a natureza do perigo quanto uma outra indicação, ironizada e de aresta dupla, do papel do artista como um redentor em potencial. Gás, assim como o fogo, são meios potenciais de destruição e sua presença no meio da arte estabelece uma tensão irônica entre as forças de criação e destruição, transformação e arruinação. Porém, argumentamos que este cenário necessariamente não faz da obra de Cildo Meireles uma homenagem aos prisioneiros judeus, ou de Meireles, um artista fascista ou um agressor. 134 A dramaticidade e o perigo, alertado ao espectador por meio de suas capacidades sensoriais, está presente também em Desvio para o vermelho (1967-84). São três espaços separados, cada um permeado de modo diferente por essa cor. A primeira sala chama-se Impregnação (um ambiente doméstico forma-se numa sala em que todos os objetos – sofá, quadros, telefone, móveis, almofadas, mesa, capas de livro, dentre outros – possuem diferentes tonalidades da cor vermelha, como o artista anuncia: “A obra consiste exatamente em imaginar um lugar que por alguma razão, alguém, por preferência, mania, imposição ou circunstância, reuniu um acúmulo de coisas em vermelho, das mais diferentes tonalidades, o que em si não são impossíveis de serem reunidas” 236 ). Embora as paredes sejam o único elemento não-vermelho – são brancas, ausentes de luz -, o ambiente pareça chapado, cada objeto está vivo; está impregnado de... Vermelho. A cor que possui inúmeros significados, que abre um leque de possibilidades, não foi uma escolha aleatória. O vermelho está no sangue dos ciclos menstruais e nos registros da violência, mas também representa o amor e os sentimentos pueris 237 . Portanto, não são mais seres inanimados; esses objetos estão em constante fluxo. Teoricamente, essa coleção seria interminável. Nada impede o artista de que ele adicione elementos a ela. Desvio para o vermelho é uma decoração de falsas lógicas. Nada impede que alguém tenha um ambiente decorado com várias tonalidades de vermelho. Mesmo que a estrutura seja muito rígida, ao mesmo tempo ela é uma espécie de ‘construtivismo barroco’, porque ela tem uma lei de formação muito precisa nada a impede que ela seja renovável; os quadros podem ser mudados de posição ou elementos podem ser adicionados. 238 Chegando ao final desta sala e dobrando uma curva, chega-se em Entorno, no começo de um corredor estreito e com as duas paredes escurecendo gradualmente, uma pequena garrafa entornada no chão despeja um líquido vermelho, transmitindo a idéia de que o frasco continha mais líquido do que poderia suportar. Esta poça amplia-se e espalha236 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 09 de julho de 2007 (documento inédito). Segundo Cildo Meireles, “o nome da obra refere-se, em Física, ao desvio das ondas vermelhas, quer dizer, ao padrão de desvio; o vermelho é escolhido porque desvia muito pouco. A freqüência do vermelho possui comprimento de ondas longo; são as maiores. Então, são as que menos desviam ao se deslocar pelo espaço” (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 09 de julho de 2007, documento inédito). 238 Idem, ibidem. 237 135 se rapidamente para tornar-se uma segunda superfície que desse modo cobre todo o piso, deixando a garrafa diminuída e esquecida. Como observa Meireles em depoimento ao autor (em 09 de julho de 2007), “esse fato transmite uma explicação anedótica ao que acabou de acontecer”. Mas depois de certo tempo, você percebe que mais que introduzir esse descompasso ou diferença entre forma e conteúdo, entre o tamanho da garrafa e a desproporção da mancha, ou ainda como explicação para a primeira sala (uma explicação cromática ou a representação de um acidente que ocorreu naquele espaço), “o que ele concretamente introduz é o horizonte perfeito, ou a superfície do líquido em repouso”. Atravessando o Entorno, penetramos num ambiente de total escuridão, a ponto de ser fácil acreditar que a peça já chegou ao fim, porém, nos vemos confrontados com Desvio: ao final de uma sala escura, preso a uma parede, vemos um único feixe de luz sobre uma pia; esta, instalada em um ângulo diagonal, parecendo desafiar a lei da gravidade. Da torneira desta pia, escorre sem cessar um líquido vermelho. Pelo fato da sala ser ampla e completamente escura, a distância entre o espectador e a pia não pode ser precisamente determinada de pronto, e nossa impressão é que a pia poderia ser um objeto instalado a uma distância muito mais curta do que pensávamos, quando adentramos Desvio. É o som da água que nos guia, que de certa forma, nos acalma, nessa escuridão desconfortante. A sala é um beco sem saída e, além disso, não sabemos de onde vem esse líquido, nem muito menos para onde vai; não compreendemos o seu fluxo, mas sabemos que a Física está sendo contrariada. É o primeiro “movimento” em Desvio para o vermelho que presenciamos se não levarmos em conta a televisão, o ventilador, o rádio e o toca-discos de Impregnação. Tanto Desvio para o vermelho quanto Volátil possuem em seu circuito de percepção, uma conexão imediata e fundamental com a cor e o tátil. Contudo, se em Volátil, o olfato é o sentido que nos deixa em estado de alerta, em Desvio para o vermelho, a audição é o sentido mais aguçado na ativação desse circuito irônico. Mais do que trabalhar a partir de uma base estritatemente teórica a respeito do espaço, cor e/ou distância, Meireles é enfático em sua necessidade de criar um encontro fundado no envolvimento direto dos sentidos. O vermelho é a cor mais simbólica para o corpo humano; a que circula por dentro de nós. Esta obra é uma corrente inexorável como uma hemorragia. Uma ferida em aberto, sem cicatrização. Aquele quarto, grande e vazio, é o cenário para uma pia branca, que 136 escorre o líquido vermelho. Assim como em Desvio para o vermelho, Volátil apresenta a experiência de ser envolvido por uma única cor que gera um movimento de euforia, inevitavelmente seguido por um estranho mal-estar diante de um perigo ou uma situação opressiva para nós. Em Volátil, Meireles repete a experiência da monocronia de Desvio para o vermelho, dessa vez com o cinza. Ao caminharmos através de uma ante-sala cinza cujo piso está coberto por espessa camada de cinza, o espectador dirige-se a uma sala maior em que uma vela “bruxuleia contra um fundo cinza”239. O uso da vela acesa e a presença de um elemento olfativo que nos lembra o gás de cozinha provoca um outro contraste, o de um ambiente aparentemente pacífico onde paira a ameaça de explosão. Efetivamente é fluida a circulação nesse ambiente virtualmente pictórico. Mal notamos o chão que pisamos; a sensação peculiar é que, se demorarmos ali o bastante sob sua influência, refinaríamos nossa substância corpórea. 3.6 Vazio e ironia: quando essa aproximação é possível O “cinza” de Volátil, de certa forma, nos alude ao Branco sobre branco, de Malevich, ou então a exposição Le Plein, de Yves Klein, na Galerie Iris Clert em 1958: uma galeria integralmente preenchida por tinta branca, pelo nada... Nessa exposição, o artista resolveu não mostrar nada que fosse imediatamente visível ou palpável. O objeto da apresentação não teria a ver com um objeto concreto ou uma idéia abstrata, mas o indefinível na arte ou o “imaterial”, que Klein identificava com a aura onipresente e inefável contida em qualquer obra de arte. Klein tinha mandado retirar todo o mobiliário do interior da galeria (com a exceção de um expositor de vidro). Em apenas 48 horas, o artista tinha pintado todo o interior de branco e fachada da galeria, com a cor azul, o Blue Klein. O vernissage reuniu cerca de 3 239 CAMERON, Dan. Desvio para o vermelho. In: HERKENHOFF, Paulo; MOSQUERA, Gerardo; CAMERON, Dan. Cildo Meireles. São Paulo: Cosac & Naify, 1999, p. 92. 137 mil pessoas (que compraram os convites para exposição 240 , que funcionavam como bilhetes de entrada), que eram obrigadas a entrar uma a uma, ou em pequenos grupos, naquele pequeno espaço (a galeria possuía cerca de 20 m2) mergulhado em silêncio. Durante o vernissage, foi servido um coquetel azulado (uma mistura de gin, cointreau e azul metileno) que tinha a particularidade de tingir de azul a urina do público. Azul semelhante ao IKB? Quem sabe!? Pela primeira vez, um artista era dono de uma cor; uma pessoa detinha a propriedade de uma cor e ela seria, portanto, “distribuída” a todos os presentes na galeria. Segundo afirmou Yves Klein, a galeria chegaria a vender duas obras de arte “imateriais”, ficando os compradores fascinados com o insólito da idéia 241 . Comprar o vazio?? Possivelmente a maior ironia de todas. Em seu diário pessoal, Yves Klein escreve sobre a reação da polícia como artista, quando aquela foi questionada por alguns convidados do vernissage. Este fato, entretanto, não afasta o interesse do público pelo que está havendo na galeria, pelo contrário: “Às 22h10: Entre 2 mil e 3 mil pessoas estão na rua; a polícia está tentando afastar a multidão. Os policiais exigem uma explicação sobre porquê estão sendo cobrados 3 francos para assistir ao nada” 242. A exposição demonstrou o paradoxo de que o espaço podia ser totalmente divorciado do universo cotidiano dos objetos; desta maneira Klein deixa a mostra que a idéia que subjaz à obra de arte era mais importante do que a própria obra executada e materializada 243 . Yves Klein transforma a pintura numa parte integrante da vida humana, situando-a para além de todo e qualquer dualismo convencional. Combatendo as resoluções exclusivamente formais e artísticas, o artista procura antes de mais nada, respostas que sirvam de plataforma para a sua atitude “imaterial”: “Afirmar apenas que ultrapassamos a problemática da arte não é suficiente”, diz ele. “Importante é levar isso à prática, como eu 240 Segue o texto do convite: “Iris Clert convida-o a honrar com a sua presença espiritual o advento lúcido e positivo de uma nova esfera do sensível. Esta representação de uma síntese perceptível permite a Yves Klein a procura pictórica da emoção estática diretamente comunicável”. 241 WEITEMEIER, Hannah. Yves Klein: international Klein blue. Köln: Taschen, 2005, p. 32. 242 Cf. KLEIN, Yves. Yves Klein, 1928-1962: a retrospective. Houston: Institute for the arts, Rice University, 1982. 243 Na noite do vernissage, Klein anuncia o advento da “Época pneumática”. Derivado do grego, pneuma não significa apenas a atmosfera em geral, mas, sobretudo, o fôlego, a respiração, a substância gasosa que permite a respiração no homem, interpretada como princípio vital, o poder e a força do espírito. Nesse caso, Klein servir-se-ia do conceito de pneuma na sua acepção política, como uma emanação consciente de si própria em relação à realidade circundante. 138 fiz. Para mim, a pintura deixou atualmente de depender do âmbito sensorial de visão: ela é função da única coisa que efetivamente não nos pertence: a nossa VIDA!” 244. Portanto, o espectador pode impregnar a obra pela própria falta dela, pela própria ausência dessa monocromia: seja o cinza ou o branco. Um espaço em branco, pronto para ser demarcado, experimentado, vivenciado pelo espectador. No caso de Klein, por meio da urina; no caso de Volátil, por meio das pegadas no talco ou pelo medo da explosão do espaço. A obra marca uma presença no mundo e ao mesmo tempo nos interroga: “Qual é a nossa função nisto tudo?”. A ironia obviamente deixa as pessoas desconfortáveis. O comentário que mais costuma se fazer sobre a ironia – feito tanto por aqueles que a aprovam quanto por aqueles que a desaprovam – é sobre sua ética emocional, por assim dizer. Dizem que ela é um modo de distanciamento intelectual emoções” 246 245 , que “a ironia engaja o intelecto mais que as . Mas os graus de desconforto que a ironia provoca poderiam sugerir o oposto. Diz-se que a ironia irrita “ porque ela nega nossas certezas ao desmascarar o mundo como uma ambigüidade” 247 . Mas ela também pode zombar, atacar e ridicularizar; ela pode excluir, embaraçar e humilhar. A ironia, por outro lado, sempre tem um “alvo”; ela, às vezes, tem o que alguns chamam de “vítima”. Como as conotações desses dois termos implicam, o fio da ironia é sempre cortante. Aqueles que não atribuem ironia onde há intenção dela (ou onde outros queriam que houvesse) correm o risco de exclusão e embaraço. Em outras palavras, mesmo a mais simples das dimensões sociais da ironia freqüentemente envolve um componente afetivo. No campo das artes, onde diferentes posições ou “verdades” teoricamente coexistem e são valoradas, a ironia é ainda mais arriscada. Aqueles à qual a obra se coloca (ou se opõe) poderiam não atribuir ironia e simplesmente aceitar sua palavra; ou eles poderiam fazer a ironia acontecer e assim acusar a obra de estar se negando, senão se contradizendo. Outra possibilidade, seria o espectador não atribuir ironia àquele objeto ou “mensagem” e pensar que a obra estivesse defendendo o que você na verdade está criticando. Riscos passam a ser um fator real no discurso da ironia. O público pode simplesmente ver a obra como uma situação hipócrita ou 244 WEITEMEIER, Hannah. Yves Klein: international Klein blue, op. cit., p. 34. HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 84. 246 WALKER, Nancy. Feminist alternatives: irony and fantasy in the contemporary novel by women. Londres: University Press of Mississipi, 1990, p. 24. 247 KUNDERA, Milan. A arte do romance. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988, p. 134. 245 139 comprometida por sua cumplicidade com um discurso e valores aos quais eles pensavam que a obra se opunha. O espectador, é claro, poderia também atribuir ironia e interpretá-la precisamente de acordo com a intenção que você teve. Em Klein, os colecionadores que pagaram pelas “obras” adquiriram pneuma... Porções imateriais de pneuma ou sensibilidade pictórica. Situação que remete também ao Fiato d’artista de Manzoni, quando o artista enche com o seu próprio ar balões de plástico. Resultados de um processo de expropriação e regeneração da corporeidade do artista, Manzoni oferece seu próprio corpo como uma manobra para a presença da obra de arte, e os vestígios desse corpo em operação acabam por se tornar relíquias preciosas para um mercado de arte ávido até mesmo por fluidos corpóreos. Vazio e ironia parece que se tornaram diálogos constantes na história da arte. Em 2005, o Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, durante a retrospectiva de Rirkrit Tiravanija, ficou vazio. Não havia nada para ver, a não ser os títulos das suas proposições. O público, quando chegava ao local, era recepcionado por atores que tentaram transmitir vida a uma obra que não pode ser reconstruída. As palavras substituíram a materialidade dos objetos, tomaram conta do vazio. De certa maneira, conceito oposto ao do trabalho desse mesmo artista realizado, em 1989, na galeria Scott Hanson, em Nova York. Nesse trabalho, o espaço da galeria era totalmente preenchido... pelo odor de curry. Sob quatro pedestais estavam exibidas as várias etapas de um curry sendo preparado; isto é, um pedestal para os ingredientes, outro com o curry sendo cozido em fogareiro e um pedestal com os restos. “Os visitantes podiam sentir o cheiro do curry sendo cozinhado, o cheiro estava por toda a galeria. Uma nova porção era feita toda a semana. Mas o curry não deveria ser comido” 248 . São situações que se aproximam da crise do “não” vivenciados pelos neoconcretos, em particular, por Hélio Oiticica e Lygia Clark. Portanto, saem os 248 TIRAVANIJA, Rirkrit. Entrevista a Hans Ulrich Obrist. In: OBRIST, Hans Ulrich. Arte agora em 5 entrevistas: Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Olafur Eliasson, Cildo Meireles, Rirkrit Tiravanija, op. cit., p. 79. O curry só pôde ser experimentado 3 anos mais tarde na obra Free, durante exposição na galeria 303, em Nova York. Segundo o artista, durante a exposição “todos os componentes da galeria foram colocados no espaço principal de exibição, inclusive o escritório. Todas as portas foram removidas, revelando lugares escondidos. O escritório esvaziou e então por um tempo se transformou em um espaço de encontros social. Com dois potes de curry e um pote de arroz para oferecer aos visitantes para o almoço. O espaço do escritório da galeria se tornou um ponto de encontro e de descanso para vários visitantes habituais do SoHo” (Cf. Idem, p. 79-80). Free nessa situação particular pode significar o vazio do conteúdo/contexto; da exibição para a nãoexibição do lugar/não-lugar. Free também pode ser lido como aberto ou simplesmente como uma situação sem custo. 140 Parangolés (1964-72) e a dança, entra a cozinha e o curry. Os projetos ambientais e o Crelazer de Oiticica demarcam seu lugar na contemporaneidade, e seus herdeiros espalhamse pelo mundo. Esse “não” não é niilista, mas identificado como ruptura, crise de um projeto (institucional, artístico) que encontrava esgotamentos claros na sua política. Um artista que encontrava barreiras instransponíveis na realização de seu trabalho e se declarava contrário ao modelo estético regido pelo circuito de arte. Leituras paralelas, situações limites, saídas semelhantes. Passados 40 anos do texto Nós somos os propositores (1968), de Lygia Clark, as linguagens poéticas contemporâneas encontram o mesmo obstáculo: um mercado de arte saturado, conservador e cada vez mais envolvido com o capital; preocupado, agora, em expandir os seus domínios, em desafogar o número cada vez maior de (jovens) artistas no mercado das bienais, trienais e feiras. “Não-artista” não é (ou pelo menos, a sua origem não o identifica como sendo) simplesmente uma posição política, mas tomada de posição, uma política do corpo, se quisermos identificá-la como “partidária”. Algo que faz da figura do artista uma espécie de intermediário na experiência entre corpo e mundo, na tarefa de confundir a arte na vida: o conceito de “belo” passa a ser a percepção de mundo que o objeto traz consigo, não uma autonomia, mas um quasi-corpus. Como afirma o Manifesto neoconcreto (1959), “é porque a obra de arte não se limita a ocupar um lugar no espaço objetivo – mas o transcende ao fundar nele uma significação nova que as noções objetivas de tempo, espaço, forma, estrutura, cor, etc., não são suficientes para compreender a obra de arte, para dar conta de sua realidade” 249. 3.7 As diferentes posições perversas da ironia O peso avassalador do pejorativo e do crítico certamente contribui para o sentido de que a ironia é muitas vezes desesperadamente “afiada”: ela tem seus alvos, seus perpetradores e sua platéia cúmplice, emboras esses não precisem ser três entidades 249 GULLAR, Ferreira. Teoria do não-objeto. In: AMARAL, Aracy. Projeto construtivo brasileiro: 19501962. Rio de Janeiro, MAM; São Paulo, Pinacoteca do Estado, 1977, p. 85-94. 141 distintas e separadas. Esse é o caso em que se teoriza ou não a ironia do ponto de vista do espectador ou do artista. Ao passo que existem outras afirmações diferentemente utópicas feitas a respeito da ironia (tais como a opinião de que a duplicidade da ironia pode combater narrativas totalizadoras 250 ), muitas dessas afirmações centram-se em alguma versão da ironia tal como a que Kierkegaard chamou de “comunicação telegráfica”, que assume “simpatia infinita” e “cativa com laços indissolúveis”. Mas por causa da natureza transicional da ironia e de seus muitos efeitos e funções complexos, essa idéia da criação de intimidade por meio da ironia tem sido lida também como a base mais suspeita para a possível exploração do conhecimento comum dos participantes. Isso significa que a ironia, mais do que criar “comunidades afáveis”, passa a existir em “zonas de contato”, que são os espaços sociais – as instituições, o mercado de arte, até mesmo o espaço público, e muitas vezes, o próprio corpo - onde culturas se encontram e se chocam, quase sempre em contextos de relações de poder altamente assimétricas. Visto que o objeto de arte envolve uma interação social, não há razão para o processo irônico, que é atribuído a ele, estar menos implicado em questões de hierarquia e poder (em termos de manutenção ou de subversão) do que qualquer outra forma de discurso. E assim que o poder – ou falta dele – entra em cena, respostas afetivas geralmente não estão muito atrás, mesmo que elas não sejam evidentes. As circunlocuções da ironia são, por conseqüência, algumas vezes “menos ruins” que um insulto direto, funcionando para silenciar qualquer ataque. Mas ataque, insulto, agressão, escárnio e mesmo maldade são freqüentemente considerados como as condições emocionais usuais funcionando por trás da decisão de falar indiretamente nessa maneira específica. Podemos afirmar que a ironia torna-se a “arma de desprezo” do artista (ironista), mais poderosa exatamente por causa de suas circunlocuções. Táticas e posições. Situações e mutações por onde a ironia pode caminhar. Nos extremos que ela articula com inteligência e humor ecoam as polaridades afetivas e comunicativas provocadas pelo uso e/ou atribuição no campo das artes visuais. A ironia não é um caso de intenção do artista, embora possa ser; ela é sempre, no entanto, um caso de 250 Cf. HUTCHEON, Linda. Splitting images: contemporary canadian ironies. Toronto: Oxford University Press, 1991. 142 interpretação e atribuição. A ironia, por assim dizer, lida também com duas categorias: “motivação” e “tática”. O termo “tática” é usado para sinalizar o interesse desta pesquisa em como a ironia “trabalha” ou acontece, e “motivação”, é exatamente uma atitude proposital em direção ao ato de ironizar. A partir disto, podemos explicitar duas situações: primeiro, que motivações (projetadas) diferentes resultam em razões diferentes para atribuir ou usar a ironia e, segundo, que a falta de distinção entre os múltiplas fluxos da ironia é uma das razões para tanto desacordo sobre sua apropriabilidade e valor, para não falar de seu significado. Para o artista que faz uso da ironia, ele pode sempre se proteger e argumentar (de uma perspectiva de intenção) que estava sendo apenas irônico. Usar ou mesmo atribuir ironia dessa maneira é recorrer à sua função de veste protetora. Se pensarmos nas Clandestinas (1973), poderemos observar claramente como o funcionamento de oposição da ironia pode se posicionar, pois é onde sua natureza transideológica se manifesta, onde as arestas da ironia são vistas como se cortassem de todos os lados. O que alguns aprovam como polêmico e transgressor, pode simplesmente ser insultante para alguns leitores do jornal. Em termos de intenção, é assim que a ironia pode funcionar: uma espécie de contra-discurso. Para aqueles posicionados dentro de uma ideologia dominante, essa contestação pode ser vista como abusiva ou ameaçadora; para aqueles marginalizados e que trabalham para desfazer aquela dominação, ela pode ser subversiva ou transgressora. O que também persiste é uma avaliação freqüente de uma “tática” da ironia como uma humilhação “agressiva” que mantém as pessoas em seus lugares. Em sua análise do humor, Freud argumenta que os modos irônicos como a paródia, o travesti e a caricatura são sempre, apesar de seu humor aparentemente inocente, na verdade “dirigidos contra pessoas e objetos que reivindicam autoridade e respeito” 251 . Em outras palavras, não interessa quão atenuada ela possa ser, a ironia ainda pode ser tendenciosa e até mesmo “agressiva” 252. A retórica negativada de desaprovação que circula em torno dessa “tática” é uma de ataque cortante, destrutivo ou às vezes de uma amargura que pode sugerir não um desejo de corrigir, mas simplesmente uma necessidade de registrar desprezo e zombaria. 251 FREUD, Sigmund. Jokes and their relation to the unconscious. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 48. 252 Idem, ibidem. 143 Em muitas discussões sobre a ironia, a capacidade de um ataque corrosivo e destrutivo parece ser a única função que se leva em conta, especialmente, quando a questão é de apropriabilidade ou, principalmente, de excesso no seu uso. Entretanto, entendemos que é a sátira, em particular, que freqüentemente se volta para a ironia como um meio de ridicularizar – e implicitamente “corrigir” – os vícios da humanidade. No entanto, há uma variação tonal ampla dentro desta função corretiva, desde a provocação até o desprezo e o desdém. Para alguns teóricos, é algo claramente positivo para um artista, que faz uso da ironia, ou o espectador ter uma perspectiva firme de onde corrigir esses vícios e loucuras da sociedade, ter “padrões reais” para basear a indignição moral 253. Mas, hoje, outros parecem suspeitar cada vez mais de uma posição como essa: presumir tal posição de “autoridade” e “verdade”, pode ser um erro, se não um vício. Ambas as posições avaliadoras estão respondendo, neste momento, à “militância” da ironia que é vista funcionando de maneira corretiva. Na arte, a ironia não tem a pretensão de corrigir algo, mas sim, denunciar, criar imaginários, inventar possibilidades e um princípio cognitivo que se transforma gradualmente por intermédio da criação (do artista e do público) no princípio geral de metáfora. Num sentido negativo, diz-se que a ironia joga para grupos fechados que podem ser elitistas e excludentes. A ironia claramente diferencia e assim potencialmente exclui. Alguns teóricos sentiram que qualquer distanciamento irônico implica o dualismo superioridade/inferioridade e se voltam para a declaração famosa e muito citada de Kierkegaard de que a ironia não é entendida por todos porque ela “viaja em incógnito exclusivo, por assim dizer, e menospreza, de sua posição elevada, com compaixão, a fala comum rasteira” 254 . É por isso que a ironia tem sido chamada de atitude intelectual, aristocrática e até mesmo anti-social, ou possuidora de um “eixo de poder” vertical, da parte deste artista ironista. Essa idéia da ironia funcionando de uma maneira obviamente elitista envolve uma inferência sobre ambos: o artista (que adquire um grau máximo de superioridade, apesar de, na maioria das vezes, não ser esta a sua intenção) e o espectador (que “pega” a ironia e, assim, sente-se parte de uma sociedade pequena, seleta e secreta). 253 254 FURST, Lilian. Fictions of romantic irony. Cambridge: Harvard University Press, 1984, p. 8. KIERKEGAARD, Sören. O conceito de ironia: constantemente referido a Sócrates, op. cit., p. 265. 144 Como isso sugere, no entanto, a ironia que exclui também inclui, criando uma condição de “comunidade amigável”, ou uma colaboração, entre o artista e o seu interpretador. No entanto, existem casos, em que o próprio artista não quis atribuir um sentido irônico à obra que criou, mas ela acaba adquirido, alheia a sua vontade. Podemos dizer que no momento que a obra “sai” do ateliê ou da mão do artista e ingressa no mundo, incluindo a égide da instituição, a mesma é contaminada por todos os tipos de significação, até mesmo pela ironia. Aqui, as questões de poder e autoridade, que a ironia traz (para o seu “entendimento”), são deslocadas. Nesse momento, uma “rede comunicativa” é montada. Graus de interpretação e níveis de entendimento são formados e uma teia de signos e decifrações é largamente explorada e implementada, à margem de qualquer interferência ou mesmo interpretação do artista. Neste momento, a obra passa a estar no mundo. O texto do informe da exposição Pague para ver, de Nelson Leirner, na Multipla de Arte Ltda., em São Paulo, em 1980, revela a tática audaz e agressiva para um mercado paulista que se satisfazia (e por que não dizer que ainda se satisfaz?) com o seu mundo pequeno burguês, monótono, e com julgamentos pré-estabelecidos sobre a arte. Segue trechos desse documento: Consegui. Vinte anos de tentativas para finalmente chegar aonde queria: venda garantida, arte compromissada, arte comercial pura. Divulgo a fórmula: 1- PRODUTO: tem de ter certas características constantes (usei em todos os trabalhos o mesmo estilo, a mesma medida e a mesma moldura). A sociedade sempre quer reconhecer o autor (...) 2- DIMENSÃO: quanto maior a dimensão do trabalho, maior o seu valor financeiro, sem esquecer o espaço médio da moradia do comprador. Os tamanhos mais vendáveis são acima de um metro e abaixo de um metro e cinqüenta (usei, como medida base, um metro e dez). 3- TABELA DE PREÇOS: (...) um trabalho a óleo vale mais que acrílico, que vale mais que aquarela, que vale mais que têmpera, que vale mais que bico-depena, que vale mais que lápis de cera (...) Resolvi usar todos os materiais pois deve valer muito mais um trabalho que usa óleo, mais acrílica, mais aquarela, mais têmpera, mais bico-de-pena, mais lápis de cera, mais lápis de cor, mais grafite e outros materiais. 4- ESTÉTICA: (...) Nos dias de hoje a sociedade divide basicamente sua preferência entre duas tendências: o figurativismo e o abstracionismo. No 145 figurativismo, o fato do trabalho ser entendido lhe dá a sensação de aproximação com o artista, tornando-se seu cúmplice. Os que preferem o abstracionismo alegam que, ao sentir o artista, colocam-se mais perto de seu mundo mágico, tornando-se também seu cúmplice (agora terei todos como amigos; usei ambas tendências: o real e o imaginário). 5- O MARCHAND E A CRÍTICA: será uma festa completa. O marchand terá, através de suas comissões, pagos todos os investimentos, fora o lucro e a pseudosensação do mecenato. Os críticos continuarão com seus empregos garantidos através de suas reportagens (...) 6- O ARTISTA: ele poderá sentar-se numa alta roda de jogadores, filar a última carta, apostar alto e esperar que paguem para ver.255 Leirner desmascara as estratégias e os personagens do mercado de arte (no caso, o paulista); sua ironia fica no limite entre a paródia e o deboche. Expõe os dois lados aos quais esses personagens estão envolvidos: o lucro comercial (a obra como um produto, como qualquer outro artefato de uma sociedade capitalista) e o lucro simbólico (o prestígio, o número de obras de uma coleção, as reportagens produzidas pelos críticos, enfim, o mercado que opera à margem e ao mesmo tempo sustenta todo esse mecanismo de produção). As “posições” da ironia de Leirner, então, parecem agradar e intimidar, sublinhar e solapar; elas juntam as pessoas e as separam. A obra de arte é uma coisa banal, uma mera mercadoria produzida visando a um consumidor ignorante, que detém o capital, mas que mantém aquele objeto apenas como um símbolo de status. Um elemento de um jogo perverso, que ele (comprador) mal sabe que faz parte. O comprador/colecionador é um consumidor como outro qualquer: possui mais capital que o consumidor médio, mas isto não o deixa de fora do sistema capitalista. O marchand (que lucra financeira e simbolicamente com as vendas) e o crítico (que lucra com o prestígio e a manutenção de seu emprego) complementam este circuito. E o artista? O artista – consciente de todas essas estratégias e, portanto, apto para usá-las – é quem pode conduzir as jogadas. É ele quem dá o xeque-mate nessa arte mecanizada e pensada (e formalizada) como produto. 256 255 Informe da mostra Pague para ver, de Nelson Leirner. In: CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 67. 256 É interessante salientar que no verso do informe (que seria distribuído aos convidados pela galeria) havia a imagem de uma mão segurando um royal straight flush, a jogada máxima do pôquer). A exposição acabou não acontecendo, já que a galerista Teresa Nazar, não aprovou o informe e cancelou a mesma. Podemos, 146 Esse texto de Nelson Leirner traça similitudes com A arte depois da filosofia (1969). De uma forma debochada, Joseph Kosuth explora as relações e agentes envolvidos no que se convencionou chamar de arte. O autor afirma que um trabalho de arte é uma tautologia, na medida em que é uma apresentação da intenção do artista, ou seja, ele está dizendo que um trabalho de arte em particular é arte, o que significa: é uma “definição” da arte. Kosuth faz uma apologia ao que Donald Judd afirmou sobre a “verdade” da arte ou o que transfere ao objeto a categoria de “arte”: “Se alguém chama isso de arte, é arte”. Nesse trecho, onde Kosuth faz referência ao trabalho de Richard Serra, podemos perceber as semelhanças com a “obra” irônica de Leirner: “Eu não faço arte”, diz Richard Serra, “estou empenhado em uma atividade; se alguém quiser chamá-la de arte, é problema seu, mas não cabe a mim decidir isso. Essas coisas todas são consideradas depois”. Ele não tem nenhuma idéia sobre a arte. Como é então que nós temos conhecimento sobre a “sua atividade”? Porque ele nos contou que se tratava de arte por meio de suas ações depois [grifo do autor] que “sua atividade” aconteceu. Ou seja, pelo fato de que ele está em várias galerias, põe o resíduo físico de sua atividade em museus (e o vende a colecionadores de arte – mas, como observamos, colecionadores são irrelevantes para a “condição de arte” de uma obra). O fato de ele negar que seu trabalho é arte mas representar o artista é mais do que um simples paradoxo. 257 Observamos por meio dessa “obra” de Leirner, que por mais plurais que essas funções (da ironia) sejam, nós ainda parecemos querer chamar a coisa por um nome só: ironia. Essa decisão pragmática não significa de maneira nenhuma que nós devamos esquecer as complexidades das motivações deduzidas da ironia: uma consciência do âmbito de operações que se pode interpretar como sendo feitas pela ironia pode ajudar a resistir à tentação de generalizar sobre os efeitos dos quais a ironia é capaz ou os afetos a que ela certamente pode dar origem. Manter essa complexidade é importante porque as arestas/posições são as características primárias que distinguem a ironia como uma portanto, concluir que a exposição, ironicamente, tornou-se apenas uma ação, tão ou mais frutífera (do ponto irônico) que a própria exposição. 257 KOSUTH, Joseph. A arte depois da filosofia. In: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Org.). Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 222. 147 estratégia retórica e estrutural, não importando a variação das manifestações reais que possam existir. Nesse momento, Leirner aproxima-se de Duchamp: expande as suas invenções e coloca em jogo, mais uma vez, o papel do mercado e do público nesse jogo mercantilista da arte. Apropriando-se do readymade L.H.O.O.Q. (1919), Leirner vai além do bigode e da barbicha, e expõe caixas, ordenadas uma ao lado da outra, contendo infinitos objetos derivados do capital desenfreado chamado Mona Lisa. A sociedade da abundância caracteriza-se pela vontade de fazer funcionar a máquina econômica através da demanda eterna do consumidor, ou seja, o mercado encontra-se envolvido num processo de circulação que deve necessariamente acelerar-se. Trata-se de uma ética do supérfluo, do consumo forçado; é a tentativa de incorporar uma funcionalidade nos objetos inúteis que o kitsch sacraliza. É claro, existem meios de dissimular tal dilema, como a propaganda, que se torna “um gerador de desejos e criador de funções” 258 , ou a própria fragilidade do produto que, muitas vezes, é constituído por um material de qualidade duvidosa. Essa obra de Leirner – denominada Monalisas (2003) – fica na fronteira entre o descartável e o luxuoso (o artista produz embalagens caprichadas para essas mercadorias, similares a um porta-jóias, aveludadas e com tampa de vidro, como a transmitir uma “aura” de obra de arte original e não apenas um colecionismo de objetos insignificantes recolhidos em qualquer loja de museu, o que elas verdadeiramente são). Os broches, pratos, cartões, isqueiros, canetas, guardados nas caixas, são uma prova cabal de que, mais do que nunca, a arte está sob o risco de não significar mais nada salvo o fornecimento de imagens capazes de alimentar esse mercado sedento por “lembrançinhas”. Vindas diretamente da loja do Louvre, esses objetos, produtos de uma das imagens mais valorizadas da história da arte, transformaram a obra de Da Vinci numa simples renda, cada vez mais diversificada, do museu. Leirner com a produção dessas caixas, por sua vez, dispõe as mesmas “de modo a melhor despertar o gosto do consumidor, estimulando-o a comprar e exibir em sua casa” 259 , com status de arte, aquilo que não passa de produto de loja de museu, de souvenir. Palavra que também pode ser incorporada às notas de zero cruzeiro ou às garrafas de Coca- 258 259 MOLES, Abraham. O kitsch, op. cit., p. 168. FARIAS, Agnaldo. Nelson Leirner: Por que museu? Niterói: MAC-Niterói, 2006, p. 50. 148 Cola de Cildo Meireles quando um colecionador compra as mesmas para o seu acervo. Como afirma o artista: Nada impede que alguma coleção abrigue essas obras, mas isto não é o trabalho. Acho que é parte da trajetória delas mas, no momento em que isto ocorre, você está negando a eficácia do trabalho, que é circular (a capacidade dele pertencer a um meio circulante). O colecionador passa a ter, portanto a memória, o resíduo, a relíquia do que foi esta ação.260 Leirner conversa com os seus pares e torna-se próximo, nesse caso, das questões levantadas pelo ator mascarado com uma cabeça gigante de Picasso, recepcionando o público no Museum of Modern Art, Nova York (em 1998), como uma mascote da Disneyworld, convocando os espectadores a consumir. Maurizio Cattelan, autor dessa performance, questiona o papel da instituição cultural e o seu envolvimento econômico: o seu lugar como produtor de idéias na sociedade, atrelado a uma metodologia agressiva desse posicionamento que faz com que a expressão “indústria das artes” ganhe um sentido completo. O artista lança a questão: O que significa ser uma instituição cultural? Eles não querem mais visitantes ou eles apenas querem continuar sendo enfadonhos? De qualquer maneira, eles já estão vendendo xícaras, camisetas, calendários e pôsteres. Picasso é uma figura muito popular, muitas pessoas estavam fotografando-o. Isto mostra que as pessoas sempre procuram um tipo de memória diferente do lugar, uma memória mais pessoal. E se a figura do Picasso fazia alguma coisa, era simplesmente promover o museu como um lugar amigável.261 Provocação do espaço sagrado. Congraçamento dos dois vetores em prol de uma ironia. Um ataque contra o próprio sistema? Será verdade? Em arte contemporânea, devemos suspeitar de tudo. Cattelan veste seu marchand em Paris, Emmanuel Perrotin, com uma fantasia gigante de um grande pênis rosa que se assemelhava a um coelho, e faz dele a sua própria performance/obra (Errotin, le vrai lapin, 1994). Em 1999, o artista 260 261 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2006 (documento inédito). BONAMI, Francesco et al. Maurizio Cattelan, op. cit., p. 15 [tradução do autor]. 149 simbolicamente crucifica outro de seus marchands, prendendo-o numa parede com fita adesiva (A perfect day) e expondo-o na galeria dele. Galeristas atuando no lugar do artista. Nesse território, definições e fronteiras devem ser constantemente negociadas e redefinidas, enquanto os papéis são trocados sob a pressão de um abuso de poder sem limites, intricando ritos de humilhação e discutindo esse papel de celebridade do artista. No campo da produção brasileira, Raul Mourão realiza o vídeo 7 artistas em 1995. Desse circuito de exploração, sequer a figura romântica do artista (e talvez por isso mesmo), cultuada por todos como modelo do indivíduo liberto, recheado de sonho, escapa. Nesse trabalho, Mourão convidou 7 colegas artistas 262 a vestirem cintos de alpinismo fixados nas paredes. Suspensos, desconfortáveis, com os movimentos semi-paralisados, dessa vez são os artistas, o objeto exposto. E por que eles pensariam que as regras (da arte), ou a sua ausência, não se aplicariam a eles? Historicamente, a função da arte, como questão, na modernidade foi proposta por Duchamp. Leirner resgata essa condição (de função da arte) e usa o aparelho readymade: com Duchamp, arte mudou o seu foco da forma da linguagem para o que estava sendo dito; essa mudança – de aparência para concepção – foi o começo das questões de Duchamp e o mote de Leirner, por excelência. Como ressalta A arte depois da Filosofia, “o ‘valor’ de determinados artistas depois de Duchamp pode ser medido de acordo com o quanto eles questionaram a natureza da arte; o que é um outro modo de dizer, ‘o que eles acrescentaram [grifo do autor] à concepção da arte’ ou o que não existia antes deles” 263 . Ao comprar objetos da loja do Louvre, organizá-los dentro de uma caixa e taxá-los como objeto de arte (seja por uma atitude irônica ou não, essas caixas foram vendidas via uma galeria de arte, foram compradas – como arte - e parte desse dinheiro chegou às mãos do artista), Nelson Leirner coloca em questão a autenticidade dessa função chamada “artista”. Nesse momento, Kosuth também nos alerta sobre a função “dos artistas mortos” e a produção contemporânea: A arte ‘sobrevive’ influenciando outra arte, e não como o resíduo físico das idéias de um artista. A razão pela qual diferentes artistas do passado são ‘trazidos à 262 São eles: André Costa, Barrão, Carlos Bevilacqua, Eduardo Coimbra, Márcia Thompson, Marcos Chaves e Ricardo Basbaum. 263 KOSUTH, Joseph. A arte depois da filosofia. In: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Org.). Escritos de artistas: anos 60/70, op. cit., p. 218. 150 vida’ novamente é que algum aspecto de sua obra se torna ‘utilizável’ por artistas vivos. Parece que não se reconhece o fato de não haver nenhuma ‘verdade’ a respeito do que é arte. 264 A ironia adquiriu uma condição um tanto privilegiada na sociedade contemporânea: sua produção manifesta de significados por meio da “diferença” parece apontar para a natureza problemática de toda linguagem: de um ponto de vista puramente semântico, a “solução” irônica de significados plurais, mantidos em suspensão, pode desafiar a noção de que a linguagem tem uma relação referencial de um para um com uma realidade externa a ela. Discutir a semântica da ironia, entretanto, é inevitavelmente lidar com um conjunto de questões complexas centradas não apenas no conceito de significado plural, mas que também envolve coisas como o papel condicionador do contexto e as atitudes e expectativas tanto do artista quanto do espectador. O contexto nos recentes casos abordados é a “posição” da idéia de objeto de arte pensado em sua inserção na cultura de massa da sociedade industrial. Dentro desta instância denominada “contexto”, objeto e público não estão dissociados das contingências culturais e políticas que dão lugar à experiência. De um lado, esse contexto remete o receptor ao interior de um sistema de representação simbólico, e, de outro, tão logo a função de todo objeto dependa do contexto, o que determina seu uso artístico é tanto as contingências espaço-temporais de sua apresentação quanto as condições de leitura desse público. 3.8 Nem tudo é verdade ou ironia(?) O circuito da ironia opera em três instâncias: relacional, inclusivo e diferencial. A ironia é uma estratégia relacional no sentido de operar não apenas entre significados (“ditos”, “não ditos”), mas também entre pessoas (artista, público, instituição e mercado). O significado irônico ocorre como conseqüência de uma relação, um encontro dinâmico de diferentes criadores de significado, mas também de diferentes significados, primeiro, com o 264 Idem, p. 219. 151 propósito de criar algo novo e, depois, para dotá-lo de um juízo crítico. As raízes dessa função estão na figura dissimulada do eiron, visto como algo cínico e até mesmo hipócrita 265 . A raiz grega de eironia sugere mesmo dissimulação ou engano. A obra Dado no gelo (1976) de Waltercio Caldas nos ajudará a entender o caráter relacional e inclusivo da ironia. Ainda que ela não nos permita entender o fato de que o “não dito” é o que tem mais peso ou privilégio na mistura de significados semânticos que constituem a ironia, essa imagem (ou melhor, a idéia de sua “percepção”) permite que se pense sobre o significado irônico como algo em fluxo e Il. 9 Waltercio Caldas Dado no gelo, 1976 Fotografia 40 x 60 cm Col. do artista não fixo. Ela também implica um tipo de percepção simultânea de mais de um significado para criar um terceiro composto (irônico). A ironia, então, compartilha com os trocadilhos uma simultaneidade e uma superposição de significados. Essas imagens (a foto e o seu enunciado) implicam, no entanto, que o significado irônico é simultaneamente duplo (ou múltiplo) e que, por conseguinte, você não tem de rejeitar um significado “literal” para chegar ao que usualmente se chama de significado “irônico” ou real da elocução. Alguns teóricos afirmam que não conseguimos abarcar ambos os significados literal e irônico 266 ; no entanto, sugerimos que não só conseguimos, mas que, se não o fizermos, então, não estaremos interpretando a elocução “como irônica” de maneira nenhuma. A ironia precisa de ambos (o “declarado” e o “não declarado”), pois ela é uma forma do que podemos chamar de polissemia: “Esse não dito que é, contudo, dito” 267 . Esse modelo inclusivo não precisava ter embutido em si as restrições da noção semântica padrão de ironia como inversão direta – isto é, como o simples oposto ou contrário que substituirá o significado literal. E a obra mostra isto: o objeto é o que é. Um dado preso no gelo. 265 KNOX, Norman. The word “irony” and its context: 1500-1755. Durham: Duke University Press, 1961, p. 38. 266 KAUFER, David. Irony and rhetorical strategy. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 93. 267 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 94. 152 O título descreve literalmente aquilo que estamos vendo. De um lado, o jogo “título versus obra” explora, de uma forma sarcástica, o encontro absurdo entre o que lemos e o objeto designado. De outro, ironiza a célebre pergunta “o que é arte?” e o recalque de suas respostas-limites-clichês. A redução desnecessária da ironia ao modelo ou/ou de inversão tem levado a noções radicalmente simplificadas de como o significado irônico ocorre e, por conseguinte, de sua possível política. A mais comum e oficial dessas noções é a concepção de que a ironia envolve uma rejeição consciente do significado literal e a substituição por um significado “irônico” (freqüentemente oposto). De teóricos da fala estruturais 269 268 a lingüistas , concorda-se amplamente que, tomada em termos semânticos, a ironia é simplesmente uma inversão antifrástica no nível da palavra. O argumento desta tese é que claro que pode-se definir algumas “posições” da ironia dessa maneira, mas exatamente o que uma definição geral de toda ironia só em termos de opostos e contrários acarreta? Como jogar com o jogo da arte? É o que parece anunciar esse trabalho. O jogo compreende o acaso, o fluir, e as regras são em última instância apenas os limites do acaso. Mas aqui o que deveria movimentar-se está preso, congelado. Os dados que, por definição, representam o imprevisto, elementos relegados a sorte, sofrem uma intervenção. Esse “congelamento do tempo” mobiliza uma ação direta sobre a própria história da arte. Esta, sim, está em xeque aqui. Seria esse Dado no gelo o gesto definitivo que enterra o acaso e as possibilidades específicas da arte? Como disserta Ronaldo Brito, ainda há mais um registro sobre esse trabalho: é próprio do trabalho em geral apresentar-se como enigma que parece exigir resposta, “desde o nível imediato de sua realização – por exemplo: como foi possível a operação de enregelar o dado? – até as conotações mais distantes, o “aparelho” interpela e desafia quem o encara” 270 . Portanto, em Dado no gelo a ironia entra nesse circuito como elemento que pretende mostrar a própria situação da arte, seus componentes paradoxais e a sua contradição fundamental. Seria porém contraditório exibir claramente essa posição. Poderia negá-la por suposto. A obra não se resume ao discurso positivo de uma negatividade, pelo contrário a obra expõe essa contradição na exata medida em que esta o 268 GRICE, Paul. Studies in the way of words. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 95. 269 KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. L’ironie comme trope. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 95. 270 BRITO, Ronaldo. Waltercio Caldas Jr: aparelhos. Rio de Janeiro: GBM Editoria de Arte, 1979, p. 109. 153 atinge e dilacera. O mais irônico disso tudo é o fato “dele passar a existir, de estar no plano representativo”, disso ser possível: um dado no gelo. O gelo deixa de estar no campo das idéias, para estar no campo da foto, porque o único gelo que não derrete é o gelo fotografado. Se ele fosse de verdade, ele desapareceria. Mas como ele está congelado, e este congelamento o mantém, ele fica naquele momento capturado pela fotografia. Ironicamente, é um gelo perene. É engraçado, porque ele não vira real, ele vira imagem. E vira uma imagem, de certa forma, orgulhosa de si, de ser imagem. É neste sentido [a seguinte sentença]: ‘eu sou imagem e prefiro ser imagem’. 271 Hegel deixou isso implícito quando afirmou que “a ironia se contradiz e se aniquila”. A discussão dessa pesquisa sobre esse modelo semântico de ironia como simples contradição lógica (e significando substituição) se garante apenas por causa de sua posição histórica dominante em tantas “posições” diferentes e por causa do efeito restritivo geral que esse modelo tem sobre como pensar a ironia de maneira diferente. É por isso que queremos considerar aqui o que pode ocorrer se o significado irônico for visto como sendo constituído não necessariamente apenas por uma substituição ou/ou de opostos, mas por ambos - o “dito” e o “não dito” - trabalhando juntos para criar algo novo. Colocando em termos estruturalistas, o signo irônico compõe-se de um significante, mas dois significados diferentes, que não são necessariamente opostos. Aqui, cabe comentarmos sobre a identidade semântica específica da ironia e, assim, ao tentar determinar as diferenças entre ela e outros tropos, outras formas de obliqüidade, pois elas são freqüentemente consideradas em grupo nas discussões críticas. Metáfora e ironia podem realmente pertencer à mesma família geral de “desvios semânticos”, mas a relação de similaridade que define a metáfora não é a mesma coisa (nem em tom) que a relação de diferença que define a ironia. É claro, ambos são semanticamente plurais, juntando mais de um significado para criar um outro, composto, diferente e interdependente. Além de serem “aditivos” dessa maneira, ambos dependem igualmente do contexto. Contudo, o ponto nodal aqui, não é a semelhança, mas o contraste: 271 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2006 (documento inédito). 154 a identidade semântica da ironia se constitui em termos de diferença e da metáfora, em termos de similaridade. De um ponto de vista semântico, a outra forma que sempre se confunde com a ironia é a alegoria. Ambas envolvem dizer uma coisa e querer dizer outra. Como acontece com a ironia, pode-se ver o “dito” da alegoria como inseparável do “não dito”, e juntos esses dois constituiriam o que se chama de significado “alegórico”. O fato de que, em termos de estrutura semântica, ironia e alegoria parecem compartilhar muita coisa levou à sua freqüente fusão. Tem-se chamado a ironia de uma “instância do duplo significado da alegoria” 272 . A distinção principal que se deve fazer, como no caso da metáfora, é que a alegoria depende de uma “semelhança habilmente sugestiva” 273 entre o “dito” e o “não dito”, ao passo que a ironia sempre se estrutura numa relação de diferença. A ironia, semanticamente, é muito mais aberta à multiplicidade do que a alegoria. A etimologia dos dois termos sugere ainda uma outra distinção: a natureza relativamente benigna do “falar de outra maneira” da alegoria contrasta com a intenção mais suspeita, dissimulada na raiz do eiron da ironia, para apontar, mais uma vez, para aquela diferença em aresta ou avaliação crítica. É claro, a aresta também é uma das coisas que diferenciam ironia de ambigüidade. Ambas certamente significam mais do que uma coisa, mas o ambíguo não tem o impacto diferencial crítico da ironia e nem, de acordo com alguns, sua precisão de comunicação: “Se o texto é irônico, então ele deixa de ser ambíguo”274. Entretanto, dizer uma coisa e significar outra coisa diferente com o intento de dissimular define tanto a mentira quanto a ironia. A ironia, também, “pressupõe consciência da distinção entre verdade e falsidade, da possibilidade de falsear a realidade na linguagem, e da diferença entre uma representação literal e uma figurada” 275 . A ironia estabelece dúvidas sobre o real. Lança-nos tal questão: seria o ser humano capaz de realizar tal ato? Em A Terra é azul (1961) temos uma foto onde o próprio artista – Yves Klein - é colocado numa posição mediativa; Klein concentra os seus “poderes mentais” sobre um globo azul, e 272 HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 100. Idem, ibidem. 274 DANE, Joseph. The critical mythology of irony. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 101. 275 WHITE, Hayden. Tropics of discourse: essays in cultural criticism. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 101. 273 155 o liberta do abraço dos pólos, fazendo-o flutuar no espaço. A diferença aqui está na intenção: usualmente não se pretende que as mentiras sejam interpretadas ou decodificadas como “mentiras”; ao contrário, as ironias são realmente apenas ironias quando alguém as faz acontecer. Tal qual o que acontece com os paradoxos pretende-se permanentemente que as mentiras sejam contradições; os significados irônicos, entretanto, se formam por meio de oscilações aditivas entre significados “ditos” e “não ditos” diferentes. Ilustramos esse exemplo com o caso de Ronald Duarte. Certo dia, em seu ateliê, o artista separa um conjunto de papéis sobrepostos e recortados que seriam jogados no lixo, quando um marchand aparece para visitá-lo e conhecer o que estava produzindo naquele momento. O marchand ficou fascinado com o “trabalho”, achando que o mesmo fosse uma obra terminada. A “obra” foi resgatada pelo marchand, que naquela altura não sabia qual era a sua real natureza, ou melhor, destino. Duarte analisando esse fato expõe o seu conceito de mentira: Não existe esse conceito de verdade e mentira. Para mim, tudo é verdade. Não existe mentira. Se você falar 10 vezes a mesma mentira, ela se torna verdade. Tudo o que se constitui é verdade, por mais irônico ou criativo que seja. Acredito que a obra de arte se constrói, que ela possui uma autonomia, e por isto mesmo, ela se torna verdadeira.276 O conceito de “verdade” sobre a ironia toma outro rumo: existem casos onde não há uma ironia intencional, mas elas são interpretadas ironicamente. Está colocado aqui uma das manifestações mais comuns da ironia: como uma estratégia de interpretação. Durante várias Il. 10 Lygia Pape Roda dos prazeres, 1968 Porcelana, conta-gotas e anilinas Dimensões variáveis Col. Projeto Lygia Pape 276 vezes somos colocados diante de elocuções e ordenações estruturais que também interpretamos como sendo irônicas, mas que pode ser que não achemos evidências de que Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006 (documento inédito). 156 tenham sido intencionadas como tal. Como se fosse um sutil reconhecimento desse dilema, Lygia Pape explora em Roda dos prazeres (1968) as contradições e um certo instinto que temos ao relacionar cores e sentidos. A obra consiste numa série de líquidos contidos em recipientes dispostos no chão como uma mandala. Os líquidos possuem cores diversas: vermelho, azul, verde, amarelo, laranja. O espectador é convidado a experimentar os líquidos, por meio de um conta-gotas. Atraído pelas cores e antes de experimentar o líquido, o espectador, na maioria, tende a interpretar o vermelho como uma experiência degustativa “picante”, mas não é exatamente isto que acontece. O vermelho tem um gosto doce. Já o azul, tem gosto de vinagre. Como observa Pape, “o dado principal desse trabalho é um dado de ironia, de humor negro. Você podia escolher um azul que considerasse belíssimo, mas quando fosse pingá-lo na língua sentiria, por exemplo, um gosto horroroso”277. Como observa Luiz Camillo Osorio, “a escolha pelo olho pode ser enganosa, pois há tanto sabores agradáveis, como estranhos” 278 . E Pape complementa: “Criava-se assim uma ambivalência dos sentidos: o olho via uma coisa, se encantava com ela e a língua poderia rejeitar. Ou podia até reforçar o que o olho já tinha devorado, não é?” 279. No trecho a seguir, Pape disserta sobre o conceito de “interpretação” e deixa escapar o seu desejo sobre o processo mais radical que a obra poderia tomar, um desejo que vai além do perigo fictício de Volátil ou Homem bomba (2002), a última fronteira que a ironia, aliada ao perigo, poderia chegar: [Roda dos prazeres] tratava-se de um círculo onde coloquei, aleatoriamente, sabores diversos relacionados a cores diferentes. Pus pimenta, sal, vinagre, uns sabores agradáveis e outros desagradáveis, difíceis de identificar. Tem uma erva muito curiosa no Pará, o jambu, uma folhinha verde que, após o contato com a língua, faz a boca tremer e a pessoa acha que está envenenada (...) ela propicia uma experiência fantástica, uma delícia, e que ninguém conhece. Claro que a experiência mais radical na Roda dos prazeres seria o uso de veneno como um dos sabores. 280 277 PAPE, Lygia. Lygia Pape. Rio de Janeiro: Funarte, 1983, p. 46. Cf. OSORIO, Luiz Camillo. Lygia Pape: experimentation and resistance. In: MOSQUERA, Gerardo et al. (Ed.) Third Text, op. cit., p. 571-583. 279 PAPE, Lygia. Lygia Pape, op. cit., p. 46. 280 PAPE, Lygia. Lygia Pape: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla, op. cit., p. 52. 278 157 O artista tem a licença de não se responsabilizar por nada 281 . Quando Wittgenstein afirma, em Remarques Philosophiques, “elimine da linguagem o elemento da intenção, é toda sua função que desmorona” 282 ; ele insiste no fato de que a linguagem não pode se exercer sem investimento de sentido mesmo se ela funciona independentemente da consciência que tem nela o seu usuário. A intenção não remete unicamente à subjetividade, pode ser pressuposta como coletivamente partilhável a esmo. A proposta é oferecida pelo artista, cabe a nós, espectadores, participarmos desse jogo que, por sua vez, consiste em fazer acreditar que nós – espectadores - agimos, porém a ironia objetiva vem do fato de que, além de tal escolha, nossos atos nos dão também a convicção de sermos comandados. Tradicionalmente a intenção tem entrado nas discussões de ambas – interpretação e avaliação de significado -, quer para contestar sua acessibilidade (e desejabilidade), quer para afirmar sua centralidade. Não que alguém jamais tenha negado que as intenções existam, em outras palavras; a discórdia tem sido sobre conforme elas são usadas no processo interpretativo. Mesmo assim, ao longo dos anos, têm-se proposto muitas razões para abandonar a intencionalidade como a garantia do significado. O conceito lacaniano de sujeito, por exemplo, invalida qualquer preocupação com a intenção porque ele não concede nenhuma anterioridade ou prioridade sobre seu discurso. Um argumento relacionado é o que nega que o discurso possa ou deva ser visto como “a manifestação majestosa de um sujeito que pensa, conhece e fala” 283 , que “intenciona”. Mesmo assim, nenhuma dessas posições necessariamente negaria que as intenções existam, que cada um de nós uma hora ou outra intencionou ser irônico. A questão é: que status essa intenção deve ter ao se teorizar sobre o significado irônico? Em outras palavras, intencional/não intencional pode ser uma distinção falsa: toda ironia acontece intencionalmente, quer a atribuição seja feita pelo codificador (artista), quer pelo decodificador (espectador). O recurso ao “anonimato invisível” do poder discursivo foucaultiano nem sempre responde às questões levantadas pela ironia, onde a agência humana se reafirma de maneira complexa e em estágios diferentes: na intenção, execução, interpretação e resposta afetiva. É 281 Cildo Meireles tem o projeto de realizar a obra Volátil na casa de colecionadores de arte, usando gás. Cf. JEUDY, Henri-Pierre. A ironia da comunicação, op. cit., p. 103. 283 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 94. 282 158 exatamente essa reafirmação da agência humana que tem atraído uma política de oposição ao poder da ironia. Quem interpreta a obra, também, não é consumidor ou “receptor” passivo da ironia: ele faz a ironia acontecer pelo que chamamos de ato intencional, diferente da intenção do artista de ser irônico, mas relacionado a ela. Essa posição provavelmente funcionaria para demolir a distinção entre as ironias “intencionalista” (marcada pela cumplicidade entre esses dois agentes) e “voluntarista” (onde apenas o espectador deve “prestar contas”). Todas seriam, no final, voluntaristas de certa forma. A intenção é uma das poucas maneiras que temos de distinguir a mentira da ironia. Dizer “o que não é” é uma definição de ironia, e a sua relação com a dissimulação e o fingimento é clara, como afirmamos ao longo desta tese. A diferença está na intenção da mentira de enganar, de segurar informação e na intenção temporária ou restrita da ironia de dissimular (com o propósito de avaliar). As Clandestinas são um bom exemplo para discutir esse papel. Antonio Manuel usou o jornal (ou a mídia) como sua “tela”, fisgando o leitor (sempre com ironia) e depois usando sua credubilidade para chamar a atenção para assuntos sérios sobre a responsabilidade da mídia. O significado de seus títulos irônicos está sempre na intenção ou, mais corretamente, no que é revelado sobre a mídia e a sociedade quando as pessoas têm acesso à intenção irônica. Uma discussão sobre relação entre a ética e a ironia se faz presente, no ponto de vista da criação dessa rede de significados: essa é a atração, e também o perigo, da ironia: a maneira conforme ela permite a um artista aparentemente ausentar-se de sua obra, e, no entanto, estar sugestivamente presente. De certa forma, o que essas obras anunciam é: “Suspeite, apenas suspeite”. A palavra de ordem parece ser: os espectadores têm de se lembrar constantemente que a idéia é “criar”, não descobrir o “segredo” da obra. Quando este tipo de pensamento ocorre, o status deste modelo da ironia pode se constituir numa fraude. Il. 11 Waltercio Caldas Convite ao raciocínio, 1978 Casco de tartaruga e tubo de ferro 15 x 45 x 20 cm Col. Luiz Buarque de Hollanda Waltercio Caldas veste a carapuça desse sujeito irônico que lança questionamentos e dúvidas sobre as imagens. Em Convite ao raciocínio (1978) 159 e Garrafas com rolha (1975), o artista lança-nos uma luz de que as coisas à nossa volta padecem de um excesso de presença e de reconhecimento. Deslocamento, ilusão, ficção. A ironia transforma-se em suspeita, transfere-se para o terreno da liberdade, numa fusão entre o real e o imaginário. O artista constrói um tipo de discurso que escapa às armadilhas da pura reflexão ou pura ficção, combinando estratégias variadas de ação que permitem passagens e conexões entre os dois campos. Numa entrevista, Foucault afirma: “Estou consciente de que nunca escrevi senão ficções”, sendo que essa declaração foi logo seguida por outra, que a complementava: “Acredito que seja possível fazer com que ficções funcionem dentro da verdade” 284 . Caldas procura definir um tipo de discurso que se apresenta sem conclusão e sem imagem, sem verdade nem teatro, sem prova, sem afirmação, independente de todo o centro e que constitui seu próprio espaço como o fora em direção ao qual, fora do qual, o trabalho opera. Este discurso abre-se como um comentário, repetição daquilo que murmura incessantemente, (...) palavra que permanece no exterior daquilo que diz, (...) meditação sobre aquilo que da linguagem existe, (...) escuta do vazio que circula entre suas palavras, discurso sobre o não-discurso de toda linguagem. 285 São operações que demarcam um território, uma forma de ação que procura situarse enquanto prática relacional, experimentando a produção de espaço enquanto condição da possibilidade de efetivação real de tal tipo de trabalho. Interessa ver, em Caldas, como o movimento dos conceitos vai ser trabalhado, sempre com uma fina ironia, sem perda de densidade dos problemas. Caldas adverte que prescindamos de nossos hábitos de percepção e classificação. Mas não é essa a premissa do que convencionalmente passou a se chamar objeto de arte? Da natureza mágica desse objeto? Mas, e se o artista trabalhar com antagonismos, como “presença” e “ausência”? Continuaríamos classificando-o como os demais artistas? Teria esse artista algum diferencial? Como informa o artista, gostaria de produzir um objeto que tenha a máxima presença e a máxima ausência... Você o veria num instante, e imediatamente ele desapareceria. Você estaria constantemente revendo-o. O tipo de objeto que não permite ser observado 284 285 FOUCAULT, Michel. Foucault/Blanchot. Nova York: Zone Books, 1990, p. 94. Idem, ibidem. 160 durante muito tempo, que sempre está no exato momento em que foi visto pela primeira vez. 286 Waltercio Caldas “afirma” que o objeto nunca está “ali”. É difícil dizer: o objeto está “ali”, o objeto está “aqui”. Ele nos pergunta: onde termina o “aqui” e começa o “ali”? Estamos vendo apenas duas garrafas ou seriam três? Como a barra teria atravessado o casco? O artista trabalha, por meio dessa rede de perguntas, com as sutilezas de posicionamento, localização e espaço do “sacro” triângulo (artista-objeto-espectador). Interessa-o “o entre”, o “espaço entre”, o atravessamento; Caldas funda um lugar, um lugar invisível. Interessamo-nos mais pelo espaço vazio ou da “terceira garrafa” do que pelo real, o visível, aquilo que pode ser nomeado e identificado. O que está ali, em evidência, é a situação da arte. Um não-lugar se olharmos com visão euclidiana, mas uma estrutura ampliadora de sentidos, se pensarmos em Merleau-Ponty. Voltemos aos campos de “presença” e “ausência” em Caldas. Essa eterna tensão, que observamos em garrafas com rolha ou no casco atravessado, é indício de uma “presença”, que implica a concentração de nossa atenção, de nossos sentidos e de nosso pensamento, e vestígio de “ausência”: o retorno ao infinito vasto e diferenciado. O artista quer a junção dos dois; nesse sorriso irônico, ele nos oferece essa possibilidade de experiência no mesmo espaço e tempo. A terceira rolha é a consciência dessa impossibilidade que subitamente emerge como possível. O título de Convite ao raciocínio é deliberadamente questionador da relação entre o nome e o objeto, quer dizer, “ele foi feito para isto, para que você encontre um hiato significativo entre o nome e o objeto”. E conclui: Utilizei os nomes [em Convite ao raciocínio e Garrafas com rolha] para ampliar a possibilidade do objeto, e não para explicar ou nominá-lo. Então, procurava dar ao nome uma qualidade quase dependente ao objeto, fazendo com que esta ligação não se perdesse, mas fosse inclusive uma terceira situação. Então, você tinha o objeto, o nome do objeto e a relação entre o objeto e o nome, como se fosse um terceiro estado daquelas matérias. 287 286 BRETT, Guy. Preservemos o humor, continuando portanto. In: _______. Brasil experimental: arte/vida, proposições e paradoxos. Rio de Janeiro: Contra capa, 2005, p. 231. 287 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2006 (documento inédito). 161 E como se explica a questão da ironia no seu trabalho, Waltercio? E ele responde: A presença da ironia no meu trabalho nunca é voluntária. Eu nunca fiz um trabalho com a intenção de ser bem-humorado ou irônico. Esta característica é tão inconsciente que eu não preciso me preocupar com ela. Nunca disse: ‘Vou fazer um trabalho bem-humorado’. Eu vou fazer o trabalho que quero fazer. E quando finalmente o trabalho está realizado, muitas vezes me surpreende a quantidade de ironia que ele possui. 288 Depois de pronto, o trabalho passa a pertencer ao mundo e é dotado de significados e, em alguns casos, emanante de outros, como observamos no mesmo depoimento dado ao autor: O objeto de arte não existe simplesmente no momento em que você o fabrica. Ele passa a existir a partir daquele momento e pode passar a existir sendo passivo em relação a esta nova situação que ele tem ou sendo ativo. Quer dizer, ele pode continuar a querer ser objeto mesmo depois de feito. E isto marca uma diferença muito grande entre um objeto e outro: a quantidade de vontade de objeto que cada objeto acaba tendo em seu próprio estado (...) Dependendo do objeto, aquele objeto pode absorver significado o tempo todo e não só absorver, como produzir significado. Contudo, devemos revelar o segredo que o casco da tartaruga (assim como a barra de ferro) em Convite ao raciocínio é uma estrutura oca. O sólido (da casca), que afinal é vazio, se relaciona em regime interdependente com o outro vazio da estrutura, a barra de ferro (que aparentemente também seria uma estrutura sólida intransponível). Ainda no depoimento concedido ao Il. 12 Waltercio Caldas Garrafas com rolha, 1975 Porcelana e cortiça 25 x 20 x 9 cm Col. Ruben Knijnik 288 Idem, ibidem. autor, Caldas observa: “São dois vazios que se relacionam. A fotografia dá a sensação de que [o casco] é sólido, mas não é. Ele é oco também”. E essa ocacidade, 162 estrutura amorfa, revela-se, entretanto, plena de energia; ela é o fio condutor, o duto de passagem que atravessa os pólos e interliga pensamentos, idéias, sensações. Mas, acima tudo, é um enigma a ser desvendado como ela mesma anuncia. Aqui está a sua ironia, “porque uma das características dela [ironia] é o fato de você se surpreender pela razão de você não saber de onde ele vem, como se ela criasse uma possibilidade nova para a compreensão através de meios surpreendentes” 289. Ironia próxima a de Cildo Meireles em Para ser curvada com os olhos (1970), onde duas barras de ferro (uma retílinea e a outra curva) são postas lado a lado, juntamente com uma legenda que afirma: “Duas barras de ferro iguais e curvas”. A obra dependia de potência, de vontade, de desejo... uma instância quase que religiosa, um milagre para que ela finalmente alcançasse o seu ideal. A ironia a serviço da fé. Cildo Meireles nos apresenta o mistério: “A idéia desse trabalho é que não importava qual exposição fizesse, essa obra deveria estar sempre lá, até que um dia, lentamente, a segunda barra se curvaria também, pela soma da força dos olhares dos espectadores” 290 . A obra deveria, portanto cumprir literalmente a sugestão oferecida pelo título; ela era, no final das contas, uma aposta (do poder do olhar). Nesse momento, Espelho cego e Para ser curvada com os olhos criam um diálogo. No caso de Espelho cego (1970) é obter um resultado através de um deslocamento de sentidos. Para ser curvada com os olhos constrói uma narrativa sobre a energia que o olhar pode vir a ter. Por complementaridade, elas “conversam”. Como descreve Meireles: Espelho cego e Para ser curvada com os olhos também trabalham com o sentido tátil e um movimento duplo de atração e repulsa em seu diálogo. Num, o tato é atraído, no outro, o tato é proscrito; Para ser curvada com os olhos se funda apenas na instância do olhar, quer dizer, sem tocar. As obras são descritas dessa maneira: ‘Por favor, não toque de jeito nenhum’ e ‘Por favor, toque’.291 Parênteses rápido e voltamos para Waltercio Caldas. A ironia é a sua tática de comunicação e exposição dessa fronteira que se auto-questiona e procura demarcar o seu lugar. Caldas sempre esteve consciente da precariedade de tal proposta. Em A emoção estética (1977), temos o transbordamento da percepção, onde o sorriso é muito maior que o 289 Idem, ibidem. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). 291 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de julho de 2007 (documento inédito). 290 163 rosto. É o momento em que você “está numa situação em que você compreende que você e o objeto são duas coisas completamente diferentes e que nada vai unir você àquele objeto, a não ser o fato de você saber que você está diante dele” 292 . Algumas pessoas pensam que você se relaciona melhor com um objeto de arte quando você finalmente estabelece uma relação de afinidade entre você e ele, mas penso que em alguns dos meus trabalhos, tenho que provar exatamente o oposto: o objeto só se realiza enquanto objeto, quando você irremediavelmente percebe a incapacidade de se aproximar dele, quando você percebe que você é um sujeito e ele, é um objeto, e essa relação entre vocês nunca se dará. Mas paradoxalmente é a hora em que você se relaciona com ele.293 Porém, em Emoção estética, você (espectador) está dando um passo a mais do que você devia (porque você achou que devia dar um passo). A possibilidade de uma leitura irônica da obra torna ela mesma uma “obra aberta”. Parafraseando Umberto Eco, a potência do irônico funciona como uma obra aberta, pois é “proposta de um campo de possibilidades interpretativas”, uma “configuração de estímulos dotados de uma substancial indeterminação, de maneira a induzir o fruidor a uma série de ‘leituras’ sempre variáveis; estrutura, enfim, como ‘constelação’ de elementos que se prestam a diversas relações recíprocas” 294 . Essa é a determinação do corpo que não é um pedaço de espaço, como um objeto qualquer, mas um corpo operante. Por isso, essa obra não é objetiva, mas expressiva, é um feixe de significações. As coisas estão em constante manifestação, por isso é impossível abarcar-lhes o sentido todo, atribuir-lhes um significado fixo, e nós, através da intencionalidade, constantemente mudamos nossa maneira de olhar essas mesmas coisas. O corpo é reversível, é ambíguo, e a ironia também se manifesta dessa forma. Em Espelho cego e Você é cego (1972), de Waltercio Caldas, o que se apresenta é a ausência de um corpo, uma metáfora de ausência. O que se deixa ver é exatamente o que deveria ser preenchido, ao menos refeito: a tela, no caso de Você é cego, e o próprio espelho, no caso de Meireles. Ambos os objetos (tela e espelho), metáforas por 292 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2006 (documento inédito). Idem, ibidem. 294 ECO, Umberto. Obra aberta, op. cit., p. 150. 293 164 excelência do mostrar, não chegam a ser coisa alguma a ser mostrada, objeto no sentido pleno do termo. Você é cego constitui-se de um pedestal, todo negro, medindo 40 x 50 cm, onde em seu topo, encontra-se uma miniatura de um cavalete, também negro, com uma representação de uma tela... Em branco. Nenhuma imagem ou palavra nessa tela. Uma placa com a frase “você é cego” é afixada no pedestal. Em Espelho cego, o vidro do espelho é substituído por uma massa de calafate (que permite que o espectador molde o seu toque naquela superfície e imprima o seu contato), com o título da obra gravado em relevo, como se fosse em braile, na moldura da peça. Uma imagem tátil na superfície do espelhoobjeto pode assim ser apreciada (pelo cego) sem nenhuma perda de sentido. A função desse espelho não era o reflexo de uma imagem, mas uma réplica volumétrica ou um baixo relevo da impressão do toque do espectador. Entretanto, as imagens eram substituídas, nenhuma se mantinha intacta: à medida que o espelho era tocado, novas impressões eram deixadas, transmitindo a essa obra um ato desesperador de formatação contínua e ao mesmo tempo esquecimento, um não comprometimento com o tempo. Mas não seria essa a função do espelho, muitas vezes? Esconder as nossas formas e fazer com que elas fujam o mesmo rápido de nossas memórias? O espectador lê a sua imagem com as mãos. Com quem pode ver, o objeto não compartilha seu significado e é difícil de decifrar. Num mundo de imagens e de espetáculo, a ironia neste caso é a construção de uma imagem por meio da experiência tátil (da materialidade do espelho e da viscosidade da sua superfície) tendo como suporte um espelho sem espelho. A verdadeira percepção desse objeto está pois reservada ao cego. Como afirma Meireles, “nele há, em princípio, a idéia de criar trabalhos ‘plásticos’ que pudessem ser fruídos por cegos, sem perda substancial de significado” 295 . Merleau-Ponty observou que “os cegos, diz Descartes, ‘vêem com as mãos’. O modelo cartesiano da visão é o tato” 296. O “espelho” engana o olho, gera uma percepção sem objeto, mas que não afeta a nossa idéia de mundo. 295 MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles, op. cit., p. 31. MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. In: _______. Husserl e Merleau-Ponty. São Paulo: Abril Cultural, 1975, p. 284. 296 165 No mundo, há a própria coisa, e fora dela há esta outra coisa, que é o raio de luz refletido, e que tem com a primeira uma correspondência regulada, dois indivíduos, portanto, ligados de fora pela causalidade. A semelhança entre a coisa e a sua imagem especular não é, para elas, senão uma denominação exterior, pertence ao pensamento. 297 Um cartesiano não se vê no espelho: vê um “exterior” do qual tem todas as razões de pensar que os outros igualmente o vêem, mas que, nem para si mesmo nem para eles, é uma carne. A sua “imagem” no espelho é “um efeito da mecânica das coisas; se ele se reconhece nela, se a acha ‘parecida’, é seu pensamento que tece esse vínculo, a imagem especular nada é dele [grifo do autor]” 298 . Tal conceito é empregado nessa escultura tátil, cuja lógica só pode ser vista, por meio do toque cego. Dessa forma, Meireles questiona a lógica cartesiana do olhar. O artista tem uma pronta resposta espantosamente simples e absolutamente esmagadora a um problema clássico da pintura, que acontece nas obras de Velázquez, Picasso, Magritte e muitos outros, a questão da fidelidade da imagem do espelho ou, dito de outro modo, a questão da imagem da imagem. A solução de Meireles é que aquilo que é visível não se pode separar do corpo, da percepção sensorial, na medida em que a percepção sensorial é aqui ativa, ao invés da atitude passiva, simplesmente observadora. Na qualidade de arte, essas duas obras obedecem às regras do jogo: a um certo tipo de materialidade física, a uma certa configuração espacial e institucional. Em seu desejo de não ser arte – não ser, passivamente, o que lhe impõem ser – o trabalho força entretanto uma saída e questiona os dados de sua existência. Mais ainda, as condições de sua existência. Daí a idéia perversa: ser precisamente este questionamento, assumir como tema o que definiria a priori e portanto não apareceria em cena. Você é cego e Espelho cego são aparelhos miméticos com defeito. O corpo é apresentado, nessas obras, como uma multiplicidade abalada, fragmentária e fragmentada, como um quebra-cabeça feito de peças que não se encaixam, como um campo de variações possíveis, como o lugar em que as forças mais díspares da natureza, sensações que são heterogêneas e mutáveis, se encontram – e muitas vezes se ignoram. A primeira impressão é de que há algo fora do lugar. De 297 298 Idem, ibidem. Idem, ibidem. 166 alguma maneira, parecem nos dizer que nunca abandonaram a preocupação de demonstrar que aquilo que vemos está, de fato, a esconder-nos alguma coisa. O exame da obras é embaraçoso, organicamente difícil: o seu corpo está fragmentado, o “conteúdo” – da tela ou do espelho – fica fora do alcance do espectador. O desejo dos trabalhos seria, num lance rápido, por as regras no lugar das peças e seguir jogando como se nada tivesse ocorrendo. A idéia da falsidade deslocou-se da autoria do objeto – a questão do sujeito – para o conjunto do campo da arte. Notamos em Espelho cego, portanto, que a ironia não é apenas uma questão de vocabulário: não se resume a uma inversão de sentido de palavras, mas implica também atitudes ou pensamentos, dependendo a sua compreensão de o receptor perceber que as palavras não têm um sentido fixo e único, mas podem variar conforme o contexto. Em Espelho com luz (1974) de Waltercio Caldas percebe-se o caráter perversamente lúdico que, embora na aparência, busque a participação do espectador, procura, inadvertidamente alertá-lo para o seu papel na estrutura de poder que o sistema de arte se aprisionou. O trabalho põe em evidência os dois momentos constitutivos da arte: a interrogação, a espera pelo momento que “ela aconteça”, e a revelação. Espelho com luz tortura... e ironiza esta relação. Um espelho emoldurado como quadro, dotado de um botão que, quando apertado, acende uma pequena luz vermelha no seu interior, é cruel; o aparelho joga sadicamente com a sua expectativa. Portanto, a questão não é mais solucionar, mas problematizar, pois toda solução proposta por esse território denominado arte está condenado a ser falso. Segundo Ronaldo Brito, “a luz vermelha que se acende no espelho proibe a entrada, barra o acesso ao interior da obra” 299 . Parece sinalizar “não avance”. Nesse fechamento, nessa recusa, estaria o seu mistério. Nesse caso, significaria a capacidade de não entregar sentido, não comunicar. Ironiza a sua expectativa e questiona essa prática lúdica, que transforma a obra de arte num parque de diversões sem qualquer comprometimento, num feixe de interrogações à serviço do interesse coletivo. Esse conjunto de obras causa o seguinte choque: como presença, põem em jogo a ausência; como conteúdo, tematizam o vazio. Não se pode fixar um lugar, determinar um significado, atribuir uma função. Esse conjunto também nos coloca o problema do “grau de ironia” que a obra pode possuir; apesar das afirmações dos críticos de que simplesmente 299 Idem, p. 72. 167 existe algo chamado “estilo irônico elevado” 300 , que pode não ter nenhum sinal irônico identificável, geralmente existe algo que sugere um enquadramento e, assim, um contexto no qual a ironia pode acontecer. A dificuldade é que esse algo pode diferir para cada espectador ou pode nem mesmo existir para outros. Parece que não há um marcador que nos permita determinar “com certeza” a presença (ou a ausência) de ironia. Como já foi dito, nem sempre o artista tem a intenção de “produzir” uma obra irônica, mas ela assim pode ser apropriada pelo público. Isso não quer dizer, no entanto, que não existam marcadores e que eles não tenham como função assinalar a possibilidade de reconhecer ou atribuir ironia. Esta sentença levanta uma questão intrigante: esses marcadores (sejam textuais ou contextuais) são feitos para sinalizar a “presença” de ironia, o “intento” de ser irônico ou talvez simplesmente a possibilidade de a elocução ser “interpretada como” irônica? Existem, talvez, diferentes funções para marcadores irônicos (ou mesmo diferentes tipos de marcadores): aqueles que incitam um espectador-interpretador a pensar que a ironia pode entrar em jogo (por meio da intenção quer do artista, quer do espectador), em primeiro lugar, e aqueles que podem dirigir a interpretação da ironia de maneiras específicas? Essa necessidade (e mesmo responsabilidade) de sinalizar a ironia claramente tem sempre feito parte da teorização de intencionalidade. Do ponto de vista do artista (ironista) intencionado, então, marcar uma obra como irônica “significa estabelecer, intuitivamente ou com plena consciência, alguma forma perceptível de contradição, disparidade, incongruência ou anomalia” 301 . Seguindo essa linha teórica, é o artista que deve pôr o espectador na trilha das conexões entre o “dito” e o “não dito” por meio de pistas que destacam certas normas e, assim, fornecem indicações para guiar a interpretação. O problema é que o espectador nem sempre pega as indicações – ou, então, as lêem diferentemente do que elas tinham sido intencionadas. Um exemplo disto são as Clandestinas: apenas uma pequena parte da tiragem do jornal O Dia apresentava a colagem, ou edição, que o artista fazia, porém, o que chegava nas mãos dos leitores, muitas vezes, era dado como verdade. Como observa o artista: “Esta era, digamos, a poética e a magia do trabalho, era justamente você não identificar o que era o jornal O Dia e o que era o jornal do dia que eu estava fazendo. Então, você podia pegar um e outro, e você não 300 301 HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 213 Idem, p. 221. 168 diferenciava” 302 . Uma “ficção jornalística” como essa provavelmente terá várias platéias possíveis: aqueles que conseguem “pegá-la” de imediato ou que sabem de antemão que isso é uma estratégia irônica do artista e de maneira alguma um jornal autêntico impresso por O Dia; aqueles que identificam a ironia a uma certa altura e, então, têm a experiência dupla de uma interpretação inicial e uma reconsiderada (ou uma realista e uma fantasista); e aqueles, presumivelmente, que lêem o jornal sem ter interpretado nada além do dito. Em 1960, Yves Klein também se apropria da mídia do jornal como circuito para as suas idéias. Mais uma vez a aresta dessa (à primeira vista) função semântica chamada ironia, manifesta-se de uma forma política, explosiva e altamente surpreendente. Em 1957, o Sputnik I era colocado pela primeira vez em órbita à volta da Terra. A viagem espacial significava a libertação das leis da gravidade que condenavam o homem a permanecer inexoravelmente preso à Terra. Nesse contexto, a imagem que retrata Klein a lançar-se livremente no espaço, um ano antes do primeiro vôo espacial tripulado, assumia um valor iconográfico muito particular. Simultaneamente, a montagem fotográfica de Saut dans le vide voltava a dar vida a reminiscências de um sonho antigo: voar. O pretexto formal da publicação teve origem no convite oficial que Klein recebera para participar do III Festival de Arte de Vanguarda de Paris. Intuitivamente, Klein serviu-se dessa situação para intervir junto do público parisiense, inventando um jornal cujo tema era O Teatro do Vazio (Theatre du vide), no qual incluiria o seu auto-retrato na primeira página de um grande diário da capital. Tratava-se de uma réplica fiel do Journal de Dimanche, a edição de domingo do France Soir (de 27 de novembro de 1960). Nele, Yves Klein publicava vários argumentos de teatro inéditos, transferindo uma “autenticidade” à celebração do Dia Mundial do Teatro. Foram impressos milhares de exemplares nas tipografias de Combat, a serem distribuídos pelos amigos – e mesmo vendidos – por toda Paris. Numa mistura de ficção, ironia, “sensibilização da alma” (nas palavras do artista) e sonho, Yves Klein celebra: Todos nós nos tornaremos homens aéreos, conheceremos as forças de atração para as alturas, em direção ao espaço, ao nada e em direção a tudo, 302 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006 (documento inédito). 169 simultaneamente (...) Nesse momento, nós, humanos, conquistaremos o direito de vagar em plena liberdade, livre de todos os entraves físicos e espirituais.303 Nesse sentido, deixamos a mostra o oportuno comentário de Waltercio Caldas sobre o “novo”, que pode ser incorporado a esse trabalho de Klein: Visto assim parece uma proposta deliberada, mas é importante lembrarmos que a falta de deliberação dessa história das vontades é tão radicalmente subversiva quanto o fato dela ter sido voluntária ou não. Quer dizer, às vezes, um artista faz uma coisa tão absolutamente inesperada, que nós tentamos entender se ele fez aquilo por vontade própria ou sem vontade própria. E eu sempre me coloquei a seguinte questão: se ele tiver feito aquilo por vontade própria, é sensacional; se ele tiver feito sem vontade própria, também é sensacional, porque a produção daquele fato, daquele gesto, é tão inovadora que a novidade daquele gesto não se inscreve nem na vontade nem no acaso. A qualidade daquele gesto está exatamente no fato dele não se reduzir a uma situação ao acaso, e não se reduzir a uma situação voluntária. O trabalho apresenta uma possibilidade que não é uma coisa nem outra, como se ele estivesse inaugurando um novo aspecto da possibilidade. 304 O vazio também se constitui numa forma mutável e pode vir a surgir como repotencializador de espaços. Esse vazio pode expandir-se, crescer e necessitar cada vez mais, não importa sua dimensão, de espaço para “respirar” e, diga-se logo, para “incorporar” diferenças, paradoxos, situações não-imaginadas. No caminho perverso de uma física cartesiana do olhar, na qual o corpo e as sensações estão rebaixados diante de uma ótica cujo olho é puro cogito – comentada por Merleau-Ponty 305-, o cego descobriria, pelo tato e pelo deslocamento de seu corpo em contato com a obra, o papel determinante do vazio. Mais do que em qualquer produção por excesso, “na economia de linguagem o material potencializa suas qualidades e torna clara sua presença como necessária e 303 WEITEMEIER, Hannah. Yves Klein: international Klein blue, op. cit., p. 63. Nesse âmbito, lembremos também que em 1947, Moholy-Nagy aparece numa foto levitando um cinzel com o auxílio de uma bomba de ar comprimido no seu livro Vision in Motion, e em 1959 Takis introduziu a estética da levitação magnética com Télésculpture. 304 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2006 (documento inédito). 305 “A tomar assim as coisas, o melhor é pensar a luz como uma ação por contato, tal como ação das coisas sobre a bengala do cego. Os cegos, diz Descartes, ‘vêem com as mãos’” (In: MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito, op. cit., p. 284). 170 insubstituível para a construção” 306 , não importa qual seja: o ar, o aço, a madeira, o livro. Em Livro Velázquez (1996), o objeto - o papel - é atacado como um todo: texto e imagens estão fora de foco. O livro, receptáculo de idéias aberto a leitura e interpretação do leitor, se transforma em imprecisão e desfocalização. Vazio de informação? A nitidez e olhar estão, no mundo das sensações, associadas à certeza do que vemos, à verdade das coisas. Como afirma Paulo Sergio Duarte, “logo de início, Waltercio [Caldas] nos retira esse chão sobre o qual apoiamos nossas impressões visuais. Mesmo aquele olho acostumado a enxergar bem confronta-se com o mundo nebuloso em que as imagens iluminadas se confundem com suas sombras” 307, os contornos saem de cena e não há mais linhas. Transformamo-nos em míopes sem óculos lendo um livro que não possui palavras. Apenas impressões. O trabalho de Caldas funciona questionando os limites. O que é arte e o que não é, quando é ou deixa de ser, o que o legitima. Mas ele não coloca essas ponderações diretamente porque isso significaria negá-las, “definir-se como consciência que interroga e responde”. O trabalho vibra nessas questões; o seu estado é portanto a iminência de um vazio, o que está entre, na fronteira, “as linhas que existem enquanto processo de demarcação de regiões diferentes” 308 . É sobre essas linhas que o artista atua, nessa tensão circundante, mas sempre de modo corrosivo (o artista questiona “o que é arte em tudo o que não é arte?” ou “o que não é arte em tudo o que se diz arte?”). Esse momento (des)revelador é o truque do trabalho. A sua ironia. Alertamos para o fato de que não é a repetição do ritual da morte da arte que ali se desenrola, o que se arma é “um contexto de desconstrução [grifo do autor] onde cada lance só pode ser compreendido em sua contradição inerente” 309, só pode ser situado em relação à própria falta de sentido. Nenhuma figura humana está presente no Livro. O jogo visual e paradoxal do artista espanhol baseado em negações, espelhamentos e desaparições é novamente trabalhado e reconfigurado por Caldas: a famosa sala reproduzida na tela de Velázquez está reduzida a um deserto de vazios. Conseguimos identificar os objetos e as sombras, mas agora o olhar precisa estar ainda mais atento: pois o espelho ao fundo nada mais reflete. O quadro foi “desertado”. E luz tornou-se fosca, difusa, entremeada por obstáculos. O vazio, como se 306 DUARTE, Paulo Sergio. Waltercio Caldas. São Paulo: Cosac & Naify, 2001, p. 78. Idem, p. 152-153. 308 BRITO, Ronaldo. Waltercio Caldas Jr: aparelhos, op. cit., p. 28. 309 Idem, p. 33. 307 171 isso possível, “materializa-se” nessa imagem abandonada do cenário. A ironia está na oportunidade do vazio atualizar a negatividade da arte diante do mundo das imagens rebaixadas e banalizadas pela indústria. Visibilidade dispersa que possui seus precedentes, no caso de Caldas, em Matisse, Talco (1978). O artista das cores é encoberto ou mascarado pela ausência de luz. As cores do mestre francês tornam-se um vazio, um grande espaço de nada, preenchido por enigmas. O talco sobre a reprodução de uma obra de Matisse impressa no livro não é apenas uma negação. O trabalho está construído entre duas idéias contraditórias: como presença põe em jogo a ausência, como conteúdo tematiza o vazio, como verdade parece anular-se enquanto mero acaso. O problema é mover-se nessa contradição aceitando o atrito com os dois pólos. Segundo Caldas, “foi criado um espaço que deixou de ser lugar de representação e passou a ser lugar de ação”. O branco não é (puramente) ausência, possui presença: “O trabalho exala perfume, o talco continua ativo o tempo todo, porque ele está constantemente exalando perfume. Perfume que se confunde com o ar” 310. O Livro, porém, não é uma substituição de sentidos, do olhar pelo olfato, mas uma ampliação. Assim como em Malevitch, o branco é transparência e investigação (esse livro aberto a ser explorado que nos é oferecido por Caldas). Acumulação de pigmentos, sucessão de camadas, reunião de vazios. O artista consegue criar um corpo, onde antes tudo era desabitado. A ironia nos alerta: tanto mais lúcida e profunda será a inteligência do fato isolado quanto mais extensa for a rede de relações em que consegue situá-lo. Essa vontade de subverter se confunde muito com uma vontade de ficar indiferente aos movimentos do mundo. O mundo indubitavelmente tem mudado o tempo todo, mas é o fato de que nós acreditemos, de forma muito evidente, e através de um trabalho, que isto pode se fazer enquanto proposta e enquanto realização que torna esse momento uma realização para o sorriso irônico do artista. Quando temos uma proposta dadaísta, por exemplo, que propõe a modificação do eixo da Terra – e nós sabemos que isto não é possível -, torna-se muito radical o surgimento desta vontade. E é no surgimento da vontade que a coisa muda; não é no movimento verdadeiro do eixo da Terra. Portanto, o artista inaugura uma família de idéias novas. Não é mais uma idéia que se acrescenta à quantidade de idéias no mundo; é uma idéia que duvida de todas as outras idéias. A possibilidade de idéia e invenção 310 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2006 (documento inédito). 172 caminhando juntas para um diálogo com o que ficou qualificado como absurdo, chega até às garrafas com rolha, de Waltercio Caldas. Como informa o artista em depoimento ao autor: Estaremos sempre desconfiando da qualidade das vontades. E isto é uma característica que justifica a presença desta radicalidade. Os artistas teriam que manter com o seu trabalho um sistema em aberto para que eles produzam sempre mais e mais qualidade e vontade, mais desejo de transcendência. O artista tem que criar uma possibilidade com o trabalho, gerando uma nova situação dentro do próprio trabalho que permita a ele avançar em direção ao desconhecido mais fértil. Para Caldas, o objeto de arte pode ser qualificado como substantivo (que é normalmente o que se faz, quando a história da arte classifica ou ordena os seus “produtores”), adjetivo ou verbo de ação (“como verbo de ação, o objeto de arte produz sempre novos significados que vão se agregando a esta vontade nova de produzir mais significados” 311 ). A classificação torna-se instrumento científico e necessário, porque senão aquele objeto cai no terreno do desconhecido e passa a ser um problema, todavia para Caldas, “a arte é exatamente esta filosofia do desconhecido e tenho a convicção de que o artista tem como tarefa melhorar a qualidade do desconhecido”. Duchamp, por sua vez, acreditava que a obra de arte é a relação que existe entre o que você quer realizar e o que você não consegue realizar, “como se fosse uma fórmula, entre o que você quer fazer e não consegue, e o que você acaba fazendo, mas não pensou nisto” 312. 311 312 Idem, ibidem. Idem, ibidem. 173 CAPÍTULO 4 APARÊNCIAS E DISSOLUÇÕES: TÁTICAS DE EXISTÊNCIA DA IRONIA 4.1 Ironia no espaço sagrado Como sempre acontece quando se discute a situação particular do significado irônico, o que está envolvido aqui é, na verdade, um problema geral em toda a comunicação: a questão do papel do “contexto” na determinação de significado. Visto que a ironia é um jogo das possibilidades de interpretação da elocução total, o contexto tem um papel significativo na geração de significado em qualquer momento, ainda que, às vezes, ele possa ser maior, ainda mais quando ocorrer o que se chama de “jogo de palavras”. Visto que estamos lidando, no caso da ironia, com um tipo de jogo verbal (às vezes, também, olfativo, auditivo; sensorial, stricto sensu) no qual o “dito” e o “não dito” se juntam de uma certa maneira para se tornar “ironia”, então, a mesma elocução poderia obviamente ser irônica ou “unirônica” em diferentes contextos. Para muitas pessoas, um número considerável de objetos de arte expostos nos museus e galerias não passa de objetos ordinários. O readymade vem a ser o paradigma dessa situação porque, aos olhos do receptor, ele não revela nenhuma “qualidade” que se possa atribuir à prática do artista. Os fatos levam a crer que o estatuto de arte do objeto seja simples efeito dos “espaços protegidos”. Ora, contexto e objeto, entretanto, formam uma só entidade no momento da experiência, constituindo assim a condição da recepção. 174 “Contexto”, entretanto, é um termo muito inclusivo, que sugere todo “o conjunto de suposições de fundo contra as quais você interpreta uma elocução” 313 . A experiência prática, ao interpretar a ironia, sugere pelo menos dois elementos que se deve considerar: as circunstâncias ou situação de elocução/interpretação e o texto da elocução como um todo. Desmembramentos e mutações do circuito da ironia. O primeiro, o contexto “circunstancial” se relaciona com o que se tem chamado de “campo enunciativo operacional” 314 que torna as declarações feitas em seu interior possíveis e significativas como ironia. Ele envolve o contexto social e físico que Roman Jakobson acrescentou à tríade de comunicação de emissor/mensagem/receptor. A situação de enunciação do “dito”, então, proporciona o contexto circunstancial para a ativação do “não dito”: quem está atribuindo o quê a quem, quando, como, por quê, onde? A localização de Caixa das baratas e Caixa das formigas (ambas realizadas em 1967) e o estilo de sua apresentação sugerem o contexto de um museu de história natural. Em 1967, Lygia Pape respondeu a uma chamada para compra de obras do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) enviando Caixa das baratas, 18 baratas das “mais graúdas”, cuidadosa e ortogonalmente ordenadas, coladas no fundo de uma caixa de acrílico. “[O MAM-RJ] recebeu uma grande verba para a compra de obras e pediu que todos os artistas levassem as suas. Todos apresentaram obras ‘direitinhas’, que foram adquiridas para o acervo do museu” 315. Essa forma estranha de morte/canibalismo estabele nessa situação “enunciativa” complexa (que incluía o museu, humor negro e um conjunto de expectativas), uma série de interações irônicas entre o cultural e o natural, o novo e o velho, vida e morte. Em entrevista concedida a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla, Pape comenta: “Eu levei a obra assim mesmo porque era uma forma de crítica, um gesto anarquista. Achava muito mais importante mandar a Caixa por ser um desafio, uma ironia, e por estar mais de acordo com o que eu pensava do mundo”. A obra não foi comprada, mas nas palavras da artista, o que lhe interessava à época era o gesto irônico: 313 HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 205. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. In: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 206. 315 PAPE, Lygia. Lygia Pape: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla, op. cit., p. 23. 314 175 É uma crítica à arte trancada e morta dos museus. Não queria um resultado meramente discursivo; buscava criar uma situação de asco, de nojo mesmo. Nada melhor do que baratas para isso, não? Em vez de apresentar uma coleção de borboletas, todas lindas e presas com alfinetes, algo que sempre me irritou muito, fiz uma caixa com baratas, e dava realmente um asco horrível. Ao lado desta, operando como seu contraponto, fiz uma outra caixa de formigas vivas, que continha um pedaço de carne e onde estava escrito: ‘a gula ou a luxúria’. Era a idéia da devoração sexual e da fome.316 O processo de inferir significados (irônicos, inclusive) dependia tanto das circunstâncias de onde as “caixas” são exibidas (as instituições de arte) quanto do que vemos de verdade: baratas “mumificadas” e um conjunto de formigas canibais, devorando um pedaço de carne, dividindo espaço com o seu estado futuro – a própria morte. Podemos pensar, também, num diálogo entre a Caixa das formigas e os Livros de carne (1978-79) de Barrio: o fato de ambos usarem materiais “vivos”, que vão se decompondo com o tempo, assim como o nosso próprio corpo que envelhece, forma rugas e deformidades com a passagem do tempo. As caixas [Caixa das formigas e Caixa das baratas] foram apresentadas juntas porque enquanto uma representava a arte morta dos museus, ou seja, as coleções mumificadas, a outra era exatamente o comportamento imprevisto das coisas vivas, pois de vez em quando as formigas até mesmo fugiam e passeavam pelas obras das outras pessoas. 317 316 317 Idem, p. 29. PAPE, Lygia. Lygia Pape, op. cit., p. 45. 176 4.1.1 O corpo evento de Antonio Manuel O sentido aparentemente anárquico do projeto de Caixa das baratas já trazia inclusa uma estratégia política. Em tempos de ditadura, os museus enquanto instituições oficiais passam a ser pequenos espaços alegóricos e diagramas do próprio sistema de poder, que no Brasil significava então a escalada da repressão da ditadura de 1964. Os artistas montavam processos de desnudamento das instituições do Estado autoritário, revelando esse braço repressivo ou construtor de opacidade sobre a cultura da consciência crítica. Nessa estratégia, a Caixa das baratas pertence ao ciclo de embate artista/instituição no qual se encontram obras como O Porco ou a performance de Antonio Manuel no XIX Salão Nacional de Arte Moderna de 1970 318 , quando inscreve o seu corpo como obra e concorre ao salão; recusado, Manuel aparece na noite do vernissage, nu, à revelia das autoridades e numa época de intensa repressão. Sobre esse evento, o artista declara: Os suportes da arte naquele momento não atendiam às necessidades vigentes, e os chamados objetos artísticos solicitavam uma nova ordem de atuação frente ao obscurantismo da época. No Salão de Arte Moderna, decidi não utilizar qualquer suporte. Eu próprio era a obra.319 O nu de Antonio Manuel, de uma forma que nem ele mesmo previa, abriu caminho para as performances no campo nacional nas décadas seguintes; justamente por ser um caso particular, marcado por conteúdo político (contra o discurso covarde do júri do Salão, o consentimento sórdido do museu e todo o “bode” que o Brasil atravessava naquele momento) e inserido num período de revisão da crítica de arte brasileira, O Corpo é a obra, tendo o nu como suporte, difere de seus pares no campo da performance, como Vanessa Beecroft, Matthew Barney ou mesmo as antropometrias de Yves Klein.320 318 Depois de realizada a performance, Antonio Manuel a nomeará como O corpo é a obra. BRITO, Ronaldo. Antonio Manuel. Rio de Janeiro: Centro Cultural Hélio Oiticica, 1997, p. 54. 320 Aproximando-se de Manuel no campo da discussão sobre o respeito que a instituição quer e, segundo ela, merece e a prática de uma liberdade poética, cujo resultado do embate dessas instâncias é a hostilidade, temos a proposta de Cattelan para o Saint Martin’s College, que, por sinal, foi recusada: “Eu queria que todos os 319 177 Antonio Manuel não desloca tanto a sua performance para uma “atuação”, no sentido de um roteiro a ser seguido (o artista não estava interessado na construção de uma mise en scène, na iluminação, no som ou nos passos que deveriam ser dados; sua preocupação era simplesmente o corpo, a exposição do corpo). Foi tomado pela vontade, pelo desejo de seguir para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e apresentar a produção que tinha realizado, que havia proposto ao júri. Segundo o crítico Ronaldo Brito, “o nu condensa uma série de esforços de linguagem locais mas evidencia também a sua relativa ineficácia, a sua relativa irrealidade dentro da cultura brasileira. Há algo de triste nesse momento de alegria narcisista e iconoclasta: a sua solidão, a sua fragilidade como manobra libertária frente ao obscurantismo vigente” 321. O registro dessa performance, além de algumas fotografias, foi um objeto tridimensional: a caixa Corpobra (1970). Dentro de uma caixa, uma foto do artista, no dia da performance, com a palavra “corpobra” censurando a sua genitália. No fundo da caixa e preenchendo uma área da foto, palha. Ao lado da caixa, encontra-se uma corda. Ao puxá-la, a foto desce para se esconder entre a palha e outra foto aparece, agora sem a “tarja”. Depois, puxando novamente o fio, a foto é vedada. O nu de Manuel não comporta nem diálogo nem roteiro, é propriamente inenarrável. Não que seja deixado ao acaso e não dê margem a nenhuma previsão. A performance de Manuel acaba por congregar uma acentuação muito maior do instante presente, do momento da ação. Isso cria a característica de rito, com o público não sendo mais só espectador, e sim, estando numa espécie de comunhão. A característica de “evento” de O corpo é a obra (a sua unicidade, a sua não repetição) sinaliza essa condição, dando ao público uma característica de cumplicidade, de testemunha do que aconteceu. O espectador mantém expectativas relacionadas com sua própria imagem corporal que entram em crise quando o artista propõe com o seu corpo e o espaço circundante condições diversas das experimentadas normalmente. professores usassem roupas de baixo em público por um dia, e os estudantes estariam proibidos de rir. Havia uma série de castigos para os estudantes que rissem (...) Como um dia de cabeça para baixo no qual os papéis são subvertidos e trocados” (In: CATTELAN, Maurizio. Entrevista a Hans Ulrich Obrist. In: OBRIST, Hans Ulrich. Arte agora em 5 entrevistas: Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Olafur Eliasson, Cildo Meireles, Rirkrit Tiravanija, op. cit., p. 25). 321 MANUEL, Antonio. Antonio Manuel, op. cit., p. 8. 178 Até hoje, dentro da história da arte, o corpo tomou parte do espetáculo: hoje ele é o espetáculo em si, porém um espetáculo no qual a dialética entre os padrões da conduta e as estruturas nas quais se apóia entram em crise. Um homem sozinho, sem vestimentas pode criar um envolvimento através de cada aspecto de sua personalidade, num ruidoso silêncio. No contexto da performance, a nudez é mais do que a simples ausência de roupa; e a sensualidade e o erotismo evocam uma infinidade de significações que se referem a uma variedade de objetos. O corpo é a obra acaba por criar o seu próprio corpo gravitacional: um corpo composto de sentidos, de formas, criando uma associação alegórica com o conteúdo político dessa mensagem. A invariabilidade das ações de Manuel ao percorrer o espaço do museu, nu, e sem um percurso definido é mantida pelo corpo-em-ação, que permite compreender o inesperado, que, aqui, traduz-se de várias formas: a promulgação do AI-5 e o seu efeito devastador no exercício dos direitos civis no país; o envio de uma proposta a um Salão de artes plásticas, onde o próprio corpo, nu, é a obra; a “surpresa” do autor dessa proposta ao ter a sua obra rejeitada por esse júri, num momento em que o sistema de arte tendia a promover mudanças em seus conceitos de “julgamento”, “crítica” e “recepção ao novo”; o aparecimento da obra rejeitada durante o vernissage da exposição que o rejeitou; e finalmente, a forma como a obra rejeitada foi apresentada. A primeira idéia, ao me inscrever como obra, era questionar os critérios de seleção e julgamento da obra de arte. Procurei permanecer durante o julgamento dos trabalhos apresentados no Salão já que, enquanto obra, tinha direito a continuar no local para ser julgado. Mas não permitiram, houve um bate-boca e chegou-se a um impasse. No final pediram que eu me retirasse e acabaram me recusando como obra.322 O inesperado não só acontece para o espectador, mas também e primeiramente ao artista da performance, cujo trabalho sempre tem um aspecto de inesperado. O corpo é uma unidade auto-suficiente e na performance essa unidade é empregada como um instrumento de comunicação. O elemento erótico, presente em toda forma de expressão corporal, torna 322 MANUEL, Antonio. Antonio Manuel: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999, p. 48. 179 essencial essa consciência de si próprio, mesmo que tabus ou questões religiosas e éticas sejam desmistificadas do processo da performance. Em Olho e espírito, ao estudar as relações entre corpo e pensamento, Merleau-Ponty aponta que o corpo é movimento que não cessa e que multiplica sua possibilidade, na sua ação. Nesse sentido, o corpo é projeto constantemente realizado e realizável. No movimento do corpo, no olhar, o visto aparece como visível a um ser, que também visível, sai ao seu encontro. A condição visível dos seres: a visibilidade, é o “espaço” da comunicação primordial entre os seres porque se institui no fundamento ontológico da sua existência. Investigar o próprio corpo, apresentá-lo nu, dedicar-se a observar suas funções íntimas, explorar suas potencialidades sensoriais, seu perfil moral, significa transgredir um dos principais tabus de nossa sociedade, que regula cuidadosamente, por meio de proibição, a distinção entre o corpo e a alma. Pôr o bom senso ou o senso comum em suspenso são tarefas que a performance traz em seu sentido pleno, onde o espectador acaba estabelecendo uma relação com o evento em experiência direta e vital: aí está a sua decifração. É preciso entender O corpo é a obra como uma unidade de sentido, construída naquela experiência e, pela experiência mesma, perpetuada no seu valor de obra, no seu potencial de significação. A condição de comunicação da “obra” é o traço essencial que a define como artística; sem ela a arte não abriria, instaurando e criando, novos horizontes e novos mundos; outrossim, o estilo e a forma não teriam valor nenhum e a experiência do sujeito eclodiria no restrito mundo da sua subjetividade. Após ter realizado a performance, Antonio Manuel segue para a casa de Mário Pedrosa, abrigo poético e inspirador para o artista. Com o respaldo de Pedrosa, é escrito pelo crítico um texto sobre a experiência de O corpo é a obra. Apesar de não ter presenciado, Pedrosa, defende e enaltece a proposta que tinha acabado de ser realizada por Manuel. Nesse texto “nasce” a expressão, consagrada pela crítica e espécie de baluarte moral da produção artística brasileira pós-neoconcretismo: “O exercício experimental da liberdade”. Como afirma Pedrosa em seu texto dirigido a Manuel: “O seu gesto (...) mostrou que o regulamento do salão não tem a menor importância. Pois o fato de você não ser recebido, de não se enquadrar no regulamento, indicou que a vida é maior que o 180 regulamento” e continua: “Você apresentou a obra – o ato – irresistível e ao mesmo tempo irreprimível. E ninguém pode impor uma exclusão. Não há regulamento nenhum que impeça que a obra se faça (...) Bem... não pode apresentar a obra de arte, mas ela se faz! Está aqui!” 323. Manuel sofre represálias do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro por causa de sua performance: é impedido de entrar no museu; não poderia nem atravessar a passarela que leva à instituição. Porém, ao comentar esse fato com Mário Pedrosa, a situação é contornada: Ao comentar com Mário Pedrosa, ele imediatamente disse: ‘Vamos amanhã ao MAM’. Ao voltarmos, no dia seguinte, ele, o maestro Guilherme Vaz, Lygia Pape e eu, fomos novamente barrados. Mário imediatamente passou à minha frente, abaixou a mão do administrador e falou: ‘Quem é você para dizer que ele não entra aqui?’ Deu-lhe uma lição de moral, puxou-me pela mão e entramos juntos no Museu de Arte Moderna. Queriam fechar as portas do museu, mas ele as abriu (...) Saí do Rio de Janeiro por algum tempo porque o ministro da Educação, um militar, resolveu proibir minha participação em todos os salões oficiais pelo período de dois anos.324 O irônico é que Corpobra foi comprado por Gilberto Chateaubriand no mesmo ano de sua realização e hoje faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio Janeiro, através do regime de comodato entre essa coleção e o museu. Antonio Manuel retorna ao Museu pela “porta da frente”, encaixotado, e valorizado. O lugar que significou a recusa, o veto ao trabalho, e finalmente a expulsão do artista do seu espaço, hoje detém o resultado dessa política. Um “resultado” muito valorizado pelo mercado de arte, podemos dizer. O que coloca em questão a institucionalização da arte como também uma das etapas inerentes aos procedimentos operatórios desse campo (daí não haver surpresa no fato da obra de Marcel Duchamp, o anti-artista moderno por excelência, haver se encaminhado, no fim de seu percurso, ao museu). Waltercio Caldas possui uma visão interessante quanto ao fato de obras que foram consideradas pelo circuito de arte como fundamentalmente irônicas (e às vezes com um 323 324 MANUEL, Antonio. Antonio Manuel, op. cit., p. 16. MANUEL, Antonio. Antonio Manuel: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla, op. cit., p. 19-20. 181 teor subversivo contra o próprio estado capitalista e avassalador do mercado) sejam apropriadas e comercializadas pelo próprio: Tem certas características dessas obras que você considera, e que nós todos consideramos irônicas, que extrapolam o fato delas serem cooptadas pelo sistema. Penso até que o fato delas serem cooptadas pelo sistema aumenta a quantidade subversiva delas. Os readymades de Duchamp, por exemplo, ao serem incorporados aumentam, de forma bastante significativa, sua potência subversiva, justamente pelo fato de que foram incorporados. Então, nesse sentido, não acho que a obra possa perder qualidade quando é incorporada; penso que ela só perde qualidade, quando dentro das características dela, esta qualidade subversiva não é suficientemente forte para agüentar este embate. Porque se ela tiver a força suficiente na sua eloqüência subversiva, ela certamente, ao ser incorporada, manterá aquela saúde transgressora, e em alguns casos, até ampliará esta saúde transgressora. E justamente pelo fato de que ela foi incorporada. 325 Quer dizer, o tiro não saiu pela culatra, pelo contrário: esta obra sendo incorporada pelo sistema aumenta ainda mais o seu potencial de ironia? Isto é o que o sistema acha que faz, quer dizer, o sistema acredita que comprando uma obra, aquela obra está irremediavelmente cooptada, quando na realidade, quando o sistema compra a obra, ele aumenta a potência subversiva daquela situação que gerou aquele gesto. Penso que só uma obra que não tenha suficiente quantidade de poder irônico sucumbirá a esta situação. Qualquer outra obra que mantenha sua saúde, no sentido de ser denunciadora desta situação, vai conter no seu projeto o tom irônico. Quer dizer, agora, o que ela vai demonstrar, pela existência dela, é que o jogo do mundo não é suficientemente competente para eliminar a potência dela.326 A última pergunta, Waltercio. O artista faz alguma obra pensando: “Eu vou debochar desse mercado de arte que não entende o meu trabalho” ou então “a maior ironia será eles (mercado) comprarem esse trabalho subversivo que guarda potencialidades contra eles mesmos”? Waltercio responde em depoimento concedido ao autor: 325 326 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2006 (documento inédito). Idem, ibidem. 182 Penso que isto é ideologia pura e uma ingenuidade. Não dá para enfrentar esse problema com o idealismo de que a verdadeira obra de arte é a que não vende, ou a obra de arte que será renegada pela geração e apenas será percebida daqui a 50 anos. O fundamental é a realização dessa obra ou quanto tempo ela vai demorar, se ela não vai demorar ou se ela sumir como se fosse um gás. E se esse gás for suficientemente eloqüente para incendiar o real durante alguns segundos, já temos uma história. De uma maneira ingênua, o sistema pensa que pode controlar uma obra de arte. Na realidade, a questão está aqui e não no fato da obra ter perdido o seu poder. [A questão] está no fato do sistema pensar que impediria o poder daquela obra, comprando-a. Mas como falha nisto! Às vezes, o mercado consegue, mas não necessariamente significa que esta apropriação foi pensada 327 . A ironia é essa observadora de brechas, trabalha essencialmente nos vácuos que o sistema (artístico, cultural, político, etc) deixa escancarado; por meio da comunicação, a ironia desestabiliza e corrói. 4.2 Volumes virtuais Na década de 1990, Ricardo Basbaum desenvolverá a idéia das Novas bases para a personalidade (NBP x eu-você). Nesse conjunto de jaulas convidativas ao descanso, onde relações interpessoais são disseminadas com a presença de almofadas e bate-papos, não se tem uma contradição, mas similaridade com o Corpo é a obra. A exposição do corpo é o alvo. Apesar do contexto ser diferente e nossa intenção não ser a de estabelecer uma relação de mestre-discípulo, essas obras-propostas adotam o corpo como entendimento participativo e emancipador da arte. No caso de Basbaum notamos um acentuamento no seguinte tópico: mais do que uma arte que investiga a natureza da arte ou problematiza 327 Existe uma frase de Waltercio Caldas muito boa (ou irônica) quando refletimos sobre como o mercado de arte tem se capitalizado cada vez mais e como o objeto de arte, nesse sentido, transformou-se essencialmente numa transação comercial, mais do que num objeto estético. Em conversa com um amigo sobre tal fato, o artista afirmou: “Você é um ingênuo, porque não é a arte que está se comercializando; é a compra e venda que está se estetizando” (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2006, documento inédito). 183 tópicos contextuais, Basbaum procura formas pelas quais a sua obra possa interagir com a vida, com as pessoas; promove um estado híbrido de coexistência na medida em que o “habitante da cápsula” transmite um estado de vivência ao objeto, este deixa de ser um monolito que ocupa um espaço na galeria, funcionando na contramão do seu modo de invenção (assim como um Bicho enjaulado na vitrine), e passa a ser um meio para uma mudança de consciência. A ironia habita nas relações que são travadas dentro dessas jaulas ou mesmo nessa forma organizada e cerebral que o “conceito” é oferecido. As associações com Lygia Clark e Hélio Oiticica não param por aqui. O conceito de transferência poética encontrado nas proposições dos dois artistas serve de arcabouço poético e teórico para Basbaum. Em NBP x eu-você encontramos os dois pronomes que estão na série roupa-corpo-roupa, de Clark. Descoberta, investigação, corpo, sensório: conhecer a si mesmo através do contato no outro. Muito mais do que uma simples participação (conceito que nos dias de hoje encontra-se desgastado e nele funda-se uma justificativa para os museus transformarem-se em parques de diversões) ou remanejamento de espaços ou elementos, as propostas de Clark e Basbaum fundem-se no indivíduo; nas suas fragilidades, medos, na relutância em tocar no desconhecido. Provoca avanços, tanto numa atitude de contato com o “estranho”, quanto nos fetiches que criamos sobre o nosso próprio corpo. A exploração desses “sujeitos” amplia-se na proposição de Basbaum denominada Superpronome (2000), com a conexão invisível ou a cola entre os pronomes pessoais. Aquilo que outrora Basbaum havia representado através do “hífen” (que é o sinal de união usado em palavras compostas), agora é expresso sem intermediários: euvocê vocêeu Partindo-se da conexão desses pronomes - que une o “eu” ao “você” e o “você” ao “eu” -, podemos analisar a “síntese ideal do desejo”, que é proposto pelo artista, como assinala Renato da Silva 328 . Trata-se de um elemento que sugere a experiência de uma comunicação cristalina, inequívoca, entre subjetividades. Assim, o projeto Superpronome 328 DA SILVA, Renato Rodrigues. O ponto central e os outros pontos. Revista Polêmica imagem, Rio de Janeiro, n. 11, 2003. Disponível em: <http://www.polemica.uerj.br/pol11/cimagem/imagem_arte_renato_ro_meio_p11.htm>. Acesso em: 22 jun. 2007. 184 desempenha a função de pólo de atração: clareza intuitiva no interior de uma exposição que aceita o desafio das palavras. Com Oiticica, essa ligação percorre o coletivo: acentuam-se os nossos questionamentos sobre a posição que ocupamos no mundo, o posicionamento da arte e as estratégias de circulação dessa obra, que questiona a sua própria função. Nesse momento, a ironia reverbera e atravessa a inflexão causada pelo trabalho de Basbaum, realizado desde 1994, chamado Você gostaria de participar de uma experiência artística? Essa pergunta é formulada em relação a um dos desdobramentos do projeto Novas Bases para a Personalidade (NBP), através do qual um objeto 329 é enviado à alguém para que seja utilizado durante um certo período de tempo. Voltamos aqui à origem do eiron: estabelecimento de redes, fluxos e tramas. Através desse procedimento, a “experiência artística” torna-se uma mediação necessária e, assim, o elo de ligação entre o eu (do artista) e o você. Agora, você pede pela obra; não precisa mais ir ao encontro dela. O espaço artístico e o da convivência passam a ser o mesmo; são objetos desse estudo científico da arte e ao mesmo tempo autores. Basbaum solicita que tiremos as nossas próprias conclusões. Depois da “morte da pintura”, a questão mais discutida no campo da teoria da arte é da arte infiltrando-se na vida e vice-versa. Posição já muito desgastada, com alguns teóricos tentando identificar qual seria o primeiro artista a tratar disto, e outros lançando a pergunta: mas não foi isso que a arte sempre tratou? Percorrendo ao largo dessas questões, podemos afirmar que essa posição amadurece nas NBPs. O trabalho deixou de pertencer ao artista e passou a ser do mundo. Ele é requisitado em todos os lugares: é usado como secadora, piscina, forma de bolo, barco, cama, mesa de jantar, jardim... É um “não-objeto” e um pluri-objeto. Desconhece a sua função, porque ao mesmo tempo são todas. E cometeu a maior heresia percorrendo o caminho inverso: foi do mundano (do mundo exterior) para a galeria. Estamos falando portanto de ocupações. E que tal falar de sua antitese? Em Série Veneza (1997), Waltercio Caldas trata de uma curiosa (re)ocupação do espaço: as esculturas delimitam a área, mas não invadem, apenas delineam um território, estabelecem 329 Nesse momento, há 20 múltiplos desse objeto no Brasil, Europa, África e América Latina. A pessoa que recebe o objeto tem o livre arbítrio para fazer o que pretende com o objeto. As ações são documentadas no site http://www.nbp.br. 185 os volumes virtuais e convidam o olhar a percorrê-los, entre esse rede de vazios que é conectada. Os caminhos são múltiplos: ele começa ou termina em qualquer ponto. Por isso mesmo, ocupação é uma palavra inadequada para definir a determinação de espaço que essas linhas/esculturas traçam: o espaço está demarcado, pronto, mas ao mesmo tempo é fluxo, gera indeterminações dentro de um sistema que, a princípio, não permitiria transgressões. Aqui está a ironia (perversa) de Caldas. Derivada de um pensamento positivo e pragmático, o campo moderno da escultura incorpora a subjetividade e materializa em “corpos” e instalações que obrigam à revisão dos valores estéticos convencionais. Como observa Paulo Sergio Duarte, “o espaço, tal como concebido por Platão, é um continuum neutro, destituído de qualidades, destinado a ser receptáculo das coisas”. E o artista completa: Tenho uma especial preferência pelos objetos que são atravessados pelo olhar. Isto me permite fazer com que o olhar passe a ter uma característica dinâmica, que do meu ponto de vista, não acontece quando o olhar se fixa em alguma coisa. Os objetos transparentes que realizo - não só os que possuem vidro, mas às vezes objetos transparentes no próprio corpo deles, ‘transparentes’ enquanto sensibilidade ou percepção - me fazem acreditar que o olhar possa ter uma movimentação constante. 330 4.3 Palavra como enigma Em Não pise na grana (1996) e Isto não é uma nuvem (1997), ambas de Lygia Pape, é a situação comunicativa de ver o contexto “textual” ou formal real da obra como um todo que fornece o enquadramento para atribuir ironia à palavra enunciada como título dessas obras. Quando a caixa de Isto não é uma nuvem é aberta, podemos observar, no interior de sua tampa, a frase “isto não é uma nuvem”; no interior da caixa, um grande volume de náilon ocupa todo o seu interior, fazendo alusão a tal “nuvem”. Não pise na grana é uma instalação, de medidas variadas, formada por alfaces, que são “cercadas” por 330 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2006 (documento inédito). 186 tijolos. Esse campo delimitado é preenchido com uma placa, colocada sob os alfaces, escrita com a frase: “Não pise na grana”. Homenagem (ou ironia dentro de uma ironia) à Magritte, essas obras são o que ela são: obra acabada, exposta, e trazendo, para o espectador, o enunciado que a comenta ou explica. E, no entanto, esta escrita ingênua que não é exatamente nem o título da obra nem um de seus elementos picturais, marca a ausência de qualquer outro indício que marcaria a presença do artista. Neste momento, temos um depoimento da artista sobre o projeto de criação de Isto não é uma nuvem e as suas “ressonâncias”, por assim dizer: A idéia seria criar um enigma que as pessoas tivessem que descobrir. Resolvi, ainda, acrescentar alguma coisa com Magritte. Vai ser uma caixinha branca com a tampa levantada, de onde sairá um material branco parecido com uma nuvem. No fundo da caixa estará escrito: ‘Isto não é uma nuvem’ em homenagem a Ceci n’est pas une pipe de Magritte [Essa obra possui duas versões: a primeira, com o título de La trahison des images (Ceci n’est pas une pipe), é de 1928-29 e representa a imagem do cachimbo com a legenda – o título da obra - embaixo; a segunda versão, de 1966, possui o título de Les deux mystères e representa um cachimbo desenhado num quadro negro com a legenda – ceci n’est pas une pipe – embaixo; no alto da tela, a representação de um outro cachimbo, de dimensões superiores ao do “quadro negro”]. Desse modo, mentalmente, vou elaborando e eliminando possibilidades ao mesmo tempo, até chegar a uma forma final.331 Essas obras de Pape são esquemas simples, é exatamente aquilo que nós vemos: uma figura e o texto que a nomeia. Nada mais fácil de reconhecer do que uma nuvem como aquela. Mas isto ainda espanta: a nuvem ou o dinheiro (na realidade, os alfaces fazem uma alusão aos cartazes espalhados em várias cidades alertando sobre a proibição de pisar em gramados “particulares”, e daí o jogo de palavras grana/grama) representados estão solidamente contidos num espaço com visíveis parâmetros (o texto escrito, os limites superiores e inferiores da caixa e da instalação): largura, altura e profundidade. Estável prisão. Ora, o que produz a estranheza dessa figura não é a contradição entre a imagem e o texto, mas a perda do lugar-comum à imagem e à linguagem, o desaparecimento de uma 331 PAPE, Lygia. Lygia Pape: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla, op. cit., p. 56-57. 187 região onde “o desenho (...) e o texto que deveria nomeá-lo acham lugar onde se encontrar e se alfinetar”. Como escreve Foucault, desaparece essa camada uniforme onde se entrecruzavam indefinidamente o visto e o lido, o visível e o enunciável. As coisas e as palavras vão separar-se. O olho será destinado a ver e somente ver; o ouvido somente a ouvir. O discurso terá realmente por tarefa dizer o que é, mas não será nada mais que o que ele diz. 332 É, então, a ausência de uma região de contato definida a priori que conduz à necessidade da produção de um outro tipo de manobra para provocar o encontro das regiões – heterogêneas, irredutíveis entre si – das palavras e das coisas/imagens. Daí que a condição a priori de um “lugarcomum” seja substituída pela noção da produção e construção de um espaço móvel, não como lugar onde algo acontece, mas como local cuja operação de sua constituição já é, em si, o Il. 13 Lygia Pape Isto não é uma nuvem, 1997 Madeira, nylon e texto 19 x 17 x 13 cm Col. Projeto Lygia Pape próprio acontecimento. A noção proposta por Foucault, de um “pensamento do lado de fora”, pretende trabalhar essa possibilidade, instaurando uma forma de pensamento-comoação, que não se confunde com a habitual função reflexiva do pensamento investindo na criação, na metamorfose, na constituição de espaço, garantindo para si condições de fluidez. Nessa relação visibilidade/metáfora da vida mundana, Ouro e paus (1982-95) de Cildo Meireles também se apresenta como a possibilidade de redefinir o espaço pela percepção visual, por um exame minucioso de um cotidiano que aparentemente já teria nos dito tudo sobre ele. Caixas de diferentes tamanhos, estrados de pinho, todos devidamente fechados com pregos... Até aí, qual é a novidade? Mas o olhar nos engana, mais uma vez. São pregos nobres, de ouro de 18 quilates. Mais do que um jogo visual (desculpe-nos pelo trocadilho), nessas obras, a relação entre pensamento, palavra e visualidade desenvolveu-se em várias direções, obrigando-a a deslocar-se entre suportes e materialidades diversas na 332 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1987, p. 59. 188 busca de uma realização plástica apropriada. A ironia reside numa operação tornada invisível pela simplicidade do resultado, no estado espantosamente banal das coisas, mas que é a única a poder explicar o embaraço indefinido, por ele provocado. Retomando Foucault: “Essa operação é um caligrama secretamente constituído por Magritte, em seguida desfeito com cuidado” 333. As palavras não designam apenas uma realidade, elas a fabricam. As divergências não dizem respeito às maneiras de se representar a realidade, mas aos meios de geri-la. Os ideais são tomados de suspeita, não exercem mais sua função tradicional de identificação. Il. 14 Cildo Meireles Ouro e paus, 1982-95 Madeira e pregos de ouro Dimensões variáveis Col. do artista Ademais, ficção e real se entrelaçam e podem se confundir. Quando nos reportamos aos escritos de Tunga, a “legenda” não parece ser aquilo que deveria ser ou o que esperávamos dela. Com a palavra, o artista: Construo os textos quase como um hermeneuta das peças. Muitas vezes, ao contrário: construo as peças quase como uma hermenêutica dos textos já que, às vezes, os textos são anteriores. Penso que existe no meu trabalho uma relação de imersão de um no outro, que muda o sentido dos dois. É uma aproximação e nunca um confronto. Esta aproximação do texto, com algumas obras, cria uma terceira obra, que é a paródia das duas. Eu acho que a ficção que se constrói em torno da obra faz com que a mesma ganhe uma ‘re-significação’ (...) A forma destes textos surge até por uma vontade de não trabalhar o campo teórico dentro do vocabulário da teoria. É propor a teoria de outro modo: falar uma língua da ficção para falar de arte. Portanto, cada texto é uma das ficções possíveis de uma obra, porém a narrativa é apenas uma das versões [ou leituras] dessa obra. 334 Qual é a função da palavra nesse contexto? Em entrevista concedida ao autor, Tunga esclarece: “O texto é um enigma, e não uma decifração do mesmo. Portanto, ele é mais um 333 334 FOUCAULT, Michel. Isto não é um cachimbo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 21. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2006 (documento inédito). 189 enigma, mais um agregador, mais um potencializador da obra do que um explicador. O texto aponta novas possibilidades para você perceber a obra”. Não pise na grana perverte e inquieta todas as relações tradicionais da linguagem e da imagem. O texto voltou para o seu lugar natural – embaixo: lá onde serve de suporte para a imagem, onde a nomeia, a explica, a decompõe, a insere na seqüência dos textos e nas páginas do livro. Torna a ser “legenda”. Aparentemente, Pape faz da repetição caligráfica à simples correspondência da imagem com sua legenda: uma figura muda e Il. 15 Lygia Pape Não pise na grana, 1996 Alfaces, texto e tijolos Dimensões variáveis Col. Projeto Lygia Pape suficientemente reconhecível mostra, sem dizê-lo, a coisa em sua essência; e, em baixo, uma frase recebe dessa imagem seu “sentido” ou sua regra de utilização. Pape inventa “imagens”. Empreende nomear o que, evidentemente, não tem necessidade de sê-lo. E eis que, no momento em que deveria dar o nome, o faz negando que seja ele (“isto não é uma nuvem”). “De onde vem esse estranho jogo, senão do caligrama?” 335 . Do caligrama, que diz duas vezes as mesmas coisas (onde uma seria perfeitamente suficiente), do caligrama que faz o que mostra e o que diz escorregarem um sobre o outro, para que se mascarem reciprocamente. O espectador não é leitor; é preciso que o texto não diga nada a esse sujeito “olhante” que é voyeur, não leitor. Desde que ele se põe a ler, a forma se dissipa. Para quem o vê, o caligrama “não diz”, não pode ainda dizer: isto é uma nuvem; está ainda demasiadamente preso na forma, demasiadamente sujeito à representação por semelhança para formular uma tal afirmação. E quando alguém o lê, a frase que se decifra (“isto é uma nuvem”, “não pise na grana”), “não” é um náilon, não é mais um alface. Por astúcia ou ironia, o caligrama não “diz” e não “representa” nunca no mesmo momento; essa mesma coisa que se vê e se lê é mascarada na leitura, é morta pela visão. Pape redistribiu no espaço o texto e a imagem; cada um retoma o seu lugar; mas não sem reter alguma coisa que é próprio ao caligrama. As duas obras são a incisão do discurso na forma das coisas, é o poder ambíguo de negar e de desdobrar. A imagem (representada) 335 FOUCAULT, Michel. Isto não é um cachimbo, op. cit., p. 26. 190 da nuvem expulsa todo texto explicativo ou designativo, tanto é reconhecível; ao mesmo tempo, o texto parece enunciar: não sou nada além das palavras que você está lendo. Há, portanto, um agenciamento particular entre imagem e linguagem, entre o visível e o invisível. Ambos configuram-se como entidades autônomas, dotados de estrutura e materialidade próprios, enquanto campos de ação constituídos por estratégias e práticas diferenciadas – será a maneira particular de produzir tal agenciamento, “o atrito e ficção surgidos do contato entre os dois campos, que tornará possível afirmar a existência de um território próprio” 336 das artes visuais. A arte moderna se identificará, então, com um território híbrido, no qual entrelaçam-se objetos e signos. Como afirma Deleuze, por mais que se diga o que se vê, “o que se vê não se aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas o que as sucessões da sintaxe definem” 337 . Portanto, o que se poderia ser considerado como “verdade”, a leitura correta ou juízo verdadeiro acerca de qualquer obra de arte torna-se uma relação entre “duas metades do verdadeiro”, uma vez que o que caracteriza absolutamente todo signo figurativo é sua ambigüidade. Ambigüidade porque jamais o signo coincide com a coisa vista pelo artista, porque jamais o signo coincide com aquilo que o espectador vê e compreende, porque o signo é por definição fixo e único e, também por definição, a interpretação é múltipla e móvel. 338 Sendo único, mas essencialmente ambíguo, o signo plástico é receptivo, por natureza, a uma multiplicidade de interpretações 339 , ou seja, a cada instante em que nos remetemos à obra de arte devemos considerar que esteja circundada e atravessada – em várias proximidades e freqüências diferentes – por uma diversidade de enunciados, de gêneros e formatos múltiplos. Portanto, a importância desse signo plástico residiria na capacidade receptiva de, sendo “fixo” e “único”, acolher uma multiplicidade de recursos. 336 BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual, op. cit., p. 27. DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 74-75. 338 FRANCASTEL, Pierre. A realidade figurativa. São Paulo: Perspectiva, 1982, p. 97. 339 Para uma leitura aprofundada sobre a questão da linguagem e sua conexão e absorção pela obra de arte, ler o excelente livro de Ricardo Basbaum denominado Além da pureza visual. 337 191 A redundância do caligrama repousa, não exatamente como uma afirmação, mas como uma dupla posição: de um lado, a forma bem visível, muda e cuja evidência deixa cruelmente, o texto dizer o que quer, qualquer coisa; e de outro, o texto, segundo sua lei, afirma sua própria autonomia diante daquilo que ele nomeia. Tal como as imagens, as palavras também jogam com a diferença entre a sua natureza linguística e as coisas que se pretende que refiram. Podemos falar de uma impotência de palavras comparadas com objetos. Porém, ao mesmo tempo, descobrimos nelas uma enorme força, uma capacidade notável de serem enganosas. As palavras são capazes de afirmações tão falsas como “não pise na grana”. Nas duas obras em questão, Pape combina o poder diferenciador do que pode ser lido, com o poder diferenciador do que pode ser visto; permite que uma diferença se desenvolva “entre” diferenças, uma separação entre palavras e imagens, ao invés de nos levar a acreditar numa natureza única da forma. Pape trabalha com um princípio que durante muito tempo regeu a pintura, onde colocava-se a equivalência entre o fato da semelhança e a afirmação de um laço representativo. Basta que uma figura pareça com uma coisa (ou com qualquer outra figura), para que se insira no jogo da pintura um enunciado evidente, banal, repetitivo, mas silencioso, um múrmurio infinito: “O que vocês estão vendo, é isto”. Pouco importa, o sentido em que está colocada a relação de representação: se a pintura é remetida ao visível que a envolve ou se ela cria, sozinha, um invisível que se lhe assemelha. O essencial é que não se pode dissociar semelhança e afirmação. Com estas duas instâncias, Pape procede por dissociação: romper seus liames, estabelecer sua desigualdade, levar tão longe quanto possível a continuação indefinida do semelhante, mas alijá-lo de toda afirmação que diria com o que ele parece. Pape dissociou a semelhança da similitude e joga esta contra aquela. Graças a essas obras apreende-se o privilégio da similitude sobre a semelhança: esta faz reconhecer o que está muito visível; a similitude faz ver aquilo que os objetos reconhecíveis, as silhuetas familiares escondem, impedem de ver, tornam invisíveis. “A semelhança comporta uma única asserção, sempre a mesma: isto, aquilo, aquilo ainda, é tal coisa. A similitude multiplica as afirmações diferentes, que dançam juntas, apoiando-se e caindo umas em cima das outras” 340 340 . E cada um dos elementos dessas obras bem poderia manter um FOUCAULT, Michel. Isto não é um cachimbo, op. cit., p. 63. 192 discurso em aparência negativo, pois se trata de negar, com a semelhança, a asserção de realidade que ela comporta, mas que é no fundo afirmativo: afirmação do simulacro, afirmação do elemento na rede do similar. Inaugura-se um jogo de transferências que correm, proliferam, se propagam, se respondem no plano, sem nada afirmar nem representar. Pape liga os signos verbais e os elementos plásticos, mas esquivando-os do fundo de discurso afirmativo, sobre o qual repousava tranqüilamente a semelhança; e coloca em jogo puras similitudes e enunciados verbais não-afirmativos, na instabilidade de um volume sem referência e de um espaço sem plano. Pape deixa o discurso do caligrama cair segundo seu próprio peso e deixa-o adquirir a forma visível das letras. Letras que, na medida em que são dadas, entram numa relação incerta, indefinida, emaranhada, com o próprio objeto – mas sem que nenhuma superfície possa lhes servir de lugar-comum. Como afirma Foucault sobre a operação de Ceci n’est pas une pipe: “[Deixe] de um outro lado as similitudes se multiplicarem a partir delas mesmas, nascer de seu próprio vapor e se elevar sem fim, num éter onde só se reenviam a si próprias e a nada mais” 341. Em A diferença entre o círculo e a esfera é o peso (1976), Cildo Meireles representa exatamente o que o enunciado estabelece como verdade. A diferença entre as figuras geométricas está no plano. A ironia é a constatação de algo empírico, que muitas vezes desacreditamos ou não damos a devida atenção. A ironia ou dúvida sobre aquele enunciado faz com que percebamos o quanto podemos estar enganados sobre nossas certezas. A obra significa a constatação do plano, na sua forma mais primitiva, naquela folha de papel, e a aplicação de uma ação sobre ela, ou seja, o amassamento da folha. É uma espécie de passagem do desenho para a escultura, do plano para o espaço tridimensional. O fato é que ao exercer a ação, o que já estava lá, se torna mais eloqüente: é a tradução para a instância do peso. A obra é ao mesmo tempo uma idéia e uma escultura. Enfim, a obra nasce desse gesto primário: transformar uma dimensão em outra. A erosão do informe aqui é a do significado das imagens assim que designadas. Elas descrevem, se confundem, assinalam, encontram nexo, enfim, sua própria erosão. Nada aqui se representa, tudo parece contentar-se em ser alusão, analogia, metáfora. No início, a obra nos induziria a crer num sentido interno específico de cada nomeação. Mas depois, o conjunto de nomeações nos precipita em conclusão surpreendente: todas as nomeações são 341 Idem, p. 76. 193 falsas. O circuito da ironia segue seu fluxo e encontra outros pares. Em The Illustration of Art/One & Three/Streetchers (1971-74), Antonio Dias conduz sutilmente o espectador, fazendo uso da liberdade que a pintura proporciona, para permitir que prevaleça, constantemente, a própria “falta” de relação entre o que pode ser visto e o que pode ser lido, entre ver e ler. Além disso, vira do avesso esta negação de relação, tornando-a uma força positiva, poética subversiva, em posição de inquietar o próprio imaginário. Nessa obra, grupos de barras se cruzam para formar um quadrado central de localização e dimensões variáveis dispostas lado a lado compondo o restante da obra. Longe da preocupação em estabelecer uma relação hierárquica entre modelo e reprodução, uma relação em que um deve ser equivalente ao outro, Dias está, ao invés disso, fazendo um jogo de diferenças; não apenas o de seqüência entre escrita e imagem, mas também, muito fundamentalmente, a diferença no reino do visível, tirando todas as arestas e pondo em movimento a proliferação interminável de cada truque e de cada ilusão. Na ação de usar linhas e superfícies, a estrutura do real é forçada para o ponto de implosão, colapso sobre o espectador. Diante dessa pintura, nos sentimos submetidos ao olhar, observados de muitos lados, complementando a “falta”, preenchendo o vazio. Duas linhas ortogonais e um quadrado bastam para estabelecer uma série; uma pequena diferença basta para encenar todo o infinito jogo de diferenças entre diferenças. Este jogo ocupa todo espaço, de forma a reduzi-lo ao que é: uma realidade abstrata, “nada senão pensamento visível”. Essa série não capta imagens; esses quadros não as fixam; fazem-nas passar. Eles as conduzem, as atraem, lhes abrem passagens, lhes encurtam os caminhos, lhes permitem queimar etapas e as lançam ao espaço. Dias opera na instância da idéia e não da figuração; o artista trabalha com o conceito de que “pensar é experimentar”. Enfatizando a Il. 16 Antonio Dias The Illustration of Art/One & Three/Sreetcherst, 1971-74 Latão polido 110 x 550 cm Col. Ruth Chindler impossibilidade resposta de instantânea uma à experiência, Foucault aponta para a combinação paradoxal 194 entre o momento indiviso e único da imersão em um processo e a impossibilidade de uma construção produtiva de enunciados ou visibilidades que “represente” de maneira mimética tal processo. O quadro desenhado por Foucault agrupa, no local mesmo da possibilidade da experiência, “as figuras do muito próximo e do muito distante, na combinação entre proximidade máxima e disjunção” 342 : o que aparece como impossibilidade, desencontro, incomunicabilidade, ausência e separação, acaba por enfatizar uma geometria de contatos, interfaces, passagens. Este é o conceito que Deleuze aponta como o recurso à topologia em Foucault, que o faz “pensar de outra forma”. Em Foucault, “um Lado de Fora mais longínquo que todo o exterior, ‘se torce’, ‘se dobra’, ‘se duplica’ com um Lado de Dentro, mais profundo que todo o interior, e só ele torna possível a relação derivada do interior para o exterior” 343 . É a partir da necessidade de produção de uma geometria de relações, externas às matérias, que Dias aborda o problema da imediatidade da experiência. O tema volta-se, portanto, para os “meios e entre meios”, para o que se passa entre as matérias, e não para um debate acerca da natureza de um ou outro termo. É no trânsito intenso entre os dois campos que as coisas se passam – e desse movimento só é possível aproximar-se ao perceber que revela um outro espaço, um “fora”: “Quando as palavras e as coisas abrem-se ao meio sem nunca coincidirem, é para liberar forças que vêm do lado de fora e que só existem em estado de agitação, de recombinação e de mutação” 344. Assim como em Volátil, a série Ilustração da arte lança um desafio ao espectador: enquanto no primeiro, o medo é testado no seu limite; na série de Dias, o nosso olhar é capturado em direção a um enigma, no qual a capacidade interpretativa do público e a condição (no sentido político do termo) do espaço são questionadas. 342 BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual, op. cit., p. 53. DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 117-118. 344 Idem, p. 94. 343 195 4.4 A ironia exercida como tomada de posição ao sistema econômico Esta economia de traços e gestos leva-nos a pensar sobre o real valor da arte. A teoria do valor de Duchamp explicita-se quando ele paga a seu dentista com o desenho de um cheque no valor de 115 dólares, praticando uma espécie de escambo entre mercadoria e o instrumento de representação do valor, ambiguamente cheque e arte. Duchamp propõe dúvidas. Qual é o estatuto disso: cheque ou obra de arte? Encontramos a mesma questão quando em 2002 Gianni Motti e Christophe Büchel, dentro do museu suíço Helmhaus, escondem um cheque de 50 mil francos suíços: montante que correspondia ao orçamento da exposição dos artistas. Eles disseram ao público que “se eles achassem o pote de ouro, eles poderiam ficar com tudo”. Com medo da possibilidade de distúrbios, o prefeito da cidade de Zurique fechou a exposição (Capital affair), que durou apenas a noite de abertura. O campo da economia infiltrando-se na arte e vice-versa encontra suas bifurcações em Andy Warhol (Two dollar bills, 1962), Cildo Meireles (Zero dólar, 1978-84 e Zero cruzeiro, 1974-78), Piero Manzoni (Merda d’artista) e Yves Klein (Zona de sensibilidade pictórica imaterial, 1962). Reintroduzir no domínio da arte o valor financeiro e prosaico do ouro em sua função simbólica, orientada não apenas para as coisas e para as trocas puramente materiais, tal como era o objetivo das suas transações artísticas. Nesse sentido, Klein, mediante ritual próprio, venderá Zonas de sensibilidade pictórica imaterial, mas só aceitando moedas ou filetes de ouro como moeda de troca. O artista prometia restituir metade do valor da transação, por meio de várias ações, ao homem e à natureza, lançandose assim no “ciclo místico e elementar da vida”, segundo suas palavras. Em 10 de fevereiro de 1962, houve uma transferência de “sensibilidade pictórica”, organizada em Paris, entre os Blankfort, um casal de colecionadores americano, e Yves Klein. Ouro e um recibo trocaram de mãos de comprador e artista. Klein lançou ao rio Sena 7 dos 14 lingotes de ouro que recebera. Enquanto isso, o senhor Blankfort queimava o recibo da venda dessa transação, “já que zonas de sensibilidade imaterial deveriam ser o nada, com exceção de uma qualidade espiritual; dessa forma, Klein insistia em que tudo que restasse da transação 196 fosse destruído” 345 . A outra metade do “negócio” foi transformada em folhas de ouro com as quais Klein realizou sua série denominada Monogold ou “painéis dourados”. O texto que acompanha Árvore do dinheiro (1969) de Cildo Meireles, explica que a obra é formada por 100 notas de 1 cruzeiro, mas seu valor no mercado é 20 vezes maior: 2 mil cruzeiros. Que tipo de operação econômico-artística é essa? “É acumulação, juros ou investimento?” 346 , é a questão que Paulo Herkenhoff lança. O que ocorre é uma acumulação irônica e transparente do valor, apenas superficialmente aparentada com a questão proposta por Klein. Na acumulação de todos os seus materiais e no jogo (mercantil) em que está colocada, independente de sua vontade, Árvore do dinheiro declara a “defasagem entre valor de troca e valor de uso, ou entre valor real e simbólico” 347 .A origem dessa obra está numa observação irônica sobre o sistema e o mercado: “Era muito raro, mas quando tinha a ocasião de contemplar um montinho de dinheiro, era como se o trabalho se formasse na sua frente e fosse embora, porque você tinha que almoçar, e, portanto, a escultura ia embora” 348 . Discurso irônico também usado quando o artista comenta a proposta de compra da Árvore do dinheiro: Há uns 5 anos, um banqueiro apareceu com uma proposta de comprar a obra. Significava o máximo do fetiche para mim. Eu nem dei valor de compra. Se eu fizesse seria tão alto que ele ficaria espantado com essa merda chamada dinheiro, porque o dinheiro fede mesmo, não é? 349 Eppur si muove... Este é o conceito da ideologia circulante de Meireles assim como o título de uma obra feita pelo artista em 1991. O trabalho consistia no câmbio efetuado, por uma soma inicial de mil dólares canadenses, em diversas moedas como libra esterlina, francos franceses, mas a cada operação de câmbio reconvertendo, no padrão monetário canadense, o dinheiro previamente cambiado. As perdas originadas em tais operações seriam acumuladas até o ponto de virtual desaparecimento do montante com que se haviam 345 GOLDBERG, RoseLee. Performance art: from futurism to the present. 3 ed. Londres: Thames & Hudson, 2001, p. 147 (tradução do autor). 346 HERKENHOFF, Paulo. Um gueto labiríntico: a obra de Cildo Meireles. In: HERKENHOFF, Paulo; MOSQUERA, Gerardo; CAMERON, Dan. Cildo Meireles, op. cit., p. 47. 347 MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles, op. cit., p. 28. 348 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). 349 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007 (documento inédito). 197 iniciado as trocas. Após várias transações, a soma inicial se reduz a quantia de pouco mais de quatro dólares canadenses, valor irrisório que impossibilita qualquer novo câmbio com outra moeda. Lembramos que essa perda se dá entre trocas monetárias de valores “equivalentes”. É o capitalismo às avessas: em invés da acumulação, a fuga, o vazio, o resíduo, a dissipação... E é neste “resto” que se constitui o trabalho: no espaço museológico, o que é visto pelos espectadores são porquinhos feitos em vidro transparente que guardam a quantia que sobrou ao fim desse circuito perverso, além da documentação das operações de câmbio. Não mais a inflação como causadora da desvalorização, mas a própria situação de ser o que é: moeda, corrente, circulação, trocas, divisas, fronteiras. A ironia pode ser traduzida na seguinte sentença: “Quanto mais circula, menor é o seu valor”. A despeito de operações de ideologias dominantes e tão somente por ele, esse elemento vital é levado ao desaparecimento por seu uso constante (sua permuta), mesmo que uma mercadoria (concreta) não tenha sido adquirida. É no desperdício dessa energia gerada, mas não disponível, porque existe apenas nessa circulação, que a obra surge. Enquanto em Árvore do dinheiro o valor de troca foi multiplicado, em Eppur si muove o mesmo foi trazido à realidade da sua natureza; e já em Zero cruzeiro, foi alterado: de “nada” passou a ser – altamente – positivo. Porém existem outras maneiras do dinheiro circular. Na performance Chuva de dinheiro (1983), feita por Márcia X. e Ana Cavalcanti, são jogadas enormes cédulas (120 x 60 cm) de 5 cruzeiros, impressas em serigrafia, do alto de um edifício, na Avenida Rio Branco, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Era a euforia da redemocratização e a agonia da inflação galopante. Embaixo, o povo vibrando, gritando, a cada lançamento de nota. Existe maior ironia (econômica) do que receber sem precisar trabalhar? Ganhar dinheiro simplesmente porque estava naquele local e no exato momento? A dupla discute com clareza a micro-política que rege as relações entre valor estético e valor de uso da obra de arte, usando propositadamente o mecanismo que determina e cerceia essa relação: o circuito. Promovem um contra-ataque, um curto-circuito. O circuito de arte e sua engrenagem funcionam de maneira perversa. Para ele, não importa se a obra possui o selo de “não-comercial”. O mercado não se importa, busca a capitalização; e qual seria a forma da obra de arte ser mais rentável, obter uma forma de 198 destaque entre os seus pares e ter o seu valor multiplicado inúmeras vezes? Resposta: a sua raridade. Porém, há artistas que pensam o contrário: Acho que o perigo maior está no artista e não no mercado. Como o artista lida com a absorção, ou não, do trabalho dele pelo mercado. Hoje em dia, o mercado tem interesse pelas trouxas de Barrio, que são de 1968. Acho essa relação muito promíscua, porque uma coisa é ele fazer com sangue, e a outra é fazer com algodão, lona e fingir que é sangue, sem osso. Por outro lado, a ironia é que há colecionadores que compram meu trabalho [o artista refere-se à série de obras Bicho de pelúcia] para enfeitar o quarto de seus filhos, porque eles [os “ursos”] transmitem uma meiguice. 350 Porém Barrio rebate essa acusação, que de certa forma não vem apenas de Barbosa mas de grande parcela do circuito das artes visuais. Em entrevista concedida por e-mail ao autor, o artista expõe os fatos: O que os museus compraram foram as Trouxas protótipos, objetos sem história e que não participaram dos trabalhos de 1969 ou 1970, portanto estão fora do contexto, ainda que fadados ao desaparecimento já que não são restauráveis. As trouxas de 1969 e 1970 desapareceram na vertigem do trabalho e, portanto jamais foram recuperadas já que simplesmente desapareceram. Alerto que mesmo os Registros não são o Trabalho.......................................................... O todo materializado naquele Momento. Evidentemente que o museu ao incorporar uma Trouxa protótipo tenta alienar o processo e o todo inerentes aos trabalhos de 1969 e 1970 e consequentemente sua efemeridade. As Trouxas protótipo não são em si a obra!351 Nesse ponto, a ironia não escolhe lado e ataca ambos: artista e colecionador. Caso o artista não reconheça o grau máximo de ironia que a obra alcançou, esta reveste-se num corpo inflamável e não poupa nenhum elemento desse circuito. Meireles também questiona esse espaço sagrado e “construtor” de valores que se tornaram as instituições de arte, em geral. “Qualquer coisa, qualquer idéia que você coloque 350 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2006 (documento inédito). BARRIO, Artur. ...........Respostas............. [mensagem pessoal]. Mensagem <[email protected]> em 5 outubro 2007. 351 recebida por 199 lá [na instituição de arte] será automaticamente neutralizada” 352. As instituições, depois de tantos anos sob críticas, continuavam a tornar mercadoria o pensamento ou a objetivar o modo como o público interpreta por meio de sua repressiva maneira de se comunicar. A tática de Meireles, assim como de Antonio Dias em Illustration of art, é trabalhar sempre com essa possibilidade de transgressão ao nível do real; obras que não “aconteçam” simplesmente na superfície uma tela, de uma representação, mas que sejam ação pura. Economia e arte imbricam-se na linguagem. O campo da economia encontra seu par na linguagem e na escritura: a oposição entre significante e significado não é outra coisa senão “cisão” entre valor de uso e valor de troca. Valor, circulação, câmbio, meio circulante são operações econômicas envolvidas agora nessa produção “explosiva”. Em Ouro e paus, o valor não está no que poderemos encontrar ao abrir as caixas. São conteúdos de nada, que Cildo Meireles nos apresenta. Como aponta Paulo Venancio Filho, “o valor está no exterior, o próprio caixote é o valor. No elemento desprezível, o prego, encontramos o ouro” 353 . Física, economia e política não têm hierarquia no trabalho de Meireles; todas agem em contraditória sintonia, como se isso fosse possível 354 . Relações duvidosas entre massa, peso, volume e cheiro são postas diante de nossos olhos, mãos, narizes e ouvidos. Não tanto uma situação lúdica entre a ciência e a arte, mas uma alegoria de nossas fragilidades, do meio em que vivemos, da sociedade que construímos. Cildo Meireles propõe uma espécie de desobediência civil, porém, mais do que isso, um alargamento de nossos sentidos e uma tomada de posição frente ao mundo. A economia é a esfera da produção em massa, do poder, da circulação de valores, de um mundo em constante movimento que não pode parar em momento algum, senão corremos o risco de falhar. Mas a “falha” pode estar presente nesse mesmo movimento ininterrupto. São microdesordens numa estrutura planejada para não assumir riscos, para não ter erros. Assim como em Inserções em circuitos ideológicos: projeto Coca-Cola (1970), Fio (1990-95) utiliza como método a investigação a fim de descobrir uma falha no sistema, e aproveitá-la para espalhar a contra-informação. Na montanha de feno cercado de Fio, Cildo Meireles questiona: “O que você procura?”. Uma agulha no palheiro? Se for isso, aventure352 MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles, op. cit., p. 24. VENANCIO FILHO, Paulo. Física, economia e política. In: MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles: ouro e paus. Rio de Janeiro: Joel Edelstein Arte Contemporânea, 1995. 354 Meireles também trabalharia com o ouro solidificado em outro material com a obra Paulista/97, em que dezenove pedras são “perfuradas” por parafusos de ouro. 353 200 se a procurar nos 48 fardos de feno, amarrados por 100 metros de fio de ouro. Talvez essa busca valha mais a pena se dissermos que essa (única) agulha é de ouro dezoito quilates. A ironia manifesta-se nessa discrepância entre valor de uso e valor de troca, entre o trabalho e o trabalho de arte; no final das contas, entre ganância e profunda desilusão existencialista. Como achar essa agulha, a não ser no título do trabalho? Porém, o fio existe, está camuflado pelo feno, mas é visível; e o fio sendo visível, a agulha poderá ser também. Teoricamente, se chegaria à pseudo-oculta agulha. A questão dos valores encontra sua prova no real, na confluência entre uma atitude prática, econômica e irônica do artista, como podemos observar nesta história que ele relata: Para a exposição que fiz na Galeria Joel Edelstein, em 1995, na qual exibi Fio e Ouro e paus, o marchand queria contratar uma transportadora especializada, com escolta e segurança armada. Eu propus à um serviço de kombi o seguinte acerto: ‘Existem uns caixotes para levar numa galeria. Você topa levá-los?’. O dono da kombi aceitou e levou toda a série de Ouro e paus por um preço infinitamente menor do que cobraria uma transportadora especializada. Para ele, eram apenas tábuas e nada mais. O marchand adorou a economia. Mesmo assim, durante o vernissage, Fio continuou cercado por dois seguranças, de ternos bem cortados; as pessoas não só aproximavam. Tive que intervir porque um novo Fiat lux estava se desenhando. 355 O artista ocupa-se da discussão do espaço da vida humana, concomitantemente amplo e vago. Contradizendo os minimalistas, a visibilidade, em Meireles, escancara: “O que se vê é o que não se vê. Desconfie de mim!”. Uma montanha de feno não é só uma montanha de feno. Tem algo por trás disso. Meireles oferece um sistema aglutinador de experiências, que articula desde gestos insignificantes até grandes estruturas macroeconômicas. Como afirma Venancio Filho, “[as obras de Cildo Meireles] procuram menos a superfície do que as forças, relações, tensões que estão por trás da superfície. Por isso encontramos nesses trabalhos uma situação limite: [estão] entre a visão e a matéria”356. São estratégias de linguagem, embates contra o sistema, uma espécie de política ou agir social (que já encontrava sua incipiente presença no neoconcretismo); em suma, 355 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). VENANCIO FILHO, Paulo. Situações limite. In: FERREIRA, Glória (Org.). Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006, p. 300-301. 356 201 pequenas apropriações que tendem a minar ou revelar estruturas que nos mantêm presos, cegos, a uma superestrutura política e mesquinha. Deve-se acrescentar a isso a presença do diferencial Duchamp. Percebemos nas inconstantes intervenções do readymade, um agir que não termina na obra, mas continua em sua inserção, em seu pathos crítico. Meireles queria dissociar-se desse provérbio, estava direcionando sua proposta para a cor. O artista preocupa-se essencialmente com esse elemento e, na tentativa de esconder algo, acaba por ressaltar a matéria e a forma do objeto: “Ouro e paus, desse ponto de vista, é basicamente uma ilustração desse provérbio, tentando trabalhar essas duas vertentes, mesmo: a coisa da forma e a coisa traumática, essa espécie de monocromo” 357. A questão do valor de troca e valor de uso é uma questão que permeia toda a trajetória de Meireles, com bem-definida demarcação em Inserções em circuitos ideológicos: projeto Coca-Cola; nessa série, porém, o artista tem como suporte uma mercadoria comum, barata, que está “à mão” de qualquer camada social, que pode ser comprada facilmente e, ao mesmo tempo, é objeto de desejo de uma grande parcela da sociedade; já em Fio e Ouro e paus, a discussão sobre os valores de uso e troca e a Il. 17-22 Cildo Meireles Inserções em circuitos ideológicos: projeto CocaCola, 1970 Garrafas de coca-cola e silkscreen 18 cm (altura) Col. do artista camuflagem do objeto de arte por essa tomada de posição irônica e política (não necessariamente nessa ordem) permanecem, porém, alcançam uma nova instância: a entrada do ouro como matéria de constituição das obras. Nesse conjunto de obras, a “matéria-prima”, também é algo desejável (de amplitude compreensivelmente bem maior do que a garrafa de Coca-Cola), porém muito mais difícil de ser alcançado. Contudo, a discussão sobre o valor simbólico e real do objeto atravessa o 357 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). 202 questionamento do lugar do objeto de arte e lança nova questão: qual é o campo dos materiais de arte? Quando esse acento da camuflagem é ressaltado, o artista está se dirigindo objetivamente à questão da aparência, pois a camuflagem é algo que aparenta ausência. Em Inserções em circuitos ideológicos suas premissas são a existência de determinados mecanismos de circulação na sociedade e a veiculação da ideologia do produtor por meio deles. Essas práticas trazem implícita a noção de meio circulante, como é o caso do papel-moeda e das embalagens retornáveis. Esse disfarce sob falsas aparências é presente em Banco (2003-05) de Felipe Barbosa. Nessa obra, um banco de praça é coberto com notas de 1 real picadas e prensadas. Mais do que um jogo de palavras, a obra se insere no campo da poesia visual. A obra concentra-se na reminiscência de um quebra-cabeças onde o espectador é um pouco dirigido para o olhar e um pouco dirigido para o tato. É preciso prestar atenção ao que ali se encontra para saber exatamente o que é dado a perceber. Barbosa insiste – e com razão – em se referir à idéia de “imersão” na obra, em oposição à noção (hoje declarada insuficiente) de contemplação da arte. A contemplação pressupõe que já saibamos o que esperar de um trabalho, toda novidade consistindo no ineditismo (ou não) da sua forma, e tão-somente nele; a imersão a que o artista se refere, ao contrário, exige do espectador sua inteira disponibilidade com relação ao que vai encontrar; o Banco oferecendo uma união entre imagens, palavras e experiência tátil que ocorre de modo bem pouco esperado. A obra é suficientemente clara e chama a atenção por sua simplicidade extrema. Mas é nesta mesma simplicidade (enganadora como toda simplicidade) que reside toda a tensão que o trabalho tem a oferecer: apenas uns poucos elementos, mas capazes de provocar um adensamento de sensações. Obra em tudo híbrida – por sua vinculação simultânea com o rarefeito e o adensado, o palpável e o impalpável, o visível e o não-visível, o percebido e o pensado, o vivido e o imaginado, o formalizado e a recusa de formalização –, ela se insere no repertório contemporâneo de modo a tecer suas próprias determinações e abrir caminhos para outras ainda. Seria ingênuo acreditar que se possa falar a respeito de arte hoje sem pressupor a existência de um “campo social autônomo” amparado pelo circuito de arte. De fato, falar em obras, artistas e público enquanto entidades é já estabelecer uma estrutura funcional no 203 centro de um sistema francamente singularizado. Mas, se, de um lado, o campo assegura a permanência do sistema simbólico e permite ao artista profissionalizar-se, propiciando as condições de produção, circulação e difusão de sua obra, de outro, esse mesmo circuito de arte reduz esse sistema a seus interesses imediatos. “Embora um vasto número de objetos integre o circuito da arte, [esse] ao se manifestar pelas decisões individuais de seus agentes, atua como receptor coletivo e os seleciona segundo suas expectativas em relação à arte” 358. E por que não usar as próprias regras do sistema para causar um curto-circuito nessa estrutura? Em Inserções em circuitos ideológicos: projeto Coca-Cola 359 , Meireles tirou temporariamente de circulação garrafas de Coca-Cola e com a ajuda do artista visual Dionísio del Santo 360 , que dominava técnicas de serigrafia, imprimiu decalques nas garrafas, impressos com tinta branca vitrificada (“que era o mesmo procedimento da fábrica: você levava ao forno, derretia e aquela tinta entranhava no vidro”, conforme relata o artista em depoimento ao autor em 11 de maio de 2007), em que se liam, além do título do projeto, propostas tais como: “Yankees, go home”, o nome de desaparecidos políticos ou pessoas postas “fora de circulação” ou ainda o método para a criação das inserções propriamente ditas, desde a fabricação do decalque até sua colagem, para que qualquer um pudesse produzir suas próprias opiniões críticas 361 . Embaixo dessas inscrições via-se a expressão: “CM.5.70”, como uma assinatura. Ao final desse processo, as garrafas eram repostas em circulação. 362 Quando a garrafa está vazia não se percebe o texto, que só aparece contra o fundo escuro da bebida. Inserções visavam atingir um número indefinido de pessoas, um público 358 VINHOSA, Luciano. Da prática da arte à prática do artista contemporâneo. In: GERALDO, Sheila Cabo (Org.). Concinnitas: arte, cultura e pensamento. vol.1. n.8. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Arte, Instituto de Artes, UERJ, 2005, p. 148. 359 O Projeto Coca-Cola consistia na impressão, em vasilhames vazios do refrigerante (nessa época feitos de vidro e retornáveis ao fabricante para reaproveitamento), de mensagens contrárias ao sistema político, e em sua devolução, em seguida, à circulação mercantil. Algumas inserções do Projeto Coca-Cola foram, efetivamente, trocadas em bares e restaurantes por garrafas do refrigerante, em 1970. 360 Dionísio del Santo também fez a tela para a serigrafia das Inserções em circuitos ideológicos: projeto cédula (1970). Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, em 11 de maio de 2007 (documento inédito). 361 Meireles fabricou em torno de 15 mensagens ou “inserções” para o Projeto Coca-Cola. Uma destas poderia estar incluída no projeto explosivo brasileiro (leiam o capítulo 6 dessa tese para a compreensão dessa proposta) já que se constituía em instruções para a transformação da garrafa do refrigerante em coquetel molotov. 362 Meireles também produziu as Inserções em circuitos ideológicos: projeto cédula (1970), que consistia em carimbar cédulas de cruzeiro e dólar com mensagens políticas ou situações que alertavam o estado conturbado que o Brasil passava naquele momento. 204 no sentido mais amplo do termo, e não limitar ou substituir essa noção pela de consumidor, que é ligada ao poder aquisitivo. Elas só teriam sentido se fossem praticadas por outras pessoas, numa possibilidade real de transgressão. São táticas (irônicas) desviantes, produtoras de movimentos, em deslocamento constante, evitam posições fixas e o isolamento de outras atividades e conhecimentos. Inserções são processos, e não fins, formas de pensar, agir e refletir 363 . Nessa proposta, não há um público stricto sensu (no sentido de observação, de passividade frente à grande e genial obra de arte) ou testemunhas oculares, mas agentes. Agentes envolvidos numa situação dinâmica que investe sobre o mundo, aí inscrevendo possibilidades de crítica, subjetividade e questionamentos 364. Dessa forma, esses readymades permaneceram em seu circuito físico social em vez de serem levados para o da “arte”. Meireles subverte a ação lógica apropriando-se do próprio mecanismo industrial: “Inserções em circuitos ideológicos não [é] mais o objeto industrial colocado no lugar do objeto de arte, mas o objeto de arte atuando no universo industrial” 365 . Sua eficácia não se funde na quantidade de ocorrências, mas em seu enunciado e na experiência de tornar-se factível, o que realmente aconteceu. O artista volta suas ações para a fabricação do capital. Em Zero cruzeiro (1974-78), a idéia inicial era sua circulação, e, em 1978, Meireles decide vender essas notas via camelôs. No Centro do Rio de Janeiro, o artista trava contato com esses comerciantes ambulantes e chega a seu gerente-geral, de codinome Oxossi, que interessou pelo “produto”, mas ponderou: “Olha, 363 Cildo Meireles nunca vendeu nenhuma garrafa de Coca-Cola das Inserções em circuitos ideológicos, apesar do grande interesse do mercado em adquiri-las. Como disserta o artista, “mesmo que quisesse vender [Inserções em circuitos ideológicos: projeto Coca-Cola], eu não poderia. Ele não é para vender, é para ser usado. Ele só existe enquanto alguém estiver fazendo a operação” (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007; documento inédito). 364 Em 1970, Frederico Morais apresenta uma exposição na Petite Galerie, no Rio de Janeiro. Era uma exposição sobre o conceito da nova crítica; segundo Cildo Meireles, “[uma exposição] cuja idéia era que a crítica fosse feita na linguagem e no procedimento do objeto” (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2006, documento inédito). Morais se apropriou de alguns objetos que haviam sido expostos na última exposição chamada Agnus Dei, e que contou com a participação de Cildo Meireles, Theresa Simões e Franco Terranova. Entre os objetos que Meireles havia exposto estavam as Inserções em circuitos ideológicos: projeto Coca-Cola. Morais preencheu o chão da galeria com engradados de Coca-Cola, dentre eles, alguns de Inserções em circuitos ideológicos. O público, portanto, caminhava por cima das garrafas. Num determinado dia, Antonio Manuel, Jackson Ribeiro e Mário Pedrosa visitaram a exposição. Segundo Antonio Manuel, Mário Pedrosa, marxista e ferrenho crítico do capitalismo e de seus ícones, pede ao próprio que ele urine dentro das garrafas “e devolva a mesma ao consumo” (Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006, documento inédito). Manuel urina, mas não guarda a garrafa nem muito menos introduz o “produto” no mercado. Entretanto, esse momento foi fotografado e virou a obra Isso é que é, de Antonio Manuel. 365 MEIRELES, Cildo. Information: 1970/89. In: HERKENHOFF, Paulo; MOSQUERA, Gerardo; CAMERON, Dan. Cildo Meireles, op. cit, p. 108-09. 205 primeiro, temos que fazer um teste”. O teste deu certo, e cerca de 50 notas foram vendidas ao grande público. A venda rápida leva Oxossi a se entusiasmar com a idéia, e ele chama Cildo Meireles para conversar: “Isto me interessa. Como é que a gente pode fazer?”. O artista responde: “Eu não tenho a menor idéia. É esta arquitetura que estou procurando. Saber como é que a gente pode fazer este negócio”. Oxossi oferece a seguinte proposta ao artista: fabricar um milhão e meio dessas notas, por meio de serigrafia, e vendê-las através do comércio ambulante. Ele pede que Meireles retorne no dia seguinte para fecharem o pacto. Segundo o acordo preestabelecido, o artista entregaria algumas notas, e os ambulantes pagariam pelo produto e por sua impressão; Oxossi ficaria responsável pela industrialização e mercantilização das notas. Cildo Meireles aprova a idéia, mas quer se precaver e busca abrigo jurídico com Luiz Buarque de Hollanda 366 , que o aconselha a prosseguir. Um dia depois, Meireles procura o “gerente” dos camelôs para fechar o acordo, porém a resposta de Oxossi é sintética: “Sinto muito, o produto vende, mas não poderá ser comercializado”. O artista, surpreso, questiona: “Mas como assim?”. E Oxossi conclui: “Desculpe-me, mas não vai dar para seguir adiante, porque a maneira eficaz de anunciar esse produto para o público seria ‘Veja a que ponto chegou o nosso dinheiro’, e isso pode nos dar problemas” 367. Chegou ao fim, assim, a possibilidade de circulação das cédulas. O artista ficou preocupado em ser trapaceado pelos ambulantes, já que eles tinham em mãos o “produto” e poderiam fabricar rapidamente uma grande série dessas notas. Mas tal fato não aconteceu. O monopólio social da moeda é tratado nas edições de cédulas e moedas feitas pelo artista: Zero cruzeiro, Zero centavo, Zero dólar (todas as três séries realizadas entre 1978 e 1984), Zero cent (1984) 366 368 . Esses cruzeiros e dólares são cédulas convincentes, com Já falecido, foi advogado e um dos maiores colecionadores de arte contemporânea brasileira, tendo a obra de Cildo Meireles representada em sua coleção. Era amigo de Meireles. 367 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2006 (documento inédito). Nesta entrevista, Meireles afirma que idealizou alguns planos de disseminar esta mesma obra, tais como: jogar as cédulas, por meio de avião, no estádio do Maracanã e numa praia. Entretanto, nunca houve uma comercialização, de fato, desta obra. Não era o propósito, segundo o artista. 368 As cédulas de Zero cruzeiro foram fabricadas em off-set. Como acentua Meireles, “na época, eu recortava os zeros das notas, de duas ou três, e colava. Então, apagava o número com uma filigrama parecida, por meio de um adesivo que eu colava. Logo depois, fazia um fotolito e, finalmente, imprimia. Esse era o Zero cruzeiro”. Porém, a nota de Zero dólar foi feita em outro processo; foi desenhada cuidadosamente por um amigo de Cildo Meireles chamado João Bosco Renaud: “Ele era ótimo gravador, desenhava dinheiro para a 206 elementos gráficos que aludem à autenticidade monetária. Reprodução detalhada de instrumentos monetários à época vigentes, o dinheiro do artista é, entretanto, vazio de valor: com zero cruzeiro nada se adquire a não ser a atenção de quem com ele se espanta. Literalmente, vale menos do que o papel em que foi impresso. Como observa Meireles, “o Zero cruzeiro, na verdade, falava o contrário da Árvore do dinheiro. O discurso era: ‘isto não vale nada’, o que já era, de início, uma mentira, quer dizer, uma negação, um paradoxo em relação ao que era aquilo” 369 . Comentário irônico sobre a gradual mercantilização do artefato artístico, este trabalho força quem o observa a confrontar a convencionalidade do valor de troca da obra de arte e do poder cego atribuído aos instrumentos monetários, como podemos observar no depoimento do artista ao autor: O Zero cruzeiro sempre correria um risco, como a Árvore do dinheiro, de ser confundido como um comentário ou uma crítica à inflação, ou seja, acabam regionalizando e limitando a potência do trabalho. O que estava me interessando discutir ali era a distância entre valor simbólico e valor real, valor de uso e valor de troca, que em arte é sempre uma operação contínua, permanente. 370 Os Zeros ficam no limite entre serem exemplos de inserções em circuitos antropológicos ou ideológicos; traçam uma fronteira com os readymades, já que ambos são objetos do cotidiano e há um alto grau de coeficiente irônico; porém o modus vivendi daqueles objetos era distinto. Em Zero cruzeiro, mais do que instituir que aquela nota era um objeto de arte, a sua primeira ação foi “ser mundo”, circular, ser usada, passou a ser trocada por mercadorias, ganhou um valor de uso que ela mesma não tinha, e no final desse processo, tornou-se agente ativo dentro do mercado de arte. Trazendo as figuras, em seu verso e anverso, de um doente mental e de um índio 371, as cédulas de Zero cruzeiro expõem, ainda, o valor nulo que, a certos grupos, o corpo social brasileiro convencionalmente confere. Casa da Moeda do Brasil, inclusive” (Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007, documento inédito). 369 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). 370 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007 (documento inédito). 371 Esse índio pertencia à tribo dos krahôs, que habitava a área do Bico do Papagaio (limítrofe aos estados de Goiás, Maranhão e Pará) e que foi dizimada por fazendeiros, liderados por Raimundo Soares, que tinham interesse em ocupar aquelas terras. Os primeiros massacres ocorreram na década de 1930. Na década de 1970, Raimundo Soares liderou novos ataques contra os índios sobreviventes dessa etnia (um grupo de fazendeiros 207 Cildo Meireles não está interessado no readymade como um estilo de arte, mas em termos da circulação de um objeto manufaturado. Garrafas de Coca-Cola e cédulas de dinheiro com mensagens impressas não são, efetivamente, os trabalhos de Meireles discutidos aqui, mas apenas “os rastros de inserções silenciosas que promoveu (direta ou indiretamente) em sistemas mercantis e institucionais”.372 Como afirma o artista, o Projeto Coca-Cola era uma metáfora do Projeto cédula. Este tem um teor de eficácia, porque teoricamente você vive sem Coca-Cola, mas não sem dinheiro. As razões para a criação desse trabalho residem exatamente nas contradições de um sistema, que é o sistema vigente até hoje. Esse sistema se preparou para enfrentar os grandes inimigos. Na verdade, os grandes adversários desse tipo de mentalidade, que é expansionista, é o próprio capitalismo industrial. Sua fragilidade repousa exatamente na minimalidade de um perigo potencial. 373 Apesar do Zero cruzeiro se originar em 1974, ano em que a Coca-Cola já não estava mais “inserida no circuito”, entramos no terreno da ficção, acrescentamos o fluxo irônico e perguntamos a Cildo Meireles: E se alguém comprasse a Coca-Cola, de Inserções em circuitos ideológicos, com uma nota de Zero cruzeiro? Meireles, em depoimento ao autor em 03 de abril de 2006, responde: “Literalmente se fecharia o circuito. São duas formas de relação que acabam criando um atrito. Proposta conceitual esta que está incluída também em Estojo de geometria (neutralização por oposição e/ou adição)”. Esses trabalhos seriam o avesso da operação por meio da qual Duchamp criara o readymade quase seis décadas antes: “Em vez de subtrair um objeto do campo mercantil e colocá-lo no campo consagrado da arte, Cildo Meireles propunha a inserção de informações alugou um avião monomotor e jogou roupas infectadas com vírus da gripe sobre os índios). Houve dois massacres contra essa tribo que foi reduzida de 4 mil para 400 habitantes (segundo Cildo Meireles, dessa parcela sobrevivente, metade, teria ficado em estado vegetativo, catatônico ou enfrentaram sérios problemas com álcool; inclusive o índio retratado na cédula teria sofrido esse problema). O segundo massacre foi documentado pelo pai do artista, Cildo Furtado Soares de Meireles, um indianista, que havia sido enviado pelo Serviço de Proteção ao Índio para investigar o massacre. Ele acabou redigindo um dossiê e esse documento foi fundamental para que Raimundo Soares, o mentor intelectual do crime, fosse julgado e finalmente condenado pela justiça. Foi o primeiro caso de um réu condenado por crime contra o povo indígena. Segundo o artista, essa também é a história à qual Cruzeiro do sul está mergulhada. (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007, documento inédito). 372 ANJOS, Moacir dos. Do caráter mercantil, monetário e, ainda assim, autônomo do objeto de arte. In: FERREIRA, Glória; VENANCIO FILHO, Paulo. Arte e ensaios. n.6. Rio de Janeiro, Programa de PósGraduação em Artes Visuais, Escola de Belas Artes, UFRJ, 1999, p. 75. 373 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2006 (documento inédito). 208 ruidosas no campo homogêneo em que as mercadorias circulam e se trocam” 374 . Meireles questionava, ademais, a noção de autoria do próprio trabalho, posto que estimulava outros a fazer tais inserções em seu lugar mediante as instruções de procedimento que fornecia. Um sistema (capitalista) que teoricamente é perfeito em sua formatação estrutural, mas permite brechas. Meireles trabalha exatamente com esses espaços, apropria-se da própria dinâmica que o sistema age: “Coisas, cada vez maiores, se apoiando em coisas cada vez menores” 375. As Inserções ampliam sua tática e despertam no público a idéia de que é possível relacionar-se ativamente com os circuitos. Nas Inserções em circuitos antropológicos (1971), não eram mais mensagens que Meireles desejava inserir em sistemas de circulação e trocas existentes, mas objetos fabricados por ele e por quem mais o desejasse (o trabalho consistia basicamente de instruções de produção). Um exemplo dessas inserções foi a confecção por Meireles de fichas de telefone e de transporte público, recortadas em linóleo, encontrado entre as diversas camadas que encobriam o taco do meu apartamento em Nova York, quando morei nessa cidade em 1971, ou a construção de moldes para a fabricação das mesmas fichas com argila, as quais eram aceitas pelas máquinas destinadas a receber fichas originais, feitas em metal; essas inserções possuíam o mesmo peso e densidade da original. 376 O circuito irônico pretende chegar às ruas (o desejo do artista era que essa operação fosse largamente explorada pelo público e fizesse parte do seu cotidiano, investigando as brechas que o circuito oferecia) e com isso, a possibilidade do descumprimento da lei surge. Circuitos ideológicos e antropológicos se misturam: ambos são farsas; são movimentados, usados e trocados em um jogo que se constituiu como um drible no sistema (“basicamente, a idéia era opor consciência à anestesia”, afirma Meireles). E continua: “Queria que as pessoas vivessem em estado de graça, no sentido de terem acesso a tudo o que era negado pelo sistema. Estava interessado em trabalhos que pudessem ser transmitidos oralmente, que pudessem ser ‘utilizados’, e este é o melhor verbo para entender as Inserções em circuitos antropológicos”. 377 374 ANJOS, Moacir dos. Do caráter mercantil, monetário e, ainda assim, autônomo do objeto de arte, op. cit., p. 74. 375 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2006 (documento inédito). 376 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007 (documento inédito). 377 Idem, ibidem. 209 Il. 23-25 Cildo Meireles Inserções em circuitos antropológicos, 1971 Fichas de metal para transporte, telefone ou compra em máquinas, linóleo Dimensões variáveis Col. do artista Meireles sempre encarou o trabalho das inserções como ativação desse circuito político, econômico, social, cultural, e no final das contas, irônico consigo mesmo (como alertamos, a obra “funcionava”, porque o sistema propiciava brechas) e com quem estava inserido nele. A ironia conjugada ao fato da ação do espectador, muitas vezes alienado, e isso fica bem claro em duas situações: já que poucos notavam as inscrições nas garrafas de Coca-Cola assim como igual número de pessoas tinha consciência do estado real que o país atravessava. Como disserta o artista em entrevista ao autor em 18 de junho de 2007: O meio é sempre o circuito e o modo é sempre uma obsessão. Então, não há como você fugir dessas duas coisas quando você está fazendo um trabalho de arte. No caso das Inserções em circuitos ideológicos, você [espectador ou artista] estava usando uma coisa que já estava lá e, portanto, apenas insere; ou então, a coisa não estava lá e você está fazendo aquilo com o objetivo também de transformar. Não há um objetivo comercial tanto nos circuitos antropológicos quanto nos ideológicos. Em outro extremo, o das perversões arquitetônicas, Mata-mata (2003), de Raul Mourão, cujo título sai das partidas de futebol ou jogos como a sinuca, propõe uma área de lazer (?) para um edifício. Com o seu humor negro, esse projeto é um trabalho de crítica 210 institucional, que propõe vantagens terapêuticas à moda de anúncio de lançamentos imobiliários. Os equipamentos deste edifício se propõem a curar depressão de um modo radical. Há um trampolim para o abismo no corredor do sexto andar e um escorrega no terraço do prédio que lança o morador diretamente para o térreo em queda livre. É o seu sutil humor negro (leia-se crítica) ao capital imobiliário. Das perversões arquitetônicas para a utopia imobiliária, ainda no circuito irônico das invenções artísticas. Cildo Meireles, em entrevista ao autor, apresenta seu projeto não realizado, de 1969, para a série Arte física: a idéia do artista era colocar à venda um terreno (real) numa galeria de arte. A única peça à venda durante a exposição seria esse terreno; o anúncio seria a obra. Segundo Meireles, “durante um mês você anunciaria aquele terreno. E, se fosse vendido, a galeria ficaria com 33%. A pessoa interessada compraria um terreno, só que ele teria sido comprado numa galeria. É deslocar o mercado imobiliário para dentro da galeria” 378 . O âmbito e a ambição do trabalho de Meireles, misturando livremente situações reais e míticas, representações espaciais, perspectivas filosóficas e mídia para criar um “absurdo irônico”, estabelecem um gesto de autoquestionamento sobre o papel do mercado de arte e natureza (questionável) de sua empreitada. 4.5 Ironia e cinismo 4.5.1 Alegoria e investigação: a merda como suporte A ironia pode passar pelo cínico, pelo desagregador, pela diluição. Os exemplos são muitos, como as ações do grupo Atrocidades maravilhosas; ou mesmo o empalhamento do porco, de Leirner; e, os pombos e os seus excrementos (espalhados pelo pavilhão da Bienal de Veneza), como fez Maurizio Cattelan 379 . E por falarmos em merda, continuaremos por esse caminho. Se a maior ironia em Piero Manzoni, e possivelmente da história da arte no 378 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). E se quisermos continuar na seara dos animais, a crucificação de uma ovelha, como Damien Hirst realizou em In Nomine Patris (In the name of the Father), 2004-05. São obras que também falam sobre perda, morte e representam uma energia que não pode ser utilizada. Representa uma energia congelada. Os animais não são, assim, tão engraçados. Eles revelam o seu lado escuro, mórbido. 379 211 século XX, é a pergunta: e se não houver merda dentro das caixas? Em Ku kka ka kka (1999) de Cildo Meireles a merda está presente. As latas foram abertas 380 . Ela não é metaforizada, mas é viva, real. O simulacro fica com as flores. Nesse ponto, a ameaça e o desconforto acabam se anulando na própria obra, quando essa representação anti-natural (das flores de plástico) se faz presente. A ironia, aqui, passa a ser ao mesmo tempo algo desconfortável - não na possibilidade, mas na existência – e contraditório, porque temos a experiência de atração e repulsa. A obra reage por meio de opostos, numa função que se realiza tanto na visão quanto no olfato. Como assinala Meireles em entrevista ao autor em 11 de maio de 2007: O trabalho é um quiasma: uma migração simultânea de opostos. Cada flor é diferente de outra flor, mesmo sendo da mesma espécie. Cada cocô é diferente de outro cocô. Ele me interessa, sobretudo, por essa simetria e minimalismo perversos, que é minimalizado [sic] pelo olhar. Ele carrega todas as diversidades possíveis. O trabalho lida com uma hierarquia de valores estéticos: a merda e a flor. Assim como em Através (1983-89), Cildo Meireles trabalha com os dejetos, o descartável: traz à tona materiais que não tinham função ou foram rejeitados pelo homem. Partidos em oposição, os elementos desse circuito irônico colocam-se numa perspectiva em que positivo e negativo se invertem, resultando no jogo de credibilidade/incredubilidade e, principalmente, numa inversão relativa à construção da “verdade”. Isso mostra que a ironia atua no campo da investigação e da resolução de jogos (sejam visuais, de palavras ou sensoriais) provocada pelo estranhamento, o inesperado e o paradoxal que entram em confronto com o habitual. O receptor ou espectador desse “dito” irônico deve estar atento: ele é convidado a fazer o seu próprio raciocínio, lançando pontes entre o paradoxo percebido e o significado pretendido daquilo que, no caso, cheira ou enxerga. O ouro, das Zonas de sensibilidade imaterial, é elemento plástico e (ao mesmo tempo) transação mercadológica assim como a merda de Manzoni. O artista nos pergunta: podemos confiar nele? O artista-mágico tem esse dom: consegue “transformar” merda em 380 Segundo Meireles, quando essa obra é exposta na Europa ou nos Estados Unidos, a pergunta freqüente dos jornalistas é: “Como você consegue a merda, real?”. E ele responde: “Comprei algumas latinhas do Manzoni há alguns anos”. Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). 212 ouro. Talvez nem Benjamin tenha pensado nisso quando escreveu sobre a aura da obra de arte na era da reprodutibilidade. O artista vira um ser cínico. O cinismo colocado como uma maneira de dar poderes à arte. A força de sua sedução reside na faculdade de permitir uma projeção sobre ele próprio. O glamour do objeto não é um prazer em si mesmo, mas antes o prazer da fantasia. Essa espécie de ilusão sedutora absorve simultaneamente o objeto de arte, o artista e o público. Esse processo torna-se voluntariamente exteriorizado fornecendo uma nova posição para a ironia: uma afirmação não-afirmativa. O artista representa-se como um objeto para o consumo. Este não é um gesto que precede sardonicamente as forças do mercado, mas serve para utilizar e acentuar o papel do consumo e seu valor estético no campo visual. A arte explora a si mesma como um signo social – de riqueza e espiritualidade – a fim de amarrar as questões aparentemente heterogêneas do consumo e da estética. Mas enquanto em Manzoni a merda pode estar camuflada, em Delvoye ela é transparente. A instalação-máquina Cloaca (2000), produzida pelo artista, reproduz com exatidão o sistema digestivo humano, em seus mínimos detalhes – aí incluídos enzimas, sais estomacais, bactérias intestinais e o próprio ato de excreção, sob consultoria de médicos e engenheiros da Universidade da Antuérpia. A máquina de 12 metros de extensão comporta um grande funil, vasos de vidro e tubos por onde os alimentos inseridos nela passam duas vezes ao dia, levando cerca de 27 horas para sua total digestão. A transparência que faz parte da estética de Delvoye pode ser localizada em dois momentos precisos da obra Cloaca. Primeiramente, a transparência de seu sistema interior, onde se tornam visíveis a ação dos ácidos estomacais e das bactérias intestinais que culminam na produção das fezes. Estas últimas são expelidas em série pelo orifício final da máquina, diante dos olhos do observador. O segundo momento, de acordo com Delvoye, se passa no âmbito conceitual. Cloaca é uma metáfora que alude com transparência ao próprio sistema atual da arte. Nesse sentido, é autoparódica. Ou seja, um sistema em que importantes investimentos financeiros têm mobilizado profissionais para sua manutenção e que, no final, em teoria, não serve para nada, segundo o próprio Delvoye: “No caso de Cloaca, todos colaboram para produzir nada além de excrementos. Os excrementos são o 213 que há de mais fútil” 381. Seguindo essa lógica irônica a respeito do próprio sistema da arte, Delvoye faz do produto final de Cloaca –os excrementos – um bem de consumo. Após a sua “criação”, as fezes são envolvidas numa embalagem transparente e com a logomarca Cloaca, estampada em tipologia semelhante à da Coca-Cola, e vendidas no mercado de arte. Delvoye “não apenas testa a autoridade repressora do anal da cultura museológica tradicional” 382 , mas, em Cloaca essa futilidade adquire um valor, torna-se passível de mais-valia, seja simbólica ou econômica, assim como a obra de arte inserida na dinâmica de mercado. 4.5.2 Dejetos cínicos ou da possibilidade de um trabalho/risco Temos uma merda cínica. A mesma merda que ficou impregnada em Barrio quando cruzou a cidade do Rio de Janeiro em 1970 durante a situação 4 dias 4 noites. A merda do esgoto que teve de atravessar (“não reparei se estava fedendo ou não, eu estava pouco ligando, aliás desde o momento em que os intestinos tem merda” 383) não era pior do que as categorias de arte, salões, premiações e júris que o artista insurgia (“por achar que os materiais caros estão sendo impostos por um pensamento estético de uma elite que pensa em termos de cima para baixo, lanço em confronto situações momentâneas com o uso de materiais perecíveis” 384 ). Barrio volta-se para a urina, sangue, merda, meleca, pedaços de unhas, cabelos, ossos, restos de comida, todo tipo de dejeto humano: a parte de nós mesmos que descartamos. A política cínica de Barrio se direciona, em última instância, à condição humana, pressionada pelos poderes hegemônicos ou reguladores que configuram as formas do viver. Sua obra tem um compromisso com a liberdade, com o fazer agora, com um desejo de transgressão (“em meu trabalho, as coisas não são indicadas, mas sim vividas, e é necessário que se dê um mergulho (...) O que procuro é o contato da realidade em sua 381 DE MORAES, Fabiana. Wim Delvoye: estética pela deslegitimação. Revista Polêmica imagem, Rio de Janeiro, n. 17, 2007. Disponível em: <http://www.polemica.uerj.br/pol17/cimagem/p17_fabiana.htm>. Acesso em: 28 jul. 2007. 382 FOSTER, Hal. O retorno do real. In: GERALDO, Sheila Cabo (Org.). Concinnitas: arte, cultura e pensamento, op. cit., p. 182. 383 BARRIO, Artur. 4 dias 4 noites. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 157. 384 BARRIO, Artur. Manifesto. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 145. 214 totalidade, de tudo que é renegado, de tudo que é posto de lado” 385). Chegamos ao Livro de carne, instância máxima desse cinismo. O livro como lugar organizado do saber, arquivo de sabedoria, legitimação da palavra e do conhecimento; a carne, matéria viva, orgânica, matéria concreta e pulsante. Tão comum entre as décadas de 1960 e 1980 386 , o livro de artista – espaço de experimentação entre a palavra e o gesto – é radicalizado em Barrio, torna-se um antilivro: não pode ser publicado nem muito menos arquivado ou catalogado. E o pior, não pode ser lido. Se há algum estranhamento, ele não é gratuito, forçado, ridículo; ele vem da matéria (viva) 387 . O campo ampliado da sensorialidade engloba a literatura e Barrio passa a ser o “verdadeiro leitor” desse livro; é ele quem experimenta as múltiplas irradiações dessa vivência ao cortar a carne à faca e logo depois mergulhar nas sensações decorrentes: Livro de carne: a leitura deste livro é feita a partir do corte/ação da faca do açougueiro na carne com o consequente seccionamento das fibras/fissuras, etc., etc., assim como as diferentes tonalidades e colorações. Para terminar é necessário não esquecer das temperaturas, do contato sensorial (dos dedos), dos problemas sociais, etc. 388 O Livro de carne não possui letras, mas ações, desejos; é movimentado/lido numa mistura de repugnância e ironia. Na sua medida irônica, de viés transgressivo, a obra de Barrio é linguagem e expressão do paradoxo inerente às sociedades guiadas pela incerteza e pela desordem, do paradoxo inerente à condição Il. 26 Artur Barrio Livro de carne, 1978-79 Fotografia 20 x 20 cm Col. Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ 385 humana e sua angústia frente à morte. Esse domínio do cinismo se estende para aquilo que o BARRIO, Artur. Lama/carne esgoto. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 146. Podemos citar os casos de Lygia Pape, Lygia Clark, Mira Schendel, Raymundo Colares e Waltercio Caldas. 387 OSORIO, Luiz Camillo. “Força é mudares de vida”: a trajetória de Artur Barrio. In: BARRIO, Artur. Artur Barrio: a metáfora dos fluxos, 2000/1968, op. cit., p. 108. 388 BARRIO, Artur. Livro de carne. In: BARRIO, Artur. Artur Barrio: a metáfora dos fluxos, 2000/1968. Rio de Janeiro, MAM; Salvador, MAM; São Paulo, Paço das Artes, 2001, p. 59. 386 215 glorifica e o rejeita. Esse estado de confusão em que papéis são invertidos e misturados inevitavelmente andam lado a lado com um cinismo que não tem mais nada a defender, onde a função designada à arte alimenta-se de seu cadáver, e beneficia-se de toda a espécie de cumplicidade gerada. Quando comprime o seu rosto contra o vidro em Des.Compressão (1973), formas arcaicas e deformadas são expressas, em contraponto ao belo acadêmico que era (e continua sendo) exigido nas academias de belas-artes e salões de arte moderna da época. Barrio “manda o recado” para o circuito que é desejoso desse belo; as suas caretas são respostas claras contra a “pressão da tradição”, eram expressões espontâneas de um corpo que desafia o “modelo vivo”, a musa e o ideal de perfeição tão sistematicamente perseguido pelos “grandes” artistas. Em 4 dias 4 noites, Barrio perambula pela cidade a esmo, vestindo sempre a mesma roupa, defecando e urinando sem retirar o vestuário, sem se alimentar nem dormir, sem uma orientação prévia do caminho. Num breve relato, Barrio descreve essa experiência que chama de “trabalho processo”: Era uma proposta mental que tinha o corpo como suporte. Era também uma tentativa de enfrentar o medo. Eu tinha receio de andar à noite pelas ruas, [mas] ao mesmo tempo queria intervir na paisagem física da cidade. O problema é que no processo de 4 dias 4 noites, o que de início era prazer foi se tornando desagradável porque eu não conseguia parar. Tinha de vencer muitas barreiras, inclusive, bueiros, coisas orgânicas. O que impressionou neste processo todo é que ninguém me impediu de fazer nada, nem mesmo a polícia.389 Não há linha de partida nem chegada, o caminho é percorrido de acordo com o tempo de superação que o próprio corpo agüentar nesse processo-limite. Não há espectador-fruidor de uma obra de arte, não há comunicabilidade com terceiros. Tudo se passa ao nível da consciência e superação do artista. As únicas considerações que passam na mente de Barrio é “enfrentar o medo” e não ser um trabalho programado “mas ligado ao acúmulo de percepções sendo o corpo e o cérebro o captador e motor dessas percepções e sensações” 390 . O espaço de Barrio nessa situação é delimitado por uma experiência de 389 BARRIO, Artur. Depoimento. In: MORAIS, Frederico. Depoimento de uma geração: 1969-1970, ciclo de exposições sobre arte no Rio de Janeiro. Galeria de Arte Banerj: Rio de Janeiro, 1986. 390 BARRIO, Artur. 4 dias 4 noites. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 157. 216 tempo irruptiva, fragmentada, própria às elaborações da memória. 4 dias 4 noites torna-se uma experiência que não tinha objeto, causa e resultado, nem muito menos registro. Pertence a uma ação realizada naquele determinado tempo, ao instante, enfim, à memória. Essa situação é o ponto crítico e limite ao qual o artista chegou em direção à negação do objeto e ao cinismo, se levarmos em conta tudo o que se denominou como pertencente ao circuito de arte e, por conseguinte, a sua eterna busca por matéria (artística?) transformada em capital. Entretanto, como transformar em dinheiro algo que não existiu a não ser na vivência e memória do artista? O circuito ainda não conseguiu tal proeza, mas comercializa esse “resto” ou resíduo do que ficou. Vemos as “trouxas” em importantes coleções nacionais das décadas de 1960 e 1970 e sendo exibida em coletivas internacionais 391 .A “chantagem” a qual Barrio falava (“o ponto principal da questão é a forma de atuação em termos de linguagem descompromissada eletricamente a sistemas que condicionam sua situação de liberdade/atuação, uma forma de sobreviver de seu trabalho sem se condicionar pela chantagem” 392 ) transformou-se em política de mercado, tornou-se, enfim, produto. O circuito absorve (quase) tudo; (quase) tudo o que o interessa. Mas isso, de forma alguma, retira qualquer traço irônico da obra ou diminui a sua potência como fenômeno artístico, inventivo, criador; são as circunstâncias que o artista/obra paga por se tornar parte integrante do circuito (capitalista) da arte. Como alerta Barrio no mesmo texto, “o importante é o descompromisso com ‘ismos’ e sistemas [e questionar] a crítica de arte e o mercado que sempre fizeram questão de ‘qualidade’ técnica em detrimento da criação”. Sua ação parte de um “gesto pessoal” mas dirige-se ao “corpo social”, isto é, ao sistema institucional da arte que, constantemente e violentamente, o interroga. Como transmitir valor de uso a uma “arte” feita de dejetos? O circuito questiona Barrio. Como afirma Basbaum, “nos confrontamos com um processo de produção indefinido e descontínuo, onde nada se perde ou é desperdiçado, tudo torna-se útil” 393 : abre-se um caminho de contato permamente com todas as coisas do mundo, ao mesmo tempo em que as fronteiras do que se denomina ou resgataria como sendo “arte” se 391 Dentro das convenções vigentes de “objeto de arte” só há pouco as instituições passaram a assimilar a noção do efêmero e do transitório numa concepção de obra, até então, centrada em categorias burocráticas e mercadológicas. 392 BARRIO, Artur. O artista plástico, divulgação do trabalho, mercado de arte. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 148. 393 BASBAUM, Ricardo. Dentro d’água. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 227. 217 dissolvem. É o caso das trouxas que são confundidas com corpos e/ou lixo quando dispostas por Barrio no jardim do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na área “reservada a uma escultura consagrada. Ato cínico e pulsante; despudoradamente nocivo ao social e vivo. Contestação da violência pela própria violência. “Fui informado, ao voltar ao MAM, que os guardas do MAM tinham ficado no maior rebuliço, devido às T.E. terem provocado a atenção de uma rádio-patrulha que periodicamente passava pelo local” 394. Efemeridade, desordem, vida cotidiano, e cinismo. Este vocabulário é parte indissociável da obra de Artur Barrio. Nessa ação que incorpora a degeneração da matéria (fundamentalmente orgânica), o seu circuito é limitado quando entra no território da “arte”. Mais um paradoxo. Il. 27 Artur Barrio Situação T/T1, 1970 Fotografia, registro de César Carneiro Performance realizada em Belo Horizonte Dimensões variáveis Col. do artista Trabalhando com fluxos vitais (sangue, saliva, urina, esperma... carne), as trouxas de Barrio, por exemplo, são barreiras ao trânsito. Incomodam (ou pelo menos incomodavam na década de 1970; hoje em dia temos nossas dúvidas, visto que são disputadas pelo mercado) o pedestre e são estranhas ao tecido urbano, mas é justamente aí, que sua eficácia reside: na inserção do inesperado. E o próprio inesperado é parte integrante do processo, se transforma em obra (“chego mesmo a encarar as implicações psicoemocionais orgânicas, tais como vômito, diarréia, etc como participantes, isto é diante, de fatores deflagradores que agem em função do inesperado” 395). As trouxas são dispostas perante uma sensação de espalhamento, dispersão, como estratégias possíveis de ocupação de espaços que dificultam a localização do “elemento”, sempre em movimento e portanto de difícil captura. Na contramão daquela concretude da obra de arte, dos suportes tradicionais da pintura ou escultura, Barrio investiga o campo de ação desse fenômeno, do seu circuito social. Vai além da geometria sensível neoconcreta ou da arte total do 394 395 BARRIO, Artur. Depoimento. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 18. BARRIO, Artur. Lama/carne esgoto. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 146. 218 Merzbau: realiza rodapés de carne, arquitetura em carne viva. Não basta a arte ser conceito, mas tática de superação, atuando nas suas etapas de produção, distribuição e apropriação: “Devido ao meu trabalho estar condicionado a um tipo de situação momentânea, automaticamente o registro será a fotografia, o filme, a gravação, etc. – ou simplesmente o registro retiniano ou sensorial” 396. De fato, a vida se recupera como fonte de arte até nos desígnios mais descartados. É uma obra entre-tempos: assim como o estado das matérias, o estado da arte de Barrio está de passagem. Barrio pretende colocar um “basta” no cínico mercado de arte, que sempre questionou os méritos do artista a respeito dos “problemas de técnica” ao invés da questão da invenção. Qual é o sentido de rótulos? Barrio responde: O artista plástico: não vejo a necessidade do uso desse rótulo como meio de identificação profissional ou especialização, pois o processo de trabalho não está condicionado unicamente a um tipo de linguagem/suporte/atuação, portanto o rótulo clássico, denominado artista plástico, vejo-o fora de época. O trabalho tem vida própria porque ele é o todos nós, porque é a nossa realidade do dia-a-dia, e é nesse ponto que abro mão de meu enquadramento como “artista”, porque não sou mais. 397 Num de seus vários textos publicados, Barrio descreve o objeto artístico enquanto mercadoria e responsabiliza o circuito artístico pelo processo de capitalização da obra (“devido aos produtos industrializados não estarem ao nosso, meu, alcance, mas sob o poder de uma elite que contesto, pois a criação não pode estar condicionada, tem de ser livre” 398 ) que a legitima como arte na mesma medida que a valoriza, convertendo-a num elemento susceptível de ser trocado por dinheiro. Barrio posiciona e identifica seus algozes no texto Manifesto, e articula o sistema de arte como circuito de criação e acumulação de capital. A questão colocada por Barrio é clara: por um lado, põe em questão o (falso) materialismo que torna a obra de arte um objeto de consumo, e por outro, impregna nesse mesmo objeto um processo que o assinala como pura perda, indo de encontro ao processo acumulativo do capital. Barrio não só critica a hipocrisia desenfreada do sistema 396 BARRIO, Artur. Manifesto. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 145. BARRIO, Artur. O artista plástico, divulgação do trabalho, mercado de arte. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 147-48. 398 BARRIO, Artur. Manifesto. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 145. 397 219 institucional da arte, mas também o que constitui a própria matéria desse objeto: não apenas um corpo, mas um processo, uma idéia em permanente fluxo. Por conta disso, Barrio resolve trabalhar com tudo aquilo que não é duradouro, que é frágil, passageiro e precário. Nada existe de mais passageiro do que a vida e nesse aspecto a obra de Barrio invade a cidade, não só como uma oposição aos “espaços tradicionais da arte” mas como espaço de vivência, troca. As praças e ruas passarão a ser os “lugares” das Situações, que por sua vez sofreram (ou não) intervenções de anônimos, os verdadeiros protagonistas dessa experiência que fica na fronteira entre a fragilidade da presença desses “corpos” e o instântaneo da sua duração. São situações que interessam enquanto acidentes, composta por velocidades que não podemos definir de antemão. Por outro lado, Barrio “cria” determinados lugares que, assim como os materiais empregados, eram “dejetos” da cidade. São os terrenos baldios da cidade, riachos isolados ou então áreas do museu que nunca ninguém se preocupou. Barrio preenche vazios; completa formas vazias de subjetividade. Suas situações/experiências/registros enchem esse “resto” de potência e vivência. No excepcional ensaio de Ricardo Basbaum, o autor chama a atenção sobre a redução fenomenológica que Barrio “se esforça por radicalizar (...) buscando expandi-las” em direções até então bloqueadas, num contexto espacial que irá cuidadosamente mapear. A partir da deflagração de situações que valorizam o muito pequeno (uma simples trouxa disposta na grandiosidade do espaço urbano) que podem dilatar-se, por meio da interação e das relações que são feitas/traduzidas, ao muito grande, Barrio dimensiona esse exercício “de sensorializar uma ‘totalidade parcial’” 399 . O modo de construção desse espaço fenomenológico é que potencializa o trabalho, permitindo que um conjunto de ações do que poderia ser insignificante (para o circuito da arte, é claro) ganhe força máxima de sensibilidade. A recorrência do sal é um exemplo dessa atitude. O sal é um elemento paradoxal: conserva a carne, mas destrói terrenos. Ao ser lançado ao solo, torna-o infértil. Espaços esterializados. Operação metafórica se recordamos a grande quantidade de museus que recepcionaram (o sal de) Barrio. Como assinala Cristina Freire, lançando o sal ao chão na galeria da Federação das Indústrias de São Paulo, o centro do capital financeiro nacional, a contradição do mínimo e do máximo 399 BASBAUM, Ricardo. Dentro d’água. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 224. 220 ganha materialidade. As inscrições do artista remetem às mensurações díspares dos valores de tempo e de dinheiro e desconcertam um espaço asséptico.400 Objeto cínico esse o de Barrio. Situa-se entre o lixo e a arte, entre a ação e o desaparecimento, entre o anonimato ao qual parece estar relegado o espaço público e o esquecimento que circunda o espaço privado, entre arte e não-arte, entre ser capital e não ser nada. Seria esse “ou não” cercado de reticências que Barrio escreve em seu texto denominado Trabalho (1970)? Talvez o artista estivesse imaginando, anos depois, que o trabalho pudesse deixar de ser experiência, como ele queria, para se transformar em produto comercial. Cinismo por cinismo, o mercado quase nunca perdoa. Seus registros (“com todos os seus aspectos de precariedade visual ou não, pois já que o material empregado em meus trabalhos é precário, não vejo por que o registro tenha de estar ligado a aspectos técnicos perfeitos” 401) passam mesmo assim a ser disputados no mercado. Para Osorio, “o problema do cinismo, daqueles que acham que tudo é uma grande bobagem, é que ele é injusto na medida em que está sempre ao lado do poder” 402. A irresponsabilidade, que diz que qualquer coisa pode ser arte, também é injusta porque não quer julgar. E (da adversidade) assim vivemos. 4.6 In(ter)venções e jogos: novas fronteiras da ironia Um cruzamento movimentado no centro da cidade de Fortaleza, no Ceará. Quatro sinais de trânsito determinam os limites espaciais desse lugar. Abre parênteses. Toda inscrição nesse amplo espaço urbano passa, em parte, necessariamente desapercebida. Impossível construir um marco que se faça inequivocamente ler num campo tão saturado. No deserto urbano não há como deixar trilhas contínuas. Os indícios deixados nesse lugar 400 FREIRE, Cristina. Artur Barrio: sic transit gloria mundi. In: BARRIO, Artur. Artur Barrio: a metáfora dos fluxos, 2000/1968, op. cit., p. 23. 401 BARRIO, Artur. Da qualidade técnica do registro ou precariedade. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 152-53. 402 OSORIO, Luiz Camillo. “Força é mudares de vida”: a trajetória de Artur Barrio. In: BARRIO, Artur. Artur Barrio: a metáfora dos fluxos, 2000/1968, op. cit., p. 109. 221 arriscam perder-se, confundidos com o resto da cidade. As obras podem apenas sugerir uma articulação, aludindo ao mesmo tempo à ruptura das comunicações, ao insuperável esgarçamento do tecido urbano. Agora não se tem mais o indivíduo como medida. As escalas da cidade são outras, desproporcionais à experiência humana. Impõe-se trabalhar com grandezas que não podemos mais dar conta. Situação oposta ao ambiente controlado dos museus: a arte é colocada em estado de precariedade e risco. Fecha parênteses. A cena dá lugar ao absurdo. Não se coloca mais a questão do olhar: ocorre uma dissolução da cidade como palco do espetáculo, impossibilitando percorrer os espaços e articulá-los pela visão. Felipe Barbosa e Rosana Ricalde interferem no tecido urbano, e mais do que nisso nas leis desse tecido. Aproveitando o próprio diagrama matemático que a cidade oferece ao cidadão (pedestre, motorista), constroem um organograma que se mantém re-atualizado a cada ação do jogo: os movimentos contínuos, horizontais e verticais, dinamizam toda a área, transferem potência para algo amorfo, modificam o sentido daquele “sinal” e instauram a “surpresa”. A dupla entende a cidade como um organismo, vivo, justamente porque mantém os seus fluxos ativos, evitando o seu repouso absoluto. Em Jogo da velha (2002), Barbosa e Ricalde apropriam-se da faixa sinalizadora de um cruzamento de trânsito e transformam esse quadrilátero com feixes cruzados num tabuleiro de jogo. É um trabalho “entre-tempos”. No pequeno intervalo entre o fechamento de um dos sinais de trânsito e a abertura do outro, os artistas disputam uma partida do jogo que dá nome à obra. Tudo gira em torno do tempo, desse momento de parada no tráfego. Operam, portanto, no vermelho, no débito, na falta... de tempo. Arriscando suas vidas e a dos motoristas, essa tática irônica não significa divertimento, mas recusa ao cotidiano usufruto e justificável daquele espaço, reconhecendo-o como terreno de vivência móvel, volátil, na cidade. A ironia a serviço da arte é colocada em questão de risco. Dispostos segundo uma grade, a marcação à tinta das cruzes e círculos, feitos pela dupla no asfalto, fazem um mapeamento negativo do espaço, indicam tudo aquilo que ele não é, que não se pode ver. Opondo-se ao transitório, ao ritmo de passagem dos carros, a nova ocupação territorial tem a preocupação em não ser provisória: ela é demarcada com a mesma tonalidade de tinta que compõe os grupos de sinais urbanos. A situação aqui não interessa tanto como uma simples demarcação, mas como deslocamento, um transitar entre as coisas, mas no sentido em que Guimarães Rosa afirmava: “Os lugares não desaparecem, 222 tornam-se encantados”. Tudo o que temos é uma zona sem traçado nem fronteiras. Não se trata de simplesmente jogar (ou criar um percurso de um lugar a outro), mas de produzir um movimento que afete simultaneamente todo o espaço. Na experiência do ritmo e da seqüência, Barbosa e Ricalde trazem um significado de vivência numa área entre eventos, onde nada acontece, dominada por um vazio e sensação de inutilidade e descarte pelos motoristas, já ávidos em cruzar o sinal antes mesmo dele transformar-se em verde. Passa a ser, portanto, um espaço que nega o seu desaparecimento ou sua disfunção no mapa da cidade. É nesse momento que a dupla de artistas se transforma em cartógrafos: redesenham o fluxo do cruzamento e constroem uma nova teia (irônica) para o cotidiano urbano. Delimitam um espaço para um tecido urbano esgarçado e repleto de elementos desconectados, constituindo-se numa espécie de invisibilidade de significado para o plano da polis. É como um corte que desagrega todo o desenho urbano da área, que rompe sutilmente uma espécie de homogeneidade e continuidade no caos do trânsito. Essa ação contém a descoberta de instaurar um deslocamento temporal e espacial naquele espaço dominado por uma aura funcional e precisa; é a instauração de non-sites, cortes cirúrgicos que instauram momentos de caos. A cidade está se desrealizando, ela é um horizonte, não pertence mais ao cidadão, e nem este a ela. Demasiado extensa e complexa, escapou da medida humana, tornou-se um patchwork, na expressão de Félix Guattari, no qual vão se justapondo desordenadamente fragmentos disparatados. Descentrada e excessiva, nem comporta mais planejamento integrado. A essa experiência adicionamos o fato de Jogo da velha confluir para os campos da “deslocalização” e “deslocamento”. Enquanto a primeira esvazia o habitante e o habitat desrealizando-os, o segundo esvazia-os para fazê-los aceder à plenitude da realização, à pura “presença”. Focalizando tanto o movimento negativo quanto o positivo, e até mesmo a possibilidade de conversão do primeiro no segundo, acabamos encontrando duas perspectivas para o indivíduo que habita a cidade. Na primeira, ele vive o processo de deslocalização sem questionamento (fato que observamos no vídeo da ação 403, já que em nenhum momento os artistas são interrompidos ou questionados por alguém): aqui o esvaziamento não é sequer percebido pois o habitante 403 Jogo da velha foi realizado durante a I Bienal Ceará América, em 2002, na cidade de Fortaleza, e foi apresentado como vídeo, com duração de 7 minutos. 223 se transforma no espectador-consumidor que sucumbe às imagens da estetização generalizada e vive na ansiedade de uma demanda insaciável. Na segunda o esvaziamento é experimentado como positividade, como se o habitante e o habitat se desrealizassem enquanto fluxo, fluência, intensidade, emergência, transformação, num espaço que é criado e percebido num intervalo que se abre entre dois tempos, entre o tempo do fluxo expectante e o tempo do choque. No tempo em que a ação é criada, no jogo enquanto escolha e resultado, se faz visível um espaço aberto para o acontecimento, entra e sai tudo o que se move na cidade: gente, carro, máquina. No intervalo entre os sinais, aparecimento e desaparecimento são, assim, concomitantes e complementares. Falamos, portanto, de passagens. A cidade está se desrealizando: o jogo de Barbosa e Ricalde vai adicionando novos elementos (gráficos) a malha viária urbana. A “disputa” entre os dois constrói novas redes e inscrições no tecido de comunicação da cidade, criando assim um circuito irônico que alia perversidade a uma experiência de deslocamento do trânsito e das operações cotidianas da polis. Nesse momento, um aspecto essencial do jogo faz-se presente: o tempo. A duração do jogo e seu espaço se distinguem radicalmente do tempo concreto. Não há movimento no jogo de A mesa e seus pertences (2002) de Nelson Leirner. Bolas e raquetes mantêm-se aprisionados em vitrines. Suspenso no alto, exatamente sobre o centro da mesa, uma placa negra de acrílico, acaba funcionando como um placar que condensa uma situação posto que o que está em jogo é o improviso do jogador (fantasmagórico) em aliança com sua disposição física e velocidade, que o faz inclinar-se, recuar, projetar para frente, deslocar-se para o lado num ato frenético, sabendo que é iminente o momento em que ele terá que se arrojar junto a um lugar em volta da mesa que ele ainda não sabe qual será 404 . Não há imagens de jogadores. Todas são situações descritas por um som que chega ao ouvido do participador: sons secos da bolinha, de raquetadas ríspidas, sucessivas variações rítmicas, movimentos dispersos e rápidos, situações que imaginamos... jogo sem pausa, intermitente. Enquanto o tempo cronológico desenrola-se no passado, no presente e no porvir, o tempo deste jogo irônico é primeiro caracterizado por uma duração e uma capacidade para a repetição impensáveis na realidade. O jogo é unicamente dirigido ao ato a cumprir. Existe 404 Cf. FARIAS, Agnaldo. Nelson Leirner. Galeria Brito Cimino – revista eletrônica de artes, São Paulo, n.1, 2002. Disponível em: <http://www.britocimino.com.br/port/artistas/leirner/texto.htm#bienal25>. Acesso em: 30 ago. 2007. 224 nele, portanto, um momento crucial em que o objetivo pode ser alcançado, um momento em que passado e presente – o que se tornou impossível e o que ainda pode ser alcançado – lhe parecem estranhos. A obra de Leirner, porém, não se coloca inteiramente fora do tempo, já que se desenrola segundo uma certa ordem que lhe confere uma duração. Assim, constata-se que esse tempo apresenta uma ambivalência ontológica, oscilando entre regra (coação) e indeterminação (livre-arbítrio). O aspecto de rito é acentuado: enquanto o tempo “cronológico” é um tempo demarcado (rígido) para o exercício de algo; o tempo do jogo (e aí a sua equivalência com o tempo-duração fenomenológico), ao contrário, é um tempo ocupado ou um tempo próprio, para o qual a extensão na presença, na ausência, na espera é estranha: o tempo do jogo é portanto, a substituição do tempo histórico por um outro, que se opõe à ambivalência do tempo do qual dispomos. Todo jogo tem suas regras. São estas que determinam aquilo que “vale” dentro do mundo temporário por ele circunscrito. As regras de todos os jogos são absolutas e não permitem discussão. Quem “joga” não deve esperar nenhuma relação metafísica, deve apenas estar lá, reorganizando o espaço, sentir-se lá. Pode parecer pouco, mas representa muito. Na instalação Jogo de tênis (2001) de Lygia Pape, o espectador percorre um corredor estreito e fica frente a frente com a projeção de dois olhos gigantescos, que se movimentam como se estivessem assistindo a um (ilusório) jogo de tênis. O movimento dos olhares é sincronizado com o áudio incessante do vaivém da bola. Considero o tênis um jogo um pouco estúpido. Então, persegui o máximo de despojamento para falar destes esportes em que você bota o olho para cá e para lá e fica só ouvindo a batida da bola, sem interação entre os jogadores. Mostro isso de uma maneira pouco confortável, porque você entra num espaço mínimo, em que a tela te engole.405 Entendendo que uma das apropriações da ironia é ser um jogo de aparências e ilusões. Cabe agora definirmos o que seria jogo. Segundo Gadamer, “[no jogo] está implícito o vaivém de um movimento que não se fixa em nenhum alvo, onde termine. A 405 NAME, Daniela. Estou em busca do poema. O Globo, Rio de Janeiro, 22 fev. 2002, p. 01. 225 isso corresponde também o significado originário da palavra ‘jogo’ enquanto dança” 406 .O movimento que é jogo e não possui nenhum alvo em que termine, mas renova-se em constante repetição. O modo de ser do jogo, portanto, não implica a necessidade de haver um sujeito que se comporte como jogador, de maneira que o jogo seja jogado. Gadamer continua: Ao contrário, o sentido mais originário de jogar é o que se expressa na forma medial. Assim, por exemplo, costumamos falar que algo ‘está jogando’ em tal lugar ou em tal momento, que algo está se desenrolando como jogo, que algo está em jogo. O verdadeiro sentido do jogo não é o jogador mas o próprio jogo. 407 O jogo chama a participação e, ao mesmo tempo, define suas próprias regras e condições espaço-temporais. Situa-se em meio ao mundo, encontra ali seu conceito, mas nele só aparece em ilusão, livre de todo ato definitivo e pronto a se renovar incessantemente. De ontologia ambígua, o jogo revela uma determinação aberta ou indefinida, protegendo seu universo e permitindo ao mesmo tempo um comportamento criativo e não definitivo. O jogo permite contornar as regras estabelecidas na arte, porque ele é imediato, endereça-se a todo mundo, pode colocar-se por toda parte e nega a autoridade de um criador inicial. O espaço da ironia, entretanto, significa uma delimitação clara em direção ao exterior, o que permite, por um lado, a distinção entre mundo real e mundo do jogo, e o que constitui, por outro, um espaço protegido no qual o movimento irônico pode desdobrar-se. No interior de sua demarcação, a ironia se abre num espaço de ação que é em si indeterminado e que só se define gradativamente pela idéia condutora do jogo. Adotando a idéia de Eco, essa determinação aberta remete também ao objeto do jogo, que deve possuir um certo grau de indeterminação para que a idéia diretriz se concretize. Para Gadamer, o dado elementar do jogo é o caráter de circulação que deve tornar-se visível, não apenas de modo negativo, como libertação de objetivos obrigatórios, mas como impulso livre. É exatamente nesse espaço aberto pelo artista que a ironia encontra a sua oportunidade de atuação e potência. Para Kierkegaard, a ironia está presente em toda parte ao mesmo tempo; ela ratifica cada traço individual, “quanto mais ironia houver, tanto mais 406 GADAMER. Hans-Georg. A atualidade do Belo: a arte como jogo, símbolo e festa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985, p. 156. 407 Idem, p. 157. 226 livre e poeticamente o poeta flutuará suspenso sua obra poética. Por isso, a ironia não está presente em algum ponto particular da poesia, mas sim onipresente”. Portanto, a ironia liberta ao mesmo tempo o criador e a criação, mas alerta: Para que isto possa acontecer é preciso que o próprio poeta domine a ironia. Nem sempre pelo fato do poeta ter conseguido dominar a ironia no instante da criação poética, ele conseqüentemente também dominaria a ironia na realidade à qual ele mesmo pertence. 408 O jogo (assim como a ironia) é “um fazer comunicativo” 409 , que desconhece propriamente a distância entre aquele que joga e aquele que se vê colocado frente ao jogo. O espectador, portanto, é mais do que um mero observador que vê o que se passa diante de si; ele é, como alguém que participa do jogo, uma parte dele. 4.7 A ironia inventando espaços Uma casa enterrada no meio da praça apenas com alguns centímetros de parede e o telhado à mostra. O cidadão distraído vê-se confrontado com algo que não está na ordem habitual das coisas. O absurdo confunde as fronteiras entre casa e mundo, situa-a nas fronteiras do irônico, do estranho. Público e Il. 28 Felipe Barbosa e Rosana Ricalde A casa enterrada, 2004 Materiais diversos Instalação produzida no bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro, durante o prêmio Interferências Urbanas privado estão no mesmo espaço, disputando um lugar que não pode pertencer aos dois ao mesmo tempo. Pelo menos até A casa enterrada (2004), de Felipe Barbosa e Rosana Ricalde, aparecer. A função de ser 408 409 KIERKEGAARD, Sören. O conceito de ironia: constantemente referido a Sócrates, op. cit., p. 275. GADAMER. Hans-Georg. A atualidade do Belo: a arte como jogo, símbolo e festa, op. cit., p. 40. 227 “casa” muda de sentido: deixa de ser abrigo para ser invasora de espaço. Perde o seu entendimento como local seguro, lugar das práticas domésticas, para traduzir-se na impossibilidade de ser uma “terra para si”, o solo fundador e acolhedor do descanso e da privacidade. Não é dele, morador/proprietário, nem muito menos do coletivo, já que a sua “única” função está desprovida de uso: não possui entradas; é uma caixa intransponível que não oferece acolhimento. E pior: ocupando um dos poucos espaços de lazer daquele bairro 410 . A questão ética impõe-se mais uma vez no trabalho de Barbosa e Ricalde: A Casa nos despertou para a questão ética do trabalho, que é a noção do desperdício. Então, quando o material é muito caro, isto incomoda bastante as pessoas. O fato de um artista gastar, na época, poucos mais de mil reais para fazer um telhado e tendo várias pessoas desabrigadas na cidade é um fato que pode ser encarado como desperdício. Passa a ser algo questionado pelo público. Eles perguntam: ‘Qual é o objetivo disso?’ 411 O processo de produção da “casa” passa a ser tão vital para o seu conceito de experiência artística quanto o resultado final do trabalho: os fatores de desagregação, o conflito entre o artista e os freqüentadores da praça, torna-se um elemento que a obra passa a incorporar e por isso mesmo deve ser levado em conta quando nos referimos ao curso da “casa” como um todo. Costurando esse tecido urbano, quase que literalmente, Renata Lucas apresenta a instalação Febre (2004), em São Paulo. A obra envolvia vários elementos: um carro; uma caçamba modificada para “guardar” o carro; e dois rádios, um instalado num muro ao lado e outro na parede externa da galeria que promovia o projeto. Os fluxos de ironia são múltiplos nessa proposta. Rádios desse tipo costumam ficar dentro do carro; ou são removidos por questões de segurança, ou ainda, podem ser protegidos por travas e sistemas eletrônicos de segurança de última geração. Aqui, foram colocados para fora, prontos para serem usados ou roubados. O maior dos pesadelos desse motorista atormentado por notícias e fatos sobre violência que bombardeiam a sua imaginação e o cotidiano urbano. Enquanto isso, o carro, era guardado dentro da caçamba, totalmente engradeado, estando em tal 410 O trabalho foi realizado dentro do evento Arte de portas abertas, em 2004, no Largo das Neves, bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. 411 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2006 (documento inédito). 228 segurança que ficou virtualmente impenetrável ou indirigível. A outra ironia é que essas onipresentes caçambas na cidade são geralmente identificadas como um aborrecimento: são grandes demais, dificultam o trânsito nas calçadas e muitas vezes não deixam o passageiro abrir a porta de um carro estacionado ao lado. Espaço de interferência sendo manipulado. Em 2002 Ricalde e Barbosa realizam a ação Visibilidade e leveza, em Belo Horizonte. Três barreiras de pães, totalizando 9 metros de comprimento, são erguidas entre vãos de pilastras no centro dessa cidade. A visibilidade não passa de um muro de um metro e meio de altura: o olhar por sobre a estrutura é garantido à curiosidade alheia mas o acesso ao corpo é negado. A “massa” dessa estrutura são pães, enfileirados e presos com tela de galinheiro. A estratégia da obra passa a ser, inclusive, a incorporação de uma certa agressividade social. Mais uma vez a ética se coloca como questão no processo artístico que tem a ironia como fator potencializador. Porém, nesse momento, o artista se fragiliza ante a opinião pública. Segundo Barbosa em entrevista ao autor, “o trabalho possuía uma agressividade, porque estávamos trabalhando com comida, num país que é atravessado pela fome. Mais uma vez, somos [Barbosa e Ricalde] questionados sobre o desperdício”. Entretanto, essa perversidade transforma-se num agenciamento irônico ao sistema econômico e artístico e torna-se cruel com quem legitimou e ofereceu subsídios para a sua criação. Vamos aos fatos. A outra seqüência desse trabalho – a ação Leveza – consistiu em recobrir o espelho d’água do Palácio das Artes com 10 mil garrafas cheias de água mineral. As garrafas são vendidas nas esquinas da cidade: o produto de arte transforma-se em moeda de câmbio, em mercadoria; volta ao seu estado original e perde a sua aura de objeto artístico. Volta ao mundo das coisas banais, da sua função de eliminar a sede, limpar objetos, manter os seres vivos. Em depoimento ao autor, Barbosa disserta: Era nosso objetivo a água estar engarrafada. Até meia-noite elas fizeram parte de um trabalho de arte (e havia um segurança contratado para manter a “integridade” delas). Era o efeito Cinderela: enquanto a instituição permitisse, a água seria arte [lembremos que esse evento ocorreu em paralelo com a barreira de pães de Visibilidade]; depois ela se transformaria em abóbora novamente. Quando marcou meia-noite, o pessoal encheu bolsas, os carros. Foi uma ação muito rápida. 229 No dia seguinte, as pessoas que levaram a “água artística” estavam vendendo as mesmas. A água passa a ser produto (ordinário) outra vez. O momento dela de ser arte foi condicionado/autorizado pelo artista e pela instituição promotora, mas logo depois a água volta a ser consumo, torna a ser o que ela sempre foi. Destino infeliz o da água. O desperdício tão criticado pelo público passa se tornar lucro líquido para o mesmo. O banco Itaú, patrocinador da ação, observa passivamente o seu capital sendo transformado em lucro líquido (leiam com acento irônico, por favor) para a população. Agora, o olhar sobre o desperdício muda de posição. Esse mesmo tipo de negociação feito entre artista e público também aconteceu durante o processo da obra Muro de sabão em 2003. A obra consistiu num muro feito com barras de sabão em pedra ocupando o vazio deixado por um muro desabado. Mas até que ponto um muro de sabão é efetivamente um muro? A sua materialidade é quebradiça e ademais se constitui em vítima frágil das intempéries da natureza. Por outro lado, ao mesmo tempo em que o muro interdita o acesso e funda um lugar onde anteriormente havia uma paisagem, a efemeridade do sabão devolve o esquecimento. E a ética, Barbosa e Ricalde, onde fica nessa história? A Associação de moradores do Morro da Providência [local onde foi feito o muro] colocou uma pessoa de prontidão durante o dia inteiro para evitar depredação. A negociação entre as partes aconteceu e, no final das contas, ninguém foi antiético: o sabão foi doado pela empresa para que produzíssemos a obra e depois, o mesmo foi para a comunidade. 412 O artista talvez nunca tenha sido marginal nem herói, ou talvez tenha apenas um senso de observação (social e político) mais aguçado do que a mídia pensa. A sua “marginalização” efetivamente está na falta de estrutura e de apoio do circuito de arte ou então, nos elementos escolhidos para a produção de suas obras muitas vezes por razões econômicas (ou como desvio aos meios tradicionais empregados), mas dificilmente num compromisso de que a marginalidade (como transgressão ao código penal) é a postura a ser seguida por sua engrenagem. Por um outro lado, podemos pensar no papel do artista e até que ponto ele está fora do sistema quando assume para si próprio o rótulo de “artista”. Até 412 Idem, ibidem. 230 que ponto ele está fora do sistema quando ele decide que é artista? E até que ponto ele está fora do sistema quando ele decide fazer uma exposição numa galeria de arte? Ou fazer um jornal? Não há mais espaço para ele ficar à margem, porque há fortes indícios de que não há mais margens. Está tudo ocupado pela arte: essas duas expressões – “mundo” e “arte” – contaminam-se a todo o momento. A arte não está mais fora do mundo. 231 CAPÍTULO 5 CURTOS-CIRCUITOS: DIÁLOGOS ENTRE IRONIA E POLÍTICA 5.1 Leia com atenção: os jornais de Antonio Manuel Retomando a discussão sobre o “contexto” e a sua relação direta com o uso da ironia, podemos salientar que este tipo de uso vago e generalizado dos dois termos faz com que a noção de contexto freqüentemente simplifique em excesso mais do que enriquece a discussão, uma vez que a oposição entre um ato e seu contexto parece presumir que o contexto é dado e determina o significado do ato. Porém, as coisas não são tão simples assim: o contexto não é fundamentalmente diferente do que ele contextualiza; o contexto não é dado, mas produzido; o que pertence a um contexto é determinado pelas estratégias de interpretação; os contextos precisam tanto de elucidação quanto os acontecimentos; o significado de um contexto é determinado pelos acontecimentos. No entanto, quando usamos o termo contexto, caímos novamente no modelo simples que ele propõe. Visto que os fenômenos que a crítica lida são signos, formas com significados constituídos socialmente, pode-se tentar pensar não em contexto, mas no enquadramento de signos. O contexto, portanto, não é uma entidade positivista que existe fora da elocução, mas, ao contrário, se constrói por meio de procedimentos de interpretação. E esses procedimentos, por sua vez, têm-se formado por meio de nossa experiência prévia em interpretar outros textos e contextos. É nesse sentido que o contexto altera o funcionamento do “dito” ao tornar possível sua fricção com o “não dito”. 232 Nesse sentido, uma questão intrigante pode ser levantada: os marcadores textuais ou contextuais são feitos para sinalizar a “presença” de ironia, o “intento” de ser irônico ou talvez simplesmente a possibilidade de a elocução ser “interpretada” como irônica? Nesse momento, damos voz à Antonio Manuel, que disserta sobre o clima de repressão no Brasil nas décadas de 1960 e 1970 e a “potência política” que as certas obras ganhavam, mesmo não sendo essa, em muitos casos a sua conceituação primária: Na verdade, a própria repressão tornava os trabalhos políticos (...) As obras adquiriram conotação política a partir dos próprios agentes da ditadura, à revelia, muitas vezes do artista (...) Existe a idéia de que a repressão da ditadura motivou trabalhos mais contundentes. Havia realmente um incoformismo, mas penso que sem a ditadura teríamos avançado. 413 Existem, talvez, diferentes funções para marcadores irônicos (ou mesmo diferentes tipos de marcadores): aqueles que incitam o espectador a pensar que a ironia pode entrar em jogo (por meio da intenção quer do artista, quer do espectador), em primeiro lugar, e aqueles que podem dirigir a interpretação da ironia de maneira específica. Essa necessidade (e mesmo responsabilidade) de sinalizar a ironia claramente tem feito parte da teorização de intencionalidade. O problema é que o público nem sempre “pega” as indicações – ou, então, eles as lêem diferentemente do que elas tinham sido intencionadas, se é que podemos afirmar tal fato. Nas Clandestinas, Antonio Manuel modifica, em tom subversivo, a manchete da primeira página do jornal O Dia, adicionando fotos e títulos que ironizavam diversos assuntos culturais ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, alterando o próprio jornal e a sua recepção pelo leitor. Jornais e manifestos visuais já possuem seu marco na história da arte moderna com a publicação na primeira página do Le Figaro, em 20 de fevereiro de 1909, do Manifesto de fundação do Futurismo, de Fillipo Marinetti. Nesta publicação, porém, não havia a “camuflagem” e a ressonância duplamente irônica que Antonio Manuel empregou (ironia na forma, ou no jogo visual, camuflado da notícia, e no conteúdo, já que numa leitura mais atenta, o leitor compreenderia que o texto daquela “notícia” estabelecia um vínculo com o restante do jornal): 413 MANUEL, Antonio. Antonio Manuel: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla, op. cit., p. 26-27. não 233 Era na oficina de O Dia que desenvolvia os meus trabalhos e fazia a tiragem clandestina que variava entre 100 e 200 exemplares. Como um ato de subversão, os jornais eram entregues nas bancas. Então tinha este caráter de tornar viável a idéia, o projeto (...) A diagramação era feita na página já pronta do jornal: criava uma diagramação, com o mesmo corpo de letra do jornal, para a manchete. Portanto, criava a manchete, o subtítulo, a foto e um pequeno texto/legenda. Isto era a minha criação. O resto permanecia do jornal [original].414 Manuel conseguia introduzir na rotativa em que se imprimia o jornal as suas páginas alteradas. O artista criava os seus próprios flans: a matéria prima, bruta, da folha de jornal, que funciona como o molde para a impressão na rotativa. Manuel fundia o “seu” jornal com o jornal do dia, sem nenhuma diferença entre um e outro, com exceção da manchete e do texto descritivo da foto, também inserida Il. 29 Antonio Manuel Clandestinas, 1973 Jornal 55,5 x 37,5 cm Col. do artista clandestinamente por Manuel, que estampava a primeira página. O clima de vigília na oficina do jornal de alguma maneira “impregna os flans e autentica a sua operação de dar à forma da arte a forma de notícia” 415. Antes das Clandestinas, Antonio Manuel já utilizava o jornal como suporte de sua produção: anulava algumas notícias e imagens, e realçava ou acrescentava outras (“Pedi ao Jornal do Brasil que reimprimisse um exemplar já publicado, pois eles guardavam os clichês; trabalhei com nanquim preto por cima dessa impressão” 416). As múltiplas violências que exasperam a vida cotidiana se encontram justificadas pelo desespero, e aqueles que não têm mais nada a perder têm a opção entre uma violência lastimosa ou uma dignidade que inspira a (contra)informação. Lembremos que o Brasil atravessava um período de choques e conflitos entre o governo militar e grupos de oposição. Nesse sentido, o grupo atuante, o governo, explorava todas as representações 414 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006 (documento inédito). BRITO, Ronaldo. Antonio Manuel, op. cit., p. 14. 416 MANUEL, Antonio. Antonio Manuel: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla, op. cit., p. 35. 415 234 possíveis de sentido e neutralizava assim seus efeitos. Por isto, a subversão do sentido, a crítica, os jogos e as guinadas de sentido não exercem nenhuma força sobre os dispositivos midiáticos que realizam um confisco da ironia coletiva. Nesse caso, de violência extrema e segregação política e social dos meios de produção intelectual, uma das formas da ironia continuar a ser a eventualidade de uma auto-caricatura das mídias, era a sua clandestinidade. Nessa produção, toda afirmação e seu contrário podem ser enunciados sem que haja uma vontade manifesta de desvio do sentido. Procurar a mentira, desvendar a falsa informação não são mais que operações mentais arcaicas pois a manipulação do sentido é tão absoluta que ultrapassa as intenções de seu pressuposto autor. Essa mecânica do humanismo permite instaurar e propagar uma “linguagem dupla” com a qual a perversidade da ética pode passar pelo seu contrário – o advento das virtudes cívicas. Não se trata mais do discurso político rígido; a dupla linguagem tem o poder singular de não enganar ninguém. O medo dominava o ambiente do jornal e somente pequenas “inserções cirúrgicas” podiam ser produzidas sem seres notadas ostensivamente. Porém, o efeito delas poderia soar estrondoso. Antonio Manuel fazia as matérias, que seriam o conteúdo das Clandestinas, em casa, seguia para a oficina e datilografava o texto, como se fosse funcionário da redação. Alguns poucos funcionários do Jornal auxilivam Manuel (“algumas vezes o diagramador tinha de se virar para encaixar minhas notícias” 417 ). Manuel trabalha com a linguagem do less is more. Apropriação, (des)construção, assalto, clandestinidade. A aposta é de demonstrar que, sob as aparências de uma conduta irrepreensível, se esconde a possível perversão. A palavra “ironia” passa a ganhar múltiplos acentos. A diagramação [das Clandestinas] era feita no próprio jornal [O Dia]. Era uma inserção de algo que já tinha sido publicado. Então, moldava essa inserção, inseria na rotativa e aquilo imprimia rapidamente. Imprimia só esta primeira parte. Depois, adicionava o outro miolo do jornal. Finalmente, saia com aqueles trabalhos e deixava em algumas bancas, como sendo o jornal O Dia, porque o logotipo era idêntico.418 417 418 Idem, p. 36. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006 (documento inédito). 235 Considerando-se que a ironia está sendo concebida nesta tese como forma interdiscursiva, cujo sentido necessariamente advém de um imbricamento contraditório, os diferentes mecanismos de produção estão sendo considerados como diferentes formas de citação e estratégia de combinações de cenas. Com a função deliberada de construir a ironia discursiva, esses traços permitem a descoberta tanto das vítimas desse discursivo irônico, quanto de seus aliados, ou seja, os discursos que lhe dão sustentação. O funcionamento dessas diferentes formas de citação demonstra as duas faces necessariamente embutidas no processo irônico. De um lado a convocação de um contexto autorizando, endossando e dando credibilidade ao discurso do enunciador explícito, da “crônica verdadeira” e que parece ser a fonte e ter o domínio total de seu discurso. De outro, além desse mesmo contexto (repressivo) revelar as marcas da presença e da manipulação desse mesmo enunciador, ele se junta a outras “posições” cujo alcance escapa no nível do enunciado para fazer ressoar a conivência implícita criada entre enunciador e leitor, no conjunto discursivo. É interessante relatar que nem todos os flans criados por Antonio Manuel transformaram-se na “matéria prima” da série Clandestinas. Esta série possui 10 trabalhos “nos quais”, segundo o próprio artista, “introduzi pessoas que conviviam comigo, ou eventos ligados à arte, tudo colocado numa paginação semelhante à do jornal O Dia”. O material para a fabricação dos flans era selecionado ou distribuído pelas oficinas dos grandes jornais cariocas, visto que eles eram descartados depois do jornal ser impresso. Antonio Manuel oferece um depoimento síntese sobre a fabricação desses flans antes da criação das Clandestinas: Explorando mais ainda as possibilidades inventivas do jornal e após usar a própria folha desse jornal, passei eu mesmo a imprimi-lo: ia até a oficina e imprimia em papel Fabriano a mesma página que saía no jornal diário, fazendo assim um jornal mais durável que possibilitava trabalhar com tintas mais aguadas.419 Em Antonio Manuel, a ironia está conectada a um fator político, síntese dos acontecimentos que atravessavam o país naquele momento e ao mesmo tempo uma resposta rápida, concisa e sarcástica ao sistema. Assim como as inserções de Cildo Meireles, 419 MANUEL, Antonio. Antonio Manuel, op. cit., p. 45. 236 Manuel utiliza-se dos mecanismos do circuito de arte como estratégia de circulação das suas táticas. Porém, em Manuel observamos uma pluralidade de suportes como extensão dessa indignação, e mais do que isso uma ação urgente contra o estado de anomalia que reinava. A trajetória de Manuel nos anos de 1970 anuncia que não há mais o que esperar: agir é preciso. Isso não significa que eram ações sem planejamento, ou pior, tomadas no “calor” da ocasião, mas percebemos em Antonio Manuel que suas ações denotam uma tomada de posição que é planejada no aqui-e-agora: “Algo precisa ser feito e devemos agir agora, não podemos mais esperar” é o que anuncia a sua obra. No flan que presta uma homenagem a Malevitch, Manuel traça o diálogo entre palavra, imagem, história da arte e política, utilizando o meio de circulação que era controlado pela ditadura e ao mesmo tempo fonte de informação (?) para o público. Nada parece escapar ao artista. Era um flan em homenagem ao Malevich, o branco sobre branco. A manchete era: “É o branco do jornal ou é o branco do Malevich?”. Naquele momento tinha sentido chamar o Malevitch para o espaço do jornal, porque havia uma censura, era a implementação de um regime autoritário. Enfim, havia uma busca de linguagens e uma tentativa de invenção. O jornal tornava-se branco, porque as notícias eram controladas. Eu pretendia criar um ponto de interrogação.420 O conceito de participação neoconcreto baseado numa relação fenomenológica, algumas vezes marcado por um existencialismo, com a obra de arte, ganha nova ordem no final da década de 1960. Esse conceito sofre uma torção para transformar-se em juízo político, em engajamento. Os Bichos (1960-64) lêem Marcuse, finalmente vão para a rua e são múltiplos: são agora garrafas de Coca-Cola, jornais, telas com zíperes... A participação se dá apenas na diluição do sentido “sagrado” da arte em meio ao cotidiano – daí também a apropriação de meios populares, baratos, e mais do que isso, o próprio sistema sendo usado como instrumento “contra” si mesmo ou como meio de engajamento e alerta aos dados nocivos que são produzidos por seus “donos”. “[O trabalho com as Clandestinas] tinha um lado marginal, clandestino dentro da própria estrutura de um veículo industrial de massa. 420 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006 (documento inédito). 237 Podia até acontecer de alguém comprar sem saber se era o jornal ou se era o clandestino”. 421 O mundo das imagens é impiedoso. A imagem se impõe como o modo essencial da relação entre os seres e o mundo. A representação supunha um “distanciamento”, ela permitia crer que o mundo era um espetáculo, e o funcionamento da mídia contribuiu durante muito tempo para a produção espetacular dos eventos. Agora a imagem é imediata, ela não oferece mais a possibilidade do tempo de se representar o que se passa. Uma regra dos meios de comunicação de massa então se impôs: a realidade do acontecimento coincide com a imagem do acontecimento. O leitor/espectador não tem ponto de apoio sobre o que se passa no mundo, é captado por imagens que desfilam num continuum. Ele nada pode contra o poder das imagens mesmo se considera que os sistemas de informações constituem uma arapuca universal. A fusão entre a imagem e o real é tão absoluta que o acontecimento não pode sequer aparecer como a imagem de uma realidade escondida. Antonio Manuel expõe que entre a “verdadeira” ou a “falsa” informação, a distinção perde seu sentido. A imagem do acontecimento está sempre em estado de superexposição, de maneira que a realidade dada não pode mais ser diferente da sua maneira de aparecer. O Dia era um jornal que atingia as classes C e D no Rio de Janeiro, “o pessoal que vinha mesmo no trem, no ônibus; era o terceiro ou quarto maior jornal do país, depois de O Globo, Jornal do Brasil e o Correio da Manhã, porém a venda de O Dia era superior a desses jornais porque atingia um público enorme” 422 . Nesse sentido, Manuel arma outro fluxo na sua tática irônica: ao produzir e espalhar pelas bancas a Clandestina The cock of the golden eggs 423 , Manuel ironiza o conteúdo sensacionalista que os jornais mais populares possuem. Nas palavras de Antonio Manuel: “Eu quis fazer também uma manchete, uma Clandestina, com O Dia, em inglês. O que era um total absurdo, porque quem comprava O Dia eram as camadas mais humildes” 424 . A obra de Manuel carrega a exigência de ser enigma, coisa para decifrar, na luta para pôr em evidência o conflito entre o Ser da arte e a sua presença social. O enigma que perverte e subverte a integridade do 421 MANUEL, Antonio. Antonio Manuel, op. cit., p. 45. Idem, ibidem. 423 Segue o texto do flan publicado e distribuído nas bancas de jornais em 1973: “Homem pacato e sem vícios – desceu do ônibus, telefonou dando gargalhadas e desapareceu – um silêncio ocupava todo o corpo, era visível a auréola - pela manhã bem cedo foi visto sentado num ninho pondo ovo – o homem-galo dos ovos estampava no corpo a sabedoria profunda”. 424 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006 (documento inédito). 422 238 objeto se transmuda aqui em fluxo; a essa vontade de ordem, apoiada sobre o precário e o ocasional, corresponde não mais uma sociedade governada pela idéia e sim por descontínuas vivências. O Dia por apresentar também um espaço, naquela época, para as notícias mais populares, atraía um público ávido por informações, digamos, “mais superficiais”. Manuel se aproveita desse potencial do jornal – insólito, acidental e excessivo – para dinamizar ainda mais o inesperado daquela manchete (Antonio Manuel usa a seguinte manchete como uma de suas Clandestinas: “Mulher-vampiro age em Ipanema: matou o cachorro e bebeu o sangue”). Nesses noticiários de jornais populares, a inversão de comportamento é, normalmente, rápida; o indivíduo tranqüilo e simpático vai cometer em alguns segundos um crime mais ou menos sórdido. Quando se trata de um homem público, a via das distorções e das reviravoltas parece mais tortuosa. A revelação pública das contradições humanas nunca é testemunho de uma bela lição de consciência. O que conta é a estratégia de revelação, que se converte no signo de um humanismo decadente. Manuel apega-se a esse conceito e retransmite o mesmo em sua obra. Clandestinas clama, sob os auspícios de uma demanda ética, que o acertar de contas termina sempre por impor a certeza flexível de que somos todos iguais. 5.2 O lugar da intenção e da interpretação no discurso da ironia O artista funda um lugar, que nem sempre é percebido num meio em que as expectativas de mudança são limitadas. Provocando o sentimento coletivo de algo já visto e ouvido, o jornal popular, apesar da surpresa que provoca, já é esperado. Sem tal estado de espírito provocado pelo jogo de contradições humanas e de inversões de sentido, o que se passa não suscitaria a surpresa e a emoção. É a consagração da ambivalência do comportamento humano que comemora a notícia cotidiana. A hierarquia dos acontecimentos não cessa de ser desmentida pela fascinação que ainda exerce a capacidade do rumor de gerar confusão. As informações se desenrolam de maneira contínua e privam o público de uma construção da história; os acontecimentos se sucedem e se parecem a uma 239 rapidez que limita as possibilidades de comentário. A partir de então, a notícia, mesmo que não escape à similitude de sua própria reprodução, se torna um “acontecimento absorvido”. O “erro”, a “não realidade”, em suma, a ficção usada por Antonio Manuel corre o risco de não ser percebida pelo próprio efeito que a fluidez dos acontecimentos publicados no jornal oculta. Não se trata mais de uma crise da verdade, mas do triunfo de uma verossimilhança que se mede apenas por ela mesma. Ademais, sinais de ironia não sinalizam “ironia” até que que sejam interpretados como tais. Tudo o que o “artista ironista” intencionado pode fazer é apresentar um estímulo contextualizado e esperar que sua percepção leve o “espectador interpretador” a inferir intento irônico, em primeiro lugar, e um significado irônico específico, em segundo. A ironia não é ironia até que seja “sentida” como tal. A ironia pode envolver uma tensão entre comunicação e ocultação, mas se não existem marcadores, ela pode ser interpretada como um caso de logro e não de ironia. Diz-se que a ironia mais eficaz é a menos abertamente sinalizada, a menos explícita – quando o risco de incompreensão e desentendimento é maior. Pode-se articular esse julgamento de diversas maneiras: como um caso de sofisticação, sutileza ou maiores poderes de discriminação por parte do artista. Muitas vezes isso se expressa em termos que deixam claro que é uma questão que envolve economia de expressão, e podemos citar, como exemplo, a situação das trouxas ensangüentadas de Barrio, espalhadas em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Eram sacos plásticos contendo toda a sorte de dejeto humano, abandonados por Barrio à curiosidade e à manipulação dos transeuntes anônimos, que eventualmente passavam a coautores do trabalho; detritos cuja deriva era registrada - não interceptada - pelo artista, que, ele também um transeunte, atentava às reações destes; considera-se que “o grau de efeito irônico seja inversamente proporcional ao número de marcadores necessários para se obter esse efeito” 425 . Confundindo as trouxas com corpos esquartejados, a obra foi motivo de alarde público, e até policial, desencadeando uma polêmica fenomenal no contexto artístico brasileiro. Quando realizou Situação T/T, 1, no ano de 1970 em plena ditadura militar, num riacho, no parque municipal de Belo Horizonte, cercado por esgoto e ponto de “desova” na cidade, a polícia e o corpo de bombeiros foram chamados por uma multidão que se aglomerava cada vez mais com o passar do tempo. Ninguém teve coragem de se aproximar 425 HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia, op. cit., p. 218. 240 daqueles corpos estranhos, cheirando a podridão. Apenas as autoridades investigaram, de perto, o ocorrido. Contudo, temos outra (situ)ação pública proposta pelo artista ao transeunte. Nelson Leirner organizou, junto com seu amigo Oswaldo Kathalian, o que se chamou na época de Happening do Bazar do Oswaldo. O próprio Leirner relata a experiência desse bazar, que ocorreu com as “sobras” de sua retrospectiva no Paço das Artes, em 1995: Se eu tinha exposto no Paço o trabalho Armazém, e sendo armazém nada mais do que uma galeria sem a sofisticação que a arte lhe promove, com todas aquelas peças que sobraram, e que [ocupavam o] meu estúdio, nada mais justificado conceitualmente do que eu promover um bazar (...) E eu, mais uma vez, poderia ficar atento à reação do espectador. Claro que não cabia uma inauguração, nem convite, apenas em frente ao seu escritório [de Oswaldo] uma faixa atravessando a rua, que dizia: ‘Peças do artista plástico Nelson Leirner por R$ 100,00’ (...) Todos os objetos, agora individualizados, eram assinados como obra única. O Bazar durou uns dois meses e, apesar do preço, ainda tive que levar de volta muito bagulho. Rimos muito, primeiro um fracasso total de vendas, e depois pela descrição de Kathalian da dificuldade que as pessoas tinham em desembolsar R$ 100, temendo ser tomadas por otárias ou vítimas de uma armadilha. Andavam de um lado para o outro, sentavam, se levantavam novamente, olhavam e acabavam dizendo ‘volto mais tarde’... Conclusão: é muito mais fácil pagar R$ 100 mil por algo de um artista já estabelecido, do que R$ 100 pelo que você não identifica. 426 Vender seus trabalhos por 100 reais foi uma atitude irônica, mas o fato de ninguém ter se interessado em comprá-las foi um contragolpe mais irônico ainda. Entretanto, nota-se em seu depoimento que o fato que o levou a tomar tal atitude não foi um sentimento de mágoa com o mercado de arte, mas a necessidade de reafirmação por meio da construção de um circuito autônomo de análise das particularidades desse próprio mercado e os seus agentes: a inconsistência do mercado, o medo diante do novo, a política de formação do colecionador e, por outro lado, o desprendimento do artista em relação à sua própria obra, passível concretamente de ser transformada pelo próprio em mercadoria barata, de fácil circulação. Nessa estratégia de desenvolver uma relação mais diluída entre o artista e o público, e portanto cada vez menos hierarquizada, Leirner terá sempre uma visão “não426 CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 84. 241 endeusada” do artista e da própria obra de arte. Leirner adota ambos como agentes de provocação para a transformação da consciência de público, tornando-o menos alienado das estruturas capitalistas e enganadoras do circuito de arte. Outro contragolpe sofrido por Leirner, motivado por uma ação irônica, foi o caso do happening-instalação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo. Leirner lembra da ação: Passávamos uma época em que nossa maior preocupação era de teor político (...) Foi aí que me ocorreu fazer um trabalho que invadiria a FAU e, para isto, escolhi como material rolos de plástico preto (...) Sabia, que amarrando um dos lados e correndo com esses plásticos, eles inflariam em salsichas gigantes (10 metros ou mais de comprimento) que, se amarradas no seu outro lado, ficariam infladas por um bom tempo até voltarem ao seu estado normal (...) Resolvi construir [no centro do hall de entrada da faculdade] uma armação feita com aqueles tubos que são alugados para andaimes. Essa armação ocupava um espaço de uns 30 metros de comprimento, formando um ziguezague de plástico (...) À esquerda do que chamaria ‘máquina de plástico’, sairiam como continuidade, os rolos de plástico que, já abertos, mas não inflados, invadiriam todas as dependências da escola (...) [À direita do hall] saia outra mecha de plástico que se emendava num cubo, formado com os mesmos tubos, que continham os plásticos em forma de sacos de roupa, daqueles nos quais você recebe um terno da lavanderia. O cubo preto, a ‘máquina preta’, e os plásticos invadindo a FAU por si só era uma instalação acabada. 427 A intenção era ocupar o espaço da FAU com essas duas estruturas sinistras e imponentes, peças que funcionavam como um obstáculo à circulação dos transeuntes do edifício: Tinha que deixar claro o conceito político que já constava no trabalho e que eu não enxergava. [No dia anterior à inauguração, organizei] retoques de praxe [na estrutura como um todo], e no fim da tarde, na presença de uns 20 a 25 alunos, realizei os testes com os plásticos, inclusive com a colaboração deles (...) O ensaio geral foi um verdadeiro happening, pois os alunos que permaneciam na FAU começaram a pular do parapeito da rampa, de uma altura de 3 metros mais 427 Depoimento de Nelson Leirner. In: CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 141. 242 ou menos, em cima daqueles montes de plástico que os amortecia na queda. A zorra se instalou no salão (...) Saí de lá feliz da vida, crente que, no dia seguinte, tudo aquilo se repetiria em uma escala muito maior, com as salas tomadas pelas salsichas infladas e que todos os que chegassem ficariam concentrados no hall de entrada, sem poder entrar nas demais dependências da FAU.428 A ação proposta por Leirner, de alguma maneira, já havia acontecido no dia anterior à data prevista para a inauguração da intervenção. Porém, um dia depois, algo deu errado: Marcamos [Leirner e uma amiga, que documentaria a ação] às 7h00, hora em que os alunos começariam a chegar. Como peguei um trânsito medonho, somente consegui chegar na USP às 8h15. Quase cai duro: o salão de entrada e as rampas (...) estavam limpos, como num dia comum de aula. No hall de entrada, os tubos de ferro jaziam como esqueletos e, do lado fe fora, poucos metros de plástico abandonado como que registrando os acontecimentos.429 O evento idealizado por Leirner deveria ocorrer mesmo no dia seguinte à experimentação praticada pelos alunos, como descrito anteriormente, quando todo o edifício seria tomado pelo plástico negro, como uma alegoria à repressão política que invibializa a circulação de idéias, as formas elaboradas e truculentas de censura e amordaçamento impostos e as relações viciadas das instituições culturais com o circuito de arte. Porém, de uma maneira perversa, a ironia não acerta o seu alvo (pelo menos na data marcada) e volta contra o seu criador. Leirner nos pergunta: por que museu? Por que arte? Aliás, por que arte, artistas, curadores, marchands, críticos... e todo o circuito? O que se oculta e se revela por trás disso tudo? Leirner nos oferece a discussão sobre a necessidade, a finalidade e o lugar desses agentes. Diferentemente da maioria das outras estratégias discursivas, a ironia explicitamente instala uma relação entre o artista (“ironista”) e o público (um sendo a quem se dirige intencionalmente, aquele que na verdade faz a ironia acontecer, e o outro sendo excluído) que é política por natureza, no sentido de que “mesmo enquanto provoca o riso, a ironia invoca noções de hierarquia e subordinação, julgamento e talvez até mesmo superioridade 428 429 Idem, ibidem. Idem, p. 142. 243 moral” 430. É por isso que a linguagem usada para falar sobre ironia – aqui, como em outros lugares – é tão frequentemente a linguagem de risco: a ironia é “perigosa” e “capciosa” para o artista, o público e o seu alvo (que não necessariamente é o público do Museu, mas a própria instituição). A ironia acontece dentro de uma estrutura, de um discurso, e portanto suas características semânticas e sintáticas não podem ser consideradas separadamente dos aspectos social, histórico e cultural de seus contextos de atribuição e emprego. Seguindo esta linha destrutiva de valores e renovando uma linguagem através de uma atitude de guerrilha, Caixa de baratas, Para um jovem de brilhante futuro, Inserções circuitos ideológicos (e antropológicos) ou a performance de Antonio Manuel no Salão Nacional de Arte Moderna são dilemas de resistência numa ditadura (política e corporal). Porém, não há uma exacerbação do puro e simples significado político ou uma tentativa ágil e clara de mudar o trauma que o país atravessava; esse conjunto de obras, sobretudo, anunciava uma permissão: “Eu não estou levantando claramente uma bandeira. Eu quero simplesmente dizer: ‘Eu posso fazer isto!’. Eu me permito tomar tal atitude e concretizar tal objeto”. O posicionamento e a linguagem irônica também se estendem para o cinema. Em outubro de 1968, Rogério Sganzerla alerta sobre o estado de boçalidade em que o povo estava sendo transformado. Nesse conjunto de obras, observamos que, certa parcela da produção artística e num número cada vez maior, adquiria um ar mal comportado, selvagem, libertário, sem estarem “levantando a tal bandeira partidária”. Como afirma Sganzerla a respeito do seu filme O Bandido da Luz Vermelha (1968), “os personagens desse filme mágico e cafajeste são sublimes e boçais. Acima de tudo, a estupidez, a boçalidade são dados políticos, revelando as leis secretas da alma e do corpo explorado, desesperado; meus personagens são, todos eles, inutilmente boçais” 431 . O boçal era ineficaz, um rebelde impotente que não conseguia refletir ou objetivar algo em meio a uma atmosfera de repressão. De certa forma, era assim que os artistas passavam a se sentir com o regime militar instaurado no Brasil. A violência se mostrava presente e ela passava a ser o meio de informação do governo como tentativa de abolir qualquer golpe ou ameaça do povo e, ao mesmo tempo, passou a se constituir como prática ou estandarte de alguns 430 CHAMBERLAIN, Lori. Bombs and other exciting devices, or the problem of teaching irony. In: DONAHUE, Phillip; QUANDAHL, Ellen (Org.). Reclaiming Pedagogy: the rethoric of the classroom. Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1989, p. 98. 431 SGANZERLA, Rogério. O bandido da luz vermelha. In: FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1, op. cit., p. 19. 244 artistas brasileiros. Hélio Oiticica sobe a Mangueira, envolve-se amorosamente com os bandidos e homens daquela comunidade, com uma vivência à margem do que era estabelecido como “seguro e digno” pela sociedade e anuncia “seja marginal, seja herói”. Câncer (1972) de Glauber Rocha e os filmes de Ivan Cardoso apontam essa boçalidade e o estado de extrema violência que o corpo atravessava naquele período. Armas, revólveres... A violência passa a dominar o espaço do cinema e da produção visual nacional 432 . Como disserta Glauber Rocha no profético Uma estética da fome (1965): Uma estética da violência antes de ser primitiva é revolucionária, eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado” ou ainda “somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. 433 A arma passa de representação abstrata para tema e, por conseguinte, radicalização dessas propostas. Antonio Manuel ao comentar numa entrevista sobre a hipótese de ter tido medo ao produzir obras durante o regime militar, relata a sua tática frente ao autoritarismo: Tive medo em alguns momentos, mas não deixei de produzir trabalho algum por autocensura. Mesmo porque nós desempenhávamos [Manuel fala na 1ª pessoa do plural, mas não identifica quem seriam os artistas] quase que uma ação guerrilheira contra ela. Estava num processo de luta e de afirmação pessoal e existencial. Os confrontos com os espaços institucionais eram grandes e sérios, mas serviam de material de trabalho.434 A ironia passava a ser uma arma (na possibilidade de ser “camuflada”) extremamente eficaz contra o cerceamento provocado pelo regime. Combate contra políticas de segregação artística (o espaço museológico versus as “trouxas” de Artur Barrio, que mesmo marcado pela política daquela época, não são de modo algum datados 432 435 )e Indicamos, além dos filmes citados, Terra em transe (1967), de Glauber Rocha, com outro exemplo onde a presença da violência é um mote para a mudança de situações sociais. 433 ROCHA, Glauber. Uma estética da fome. In: ARANTES, Otilia; FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista, op. cit., p. 17. 434 MANUEL, Antonio. Antonio Manuel: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla, op. cit., p. 62. 435 O envolvimento do espectador na obra, no início da década de 1970, era uma forma de tornar a arte mais incisivamente incorporada ao tecido coletivo, como um agente comportamental. O trabalho de Barrio, nesse 245 social (como o episódio protagonizado por Nelson Leirner no lançamento da cadeira produzida pela Knoll Internacional, em 1967 436 ), no que hoje seria visto como uma ingenuidade 437. Porém, naquele momento, havia um comprometimento de uma parcela dos artistas em denunciar as barbáries que aconteciam no país, porém eram encontros marcados pontualmente, organizados pelos próprios artistas 438. Não havia uma reunião semanal para se discutir o que cada artista produzia, as tendências literárias e artísticas que deveriam ser lidas e discutidas em grupo, ou ainda dogmas estéticos que deveriam ser seguidos, como foi o caso das reuniões nas casas de Mário Pedrosa, Ivan Serpa, Décio Vieira ou Lygia Clark durante o Grupo Frente (1954-56) ou no período neoconcreto (1959-61). Em depoimento ao autor, Dias ressalta: “Havia coisas coletivas. Porque precisamos nos contar, nos reunir, mostrar o que fazemos, mas de uma maneira coletiva [e pontual]. Daí nasceu: Opinião 65, Opinião 66 e Nova Objetividade Brasileira, em 1967. A nossa idéia era tomar o museu”. Opinião 65 foi um marco dentro do conceito de exposição no Brasil: organizada pelos próprios artistas, foi apoiada integralmente pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Como afirma Antonio Dias no mesmo depoimento: “Os artistas foram ao museu e disseram: ‘nós queremos mostrar os nossos trabalhos e organizar a exposição no MAM’. A direção deu o aval e disse que o espaço era nosso”. Porém, com a instauração do governo militar no Brasil, um clima de repressão toma conta de toda a sociedade, e as instituições culturais não ficam à margem disso. Uma complexa simbiose entre uma crítica e mercado sentido, tinha um alcance muito amplo, pois não se confinava ao uso que o espectador fazia da obra dentro de espaços institucionais, mas era deixado à revelia na cidade, dispersando-se simultaneamente em vários pontos e atingindo espectadores a esmo. Como afirma Barrio, “esses trabalhos, no momento em que são colocados em praças, ruas, etc., automaticamente tornam-se independentes, sendo que o autor inicial (EU) nada mais tem a fazer no caso, passando esse compromisso para os futuros manipuladores/autores do trabalho, isto é:... os pedestres etc.” (BARRIO, Artur. Lama/carne esgoto. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 146). 436 Leirner, ao mesmo tempo em que chama a atenção para o produto a ser lançado, ironiza os militares: “Cobri a cadeira que estavam lançando, preta e sem braços, com néon. Coloquei as lâmpadas nas bordas. A cadeira ia dentro de uma tenda de pano em forma de pirâmide preta, que possuía um vão que ficava entreaberto para que a peça pudesse ser vista iluminada. A cadeira com néon era para dar uma impressão, mesmo que remota, de cadeira elétrica. E os dois ‘soldados’ [na verdade, duas modelos] faziam parte da instalação, como sentinelas” (Cf. CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte, op. cit., p. 134). 437 Lembremos do depoimento de Osorio, em que declara que “a instituição é um fato. Negá-la é sempre uma forma de cooptação, daí que o embate deve ser sempre de dentro. É do interior que se resiste, de onde a denúncia pode reverberar e os limites que definem as possibilidades de ser ou não ser são decididos” (OSORIO, Luiz Camillo. “Força é mudares de vida”: a trajetória de Artur Barrio. In: BARRIO, Artur. Artur Barrio: a metáfora dos fluxos, 2000/1968. Rio de Janeiro, MAM; Salvador, MAM; São Paulo, Paço das Artes, 2001, p. 107). 438 Depoimento de Antonio Dias concedido ao autor em 15 de março de 2006 (documento inédito). 246 de arte incipiente e retrógrado e uma situação política agressiva frente às manifestações provoca uma mudança na recepção de obras cujo suporte passa a ser o corpo. A performance O corpo é a obra de Antonio Manuel e as trouxas ensangüentadas de Artur Barrio são exemplos paradigmáticos dessa nova situação que as artes visuais atravessavam no Brasil: o corpo não é somente solicitado à ação, como anunciam os neoconcretos, mas passa a ser também vítima e manifestação da polis. Essa vontade destrutiva no campo nacional das artes visuais já estava aparente na Declaração de princípios básicos da vanguarda (1967), assinado por vários artistas participantes da exposição Nova Objetividade (“uma arte de vanguarda ocorre em qualquer lugar, mediante a mobilização dos meios disponíveis, com a intenção de alterar ou contribuir para que se alterem as condições de passividade ou estagnação” 439 ) e no Brasil diarréia (1970) de Hélio Oiticica (“a aspirina ou a curra?” ou quando escreve “cultivam-se as tradições e os hábitos, fala-se em perigos + perigos, mas a maioria corre o perigo maior: o da estagnação desse processo que parece sofrer retrocessos ou borrações no seu crescimento; estamos na fase máxima das borrações” 440 ). Estamos refletindo sobre um momento em que o neoconcretismo e as propostas construtivas na arte brasileira já demonstravam um esgotamento de suas ações enquanto um projeto ou ordem a ser seguida por seus elementos (Lygia Clark e Hélio Oiticica partiam para suas proposições sensoriais e ambientais, respectivamente) e novos suportes emergiam no contexto das artes visuais brasileiras. Antonio Dias, Oiticica e Lygia Pape utilizam o super-8 como meio de linguagem; em 1975 Letícia Parente realiza o vídeo Made in Brazil. Além disso, ocorrem eventos ao ar livre que congregam diferentes ações estéticas como Apocalipopótese (1968) e Domingos de criação (1970). Um desconforto com o circuito e os meios práticos de “se fazer arte” era cada vez mais latente, mas ao mesmo tempo a década de 1970 inaugurava um novo período na arte brasileira ao estabelecer vínculos concretos entre produção e mercado. Começa a haver uma “profissionalização” dessa prática - ainda que de uma forma incipiente - seja como uma atividade puramente comercial de compra e venda de obras quanto um espaço de ascensão social ou status para o colecionador. Paralelos a isso têm a 439 DIAS, Antonio et al. Declaração de princípios básicos da vanguarda. In: FERREIRA, Glória (Org.). Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas, op. cit., p. 149. 440 OITICICA, Hélio. Brasil diarréia. In: FERREIRA, Glória (Org.). Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas, op. cit., p. 277. 247 ação cada vez maior dos artistas em qualificar que “o meio de arte brasileiro resiste à produção contemporânea e à sua mais grave exigência: a liquidação definitiva do sistema das Belas-Artes”, visto que contra as aparências, “ainda estamos às voltas com o processo de falência do sistema de Belas-Artes, com a resistência (no sentido psicanalítico do termo) do meio de arte local em romper com essa tradição” 441 . José Resende e Ronaldo Brito, representantes naquele tempo de uma jovem geração promissora no campo da produção e crítica artística respectivamente, alertavam em seu ensaio que estavam procurando apontar a luta surda, mas objetiva, que se trava [no meio de arte brasileiro]. É bom não esquecer que o reconhecimento desse espaço da contemporaneidade implica a transformação de procedimentos objetivos do mercado e das instituições e nesse jogo dançam posições e privilégios pessoais. 442 Os dois autores apontavam essa vontade destrutiva que pairava nas artes visuais brasileiras com o aparecimento de novas vertentes de expressão como “arte nas ruas [grifo do autor] que podem ser classificadas como sintomas histéricos de tipo furioso. O desejo aqui é invadir a cidade criativamente, espalhar arte por viadutos e túneis, estetizar à força a vida miserável das metrópoles” ou a maior representante do “pânico da estagnação” nas artes, a instituição oficial que legitima(va) as artes visuais no país: a Bienal de São Paulo. Na descrição ácida dos dois autores sobre esse evento, o problema “é a presença próxima demais da pulsão da morte, o que leva à constituição de ritos obsessivos de defesa, entre os quais o mais importante ainda é a Bienal de São Paulo. A Bienal masoquista de São Paulo”443. Nesse contexto, está a cadeira de design internacional transformada ironicamente por Leirner numa cadeira elétrica, guardada por uma espécie de tenda de campanha de exército e protegida por duas garotas com trajes militares na forma de um lançamento de uma peça de design num bufê tradicional de São Paulo. Os signos e seus sentidos são embaralhados. Agindo dessa forma, apresenta os desafios enfrentados por um artista naqueles anos de repressão: como envolver-se em projetos que vão da propaganda ao 441 BRITO, Ronaldo; RESENDE, José. Mamãe Belas-Artes. In: FERREIRA, Glória (Org.). Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas, op. cit., p. 269. 442 Idem, p. 270. 443 Idem, p. 273. 248 consumo supérfluo sem perder a consciência de estar vivendo num ambiente de exceção e sem perder o objetivo de criticar (e derrubar) as pretensas verdades desse mesmo regime, sempre que uma brecha (e é exatamente nessa brecha que o artista “inventa”, cria uma estrutura para a abertura desse alargamento da potência irônica e “dinamita” a estrutura do poder) torna-se possível. Entretanto, as obras ditas políticas da produção artística das décadas de 1960 e 70 são investigadas pela crítica de arte como uma forma de questionamento sobre o regime militar daquele período ou com uma preocupação política acentuada, que muitas vezes distorce a intenção original do artista. A ironia, mais uma vez, dependerá do contexto em que está inserida e da invenção primária que o artista (irônico) quis transmitir àquele objeto. Por outro lado, como já foi dito, a obra passa a pertencer ao mundo, quando sai do ateliê do artista. Suas reais intenções, digamos assim, são deixadas de lado, e ela passa a ganhar o mundo. A ironia pode voltar-se contra o seu criador. Podemos citar o caso das Urnas-quentes de Antonio Manuel 444 , que diversas vezes foi apontada, pela crítca de arte, como uma metáfora aos caixões de vários brasileiros que foram mortos, e torturados, pelo governo durante o regime militar. Como Antonio Manuel observa em entrevista ao autor: Para mim, nunca teve esta conotação [a analogia entre as Urnas-quentes e os caixões]. Na Europa ou na América, urna seria um grande caixão... Quando a urna surge em 1968, tinha sido decretado o Ato [Institucional] no 5, que foi um dos Atos mais violentos: cerceou e castrou toda a produção artística. A censura veio como um garrote vil (...) Fechou-se o tempo no país. Tudo censurado. Tudo bloqueado. E quebrar a Urna, era como se você tivesse uma antevisão dessa situação do AI-5. Então, você quebra a Urna, mas a Urna num sentido de voto. Quer dizer, a Urna num sentido de conteúdo lá dentro. Nunca com um sentido de antivida, de caixão ou pessoas mortas pelo sistema; mais como ato de você violentar um objeto e descobrir algo poético dentro desta violência toda. 445 444 Segundo o próprio artista, Urnas-quentes são caixas de madeira, “hermeticamente fechadas, que dentro continham coisas variadas [eram impressos textos relativos a situações políticas e sociais, ao lado de imagens que diziam respeito à violência, recortados de jornais ou de arquivos de fotografias, além de textos escritos diretamente na madeira, no interior da caixa]. As pessoas recebiam martelos e pedras e essas caixas eram violentadas, eram arrebentadas a porretadas e você descobria então o código de cada uma delas. Uma idéia radical, de você ter de usar também de violência para descobrir a coisa em si” (Cf. MANUEL, Antonio. Antonio Manuel, op. cit., p. 44). 445 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006 (documento inédito). 249 A utopia de um mundo consciente, libertário, impresso nas Clandestinas é retomada nas Urnas-quentes: propiciar a experiência de ocultamento e abertura, do segredo e da liberação, entre o dentro e o fora. Poética já apontada nos neoconcretos, mas que em Manuel ganha um acento político em sua própria ambivalência: em ser caixão ou ser urna. O AI-5 havia sido decretado e as eleições democráticas haviam sido suspensas no Brasil pelos militares. De um modo íntimo, essa obra propõe um jogo desse gênero: violar a interioridade para reencontrar um espaço aberto que reúna e atravesse a todos. E isto transmitindo a sensação dos obstáculos e barreiras que se interpõem entre nós e esse sonhado espaço de liberdade. Essa situação é identificada no seguinte depoimento de Antonio Manuel ao autor sobre essa obra: “A minha poética era mais de encerrar objetos, encerrar coisas ali, que aquilo fosse - de uma certa maneira, de uma certa poética quebrado e, enfim, tornar visível o que estava ali dentro”. A estrutura hermeticamente fechada que precisa ser atravessada proposta pelas Urnas-quentes, traça um paralelo com o Poema enterrado, de Ferreira Gullar. Apesar de Gullar fazer uma referência à sua obra como um “túmulo”, o que estava sendo enterrado ali era uma proposta falida da poesia brasileira, de cunho parnasiano, assim como todo um modelo de arte “modernista”, bidimensional, ou propagandístico de uma arte essencialmente brasileira. Porém, ao mesmo tempo, era oferecido um pensamento para avaliarmos e nos posicionarmos frente ao presente (“rejuvenesça”): o corpo passa a ser um módulo construtor de idéias, passa a modificar e a experimentar espaços, até então guardados e intransponíveis. Esse atravessamento do tempo, tanto entre a produção dessas obras e o período político do país, é alertado no texto de um dos flans de Manuel (Roubaram o poema enterrado, de 1975), que circulou pelo Rio de Janeiro, como jornal. A Urna-quente, que era uma coisa para ser aberta a porretadas, violentada, hoje é uma caixa que encerra coisas, hermeticamente fechada. A Urna-quente agora tem um tempo determinado ou não para ser aberta. O poema do Gullar sumiu, mas está vivo como um coração pulsando. Fui visitar o poema enterrado, afastando teias, descendo degrau por degrau, para minha surpresa encontrei somente a marca do quadrado embaixo. Alguém roubou o poema enterrado (...) Eu pensava em violentar o poema, numa substituição de poemas, numa troca de identidades: 250 adormecer eternamente a Urna-quente que pulsa e ferve encerrando coisas, a vitalidade de um coração do corpo-obra em movimento num não-objeto.446 Entretanto, as novas linguagens que emergiam no campo artístico brasileiro, foram motivos para ironia no trabalho de Antonio Manuel. Associando a body art com o momento de bode, no sentido de uma prostração, vivido pelo Brasil na primeira metade da década de 1970, Manuel usou um jogo de palavras 447 e a representação física desta “entidade”: uma mistura de animal com o sentimento pessimista dos brasileiros frente ao futuro do país. Em entrevista ao autor, Manuel esclarece os fatos sobre o estado de “bode”: O Bode, para mim, simbolizava uma coisa da “bode art”. Porque, na verdade, havia também uma contestação no Brasil, a meu ver, da idéia da body art ou do corpo. No Brasil, havia um corpo com vitalidade e energia: os Parangolés de Oiticica, a obra de Lygia Clark, enfim, uma situação com mais energia, força e paixão. Por outro lado, essas experiências que recebíamos da Europa eram de uma ordem pessimista ou da mutilação do corpo. Essa experiência, naquele momento, não tinha diálogo com o que ocorria no Brasil, que é um país corpóreo. Para entendermos a situação do(e) bode, voltaremos um pouco no tempo. Em 1973, uma exposição individual de Antonio Manuel no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro sofre pressões por parte do governo para que não se realize 448 . Manuel expõe as idiossincrasias do sistema, entra em atrito, denuncia sua falta de fundamento e lança uma 446 Texto publicado no flan Roubaram o poema enterrado (1975), coleção Antonio Manuel. A palavra “bode” tem diferentes significados no vocabulário da língua portuguesa (e é exatamente esta capacidade mutante de composição em diferentes formas, que a expressão causou um casamento perfeito entre a informação que desejava ser passada – a situação política de cerceamento de direitos civis no país, o exílio de artistas e intelectuais em virtude da dificuldade em produzir idéias, que não fossem “contra o regime” e o próprio caminho que a arte brasileira traçava naquele momento, que apesar de ter o corpo como sujeito da ação e não mais um objeto passivo a serviço da observação, possuía linha conceituais diferentes da body art - e o seu campo ampliado de interpretação): “amarrar o bode” significa “ficar sério, irritado ou malhumorado”; “fazer bode” é “fazer mistério a respeito de um assunto, esconder o jogo”; “ficar de bode” significa “sentir mal-estar físico e/ou psicológico por motivo de ingestão de droga, ficar deprimido. Segundo o próprio Antonio Manuel, “[o bode] é um elemento usado na umbanda e na quimbada, como um elemento que absorve todos os males e que depois ele implode” (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006, documento inédito). 448 Segundo Antonio Manuel, “já haviam fechado a Bienal de Paris e a Bienal da Bahia; além disso, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro estava sofrendo muitas pressões: então, parece que o Museu recebeu uma pressão por meio de telefonemas, de militares. Finalmente, a direção do Museu achou melhor não expor certos trabalhos. Penso que foi uma censura; na verdade, funcionou como uma auto-censura ‘deles’, do próprio Museu de Arte Moderna” (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006, documento inédito). 447 251 atitude, que beira uma “arte do pânico” 449 , nas palavras de Ronaldo Brito. Nada mais do que uma estratégia, uma idéia da arte como resposta, ação efetiva em meio ao mundo dado. Há algo de instantâneo, e ao mesmo tempo utópico, na tática/invenção que Manuel lançará num sistema de arte dominado por uma ordem frágil, ambígua e indecisa. As pessoas acharam por bem censurar os trabalhos porque temiam que eles pudessem provocar situações problemáticas para o museu e para mim. Então, me chamaram e começamos a discutir trabalho por trabalho. Deviam ter umas sete ou oito propostas para a exposição. Aí foram eliminando, e no final sobrou um único trabalho, que era o bode vivo, que para mim tinha um significado muito especial, principalmente em razão dele ser uma espécie de símbolo do mal, um bicho sagrado. Eu topei expor o bode, o único trabalho que eles deixaram passar [o bode, vivo, ficaria sobre um tablado vermelho, contrastando com o negro de seu pêlo]. Dias depois, me chamaram outra vez e me comunicaram assim de uma maneira muito paternalista que o bode não representaria meu trabalho, e que eles achavam melhor retirá-lo também. 450 Censurado, vítima do autoritarismo do regime militar, sem maiores explicações (“no final, me deixaram praticamente nu de novo” 451 ), Manuel, então, toma uma decisão radical: aproveitando-se da sua experiência com as Clandestinas, utiliza-se mais uma vez dos jornais e cria um contra-golpe a toda aquela sordidez que pairava no Brasil, e em especial num circuito de arte profundamente afetada por mecanismos políticos agressivos contra a sua liberdade de criação. Essa resposta chama-se Exposição de 0 a 24 horas. Manuel reúne todo o material censurado e transforma-os em material iconográfico, adicionando textos e criando uma estrutura de jornal 452 . Abrimos espaço para o próprio dissertar sobre o fato: 449 MANUEL, Antonio. Antonio Manuel, op. cit., p. 7. Idem, p. 46. 451 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006 (documento inédito). 452 O trabalho Exposição de 0 a 24 horas consistia na publicação em jornal de seis propostas (obras) de Antonio Manuel, acompanhadas de uma poesia, texto crítico ou descrição, como uma cartilha de guerrilha. Essas propostas confundiam-se entre atuações de resistência, tentativas de sabotagem contra o sistema, inserções em jornais e a vida como instância de criação; segundo o artista, essas propostas “têm um elemento também de contestação, impotência, além do lúdico” (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006; documento inédito). As propostas são: Urnas quentes, O bode, Margianos, Clandestinas, Éden e O Galo [ou Le Coq]. 450 252 [Manuel começa esse depoimento fazendo uma comparação entre a recepção do grande público com as Clandestinas e esse novo trabalho] O trabalho que atingiu um público grande foi O Jornal, com a obra Exposição de 0 a 24 horas: Exposição de Antonio Manuel, de 0 a 24 horas nas bancas de jornais. Teve uma tiragem no jornal de 100 mil exemplares, com distribuição nacional. Foi uma tiragem muito grande, para a época, e o segundo caderno, o encarte, era essa exposição de 0 a 24 horas, que também era o tempo que durava o jornal nas bancas, também. Esse trabalho foi feito a partir da censura do MAM, em 1973, com os meus trabalhos. Eu imediatamente tive a idéia de publicar isto. Fazer essa exposição circular de alguma forma. Naquele momento me apareceu a idéia do jornal. Pensei: ‘O melhor mesmo é pegar este material iconográfico e fazer disto um veículo, um jornal’. Foi isto o que aconteceu. Acabamos saindo no O Jornal que concordou com a idéia. Tive duas ou três reuniões com a diretoria e havia uma pessoa, no jornal, chamada Washington Novaes, que se encantou com a idéia e disse: ‘Já que é uma loucura, vamos em frente!’.453 A esta altura, O Jornal havia oferecido a Manuel três páginas do caderno de cultura, mas para ele não interessava uma parte, mas o todo. Na mesma entrevista ao autor, o artista relata o acontecimento: Então, eu disse [ao Novaes] que três páginas [do encarte de cultura do jornal] não me interessariam, a não ser o caderno todo. Radicalizei porque tinha mais dois ou três veículos que procuraria para imprimir o trabalho. Mas O Jornal acabou topando e a Exposição saiu num domingo [15 de julho de 1973]. Num sábado, deram a chamada de primeira página. E no domingo, saiu nas bancas de jornal. Portanto, para Antonio Manuel o bode do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro era um elemento carregado de simbologia... irônica: “Para mim, o bode faria uma leitura do resto da exposição, que não podia ser mostrado. E deu bode porque ‘deu bode’”, informa o artista na entrevista. Ao mesmo tempo, Manuel preparava uma nova Clandestina se apoiando na amizade que possuía, naquela época, com a direção do jornal O Dia. Ainda acreditando que o bode seria exposto no Museu de Arte Moderna, o artista solicitou a Ivan Chagas Freitas, diretor do jornal, que publicasse na primeira página de O Dia, a seguinte 453 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006 (documento inédito). 253 manchete: “Deu bode no MAM”. Segundo Manuel, “porque esse era um fato real. Ia ter bode lá, no MAM; ia ter bode no O Dia”. Porém: O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro não permitiu o bode também. Então, foi lamentável, porque “deu bode”, mesmo. Então, O Dia desistiu de dar esta manchete. Nem o trabalho do O Dia pôde ser feito nesse momento – “Deu bode no MAM” – nem o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro aceitou o bode estar lá presente. Então, publiquei no O Jornal o trabalho De 0 a 24 horas.454 E qual teria sido a resposta do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro ao trabalho Exposição de 0 a 24 horas, Antonio? O artista informa em entrevista ao autor que: O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, quando viu o trabalho, chamou-me e disse que haviam recebido um tapa com luva de pelica. Era o máximo da loucura: uma situação que não poderia acontecer num espaço institucional foi para um espaço público, com uma tiragem muito maior do que seria o público que assistiria à exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi muito mais eficaz no O Jornal do que se tivesse acontecido no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas Manuel ainda produziu um flan (não veiculado nos jornais) com o título Olha que bicho fedorento: amarrou um bode na dança do mal. No trecho que estampa a primeira página do O Dia, Manuel escreve sobre o mal que aflige o espaço: O maligno bode se transformou numa insaciável busca de amor. Maligno bode – que cheiro bom tem neste mal? O criador está incorporado desde a primeira marrada lúdica e descontraída que se deu na mata. Ser mal? - se o maligno bode é o símbolo total da carga do mal com toda a densidade desse mal é fundamentalmente símbolo de liberdade.455 454 455 Idem, ibidem. Texto publicado no flan Amarrou um bode na dança do mal (1975), coleção Antonio Manuel. 254 A guerrilha se faz com as próprias armas que os artistas possuem: sua criatividade, imaginação e materiais à sua volta. Muitas vezes, os mais simples, como a pedra, elemento largamente utilizado pelos opositores ao regime militar, e que por se encontrar ao redor deles, na rua, às suas mãos, era facilmente capturado e arremessado contra a polícia. “É outro tipo de guerra, uma guerra pequenininha, que vai sabotando, que vai minando, que vai derrubando; ela, muitas vezes, tem um efeito maior que uma guerra normal [grifo do autor]”, narra Antonio Dias em entrevista ao autor. Embora, o artista tenha feito To the police (1968) enquanto vivia em Paris, a situação política mundial era desesperadora: cerceamento de direitos, políticos conservadores no poder, autoritarismo e revoltas populares. A arte atravessa fronteiras geográficas e a ironia passa a ser usada como elemento e tática de guerrilha. “Tem que pegar o inimigo um pouco com a ironia. Tem que rir dele”, afirma Dias na mesma entrevista. O artista infiltra-se cada vez mais no cotidiano. Obra e vida, expressão que atualmente virou lugar comum na crítica de arte, eram indissociáveis naquele momento, havia um compromisso com mudanças ou então registros da violência social que acontecia. Com a palavra, Antonio Dias: Penso que um dos papéis do artista é romper com a realidade mais imediata, senão a obra de arte vira um enfeite, apenas um algo a mais. Nesse ponto é que está a grande diferença com o mercado. Este procura mercadorias, mas as obras de arte nem sempre são feitas como mercadorias, mas como idéias. To the police ficou guardado no armário durante anos. Ninguém se interessava por aquilo. A maior parte dos objetos que têm sido resgatados, vamos dizer, a uma situação especial, ficaram muito tempo abandonados, porque não havia um interesse real de mercado naquele momento. 456 A mais fina das ironias: o ouro estava escondido na frente dos nossos narizes e ninguém sabia onde encontrá-lo. O que era dejeto, resto, passa a ser valorizado e disputado pelo mercado. O resíduo transforma-se em múltiplo, passa a adornar várias casas e paredes, porém a sua potência irônica não diminui nem falha, mas ganha novos alvos e encontra outras disputas. 456 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 15 de março de 2006 (documento inédito). 255 5.3 Espalhando contra-informação Hoje a merda do artista vale alguns milhares de dólares assim como o ar de paris (1919). “Manzoni e Duchamp estiveram sempre rindo e produziram isto de propósito” afirma Dias 457. É dado um significado ao nada. Os sinais de potência se invertem: o menos passa a ser mais. Com a ironia você sai do reino do verdadeiro e do falso e entra no reino do ditoso e do desditoso – de maneiras que vão muito além do que sugere o uso desses termos na visualidade. A ironia remove a certeza de que as palavras e as coisas significam apenas o que elas dizem ou se mostram. Mentir faz o mesmo, é claro, e é por isso que o ético assim como o político nunca estão muito abaixo da superfície em discussões sobre o uso da ironia e as respostas a ela. Entre a ironia com intenção que passa desapercebida e a sem intenção que se torna ironia por ser percebida, há espaço para muitos tipos e graus de incompreensão, falhas e, podemos dizer, fiascos, assim como de compreensão e cumplicidade. Falso ou verdadeiro? Este é o mote usado por Antonio Manuel na série Classificados (imóveis-aluguel) de 1969. O artista utiliza-se da página de classificados do jornal O Dia e insere meticulosamente termos que poderiam ser lidos como metáforas e alegorias ao momento político brasileiro daquele momento. Num desses jornais, Manuel insere na seção de palavras cruzadas (comuns nos classificados dos jornais) no item “solução do número anterior”, palavras de ordem, tais como: “fim”, “objetivo”, “barulho”, “quadrilha”, “bando de gatunos”, “sacrificador”, “negações”, “recusas”, “ira” e “consciência”. Essa informações camufladas deveriam ser identificadas pelo leitor. A linguagem deveria ser decodificada atentamente, já que havia o perigo destas informações cairem nas mãos da censura. As informações sugeridas por Manuel, nos Classificados, estão imersas num corpo fraturado, num jornal dividido entre o real (que o jornal/regime quer que o leitor leia) e o que podemos chamar de “situacional” (que era o momento conturbado que o Brasil atravessava: vítima de censura, de pensamentos, de qualquer idéia ou ação que fosse contra a lei suprema do Estado). O artista consegue transformar o terror e todo o clima de repressão e censura vigente na própria matéria de seu trabalho e, além 457 Idem, ibidem. 256 disso, utiliza o meio de divulgação desse Estado autoritário como arma (irônica) contra a sua própria estrutura de poder. Podemos ter um exemplo dessa informação do artista no trecho a seguir, onde Manuel anuncia na seção “agenda” dos Classificados, a seguinte notícia (que pode ser lida como um alerta aos cidadãos, que lutavam ou eram contra o regime militar): “Tiro – hoje, das 20 às 22 horas, o 3o Grupo de Artilharia da Costa e o Forte de Copacabana realizarão provas de tiro real contra alvo marítimo rebocado” 458 . Como anuncia Ronaldo Brito, [Antonio Manuel cifrava] a realidade em diagramas difusos porque partiam do princípio de que a essência do real contemporâneo é a sua comunicabilidade pública. Fazer arte, nesta clave, será aderir ao fluxo de linguaguem que constitui um mundo em processo perpétuo de transformação.459 O meio de Manuel é a linguagem: um quebra-cabeças que espera ser desvendado o mais rápido possível. Códigos de conduta para uma insubordinação civil. Parece nos dizer que a sua decodificação deve ser feita o mais rápido possível para o nosso próprio bem. Frágil, mas vibrante, essencial, por assim dizer. A folha de jornal [continha] a própria fragilidade, inclusive, de rasgar rapidamente. Até pelo envelhecimento do jornal que durava 24 horas também. Então, isto sempre foi um elemento de confronto e contestação. Quando criava esses trabalhos, queria tornar viável uma linguagem e para isso usava os elementos mais afetivos, no caso o jornal, assim como os meios que pudessem atingir o maior número de pessoas. O meu trabalho com as Clandestinas tem praticamente uma trajetória: no sentido em que rompiam com essa idéia de um espaço sagrado (de um espaço fechado de galeria ou de museu) e iam para a rua.460 Cildo Meireles também realiza trabalhos utilizando o jornal como suporte de sua obra. Ademais, a primeira de suas Inserções em circuitos ideológicos foi um projeto de transformar ou modificar o espaço do jornal: Clareira. O artista, em janeiro de 1970, 458 Texto retirado da obra Classificados (imóveis-aluguel), flan, 57 x 38 cm, 1969. BRITO, Ronaldo. Antonio Manuel, op. cit., p. 13. 460 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006 (documento inédito). 459 257 compra um espaço no jornal; paga por um anúncio no caderno de classificados do Jornal do Brasil. Meireles apenas escreve: “Área n.o 1. Cildo Meireles 70”. Mas o resultado da obra não o agrada: “Eu deixei o anúncio no Jornal do Brasil na proporção que eu queria, mas sempre o Jornal ‘quer ajudar’, e o nome ‘área’ foi publicado num tamanho enorme [além do fato, do nome do artista ter sido publicado com o nome de ‘Gildo’]”. Cildo Meireles procurava a clareira, uma pequena explosão, camuflada, dentro de um sistema homogêneo: “Eu queria branco. Eu queria ausência de classificado naquele espaço. Isto é a clareira: uma espécie de posse territorial. Você limpa aquela área que você vai ocupar. Mas o projeto acabou não dando certo” jornais, em junho de 1970 462 461 . Meireles ainda realiza uma segunda inserção nos , poucos meses antes do projeto Coca-Cola. Naquele momento, já estava claro para Meireles que aquele caminho não mais interessava; com o projeto Coca-Cola, o artista encontrava as questões que se tornaram centrais em sua trajetória: produção, circulação e controle de informação. “Um jornal, por exemplo, tem uma circulação grande, mas possui um circuito de controle centralizado, ou seja, pouquíssima gente controla significativamente o circuito, e isso não me interessava” 463 .A censura impunha um limite para Meireles e ao mesmo tempo se constituia numa plataforma para a sua invenção irônica: Como poderia falar de alguém que estava preso, desaparecido, torturado ou morto? Se, por exemplo, o rádio e a televisão não estavam conseguindo. Portanto, alguma coisa feita no jornal, estaria automaticamente submetida à mesma censura. Isto era uma coisa limitadora para a idéia do trabalho. Portanto, aparentemente, as Inserções em circuitos ideológicos transmitiam esse tipo de autonomia em relação aos mecanismos de controle. 464 Discutir a ironia como um ato da fala ou da pura visualidade, mas fora de seu quadro de referência político mais amplo é arriscar idealizar a comunicação como uma troca utópica e, assim, minimizar as operações do poder depreciando algo crucial para a 461 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). O conteúdo do anúncio era este: “Áreas. Extensas. Selvagens. Longínquas. Cartas para Cildo Meirelles. Rua Gal. Glicério 445 apt. 1003. Laranjeiras. GB.”. O texto referia-se à Amazônia, segundo Meireles, e o endereço era de um amigo, pois o artista não possuía endereço fixo naquele ano. 463 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). 464 Idem, ibidem. 462 258 complexidade da ironia: o fato de não ser característica dos agentes se engajarem em atos de fala “a partir de pontos de vistas iguais ou conduzirem suas transações em pé de igualdade”. Uma troca comunicativa (ou uma atividade discursiva, em seus vários patamares) é uma forma de atividade social e, assim, envolve relações não só de poder real como também simbólico. De uma certa maneira, se você entende que a ironia pode existir e se você entende como funciona, você já pertence a uma comunidade: aquela baseada no conhecimento da possibilidade e natureza da ironia. Não é que a ironia cria comunidades, então; é que comunidades discursivas tornam a ironia possível em primeiro lugar. Conceito já bastante difundido, arte de guerrilha, pode ser usado como uma tática e não como um conceito morto e muitas vezes desgastado pela própria história da arte. Em artigo denominado Guerrilha cultural, Julio Le Parc questiona o papel de intelectual do artista na sociedade e traz uma discussão interessante para esse momento da história da arte no Brasil. Ao assimilar as novas atitudes, a sociedade apara todas as suas arestas e transforma em hábitos ou em modas tudo aquilo que poderia ter tido um início de agressividade em relação às estruturas existentes. Ora, hoje em dia torna-se ainda mais evidente a necessidade de questionar o papel do artista na sociedade. É preciso adquirir uma lucidez maior e multiplicar as iniciativas na difícil posição daquele que, ao mesmo tempo em que está imerso em uma determinada realidade social, e ao mesmo tempo em que compreende sua situação, tenta tirar partido das possibilidades que se apresentam para produzir mudanças.465 Por meio de uma tática irônica, uma das possíveis vozes que a obra anuncia é que ela trata de fazer com que as pessoas se conscientizem de que o trabalho que se faz seja em nome da cultura, seja em nome da arte, é destinado somente a uma elite (que determina totalmente o que constitui a vida dessa sociedade: política, economia, sociabilidade e cultura). “O esquema por meio do qual essa produção entra em contato com as pessoas é o mesmo sobre o qual se apóia o sistema de dominação” 466 . A produção artística promove um contragolpe nos jornais. O interesse de Manuel e Meireles era reivindicar a presença do artista em espaços públicos, buscando retirar a aura de valor da obra de arte. Interessava-lhe 465 466 FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Org.). Escritos de artistas: anos 60/70, op. cit., p. 199-200. Idem, p. 201. 259 dessacralizar a arte e entrar em contato com o público sem necessitar dos mecanismos do sistema (engessado) de arte. Entretanto, “a ironia é uma violência de comunicação” 467. Ela não se contenta sempre em jogar com os sentidos, não cessa de repetir sua “aposta de morte”. Não é reativa e niilista por isso, mesmo se não permite alternativas de sentido. Ela é a última medida da contingência. Se o relativismo e o consensualismo tornaram-se figuras contemporâneas da coesão das sociedades, não param de sustentar a ilusão de uma compreensão mútua face à incerteza das finalidades. Eis porque a ironia é renegada como a expressão imoral de uma auto-negação do sentido. A ironia não pode nascer de uma ultrapassagem das contradições pelo conhecimento e pela ação, pois ela excede a lógica do raciocínio por uma retórica existencial da insignificância. Busca toda sua força na própria colisão dos contrários. E toda sua soberania lhe vem do desafio inexorável que lança ao poder do sentido. A conivência da certeza se deve então ao fato de que ninguém é bobo e, a partir desta evidência, torna-se preferível rir dela. A ironia é o que se partilha melhor. 467 JEUDY, Henri-Pierre. A ironia da comunicação, op. cit., p. 12. 260 CAPÍTULO 6 PROJETO EXPLOSIVO BRASILEIRO 6.1 Uma nova proposta para o cubo branco Cena 1: O espectador abre uma porta e adentra numa sala escura e coberta com uma camada espessa de talco. Os seus pés afundam. A porta se fecha. Ele retira os sapatos. Tateando as paredes desta sala, ele encontra uma porta. Cena 2: Ao abrir esta porta, ele adentra numa nova câmara – um corredor com aproximadamente 14 metros de extensão por 4 de largura e 3 de altura - tão escura quanto a anterior. Um cheiro de gás, como o utilizado em nossas cozinhas, impregna o ambiente. A camada espessa de talco, com cerca de 30 cm de altura, continua no espaço, dificultando a movimentação do espectador, que caminhando chega ao final do corredor. Encontra uma vela. Uma vela descoberta. Portanto, agora alguma decisão deve ser tomada. Mantenhamo-nos em alerta. Por um momento, estamos confusos entre o que vemos e o que cheiramos; assim como em O sermão da montanha: fiat lux (1973-79), estamos em perigo, porém aqui, ele anuncia-se com mais potência. A cada passo, os seus pés afundam em algo que você não consegue identificar (“é a ausência de chão” 468 ) e o cheiro de “gás” se intensifica. A luz, a certa altura, permite que identifiquemos o que há no chão: cinzas! Vestígios de corpos, restos, 468 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). 261 resíduos (“porquanto és pó e em pó te tornarás”). Significaria a morte, esse enclausuramento cheirando a gás e prestes a explodir? Cildo Meireles ativa um circuito irônico em Volátil 469 e mais do que isso transforma o espectador em sujeito ativo da ação, em elemento de um jogo sarcástico e – por que não? - perverso. A ironia aqui é transformada em tomada de posição, numa articulação entre linguagem e ação, onde a sua vida (metaforicamente) pode depender disto. O modo como o espaço foi esvaziado de qualquer referência tópica parece apenas realçar seu poder sob a forma de uma advertência metafísica: ser ou não ser. Você está dentro de um cubo impregnado com cheiro de gás e defronte a uma vela; agora você, espectador, precisa decidir-se. Il. 30 Cildo Meireles Volátil, 1980-94 Madeira, cinzas, vela, gás natural 300 x 1500 x 400 cm Col. do artista Entre outras coisas, o trabalho recusa entregar-se ao gesto autoritário do conceito que capta, domina e congela. Esse gesto é solidário de uma hierarquia e uma ordem contra as quais o trabalho se insurge. Contra as quais surge. No limite, o trabalho parece murmurar: “A minha essência está no acidente”. O trabalho é “contra os Sólidos, a física dos sólidos, a política dos sólidos. Tudo o que retém a energia, a comunicação, o que retém o fluxo das densidades transformadoras”, como anuncia Ronaldo Brito 470 . Não esperamos uma resposta, salvo em outro nível de alegoria. O perigo fictício da combinatória entre “gás” e vela em Volátil assim como entre uma potência construtiva e fósforos, no caso de Felipe Barbosa, questiona e alucina nossa certeza e confiança no universo dos sólidos. A vítima arquetípica da ironia é o homem, considerado pego em armadilha e submerso no tempo e na matéria, cego, contingente e limitado - e confiantemente inconsciente de que é este o seu dilema. 469 A primeira versão desta obra, mas nunca realizada pelo artista, consistia em utilizar o mesmo aparato arquitetônico e técnico, porém aplicando uma campânula sobre a vela, que também estaria sendo alimentada por oxigênio. Além disso, todas as salas conteriam gás natural e T-burtil-mercapitano. Por motivos de segurança, este projeto nunca foi adiante (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005, documento inédito). 470 BRITO, Ronaldo. Freqüência imodulada. In: MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles, op. cit., p. 8. 262 Existem jogos perigosos no mundo da arte contemporânea: é a instância da ironia em colisão com o lúdico (que combina o nosso “estar” no mundo, a nossa mortalidade), onde quebrar as regras pode ser o limite. O que ultrapassa as regras se alojaria na experiência do sentido, em que o sentimento e a cognição estão unificados. Em Volátil, Bombanel (1970/96), Tiradentes: totem-monumento ao preso político (1970) e O sermão da montanha: fiat lux 471 , todos de Cildo Meireles, e Homem bomba (2002) e as séries Mórula (2001-2005) e Bicho de pelúcia (2003-06) 472 , de Felipe Barbosa, o perigo existe potencialmente nos próprios materiais. 6.2 Perversidade e pólvora As caixas de fósforo empilhadas de O sermão da montanha: fiat lux tinham mais do que a sensação, o potencial de causar uma explosão. “O perigo é um elemento constitutivo dessas obras. Psicologicamente, quando se entra em contato com o perigo, os sentidos se tornam mais alertas: não se vê apenas, mas sente-se, raciocina-se com maior intensidade”473, diz Meireles. Como observa Herkenhoff em ensaio sobre a obra de Meireles, na obra Estojo de geometria (neutralização por oposição e/ou adição), de 1977471 Bombanel é uma peça de metal, em formato de prisma, tendo no seu interior uma pequena quantidade de pólvora. Fiat lux compreende uma área de aproximadamente 60m2, circundada por 8 espelhos, na superfície dos quais estão escritas 8 bem-aventuranças do sermão da montanha. No centro desta área, estão empilhadas 126 mil caixas de fósforos cercadas por 5 atores. O chão é revestido de lixa preta. Tiradentes: totemmonumento ao preso político foi realizado durante a comemoração da Semana da Inconfidência, em Belo Horizonte. Numa área externa ao Palácio das Artes, museu que estava sendo inaugurado naquele momento, Meireles fixou uma estaca de 2,5 metros de altura, sobre um quadrilátero marcado por um pano branco e tendo no topo um termômetro clínico; à este ‘poste’ foram amarradas 10 galinhas vivas, sobre as quais se derramou gasolina e ateou-se fogo. 472 Homem bomba compreende um boneco de aproximadamente 44 x 20 cm, constituído unicamente por ‘bombinhas’ (explosivos com pequeno poder de destruição, caso não sejam usados em grande quantidade). A obra discutida nessa tese é o vídeo Homem bomba (VHS, 10’, 2002), realizado pelo artista, que mostra a queima desse boneco. Bicho de pelúcia é uma série que compreende entre outros: Panda, Teddy bear e Ursa maior. São ursos de pelúcia, que tiveram a sua camada de pelúcia retirada e foram cobertos com estalinhos coloridos. Nessa tese não estaremos abordando nenhum urso em específico, mas o seu conjunto. Mórula são circunferências feitas de palitos de fósforos colados lado a lado formando uma estrutura, que mede aproximadamente 30x30x30 cm. Com formas muito distintas (algumas são muitas semelhantes a bolas de futebol, outras são vazadas), esta série também carrega o fator de uma explosão iminente. 473 HERKENHOFF, Paulo; MOSQUERA, Gerardo; CAMERON, Dan. Cildo Meireles, op. cit., p. 35 (entrevista a Gerardo Mosquera). 263 79, “ocorre exatamente o contrário” 474 : todos os objetos perfurantes – cutelos, pregos e lâminas – são soldados um ao outro, retirando-os de sua capacidade de cortar. Como afirma Meireles, “nessa obra, o perigo está, de certa maneira, domesticado exatamente pelas razões opostas; individualmente cada um daqueles elementos é potencialmente perigoso, mas pela quantidade, pela adição, eles se domesticam” 475. No pôster de divulgação de Fiat Lux, criado por Paulo Venancio Filho, a imagem eram 400 lâminas de barbear sobrepostas e perfuradas por dois pinos, formando uma espécie de cubo. Como frisa Meireles, a ironia é que a obra “desmente esta coisa de que ‘a união faz a força’; na verdade, a união neutraliza. Uma lâmina é perigosa, mas 400 lâminas superpostas não causarão qualquer dano. Era uma negação da situação do fósforo, já que daquela maneira a lâmina não poderia cortar ninguém” 476. Mas existem os seus precedentes históricos no campo da produção artística brasileira. Em 1960, num evento simbólico, Ferreira Gullar propõe a Reinaldo Jardim e Hélio Oiticica, o seguinte: [Devíamos] pegar o nosso objeto e realizar um ato de terrorismo. Vamos invadir a cidade com eles. A gente pega os objetos e solta nas praças, nos jardins, em tudo que é canto, quando amanhecer está lá. Aí começou a realização prática: mas se a gente fizer isto, vai ter que fazer em pedra, porque se fizer em madeira como está sendo feito, vai chover e estragar, então vamos ter que fazer em pedra ou em metal inoxidável. E como botar isso? Então, pensamos em vestir um macacão da prefeitura, porque íamos ter que implantar isto, não podíamos soltar no chão (...) era uma coisa inteiramente maluca, porque era a antecipação de tudo que aconteceu depois. Era arte na rua como acontecimento (...) Então eu estabeleci que existia obra de arte e droga de arte. A droga de arte era o que estava no museu, as estátuas que estão na cidade e a obra de arte é efêmera. Ela nasce para acontecer e desaparecer; passado esse momento ela vira droga de arte. 477 O “compromisso estético” neoconcreto atravessava as paredes do museu, o engajamento fenomenológico e a discussão sobre o novo estado da arte, e chegava às ruas, 474 Idem, p. 53. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2006 (documento inédito). 476 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). 477 GULLAR, Ferreira. Depoimento. In: COCCHIARALE, Fernando; GEIGER, Anna Bella. Abstracionismo geométrico e informal: a vanguarda brasileira nos anos 50. Rio de Janeiro: Funarte, 1987, p. 97. 475 264 com uma radicalidade exacerbada, para aquela época. O neoconcretismo era muito mais do que se podia imaginar, ou o que Gullar imaginava que fosse. E para evitar que a obra se transformasse em “droga de arte”, Gullar fez a seguinte proposta “curatorial” para uma exposição neoconcreta: Nós anunciaríamos a exposição neoconcreta com vernissage às cinco da tarde e encerramento às seis. Então colocaríamos um dispositivo em cada uma das obras, e um detonador único num canto do vernissage. Quando marcasse seis horas, a exposição detonaria e tudo explodiria. Oiticica disse: ‘Pô, mas eu não vou destruir minhas obras não!’ No fundo era a expressão do impasse, ao qual eu queria dar a solução possível. Daí o Oiticica suou muito, vacilou mas disse: ‘Não, eu não faço esse negócio’. 478 O impasse era dado. A participação do espectador dentro do “projeto” neoconcreto chega ao limite 479. Numa indagação – prática – tanto sobre os limites dessa participação do espectador na concepção da obra (até onde esse “corpo como motor da obra” poderia ir?) quanto uma crítica ao sistema vigente, Gullar propunha uma ação que confirmava o isolamento e a dificuldade de encontrar uma saída para a veiculação dos neoconcretos. A ironia é que Oiticica acabará sendo um dos primeiros artistas brasileiros a utilizar o fogo como elemento da obra. Em Bólide lata: apropriação 2, consumitivo (1966), o artista dispõe uma série de latas, iguais às usadas para armazenar tinta, numa semi-estrutura retilínea. Ateando querosene e em seguida fósforo, concebe a “luz”. Os registros desse trabalho foram todos feitos à noite, quando a intensidade do fogo torna a proposição ainda mais chocante, além disso é fundamental salientar que Oiticica inspira-se nos barris 478 Idem, ibidem. Ainda em 1960, promovendo este limite do neoconcretismo, mais uma vez com uma ferramenta/ação irônica, Gullar executará o Poema enterrado. Essa obra consistia-se de uma sala subterrânea, construída no quintal da casa de Hélio Oiticica, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. O espectador-leitor descia uma escada, com altura de 3 metros, e encontrava uma porta. Abrindo a porta, deparava-se com uma antesala. Ao passar por essa ante-sala, o espectador encontrava-se numa nova sala – ou num cubo - de 2 x 2 metros que continha, no seu centro, um cubo vermelho de 50 x 50 cm. Suspendendo esse cubo, deparávamos com outro, de cor verde, medindo 30 x 30 cm. Levantando esse cubo, havia um cubo branco, medindo 15 x 15 cm. Ao levantar esse cubo, sob a face pousada no chão, lia-se a palavra “rejuvenesça”. O poema nunca pôde ser “lido”, ou melhor, experimentado (“este objeto, que é apenas movimento manual, mas também do próprio corpo, porque a pessoa entra no poema”, cf. GULLAR, Ferreira. Depoimento. In: COCCHIARALE, Fernando; GEIGER, Anna Bella. Abstracionismo geométrico e informal: a vanguarda brasileira nos anos 50, op. cit., p. 98) pelo público, visto que uma inundação, provocada por fortes chuvas, alagou a sala e destruiu os cubos. 479 265 incandescentes que são postos no asfalto, à noite, para sinalizar aos motoristas a ocorrência de uma obra ou construção naquele espaço 480 . Esse mecanismo de produção e exposição do fogo nas artes visuais traça um diálogo na história da arte com as pinturas de fogo de Yves Klein quando o artista faz uso do maçarico sobre a tela criando um novo meio de apropriação/produção/suporte e finalmente elemento nas artes: a combustão. Nesse sentido, o projeto explosivo brasileiro encontra seus pares (guardadas as devidas leituras ou recortes políticos e contextos) na obra de Tinguely, quando este realiza Homage to New York (1960) 481 ou Study for an end of the world no 2 (1962), onde expõe um conjunto de suas “máquinas inúteis” – carrinhos de supermercado, tanques d’água e outros acessórios recheadas de explosivos, no deserto de Nevada, local onde o exército americano realizava seus testes nucleares. Mais uma vez a obra se auto-extermina, agora diante dos olhos de milhares de telespectadores. Isso mesmo! O evento foi comprado e transmitido em rede nacional pelo canal norte-americano NBC. O fim do mundo sendo assistido por nós, mortais, sentados em nossos sofás, já completamente desconfortados e perguntando uns aos outros: “Quem ou o quê é o objeto dessa piada? Qual é realmente a mensagem disso tudo?”. No final das contas, houve um artista que foi pago pela televisão para promover, supostamente, entretenimento. Soma-se a esse grupo, as explosões, realizadas por Dennis Oppenheim em 1977, com dinamite em Montana (Estados Unidos), buscando produzir crateras com tamanhos e espaços semelhantes entre elas, ou ainda Chris Burden quando em 1972 bloqueia a estrada com duas cruzes encharcadas de gasolina e ardendo em chamas. Os exemplos são vários (apesar de que nem todos possuem um alto grau de potência irônica em seu conceito) e por isto mesmo não vamos nos estender. Entretanto, Homem bomba, Bicho de pelúcia e Bombanel não deixam espaço para a hesitação. A aparente singeleza de um boneco construído com fósforos é desmistificada com o seu acendimento. Tal como a inocência de um urso de pelúcia e a pólvora sendo transportada dentro de um anel podem ser um fator de perigo para o espectador mais afoito. 480 Cf. OITICICA, Hélio. Parangolé, da antiarte às apropriações ambientais de Oiticica, Rio de Janeiro, Revista GAM, n. 6, mai. 1967. 481 Performance realizada nos jardins de escultura do Museum of Modern Art, New York, onde o artista, em colaboração com Billy Klüver e Robert Rauschenberg, produziu uma máquina autodestrutiva que durante 20 minutos realizou uma série de movimentos para, ao final, explodir. O público, então, avançou sobre os pedaços que sobraram da obra e os levaram como se fossem souvenires. 266 É o “projeto explosivo brasileiro” tomando o lugar da inocência construtiva ou de uma geometria sensível que finalmente identifica limites em sua exploração. Essas situações ‘explosivas’ não interessam enquanto forma, organismo, mas como possibilidade, expectativa, imprevisibilidade. Essas obras conseguem subverter a ordem dos fatores e aliam perversidade e sedução no mesmo objeto. São situações incômodas que põem o espectador numa situação de escolha: as aparências definitivamente enganam. Possuem uma violência, mas estão sob controle... Pelo menos por enquanto: “Estou fazendo uns maiores [o artista refere-se ao trabalho Homem bomba] com morteiro. Desde o inicio da série, quis fazer com as bombinhas e com toda a linha de morteiros: 1, 3 e 12 tiros. Aí, é sério”. O artista faz o alerta, reconhece que há limites, encontra as fronteiras que delimitam este tipo de trabalho: “Se eu continuar com essa idéia é risco de morte! Tudo tem um limite. Se você [o artista faz um aviso aos colecionadores] quiser o homem com 12 tiros, eu faço, mas não o deixarei na minha casa. O risco é seu” 482 . Citando Bombanel, Cildo Meireles argumenta com certa crueldade e gracejo infantil: Essa obra faz parte da série Condensados (1970). Uma série de miniaturas de antigos trabalhos [da série Arte física]. Essa é a miniatura de um barril de petróleo em forma de anel. Ela tem o vidro como uma lente, que converge a luz solar para um determinado foco. Depois, mais duas camadas de vidro e finalmente, em sua base, pólvora. A distância focal dessa lente está direcionada para a pólvora. E o artista continua relatando a sua obra: “É como uma brincadeira de criança: o menino brinca com a lente e a folha de papel, que depois de alguns minutos, queima com a luz do sol; então, se você ficar com esse anel ao sol, durante algumas horas, ele... explode!” 483 . Meireles produziu uma série de múltiplos para o Bombanel, seu desejo era que a pólvora se espalhasse. Como anuncia o artista em seu depoimento, os Condensados, “de certa maneira, antecedem as Inserções em circuitos ideológicos, porque adiciono o elemento da ironia, e nesse sentido o Bombanel é exemplar: de ser uma jóia que é um objeto de arte, e um objeto de arte cuja forma assemelha-se a uma jóia” 482 484 . Nesse sentido, Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2006 (documento inédito). Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). 484 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007 (documento inédito). 483 267 na relutância em ser jóia, a pólvora funciona como uma ironia ao maior dos desejos do capitalismo: a acumulação de riquezas e sua ostentação. Dessa forma, porque não ostentar um barril de petróleo, símbolo máximo do capital? Acontece que aos mais desavisados, está camuflado naquele microcosmo o sarcasmo: o barril é de pólvora, e não de petróleo, e o seu potencial de explosão é latente. Bombanel faz a sua inserção em sistemas da vida mundana; é uma pequena sabotagem que se movimenta pela própria manutenção desses circuitos ideológicos, assim como as garrafas de Coca-Cola. Meireles revela o pensamento por trás da obra: “Acho que as coisas ficam muito explícitas para mim através da relação de paradoxo entre os objetos, entre tese e antítese; eu sempre tento procurar essa síntese hipotética” 485. Entretanto, a questão do fogo em Cildo Meireles tem seus antecedentes em Cruzeiro do sul (1969-70). Nessa obra, o potencial de explosão encontrava-se sublimado. Formado por um cubo de 9 mm de diâmetro, produzido em carvalho e pinho – madeiras sagradas para os índios Tupis, devido ao fato de gerarem fogo, quando postas em atrito, e, de acordo com a tradição indígena, evocarem o divino, o deus Tupã –, é exibido, seguindo o desejo do artista, numa área mínima de 200 m2. Mais um cubo dentro de cubo, assim como Fiat lux e Volátil. Um cubo que guarda as chamas, mas é potencializado pelo próprio espaço (da galeria) que reduz o seu tamanho. Inversões de escala, contra-sensos na potência. Mas é em Cruzeiro do sul que a idéia da explosão em Meireles encontra o seu estágio inicial e o conceito prático para o alargamento da idéia de condensação que estará presente nas futuras obras explosivas desse artista (o gás em Volátil e o cubo de caixas de fósforos em Fiat Lux). Como observa Meireles em depoimento ao autor em 18 de junho de 2007: “Para explodir, você, primeiro, tem que compactar, condensar, reprimir. Enfim, você tem que pressionar. Mas a idéia é toda esta: de condensar e levar o exterior para o centro”. É em Cruzeiro do sul, que a idéia de explosão está mais radicalmente arraigada, embora não possamos ver isso como nossos olhos. Semanticamente, Cruzeiro do sul leva o minimalismo às últimas conseqüências; estruturalmente é uma contradição frente às obras em grande escala de Judd ou Morris; e, materialmente, estabelece sua fronteira (orgânica) com os pares americanos. Todo esse ambiente delimita as fronteiras do circuito irônico da obra de Meireles: o relativamente 485 Idem, ibidem. 268 imenso espaço vazio que abriga Cruzeiro do sul indica o tamanho da força simbólica que um objeto mísero pode potencialmente gerar. Cruzeiro do sul representa a materialização dessa cosmogonia, como observa Meireles nessa mesma entrevista: “Interessava-me que a obra ficasse a mais oculta e condensada possível e caminhasse na direção do quase desaparecimento físico”. Como afirma o artista nessa entrevista ao autor, é imposto um “humiliminimalismo” (neologismo para as palavras “humilde” e “minimalismo”): um confronto entre o minimalismo que diz “eu sou o que você vê”, uma arte objetiva, concreta e que não representa ilusões ao olhar do espectador (ainda segundo Meireles, nessa mesma entrevista, “a perversidade do minimalismo é essa: o Il. 31 Cildo Meireles Cruzeiro do sul, 1969-70 Cubo de madeira, sendo uma seção de pinho e outra de carvalho 9 x 9 x 9 mm Col. do artista minimalismo é apenas parte da história, e portanto nunca irá resumir nem a diversidade do mundo nem esse minimalismo em si, do real”) e uma produção subjetiva, portadora de um romantismo e carregada da cosmogonia dos índios. Portanto, Cruzeiro do sul tem essa audácia, lida com alegorias, pretensões e significados (assim como Ouro e paus e Fio, que também estabelecem uma espécie de perversão minimalista e ao mesmo tempo delimitam o seu campo de ação dentro da minimal art). E é um cubo, e além do mais é mínimo. Chegamos, portanto ao cerne da obra de Meireles: escalas e densidades. Escalas que também estarão presentes nas Inserções em circuitos ideológicos: projeto Coca-Cola, onde um indivíduo coloca-se ou mede-se a si mesmo frente às percebidas estruturas da economia e do Estado. Como disserta o artista, “a contribuição de cada inserção individual é secundária em comparação com a escala potencial da obra. Na ocasião, estava muito contente com o projeto porque era ao menos factível, ainda que levantasse a questão da desproporção” 486. A geometria passa a se tornar coisa, uma entidade material, mas aliada a uma perversidade 486 487 . Sua escala não se restringe exclusivamente a uma projeção intelectual BRETT, Guy. O sensório como forma de conhecimento. In: _______. Brasil experimental: arte/vida, proposições e paradoxos, op. cit., p. 189. 487 Cf. BUENO, Guilherme. Progressões geométricas ou construtivismo low profile. In: BARBOSA, Felipe. Felipe Barbosa. Rio de Janeiro: Galeria Arte em Dobro, 2006. 269 sobre o mundo, mas remete-se direta e simultaneamente ao dado físico do sujeito que usufrui elementos tão corriqueiros quanto palitos de fósforos, estalinhos, anéis ou brinquedos. No caso de Barbosa, um aspecto ao qual seus trabalhos colocam dizem respeito a sua construção e por conseguinte o seu limite, como afirma o artista: “Em Homem bomba, queria testar o limite desse objeto, porque o que me interessa, a princípio, nesta obra é uma certa latência, uma iminência, um perigo. Eu gosto da idéia de um mero gesto poder diluir toda aquela estrutura complexa que elaborei” 488 . A aparente precariedade destas estruturas acaba por dar continuidade, mesmo não sendo sua intenção primordial, a um deslocamento já anunciado pelas vanguardas construtivas brasileiras: a invenção, como elemento simultâneo de apropriação e desapropriação de elementos e técnicas corriqueiras do nosso dia-a-dia 489 . É importante deixar claro que as obras abordadas nesse capítulo aliaram uma identidade irônica (em alguns casos identificáveis por este autor como embates ao paradigmático projeto construtivo brasileiro490) a uma malícia, conjugada na pólvora, e por isso mesmo levada a limites extremos. Neste sentido, o grupo de trabalhos de Felipe Barbosa (domado por uma singular vontade construtiva) evita o emprego de elementos em estado bruto, preferindo tomar, como matéria de suas construções, um conjunto de objetos que já tenham finalidade ordinária e definida: em vez de plástico, alumínio e tecido, é da reunião de fósforos, estalinhos, madeira e pregos que faz os seus trabalhos. Como observa Moacir dos Anjos, “se tal procedimento, por um lado, limita a variedade das construções por ele criadas, permite que investigue os atributos formais que, a despeito de suas marcadas diferenças de uso, os objetos partilham” 491. A operação construtiva é quase sempre a mesma: um número variável de objetos idênticos é unido (com cola, fita adesiva ou qualquer outro meio de adição) de modo a formar um volume em torno de um núcleo virtual e que exerce sobre eles uma força centrípeta. Centenas de palitos de fósforo, por sua vez, são juntados lado a lado, constituindo uma esfera cuja superfície é toda feita de cabeças de pólvora expostas ao risco 488 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2006 (documento inédito). Como o tecido nos Parangolés (1964-68) de Oiticica, a terra nos Bólides (1963-64) ou o alumínio nos Bichos (1960-64). 490 O título desse capítulo é uma provocação à exposição (e livro) organizada por Aracy Amaral chamada Projeto construtivo brasileiro na arte: 1950-1962. 491 ANJOS, Moacir dos. Felipe Barbosa. In: BARBOSA, Felipe. Felipe Barbosa, op. cit. 489 270 da combustão violenta. Compreensível mesmo pelo olhar distraído, esse método demonstra como as coisas que possuem uma função definida no mundo podem, quando agrupadas de uma dada maneira, constituir objetos inteiramente distintos.492 Mórula e Bicho de pelúcia lidam com o estabelecimento de um “fato”. Inicialmente ocorre uma reversão contundente que anuncia uma das potências irônicas dessas obras: da banalidade dessa geometria emergente, uma série de desdobramentos são provocados. São elementos cotidianos (palito de fósforos e estalinhos) que são retirados de uma situação já esperada para serem transformados, serializados, em objetos de caráter afável, numa primeira aproximação, mas perigosos, se uma tentativa mais audaciosa for feita. Um exame mais próximo do objeto alerta para aquilo que os olhos estão enganando. São, definitivamente, banais porque “estão” no mundo como qualquer outro objeto, sua presença é mundana. O artista lida com a cultura da acumulação, de um certo excesso e ao mesmo tempo desperdício das coisas: são fragmentos que habitam o universo das sobras e dos esquecimentos. É a situação de “resíduo” e “repetição” destes materiais que o atrai e a possibilidade de trabalhá-los ou reapresentá-los como matéria do cotidiano. De um cotidiano, digamos, perverso. A ironia e a referência ao fim de um “projeto construtivo” presentes, tanto na aglomeração e orquestração dos materiais agregados ao boneco de Homem bomba quanto na sua queima, acabam permeando a ação, já que o “projeto explosivo” acaba tomando direções que não haviam sido problematizadas pelo artista: o lado irônico é acentuado no descontentamento da vizinha ao quintal em que é feita a explosão do boneco. A impaciência e a raiva com o estouro do boneco revelam uma situação tão desconfortável (e explosiva) quanto o próprio ato em si. Examinando espaços e processos de comunicação, as condições de espectador e autoria, o jogo de aparências de Barbosa põe em questão situações que vão da política a estratégias que questionam a questão da ética na arte. Barbosa explica como o acaso tornou-se parte do trabalho: Foi uma atitude inconseqüente. O vídeo apenas registraria a explosão do boneco. Mas a reação [da vizinha] foi importante: a obra tornou-se real, saiu do campo artístico. Não foi uma atitude proposital [de gerir a raiva na vizinhança que circundava a área em que foi feita a explosão], mas também não tenho como 492 Idem, ibidem. 271 negar que a reação foi um ganho; a simples explosão poderia se tornar uma atitude banal. 493 A precariedade da produção do vídeo (a câmera tremida, a filmagem em VHS, algumas seqüências foras de foco) também o torna mais próximo do real: conjunga “anominato” e “surpresa”. Por “anominato” entende-se o surgimento de um trabalho que não é um produto nem individual nem divisível, mas uma confluência (ao invés de simples somatório) de experiências. Convergência e expansão. “Poderia ter feito um vídeo mais produzido e ter contratado um ator para gritar, mas prefiro o real. Se eu fizesse isso, as pessoas ficariam na dúvida se aquilo era realidade ou não, porém, no modo como Homem bomba foi produzido, fica evidente que aquilo aconteceu ao acaso”, narra o artista em depoimento concedido ao autor. Não se trata, portanto, de uma adição de saberes técnicos especializados, mas trata-se de uma proposição de situações, mais do que construção de objetos, que se organizam segundo a possibilidade do que podemos chamar de uma expansão poética. Ou seja, é o trabalho de um “terceiro autor”, estabelecido conforme uma lógica que incorpora elementos de seus respectivos interesses individuais e gera outros tantos novos e comuns a partir daquilo a que ele objetivamente se oferece a enfrentar. Isso não deve causar surpresa: é inerente ao processo artístico colocar em crise os dogmas, seja isso mediante sua simples manifestação ou através de ironia, de referências sarcásticas ou o grotesco. Acaba instaurando a relação arte-corpo como um contato direto entre emissor e receptor. É a instituição do aqui-agora. No espaço da arte, o espectador não sabe o que vai ver e, mais do que isso, talvez nem esteja familiarizado com o tipo de manifestação a que assiste ou participa. Como afirma Felipe Barbosa em entrevista ao autor: O título do trabalho, muitas vezes, é um dado, que pode transmitir confusão, mas ao mesmo tempo funciona como uma muleta do próprio trabalho. Ele faz parte de alguma maneira do trabalho. O Homem bomba é um dos casos em que isto acontece. Quando você transforma os materiais empregados naquela obra num homem bomba, você o remete a um universo imenso. O que é quase um contrasenso ao tamanho ridículo e inofensivo da obra, mas que na realidade está longe 493 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2006 (documento inédito). 272 de ser. É essa potencialidade que me interessa. O mero gesto [de acender as bombas] que dilui toda uma estrutura. Colocado o problema da recepção, vem o questionamento sobre a auto-suficiência da arte e o papel do artista, que mesmo que produza para seu próprio prazer, está situado na estrutura de uma formação cultural que o obriga a pensar no consumo de sua obra. O estranhamento, desconforto e incômodo passam a ser uma intenção, um fim em determinadas obras do panorama contemporâneo da arte. O espelho de si agora carece de vidro: o drama real é aquele que se desenvolve frente ao espectador, é esta a base de numerosos processos de transferência que causam a ruptura com a imagem prévia de si próprio que cada ser possui. Nesse sentido, a ironia se apresenta como uma entidade distinta, animada por uma energia independente e hostil: ela não pára de ser voltar contra o próprio assunto. Segundo Starobinski, “se tornar espelho é se reduzir a nada mais ser que superfície pensante: a consciência muda em espelho experimenta a reflexão no modo passivo” 494 . “Armadilha de cristal”, “espelho vivificante”, é na sua manifestação melancólica que a ironia vem de um desvio de si mesma. Baudelaire escreve na seqüência de seu poema: “Eu sou a vítima e o algoz” 495 . A consciência do mal levado ao absoluto acarreta a negação de toda alternativa, a conjunção entre os contrários impõe uma figura fatal da irreversibilidade. Quando Starobinski fala de uma “despersonalização provocada pela ironia personificada”, dá a entender que a ironia é mais poderosa que o objeto; ele lhe atribui um papel quase metafísico como se pudesse decidir o destino dos homens e seu comportamento. A conjunção dos contrários suprime toda alternativa. A partir daí, a ironia nunca é libertadora. Felipe Barbosa ressalta a questão da recepção dos seus trabalhos [notadamente a série Bicho de pelúcia e o vídeo Homem bomba] no exterior. Ao contrário da reação quase sempre bem humorada do público brasileiro e a facilidade de compra desses fogos no país (o que banaliza a sua ação), o espectador europeu e americano não tem a mesma atitude: Eles entendem como sendo uma coisa de mau gosto. Não é uma ação bem vista, [porque] é uma questão [a bomba ou a iminente explosão de algo por grupos 494 STAROBINSKI, Jean. La mélancolie ao miroir: conferénces, essasi et leçons du Collége de France. Paris: Julliard, 1989, p. 35. 495 Cf. BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. 7 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 273 terroristas] que eles vivem diretamente, o que acaba provocando tensão e incômodo no espectador. Você está definitivamente tocando nas feridas nacionais. 496 Nesse momento, a ironia não é sarcástica nem zomba de algo; não é ficção, verdade ou mentira, mas passa a ser ruído e conseqüentemente alarga fronteiras do seu entendimento. 6.3 Reinventando lugares: o papel do artista dentro do projeto explosivo Neste ponto os trabalhos de Meireles e Barbosa se tocam novamente. Até onde caminham os limites dessa ética? Enquanto algumas culturas entendem essas obras como perversão, outras apenas riem da situação que beira o absurdo. Seria um problema de comunicação? De imediato devemos pensar sobre o lugar da arte na contemporaneidade. Ainda que precipitado, podemos responder da seguinte forma: o lugar da arte é o espaço. Neste caso, não só pensando-a como suporte – ainda que nestes trabalhos seja um dado relevante – mas, historicamente, ela seria o seu local por experiência. Espaço de trânsito, espaço de confluência entre espectador/obra/artista. Não existe em definitivo o “espaço”, mas provocações, rompimentos, táticas contra atitudes esgotadas. Situaçõeslimite. Mais do que a ética, contudo, o artista pode ser vítima de leis ou da própria cultura de determinado local, como observaremos nos exemplos a seguir. Primeiro, damos a palavra à Felipe Barbosa: “Nunca expus Homem bomba fora do país, não só por questões curatoriais, mas porque, por exemplo, nos Estados Unidos nenhum trabalho com fósforo, estalinho ou bombinha passa pela alfândega. Então, a ética, nesse caso, é circunscrita pela cultura onde ela está aplicada”, relata o artista em depoimento ao autor. Em 1970, durante a inauguração do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, Cildo Meireles erigiu Tiradentes: totem-monumento ao preso político, na semana da Inconfidência. Ao empregar o tema da violência como conceito e aludir à situação nacional 496 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2006 (documento inédito). 274 de repressão política, o gesto aterrorizante de imolação das galinhas vivas em meio ao entulho instala um mal-estar no sistema de arte. O poste alude ao totem, como à trave da forca de Tiradentes 497 . Como disserta Meireles, “a matéria-prima dessa obra é a morte. Mas, evidentemente, sempre por metáfora, ela acaba voltando à vida: a este mesmo estado desse material do qual ele é finalmente feito, anterior ao que você vê como registro. Quer dizer, o que está ali morto, estava vivo”. E continua o artista: “E está ‘sendo vivo’ por meio de pessoas que, naquele momento, estão vivas” 498. O totem-monumento de Meireles identifica seres humanos e selvageria e põe em circulação noções de sacrifício; Tiradentes, no imaginário brasileiro, representa uma visão arquetípica do corpo esquartejado pela violência política, e é assim que o artista o retratou. Representa, também, os corpos mutilados daqueles que, muitas vezes injustificadamente, foram executados como traidores. Em entrevista ao crítico Frederico Morais, o artista fala sobre a relação entre matéria e símbolo neste trabalho: “O que eu queria afirmar é que já havia, no repertório pessoal e geracional, a possibilidade de ficar à beira desse limite – a queima de galinhas vivas. As coisas são ao mesmo tempo, matéria e símbolo” 499. E onde fica a ética do artista, Cildo? Você pode fazer qualquer coisa desde que você assuma. Desde que você não queira engajar este projeto como se fosse um desejo da coletividade. Você deve assumir a responsabilidade individual. É o que o artista faz. Você é responsável pelos seus atos. É um problema de moral e não de ética. 500 Mesmo com o contexto científico e técnico em plena mudança, o que não se altera é o sistema da moral. Mesmo se o destino da humanidade está cada vez mais nas mãos dos homens, o apelo a uma maior responsabilidade não permite criar novos valores. Mesmo que ela responda ao desafio de uma racionalidade objetiva e que tome o nome de ética, a moral permanece antes de tudo a expressão de uma vontade normativa. Graças à ética, o senso da coletividade parece se reconstruir sobre angústias de um individualismo doente de seu 497 Cf. HERKENHOFF, Paulo; MOSQUERA, Gerardo; CAMERON, Dan. Cildo Meireles, op. cit, p. 62. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006 (documento inédito). 499 MORAIS, Frederico. Cildo Meireles: algum desenho (1963-2005). Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2005, p. 64-66. 500 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). 498 275 próprio isolamento. A demonstração pública do respeito das normas é mais que um simples meio de se desculpar; ela assinala como o indivíduo deve se comportar como um cidadão capaz de compreender o sentido da necessidade normativa para o bem de todos. Em suma, como um indivíduo responsável. Idealmente, não se trataria mais de moralização, mas do desenvolvimento pedagógico de nossa racionalidade coletiva. A ética seria o meio de ultrapassar a moral e não de experimentá-la como um sentimento. Neste momento, cabe descrever a primeira reação que Cildo Meireles recebeu do seu trabalho. Uma reação surpreendente, como conta o artista: Tiradentes aconteceu durante o vernissage de inauguração do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Estava do lado de fora do vernissage e observei que havia uma parede de vidro que dava para uma rampa, para um terreno, que tinha restos de pedras da construção, porque estava tudo estava recém-feito. Desci e fui nesse terreno. Logo em seguida, pus fogo nas galinhas nesse espaço e saí por esta rampa, que era no mesmo plano do local de exposição. Subo a rampa e fico observando o trabalho de cima, quando chega ao meu encontro um rapaz e me pergunta se era eu, o artista. Eu respondo que sim. Ele então me cumprimenta e se apresenta: era o presidente da seção de Minas Gerais da Sociedade Protetora dos Animais. Isto foi ótimo ter acontecido, porque o meu medo era justamente receber críticas deste meio. Ele havia compreendido o discurso que seria: ‘não é uma hipocrisia se perguntar sobre queima de galinhas enquanto se está esquartejando jovens por causa de idéias?’. 501 Em lugar de condenar “moralmente” a violência, esta categoria em Tiradentes é representada com tal radicalismo e intensidade que se torna igualmente intolerável para o espectador (mas há espaço para as surpresas, como vimos no relato acima). Cildo Meireles deixa a mostra as contradições de um Estado centralizador que carrega este legado durante várias gerações. Este trabalho exacerba, quase “gritando”, a repercussão desta apresentação da chacina do inocente. Porém, o Estado, órgão fiscalizador e protetor dos cidadãos, não admite tal demonstração de impetuosidade, ou estaríamos enganados? Meireles responde nesse mesma entrevista concedida ao autor: 501 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2006 (documento inédito). 276 No dia seguinte, à realização de Tiradentes, houve um almoço solene. Era dia de Tiradentes. O governo, naquele dia, havia sido transferido simbolicamente de Brasília para Ouro Preto. Estavam lá o ditador do dia, todos os políticos e congressistas adesistas. Segundo o artigo do jornalista Morgan Mota (publicado num jornal mineiro), um deputado, durante o almoço, fez um discurso atacando a exposição e, sobretudo ‘este trabalho que queimava as galinhas’. Mas o curioso é que o jornalista termina o artigo, afirmando: ‘E terminados os discursos, foi servido o almoço: frango ao molho pardo’. Em todo este “projeto explosivo brasileiro” 502 , há uma constante manifestação de tensão e torção – seja no âmbito da estética, percepção e ciência. Centrando-se em nossa experiência desses diferentes ramos do conhecimento, o “projeto” visa gerar novos significados por meio do reconhecimento dos limites e a falibilidade desses sistemas de compreensão. As obras de Cildo Meireles e Felipe Barbosa poderiam ser descritas como uma teoria poética da sociedade. Colocam questões de vão da política a ideais e estratégias. Examinam espaços e processos de comunicação, as condições do espectador, os legados da história da arte e as fragilidades, limites e medos do homem moderno. Podem incorporar gestos, fogo, espaço, coisas, circuitos sociais, acumulação, potência, linguagem construtiva, energia, explosão. Neste momento, Meireles examina Fiat lux: Eu lido diretamente com a pólvora. Você pode entrar em qualquer boteco e comprar fósforo. E por que não comprar 126 mil caixas? Criar uma situação de perigo através de um procedimento legal? Você não está cometendo nenhum crime, mas exercendo um direito de consumidor. Esta é a lógica perversa do sistema. É uma lógica que é o seguinte: ela é improvável, mas não é impossível; ela pertence ao reino das possibilidades. A explosão poderia matar todos que estivessem na galeria. O perigo era evidente. 503 502 O presente termo foi criado pelo autor. De modo algum, Hélio Oiticica, Cildo Meireles, Ronald Duarte e Felipe Barbosa são os únicos artistas visuais brasileiros que lidam com materiais explosivos. Esta seleção foi feita porque além de todos lidarem com materiais que podem entrar em combustão, possuem uma linguagem derivada do construtivismo e do neoconcretismo (e esta é umas ironias que o texto traz: a contraposição entre a linguagem sensível do neoconcretismo e a sua herança, que nas mãos de Meireles, Duarte e Barbosa se transformaram em elementos “nocivos”). Além do fato, de registrar a continuidade desta linguagem através de gerações. 503 Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). Essa mesma “lógica” pode ser usada na obra Desvio para o vermelho, quando o artista concentra um grande número de objetos com tonalidade vermelha. 277 A grande ironia é que Cildo Meireles nem precisou comprar as caixas de fósforo, elas foram dadas pela própria fábrica. O artista entrou em contato com o diretor de relações públicas da fábrica Fiat Lux. Este, quando tomou ciência do projeto (Meireles, em tom sarcástico, afirma que “o diretor [que era um coronel reformado] já estava sentindo que a ditadura estava desmoronando” 504 ), argumentou que a primeira coisa a ser feita por Meireles era ele ir à fábrica. De crachá no peito, o artista conhece a fábrica e fica entusiasmado com o método operacional. O “patrocínio” sai logo depois. Porém, dias antes de concretizar o acordo, algo sai errado. Cildo Meireles entrega o pôster da exposição, que também funcionava como convite, para o diretor da Fiat Lux. O pôster continha a imagem de 400 lâminas de barbear superpostas e a legenda: “A união faz a força”. Porém, a marca “gillete” estava exposta nas lâminas. O coronel se recusa a fornecer as caixas de fósforo. Com a palavra, o artista: Havia entregado o pôster ao coronel e já estava no elevador, quando a secretária dele veio me chamar, dizendo que o coronel precisava falar comigo porque uma coisa muito grave tinha acontecido. A secretária havia alertado ao diretor que o pôster era espionagem industrial e sabotagem. Quando encontro novamente o diretor, ele me diz que a empresa não poderia patrocinar porque era o próprio cargo dele que estava em jogo assim como o nome da Fiat Lux; isto porque a empresa estava lançando no mercado, lâminas de barbear. Eu e meus amigos passamos a noite apagando com spray o nome “gillete”. Portanto, cada pôster, tornou-se personalizado. Finalizado o processo, voltei ao escritório do coronel e perguntei se os novos pôsteres o satisfaziam. Ele respondeu positivamente e finalmente, as caixas de fósforos chegaram ao Centro Cultural Candido Mendes, como combinado.505 Em função deste panorama, observamos que a interação entre os espaços da arte e da política é complexa e porosa, existindo pequenas possibilidades de enunciar um discurso crítico que transite entre esses espaços sem afirmar apenas um de seus pólos. É nesse contexto que Fiat lux (expressão encontrada no Livro I de Gênesis, onde é descrita a criação do mundo, a terra onde habitavam as trevas; e para que isso tivesse um fim, “disse 504 505 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de julho de 2007 (documento inédito). 278 Deus: Haja luz; e houve luz”) busca ampliar a percepção pública de uma das mais importantes questões da agenda da política cultural atual sem se tornar, por isso, instrumento de propaganda rasa. Ao se estabelecer numa galeria de arte, os fósforos percorriam a um só tempo e sem distinção alguma, o circuito da arte, o da circulação de mercadorias e o de manifestações políticas e religiosas. Paradoxalmente, era só assim (materialmente predisposto à destruição), que ele adquiria poder simbólico. Como o artista anuncia em entrevista ao autor em 02 de julho de 2007: Eu queria retirar as muletas psicológicas. O espaço de arte cria uma espécie de território seguro para uma experiência: você está dentro de um museu e, portanto estará sempre coberto por um manto da certeza de que está seguro. Mas há sempre os desvios, e é nisto que estou interessado. Nesta obra, as caixas de fósforo formam um cubo no centro da galeria. O cubo branco sendo ocupado por outro cubo, prestes a entrar em chamas. “Menos como uma situação de crítica” ao circuito ou um ligeiro deboche que possa ser entendido como algo passageiro, ou ainda simplesmente como mais uma obra que confronta a instituição, e “mais como prática”, Il. 32 Cildo Meireles O sermão da montanha: Fiat Lux, 1973-79 126.000 caixas de fósforo Fiat Lux, 8 espelhos, lixa preta, 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha (Mateus V, 3-10), 5 atores 64 m2 e duração de 24 horas Documentação fotográfica da ação no Centro Cultural Candido Mendes, Rio de Janeiro, 1979 como algo remanescente daquela “violência” que encontramos em Sganzerla ou Antonio Manuel ou mesmo em Zilio. Essa escultura inflamável é circundada por atores vestidos de agentes de segurança, com aspecto de gangsteres, com mãos em posições suspeitas por dentro de seus paletós (como se a qualquer momento pudessem retirar uma arma), que 279 “protegem” as caixas de fósforos dos espectadores. Ao redor do cubo, oito espelhos com as bem-aventuranças em suas superfícies 506 . O cubo da galeria da Candido Mendes, em Ipanema, bairro do Rio de Janeiro, era a terceira tentativa de realização do projeto. A primeira foi na galeria do marchand Fernando Millan, em São Paulo, “mas dias antes da inauguração, ele mudou de idéia; aí, eu não fiz” 507 . Depois, Meireles apresentou o projeto ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O museu aceitou e a exposição ocorreria em setembro de 1978, mas em julho de 1978, acontece (numa mistura de ironia, tragédia e comicidade, se colocarmos lado a lado o conceito da obra e o fato) o incêndio no MAM, que destrói grande parte do acervo, e inviabiliza qualquer exposição. Finalmente, em 1979, a diretora do Centro Cultural Candido Mendes, Maria de Lourdes Mendes, convida o artista a realizar um projeto na galeria. É quando Fiat lux acontece. O ruído dos pés dos seguranças, bem como do público, sobre as lixas que recobrem o chão lembra o som do fósforo sendo aceso na caixa (este fato é acentuado porque o som foi gravado e amplificado), gerando ansiedade e medo. Essa visão perversa traz à tona uma ameaça à vida e à propriedade por meio do acúmulo de materiais que, isoladamente, seriam inofensivos. O poder incandescente de um único palito de fósforo revela-se enorme. “Não mais trabalhar com a metáfora da pólvora – trabalhar com a pólvora mesmo” 508 . O conceito de perversão que trabalhamos nessa tese está no deslocamento de espaço e função que a ironia provoca (ou acrescenta ao objeto de arte). Apropriando-se de objetos comuns que habitam o nosso cotidiano, Meireles neutraliza por oposição, adição, acumulação, mudança de escalas, as funções pragmáticas originais da obra, deslocando-as para o terreno da incerteza e do perigo. São objetos perversos porque foram constituídos e se deslocam legalmente por espaços institucionais, ainda que a sua matéria seja uma iminente explosão. A sua função é mantida – combustão – mesmo no espaço da instituição de arte; porém é perversa porque a lei permite que uma quantidade abundante desses materiais inflamáveis seja comprada e ademais, nada os impediu de serem alçados à categoria de objetos de arte, por mais que pudessem ser nocivos ao espectador ou à instituição que os mantém sob sua 506 A presença das bem-aventuranças é explicada por Meireles: “Foi estratégia instintiva, que quando posso, tento preservar, que é utilizar como material uma coisa que tem esta dubiedade: de ser ao mesmo tempo, matéria-prima e símbolo. É uma espécie de revisitação aos códigos que normalmente aparecem para regular a sociedade e neutralizar socialmente o coletivo” (Cf. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005, documento inédito). 507 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de julho de 2007 (documento inédito). 508 MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles, op. cit., p. 24. 280 guarda. São, portanto, perversos contra o próprio sistema que os criou. O objetivo do artista não é criar um impacto visual pela quantidade, mas usar este fator quantitativo para alterar funções, criar novas metáforas e reverter significados: sozinha a caixa de fósforos é um objeto banal e corriqueiro, de tal maneira integrado ao nosso cotidiano, mas bastaria alguém riscar um fósforo para que tudo fosse pelos ares, ameaçando o próprio edifício onde se localizava a galeria de arte. Meireles questiona a noção de lugar do objeto no campo da arte e chega ao extremo ao incluir a religião cristã, assunto tão delicado na cultura brasileira, na sua concepção de um desaparecimento completo destas “muletas”. Como disserta Meireles: Queria que todas as pessoas ligadas ao espaço da galeria estivessem ausentes (secretária, funcionários, etc.). O espaço estaria todo guardado. Por outro lado, as bem-aventuranças são a matéria-prima e o símbolo do trabalho; serviam para regular a sociedade, organizar os grupos. A idéia era destruir as muletas psicológicas. 509 Para nós mantermos nesse terreno da perversão que discutimos nessa tese, salientamos que além de perversa, a ironia também pode ser provocativa. É este o sentimento que transborda em Introdução a uma nova crítica (1970) quando a relação, criada pela obra de Cildo Meireles, entre palavra e objeto é freqüentemente postulada como dúvida no circuito de arte. Como aponta o artista em entrevista a Paulo Herkenhoff: A idéia desse trabalho é muito simples: eu achava que você só podia criticar algo se estivesse operando na mesma freqüência, usando procedimentos e materiais do objeto da crítica. [Esta obra] opõe a introspeção, o aconchego dos Ninhos de Hélio Oiticica à agressividade presente em Cadeau de Man Ray. A idéia era criar um objeto que tivesse a possibilidade de conter essa dualidade (...) A forma de tenda leva à idéia de interioridade, sendo que no seu interior, você encontra o oposto do que lhe é acenado (...) A arte não é messiânica em nenhum sentido (...) Esse trabalho lida com uma questão formal que eu gosto: onde há possibilidade da síntese, jamais fazer uma análise. O trabalho do artista não é exatamente o inverso da crítica, mas segue outra direção. A palavra parte de um grau de abstração muito grande e tenta com isso chegar a uma coisa física. As artes 509 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). 281 plásticas partem das coisas mais primárias, menos sofisticadas, tentando transformá-las em algo completamente abstrato 510. O “projeto explosivo brasileiro” tende a criar circuitos, saídas; a pólvora se ramifica em ações que tendem a questionar as estruturas políticas da instituição de arte. São atitudes de resistência. Palavra de inúmeras possibilidades semânticas e caminhos, “resistência”, aqui, significa não ter medo, continuar a todo custo. A resistência é afrontamento, relação de força, situação estratégica, mas também significa “voltar a existir”. Não é um lugar, que se ocupa, nem um objeto, que se possui. Ela se exerce, se disputa. Neste caso, a ironia serve como metáfora de (re)existência ou tomada de posição. O artista passa a ser uma espécie de propositor; a arte, uma forma de emboscada. Atuando imprevistamente, onde e quando é menos esperado, de maneira inusitada, o artista cria um estado permanente de tensão, uma expectativa constante. Apesar da década de 1970 ter sido uma época de corpos torturados, eletrochoques, desaparecimentos, massacres e mortes no Brasil, em Fiat Lux, o contexto político não é o elemento central. A tarefa desse propositor irônico torna-se, nesse momento, criar para o espectador situações nebulosas, incomuns, indefinidas. Provocando nele, mais que o estranhamento e a repulsa, o medo. O homem se exerce como produção deste poder e a ironia como meio de circulação das ações. O que fazer com uma caixa de fósforos? Objetivamente isto não conta e não vale nada. Mas o que Fiat lux tematiza é “a espécie de inteligência, a espécie de discurso, a espécie de sociabilidade que movem essas insignificâncias” 511 . O importante não é o conteúdo, mas a estrutura dessa comunicação volátil: um certo murmúrio coletivo que não cessa de acontecer. A ironia em constante circulação dentro de um percurso aparentemente aleatório, misturando-se ao acaso e ao anonimato. Qualquer pessoa pode comprar fósforos em qualquer quantidade. O sistema permite isto. Uma das suas lógicas de existência é justamente esta: acumulação. Tanto Meireles quanto Barbosa se apropriam dessas brechas e expõem a ironia que essa “perfeição” pode atingir. A experiência acaba sendo o nó de articulação do sentido, a ação que se orienta à produção da obra e à contemplação das manifestações artísticas. Objeto estético, criação e 510 HERKENHOFF, Paulo (Org.). Cildo Meireles, geografia do Brasil. Rio de Janeiro: Artviva Produção cultural, 2001, p. 72. 511 BRITO, Ronaldo. Freqüência imodulada. In: MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles, op. cit., p. 09. 282 percepção, ganham sentido e significação quando a experiência instaura a relação com o mundo e com os outros. “Não mais a obra de arte como instrumento de transmissão de mensagens, idéias ou essências; sim, comunicação: ação que vincula instaurando sentido e significação na expressão, no fenômeno” 512 . Estas obras deixam escapar que ter o corpo, ter uma experiência acaba por ser a nossa maneira de possuir o mundo. É com o corpo que o ser-no-mundo pode conectar-se com um meio definido, confundir-se com ele e comprometer-se com projetos, porque “o corpo é nosso meio geral de possuir um mundo”513 anuncia Merleau-Ponty. Ao artista, salientamos a possibilidade que tem de pôr em forma a experiência (a vivida, a querida, a desejada ou a imaginada: aquela da qual se faz ressonância, aquela para a qual “empresta seu corpo”) e de levá-la à expressão que a reúne e condensa em obra. Ronald Duarte executa em 2002 durante o evento Interferências Urbanas, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, a intervenção Fogo cruzado. No entroncamento de 3 vias dos trilhos do bonde, um tridente é formado. A cidade está dividida. O artista espalha estopa e derrama querosene. Duarte utiliza aproximadamente uma extensão de 500 metros de cada via. Organiza 13 duplas de amigos que são incumbidos de espalhar a estopa e em seguida jogar o querosene sobre os trilhos. São 3 horas da manhã. Todas as duplas dão-se as mãos e a aproximação do público é contida antes do acendimento do mesmo. Ocorre a hesitação. O fogo deve ser aceso agora? Estão todos prontos? O estopim é dado. O fogo não atinge uma altura que possa provocar maiores perigos. O público começa a intervir: pular o fogo, interagir com a obra. Segundo o artista: No momento, em que o fogo é aceso, a polícia fecha a delegacia. Os policiais não sabem o que fazer. Começam a perguntar ao público: ‘Quem é Ronald Duarte?’. Eu havia espalhado entre o público que caso alguém perguntasse quem era Ronald Duarte, que dissessem que era uma pessoa vestida com uma camisa estampada com os dizeres: ‘Fogo cruzado’. Havia 26 pessoas vestidas assim. Então, Ronald Duarte poderia ser qualquer um deles. 514 512 GÓMEZ, Diego Léon Arango. Experiência e expressão artísticas como fundamentos para uma crítica da arte em Merleau-Ponty, op. cit., p. 29. 513 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção, op. cit., p. 107. 514 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006 (documento inédito). O produto final desta intervenção foi o vídeo homônimo, com 18 minutos de duração. 283 A pólvora tomou de assalto a cidade e re-dimensionou o seu próprio campo de ação. As intervenções de Duarte e de outros coletivos que atuam no Brasil conceito de cidade como 515 partem do campo de experiências, em que se instaura uma nova lógica perceptiva tanto de percurso do Il. 33 Ronald Duarte Fogo cruzado, 2002 Querosene e pólvora 1500 metros de trilho Fotos da ação realizada durante o evento Interferências Urbanas, Rio de Janeiro espectador-pedestre quanto da situação das imagens enquanto modificador de um certo urbanismo moderno. A ironia, segundo Ronald Duarte, é “minar o poder, minar o sistema, criar alternativas de resistência e insurreição. Sempre quando penso em ética, eu penso nos prós e nos contras antes de qualquer coisa: se vou ser preso, por quanto tempo e como posso me desvincular disto”, como observamos em depoimento do artista ao autor. O princípio é simples: a culpabilidade deve conduzir à responsabilização. A idéia de uma ética como crítica dos preconceitos morais parece destinada ao fracasso. A ética é apenas um meio de legitimar a colocação nos lugares de normas cujo funcionamento não poderá ser assegurado de outra maneira que não pelos princípios da boa e velha moral. Na conquista de direitos para o bem da humanidade, o princípio da legitimidade mascara a culpabilidade: não se trata mais de ter “boa consciência”, mas de dar prova de um consenso sobre os direitos “mais justos”. A ética passa por um verdadeiro desafio quando acompanha a assunção universal dos “direitos do homem”. Toda aliança com o direito parece livrá-la da moral dando-lhe aparência de um papel criador: ela se torna o momento de reflexão prévia ao ato de legislar. Os debates éticos são condicionados pela produção de normas, se apresentam como a isca de uma encenação de nossa liberdade de interrogação. É muito difícil viver no ritmo de um questionamento ético. Aplicar regras morais ou respeitar normas jurídicas é, no final das contas, mais gratificante. A ética permanece uma moral em trompe-l’oeil que 515 Coletivos como Atrocidades maravilhosas, Imaginário periférico, Rradial, Chave mestra e Projeto SUBSOLO, no Rio de Janeiro; A revolução não será televisionada, Contra filé e Cobaia, em São Paulo; Telephone colorido e Re:combo, em Recife; Entretantos, em Vitória; Poro, em Belo Horizonte, são alguns exemplos. 284 consagra a soberania do direito. É a premissa para um mundo composto por “sociedades de direito”; nunca tal “direito” foi tão invocado pela instauração de uma “nova ordem mundial” quanto durante a guerra do Golfo, por exemplo. As ações militares foram acompanhadas por um metadiscurso político que não parou de impor uma lógica aos fatos que a contradiziam. Criar uma situação de intolerância frente ao status quo e ao mesmo tempo enfrentálo, mesmo que seja pelo uso de metáforas, implodi-lo ou ao menos criar uma estrutura temporária que o faça desaparecer. Ronald Duarte cria Nimbo/Oxalá e antecipa a sua visão – explosiva – sobre um esgotamento/sufocamento que as artes visuais vinham sofrendo no campo da viabilização de verbas estatais a projetos artísticos. Essa ação foi realizada em 2004, na área externa do Palácio Gustavo Capanema (sede da Fundação Nacional de Arte), no Rio de Janeiro. Duarte organizou um grupo de 20 artistas (“vestidos de branco, numa sexta-feira, prontos para receber luz” como ressalta o artista em depoimento ao autor), que formaram uma roda naquele espaço. Cada um deles possuía um extintor de incêndio abastecido de gelo seco. Num determinado momento, programado por Duarte, todos acionavam os extintores ao mesmo tempo. Formava-se uma nuvem de “fumaça” ou “cogumelo de fumaça”, como chama o artista, que chegou a encobrir 4 andares do prédio. Em depoimento ao autor, Duarte narra o acontecimento: Foi uma nuvem que aconteceu, apagou e não matou ninguém. Então, tem uma necessidade de ser politicamente correto, no sentido de polis, de cidade, e não no sentido político. A minha intenção é cortar a cabeça do espectador. Reunir um conjunto de pessoas para criar um ambiente de resistência, mudar o sistema e estabelecer uma nova ordem de poder. A ética em Duarte é possibilitar estratégias de circulação, agrupar indivíduos, deslocar a cidade de seu plano habitual de vivência, provocar ações, dirigir o poder de fogo para uma situação onde se extingue a obrigatoriedade de existência de um sentido por ser aquilo uma obra de arte, simplesmente porque aquilo pode não ser uma obra de arte. Quem está dentro do trabalho, pensa que está lidando com a poética. Neste sentido, o sarcasmo ultrapassa a ética. Agora, quem está fora, não pensa assim. Os artistas não são marginais. Antiético é ferir alguém. Tenho uma aflição de conviver com a cidade, de ter contato com o lado marginal dela, de conhecer as 285 pessoas, de não ter preconceito. Acho que os artistas têm uma permissão, que outras pessoas não têm. Então, ando no meio dos bandidos, das prostitutas. Freqüento qualquer lugar da cidade. É uma necessidade. A tela branca é a cidade, o acontecimento é a cidade. Não existe mais caixa branca. Penso em brincar com a cidade, em amarrar prédios. 516 Essa reflexão se direciona para a argumentação de Barrio (“a cidade, substituindo o papel e a tela” 517 ) e faz fronteira com o conceito de ética de outro artista, Cildo Meireles, como observamos nesse trecho de uma entrevista concedida ao autor: A ética sempre é uma decorrência. Penso que o indivíduo tem que ser o Estado, no sentido de que o ideal é que você fosse o mais complacente possível com o outro, e o mais rigoroso possível consigo mesmo. Na verdade, vivemos num mundo que uma boa parte da população age ao contrário. Se você vive numa sociedade ideal, onde os indivíduos, enfim, pudessem dar o melhor de si, e não o pior de si, para sobreviver, acho que talvez a ética nem se colocasse como questão. No momento em que você está fazendo o trabalho, você está pensando por si, mas de alguma maneira, você incorpora também ‘pensares’ [sic] e ‘sentires’ [sic], dessa coisa sem face chamada ‘público’. É incrível como, hoje em dia, as pessoas confundem isso: querem falar de ‘público’ mas falam de ‘mercado’. Como se o mercado fosse o público da arte. Não! A arte tem um público que é atemporal, não tem face, enquanto o mercado é uma fatia do público. Mas é claro que quando você está fazendo o trabalho, você está tentando criar um diálogo com uma coisa que vai muito além desta relação comercial, que é inevitável, que qualquer trabalho, de qualquer época, de qualquer artista, sempre, provocará. E quando você está fazendo isso, você trabalha com os seus vetores éticos e morais. Dessa forma, você compreende e opera vetores que não são exatamente apenas os seus. 518 A ação urbana é real, porém efêmera, não tem intenção de guardar resíduo. Porém, o mercado “congela” esse tempo, quer reproduzi-lo incessantemente e em diferentes mídias, promove o que Baudrillard chama de “desrealização fatal”. A ironia novamente é absorvida pelo mercado, mas agora diferentemente de O corpo é a obra ou da proposta milionária de 516 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006 (documento inédito). BARRIO, Artur. Lama/carne esgoto. In: CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio, op. cit., p. 147. 518 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2006 (documento inédito). 517 286 Árvore do dinheiro, a “demanda” do mercado se dá quase que instantaneamente, como observamos no depoimento de Duarte: Recebi uma proposta para que refizesse Fogo cruzado num evento onde modelos desfilariam no meio do fogo. Eu recusei na hora. Assim como recusei quando me pediram para que eu cortasse o trilho do bonde, onde fiz essa ação, e vendesse. O trilho não é o muro de Berlim. Eu não quero transformar o meu trabalho em souvenir. 519 Tunga estabelece uma fronteira entre o sujeito e o artista quando falamos em ética. Para ele, existem limites: Existe limite para tudo, porém é preciso não confundir o artista com o sujeitoartista, ou seja, tem o personagem, que está dentro da sociedade e permanece regido por leis, e há o sujeito-artista, que é o sujeito da transgressão. Este está regido por uma ética da poesia, por um sistema de pensar, desviado, perverso, devasso, que, entretanto não é o sistema em vigor. Este outro sistema tem a sua ética e esta é exercida pelo artista enquanto sujeito. Mas isto não pode ser confundido com o artista como cidadão, um artista que vive dentro de uma sociedade, organizada, que tem suas regras. Penso que a arte não autoriza nem concede este salvo-conduto para um desvio ético, só porque esse cidadão está no território da arte. Porém, esta linha é muito tênue, porque esta própria escritura, que é a inserção ética do cidadão, é uma escritura, que como qualquer coisa humana, é uma linguagem. E sendo uma linguagem, o artista está habilitado a manipulá-la como tal.520 A arte não se reduz ao objeto que resulta de sua prática, mas ela é essa prática como um todo: prática estética que abraça a vida como potência de criação em diferentes meios onde ela opera. O objeto desfetichiza-se e se reintegra ao circuito da criação, como um de seus momentos e de igual importância que os demais. Ele perde sua autonomia, “é apenas uma imanência”, como ressalta Ronald Duarte, que será ou não ‘atualizada’ pelo espectador. Na tentativa de reduzir a distância entre arte e vida, tornar o objeto comum a 519 520 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006 (documento inédito). Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2006 (documento inédito). 287 nossa rotina, as ações de Fogo cruzado e Nimbo/oxalá 521 empregam que não existe uma resistência contra uma figura ou um sistema, como teriam sido as “vanguardas bélicas” da década de 1960. Afirma Duarte: Não existe alvo a ser atingido, o alvo é a vida. Fazer arte é celebrar a vida. Arte é pulsão, é ação, não é o objeto, a pintura ou a obra bem feita. Quero que as pessoas entendam a imagem como potência, presença e exacerbação desse presente, porque a mídia é uma morte, com imagens que foram capturadas há muito tempo e reeditadas, enquanto a vida está pulsando. 522 Já há muito tempo não ocorre mais a ilusão de que seja possível a construção de modelos que não incorporem, em sua estrutura, a capacidade e a necessidade de movimentos contínuos, como a própria condição de existência e perpetuação desses modelos – que tornam-se, desse modo, verdadeiras construções estratégicas, sistemas que conjugam ação e pensamento. É nesse sentido que Deleuze coloca as sociedades atuais como “sociedades de controle” concebidas como “sistemas de geometria variável”, “moldagens auto-deformantes que mudam continuamente, de um instante ao outro”, compostas de “estados metaestáveis e coexistentes de uma mesma modulação, como um deformador universal”. Dessa forma, podemos pensar como se estrutura o campo da arte dentro dessas “sociedades de controle”, equipando-o de modo a garantir sua presença frente à “instalação progressiva e dispersa de um novo regime de dominação” 523 . Para Deleuze, caberia à arte desenvolver formas de resistência aos movimentos ideológicos dominantes “e, mais do que isso, atuar na construção de um campo plástico intensivo, com função de suporte para a geração de novos pensamentos” 524. O trabalho de Ronald Duarte é sobre ver, perceber as diferenças. “Não é uma performance, não tem nada a ver com teatro. É uma ação. Uma necessidade da cidade, do 521 O resultado desta ação foi um vídeo de 2 minutos de duração. Destaca-se, porém, que tanto Fogo cruzado como Nimbo/oxalá receberam verbas para a sua realização (o primeiro obteve patrocínio da Petrobrás e apoio da organização do evento Interferências Urbanas, e o segundo, apoio da Funarte); não se caracterizaram por movimentos de “assalto” ou sem qualquer alerta à instituição pública envolvida. Entretanto, nem sempre esta é a política dos “coletivos de artistas”, que podem se apropriar de um espaço público, sem qualquer tipo de permissão das autoridades ou dos órgãos públicos. 522 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006 (documento inédito). 523 Cf. DELEUZE, Gilles. Conversações: 1972-1990. São Paulo: Editora 34, 1992. 524 BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual, op. cit., p. 98. 288 lugar, do agora” 525. Isso fica bem claro em Fogo cruzado, quando a polícia chega ao local da obra para descobrir o “culpado” por aquele incêndio, que obstruiu as vias públicas e causou pânico na cidade. Não era uma representação, mas simplesmente ação. Cidade sitiada pelo medo, pelas divisões que são demarcadas pela geografia, história, sociologia, política e pela violência. Balas traçantes e alvos humanos. Sua idéia era tornar visível a cidade invisível (ou que ninguém quer ver), tornar visível o ato de ver. Estabelece diálogos com Olafur Eliasson e seu projeto (em andamento) Green River realizado desde 1998. Por meio dessas intervenções, diferentes rios em diferentes cidades foram coloridos com verde fluorescente, desafiando o conhecimento dos habitantes da cidade sobre o ambiente cotidiano. Mas ao contrário de Fogo cruzado, o projeto Green River não era oficial, não havia sido aprovado por nenhum júri nem fazia parte de qualquer evento previamente programado, tampouco houve convites para o seu “vernissage”. A tática para a criação do projeto é cercada de cuidados, como observamos nesse depoimento de Eliasson sobre uma ação do Green River em Estocolmo: Procuramos [Eliasson e Emil Tomasson] pela localização das câmeras de vigilância no local que realizaríamos a ação (...) planejamos tudo, porque era uma situação, por assim dizer, para fazer e correr (...) Caminhamos em direção a ponte e ficamos parados lá, um pouco tensos, com uma sacola de compras cheia de pigmento de pó. O trânsito estava intenso, e havia carros parados bem do nosso lado, na calçada, onde fingíamos que olhávamos a água (...) Depois de alguns momentos de eternidade, pensei: ‘Que se dane, vou fazer’. O pó era bastante vermelho, e assim quando esvaziei a sacola sobre a ponte uma nuvem vermelha apareceu e quando chegou ao rio, levada pelo vento, tudo ficou verde, como uma onda de choque. 526 A apreensão da obra pelos cidadãos transformou o conceito poético da ação na forma ficcional de um ataque biológico; são essas características, esses “boatos”, ou redes de construção de histórias que fazem da obra de arte, um vazio a ser preenchido por nós, um objeto num não-lugar: 525 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006 (documento inédito). ELIASSON, Olafur. Entrevista a Hans Ulrich Obrist. In: OBRIST, Hans Ulrich. Arte agora em 5 entrevistas: Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Olafur Eliasson, Cildo Meireles, Rirkrit Tiravanija, op. cit., p. 43-44. 526 289 [A ação] foi um sucesso, e a história continuou no dia seguinte, quando a primeira página de um jornal mostrou o rio com o título: ‘Correnteza tingida de verde’. Havia também um pequeno artigo sobre como a cor verde tinha incomodado algumas pessoas, que chamaram a polícia, e como foram acalmadas quando lhes disseram que a cor verde veio de uma planta, e não oferecia perigo. Foi interessante o modo como a imprensa reagiu a isso.527 Esse relato faz uma associação com o modo como a obra de Cattelan (La nona ora) passou a ser exibida, diferentemente do desejo inicial do artista, e como ela criou um novo campo de potência para a sua rede de significados. De certa forma, os “boatos” na obra de Cattelan (como ele gosta de assinalar) assim como na de Eliasson, criaram estados de percepção, que obviamente fugiram do controle desse criador ironista. Duarte, Eliasson e Cattelan questionam sobre em qual medida tudo é planejado ou imprevisível. São obras que permitem essa possibilidade da imprevisibilidade. No caso brasileiro, Duarte enfrentou dois perigos: a possibilidade do fogo alcançar proporções maiores do que ele imaginava, ou seja, escapar ao seu controle, e a autoridade policial. No primeiro caso, a conseqüência foi o inverso: o projeto inicial era a utilização de pólvora, porém devido a uma série de autorizações que deveriam ser concedidas por órgãos públicos ao artista, ele acabou descartando essa idéia. Duarte decidiu pelo uso do querosene e da estopa, porém, como assinala em entrevista, a combustão desse produto era bem menor do que havia planejado528 e, portanto tornava-se um material menos perigoso ao público, se compararmos com a proposta inicial. O risco de alguém ser queimado continuava existindo, mas numa probabilidade menor. Porém, mais uma vez o imprevisível se faz presente: o vento sumiu na noite do Fogo cruzado. Como afirma Duarte: [No dia] não estava ventando e o trilho não pegava fogo de jeito nenhum. Na mesma hora, descobri que se fizesse uma trouxinha de papel e queimasse a mesma e, logo depois, passasse só a lâmina - a ‘língua do fogo’ no querosene -, o 527 Idem, p. 44-45. O projeto inicial de Fogo cruzado era utilizar pólvora ao invés de querosene. A organização do evento não criou obstáculos para isto, mas o artista não conseguiu comprar o produto nem ter a autorização dos órgãos responsáveis. Tentou ainda retirar pólvora de cartuchos de bala, mas quase se queimou. Dessa forma, desistiu de seguir adiante com o projeto da pólvora e escolheu o querosene, por ser menos inflamável. 528 290 fogo acenderia. Dessa maneira, todo mundo fez esse procedimento ou foi descobrindo uma outra maneira.529 No caso do outro perigo enfrentado por Duarte (a polícia), esse era real apesar do evento (Interferências Urbanas) ter sido patrocinado pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e por este motivo ter um aval do Estado. Mas o fato é que eles apareceram: “Quando a polícia correu atrás de mim, eu já estava longe. A polícia quis saber quem tinha feito aquilo. Quando a polícia chegou, tudo já estava incendiado. Não tinha mais jeito. Eles foram embora e não me encontraram”, observa o artista em entrevista ao autor. Podemos dizer que a aparição (desejada ou não) da polícia é parte do trabalho. À cidade como suporte, a experiência contemporânea adiciona-lhe significado problematizando o modo como ela é vivida. Há nisto um movimento duplo, marcado inicialmente pela imersão no objeto expandido: em lugar da antítese entre sujeito e objeto, entre entidades complementares, porém inconciliáveis, a cidade é tomada como “obra”, permitindo-se o trânsito entre a continência dos limites pessoais e a exterioridade em relação ao seu “outro”. Os trabalhos podem ser lidos como perversos? Como um atentado a quem está por perto? Ronald Duarte responde em depoimento ao autor: “Perverso? A vida é perversa conosco. É natural o Homem ter este grau de perversidade. Ele está sempre no fio da navalha. A arte não foge disto. O que existe de mais perverso do que ser um artista?”. Estender o conceito de experiência artística ao espectador conduz necessariamente a uma revisão do estatuto de ‘espectador’, da condição ‘passiva’ frente ao caráter ‘ativo’ do artista e da natureza secundária do ato de ‘contemplação’; além do mais, a uma revisão do estatuto de objeto artístico. O espectador é convocado a “emprestar o seu corpo” para permitir a recriação de sentidos. É preciso entender o objeto artístico como uma unidade de sentido, construída em cada experiência e, pela experiência mesma, perpetuada no seu valor de obra, no seu potencial de significação. Nas obras de Felipe Barbosa abordadas nessa tese, a idéia era criar um campo de objetos visualmente inocentes que na realidade mentiam sobre sua aparência visual; houve uma inversão da percepção normal. À medida que o espectador se aproxima destes objetos, ele descobre o indício do perigo. Chega o momento da decisão: afastar-se ou não? Deixar- 529 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006 (documento inédito). 291 se mergulhar nesta instância perigosa? Caso concorde, o espectador experimenta e entra em contato com um corpo em (de)composição incendiária. A periculosidade do objeto provoca no espectador uma reorganização de suas referências. Redefinições de seu próprio corpo a partir de elementos externos. Um espírito que faz do artista algo próximo à figura de um Tentador: assume o risco como elemento intrínseco ao seu trabalho. O imaginário articula e desarticula o mundo, o amplia e o transforma em infinitas possibilidades; suspende o tempo nas suas coordenadas passado-presente-futuro e o instaura num ‘quase-presente’, ativo, mutável, até efêmero; desloca o espaço, despojando-o da concreção física que a experiência comum lhe concede, para “vaporizá-lo” nos deslocamentos do corpo. Cildo Meireles deixa escapar a dissolução do espaço em Volátil, mas com a possibilidade de reintegrá-lo à experiência do indivíduo como uma unidade de sentidos: Esse trabalho [Volátil] tenta associar duas coisas: sensação e emoção. Fazendo um link quase que instantâneo. Trafegando pela região do medo. O trabalho parece apontar para a eternização do sujeito, mas realmente aponta para a insignificância do mesmo sujeito. A mesma direção, mas dois sentidos. A matéria [deste trabalho] é o resíduo de vida. 530 O conjunto de obras apresentado configura-se numa espécie de rede de interlocuções, discussões e mapeamentos sobre um tecido que podemos identificar como o conceito de “campo ampliado” da arte criado por Rosalind Krauss. Essa arena de possibilidades que a ironia exerce sobre a obra, o espectador e todos os agentes envolvidos no circuito de arte transmite esse contorno à produção estudada. Como identifica Basbaum, é nesse território onde se desenvolvem as manobras da arte contemporânea, “sem esquecer que os limites desse campo, e mesmo da arte como disciplina, são traçados pela própria prática da arte, com trabalhos que exploram e estendem, sempre, os regimes de possibilidade” 531. Segundo Basbaum o modelo de campo ampliado sugerido por Krauss permite pensar que o artista (“pós-moderno”) trabalharia diretamente em conexão com o “âmbito 530 531 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual, op. cit., p. 109. 292 cultural”, deslocando-se por todos os territórios, construindo estruturas de visibilidade a partir do mapeamento de impasses, oposições, conflitos, paradoxos. Porém, esses pontos de instabilidade não estão exatamente visíveis, e sim “encobertos” por um “suposto estado de equilíbrio” 532. Seria portanto nesse espaço que a ironia exerceria a sua função. O conceito de “termos em oposição” (não arquitetura, não paisagem) citado por Krauss constitui efetivamente focos de instabilidade, locais onde pulsam as tensões do campo cultural, conjuntos de pontos em estado de conflito. A ação irônica, portanto, consistiria num fenômeno de flutuação, de irregularidades, que romperia o equilíbrio e a imobilidade do contexto cultural de onde emerge. Deve ficar claro, então, que a afirmação específica dos objetos artísticos, de suas características e formas particulares de atuação, assim como seu percurso dentro do campo ampliado (do circuito irônico), é que permitirão a visibilidade das questões e tensões próprias do campo cultural em que este objeto se desloca. 6.4 Atravessando fronteiras Espaços. Circuitos. Construções. Desestabilizações. São estes os sintomas encontrados neste “projeto explosivo”. Em textos, escritos na primeira metade da década de 1970, Cildo Meireles já identificava a existência de amplos sistemas de circulação nos quais seria possível inserir, individualmente, informações contrárias aos próprios interesses que fundamentavam esses sistemas. Lembro-me que entre 1968 e 1970 [período de criação de Bombanel e Tiradentes: totem-monumento ao preso político] sabia que começava a tangenciar o que interessava; não estava mais trabalhando com metáforas (representações) de situações, mas com o real. Por outro lado, o tipo de trabalho que se fazia tendia a volatilizar-se – e esta era outra característica. Era um trabalho que não tinha mais aquele culto do objeto, puramente: as coisas existiam em função do 532 Idem, p. 110. 293 que podiam provocar no corpo social. Era exatamente o que se tinha na cabeça: trabalhar com a idéia de público. 533 O chamado “projeto explosivo brasileiro” deixa a mostra que o trabalho deve sempre ter um comprometimento com a transgressão no plano do real. Cildo Meireles cria desmembramentos para os caminhos que esta pólvora pode se dissolver. Já não basta apenas o circuito fechado das galerias e museus, o projeto de explosão deve atingir o meio, a circulação, as engrenagens que sustentam esse circuito. Vários mecanismos são criados e a discussão sobre a noção de espaço e os seus limites continua a permear essa possibilidade de expansão da pólvora. O artista, finalmente, implode o espaço da galeria e os restos são pedaços de vidro e arame farpado. É o espaço de Através. Uma instalação que ocupa uma área aproximada de 225 m2, de corredores formados por grades, cercas de pasto, redes de pesca, telas de galinheiro e correntes. No chão, como se fossem resquícios de uma explosão: 18 toneladas de vidro quebradiço. No meio do trajeto, são impostas barreiras: aquários, trincheiras policiais, estacas de metal, cercas de jardim. “São labirintos de interdições que vão por esse chão; é um conjunto de ‘nãos’ e um grande ‘sim’. O vidro quebrado cria uma metáfora para este atravessamento do olhar. Você se dá conta deste atravessamento pelo ouvido” 534 . Essa obra nasce da observação do artista quando ele amassa e joga no lixo um aglomerado de celofane; ao ouvir o barulho dessa “bola” se desdobrando, ganhando volume, Meireles tem o estopim para o conceito de Através: associou ao mesmo tempo, aquele material de interdição (de confecção e embalagem de objetos) com a idéia de modificação, de se tornar maleável a cada instante. Precisava portanto listar as interdições. Depois da grande bola de celofane que está no centro da obra, foi necessário criar o chão para se chegar até ela. Interdições são elaboradas e o chão proposto é feito de vidro. Nada mais justo, já que o celofane é um simulacro de vidro que você pode amassar, uma espécie de “vidro mole”. Agora passamos a palavra ao artista em depoimento concedido ao autor em 11 de maio de 2007: Quando pensei no vidro quebrado, no chão do Através, estava relacionando ao verbo, ou seja, na ação que estaria ocorrendo: de repente uma coisa que se funda 533 Extraído de uma entrevista não publicada a Antonio Manuel realizada em 1975. In: MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles, op. cit., p. 24. 534 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007 (documento inédito). 294 na rigidez, você tem a possibilidade de presenciar aquilo mole. Um pouco como as versões moles das esculturas do Oldenburg. Na possibilidade de se ter um chão de vidro - e pressupondo-se que a pessoa caminhe por dentro da obra, porque a peça foi feita para andar -, você está exercitando uma espécie de resposta para todo aquele acúmulo de interdições, sobretudo para aquela mais radical (que metaforicamente está amassada no centro). É como se você, ao pisar, fosse se libertando. Metaforicamente ao pisar, você está quebrando cada entulho, interdição ou obstáculo daquele. Esta foi a idéia de se ter o chão de vidro. Vidros quebrados, passos receosos. São elementos/situações/coisas para que o olhar pudesse atravessar e o corpo pudesse sentir. “Ele [a obra Através] permite a circulação do olhar, mas é restritivo ao movimento do corpo” 535 . Através é uma situação que propicia a descoberta de lugares, indica percursos, mas nunca uma situação única. Lida com caminhos, bifurcações, escolhas. Você é o jogador, está naquele campo e Il. 34 Cildo Meireles Através, 1983-89 Redes de pesca, voal, cercas de pasto, papel vegetal, venezianas, cercas de jardim, portões de madeira, grades de prisão, treliças de madeira, cercas de ferro, mosquiteiros, barreiras policiais, aquário, peixes, redes para quadra de tênis, estacas de metal, arame farpado, correntes, telas de galinheiro, cordões de proteção, bola de celofane, vidro 225 m2 Col. Kunststichting Kanaal, Kortrijk deve decidir sobre as suas próprias situações e experiências. É inevitável uma comparação com os Penetráveis, de Hélio Oiticica. Porém, enquanto este buscava a tridimensionalidade e a vivência das questões construtivas por meio da interação lúdica e sensível com os elementos que habitavam o nosso cotidiano como água, terra, brita, feno (foi a abertura para a “organicidade”; conceito que nos aterroriza hoje em dia, visto a profusão de resenhas e críticas em jornais e periódicos que o vulgarizaram), Cildo Meireles utiliza barreiras, dificulta o seu ir-e-vir, trabalha com materiais industrializados e fundamentalmente com oposições. Como cita Guy Brett, o peixe que é visto no aquário reflete as ambivalências dessa obra: limitação e 535 Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005 (documento inédito). 295 liberdade, experiência delimitada e o infinito 536 . A obra é, portanto, um emaranhado de questões: Encarar o vidro espatifado? Cortar-se? Seguir adiante? Tomar outro caminho? Cildo Meireles utiliza sua origem construtivista aliada a uma dose de perversidade, e ao mesmo tempo não deixa de oferecer uma tensão visual e tátil. Através remete seu trabalho a uma trajetória cujo estatuto da obra se dá a partir da paulatina fragmentação dos meios formais das artes visuais – quadro, escultura, exposição, galerias – rumo a criação de uma nova espacialidade da matéria e do corpo. Uma produção cujo cerne é sua característica ambiental, isto é, do campo do vivido, do experimentado, do imediato, do que está por ser feito, da elaboração de espaços abertos, da proposição do por vir, e não do que está completo nem estruturado. Em suma, uma obra que depende da ação de um participante e não da reflexão de um espectador. É uma obra dirigida ao sentido, para através deles, da percepção total, levar o espectador a uma espécie de dilatamento das suas capacidades sensórias. E isto por meio do mais irracional dos sentidos: o medo. O medo e o desconhecido. A possibilidade de se machucar, a eventualidade de se perder no labirinto... dos caminhos que se bifurcam. Operam-se passagens, entrelaçando lugares, buscando-se saídas. Portanto é uma obra em suspenso, não cumpre um programa prévio. Opera combinações e deslocamentos, que acabam articulando unidades provisórias, suscetíveis de se fragmentarem indefinidamente, e cada uma delas constitui uma soma de quantidades fracionárias tão pequenas e tão numerosas quanto se queira imaginar. Através atravessa o espaço do museu e chega ao debate sobre o mercado e a sua apropriação de obras que lidam com materiais descartáveis. Qual é o valor de uso e de troca dessa obra? A arte contemporânea promove anomalias na percepção e valor dos objetos comuns; o artista transmite potência e re-significação a vidros estilhaçados, pedaços de madeira, redes e barreiras, e o mercado trata de enriquecê-los (leiam isto como um jogo de palavras!) com um valor econômico nunca imaginado por qualquer pessoa a um monte de entulho. O valor de mercado agrega um novo grau de potência à obra, que não é mais formulada apenas em termos teóricos. Através é um labirinto feito exatamente de materiais e objetos ordinários encontrados em lojas e industrialmente manufaturados. Meu amigo Trudo Engels 536 BRETT, Guy. O sensório como forma de conhecimento. In: _______. Brasil experimental: arte/vida, proposições e paradoxos, op. cit., p. 198. 296 me disse que em 15 anos seria provavelmente difícil achar materiais semelhantes, e assim o que foi o entulho de todos os dias se tornaria um conjunto de itens para colecionadores. 537 A imagem deste espaço de transmutações enfatiza mobilidades e aberturas e pode ser transferido para a experiência do labirinto. Remete a jogos abstratos de entrelaçamentos, em que pensamento, sensação, fantasia ou gestos se desatam, na articulação de um espaço de vivência e experimentação da memória; o labirinto apresenta o mundo como entrelaçamento de previsível e imprevisível, sendo apropriado para figurar estados fragmentários de dissolução. Forma mítica que aponta para uma ordem em que o contraditório e o díspar operam. A “ironia explosiva” transfere-se para um jogo angustiante e ainda mais imprevisível. Estas invenções sugerem a ampliação da participação e da sensorialidade e a formação de uma estrutura cultural que engloba Mondrian, Joseph Albers e experimentações na literatura moderna como Borges, Cortázar e Mallarmé. Perder-se no labirinto para o encontro consigo mesmo; os desvios, enfim, passam a ser o caminho. 537 MEIRELES, Cildo. Entrevista a Hans Ulrich Obrist. In: OBRIST, Hans Ulrich. Arte agora em 5 entrevistas: Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Olafur Eliasson, Cildo Meireles, Rirkrit Tiravanija, op. cit., p. 69-70. 297 CONSIDERAÇÕES FINAIS Portanto quem se propuser a estudar, quantificar ou encerrar a ironia numa fórmula encontrar-se-á num labirinto. É um erro crasso. Depois de aplicar sua teoria aos exemplos que lhe apresentam, e de provar que eles se tornaram irônicos por semelhança com o que era irônico em si mesmo, o estudioso mais incauto encontrará facilmente outros e mais outros; terá, portanto, sempre que trabalhar. Em compensação, terá estreitado a ironia, em vez de encerrá-la num círculo mais ou menos amplo. Se conseguir, terá apresentado o meio de fabricar ironias. Terá precedido com o rigor e a precisão de um cientista, mas mesmo assim, não terá dado conta do “todo”; ele não acreditará ter avançado no conhecimento de uma coisa por ter discernido nela este ou aquele epíteto, por mais justo que este seja. O que a ironia precisa é de uma análise, e só há certeza de se ter analisado perfeitamente quando se é capaz de recompor. Retomamos a lição de Kierkegaard, retirando o artíficio irônico da sua velha posição de radicalidade individualista do sujeito para repô-lo como forma coletiva, que é a ironia na arte: a função de instaurar a ambigüidade entre as referências explícitas e as implícitas, configurando o efeito irônico. A multiplicação das possibilidades de interpretação desse processo, de captação de um efeito irônico, advém de um conjunto de aspectos dimensionados discursivamente e visualmente e que incluem a manipulação e a sedução, visando a cumplicidade de novos olhares sobre o objeto. A postura ambígua da obra irônica oferece uma partilha comunitária dos jogos de linguagem em torno do sentido, sugestiva de alternativas contínuas para as pretensões midiáticas de interpretação do mundo. A ironia se impõe como uma preparação a qualquer troca crítica, é um dispositivo metaenunciativo que tem o prazer de jogar com o sentido, zombando dos modelos de 298 interpretação, dos códigos de compreensão. O que, nela, parece primeiramente reativo, pode sempre ser superado pelo prazer de afirmar um “outro” sentido e de transformar a negação em soberania do próprio arbitrário do sujeito. Mesmo se as regras de uma retórica da ironia precedem suas possibilidades de expressão coletiva, o arbitrário radical do sentido se impõe como o desafio lançado à interpretação. As intenções e as escolhas, as decisões e as tomadas de posição lá estão para resolver o arbitrário; a ironia, ao contrário, toma-o por origem e por motor de sua expressão. No lugar de se entrincheirar em um relativismo sem fim que leva à ridicularização toda construção do sentido, a ironia se funda no arbitrário e o assume, expondo-o. É graças a tal utilização de um jogo cúmplice dos sentidos que a ironia torna possível a partilha implícita e coletiva do livre-arbítrio. A configuração do insólito na ironia funciona como um convite à perspectiva crítica e como fator de desconfiança diante dos simulacros referenciais das linguagens. A ironia, como demostramos, em diferentes contextos e posições, expõe-se em fluxos; um processo comunicativo, por natureza, que é absorvido pelo artista como tática para sua expansão poética e invenção de propostas. Confundida muitas vezes com a verdade (ou a mentira), a ficção e o “dito” (ou o “não dito”), a ironia, enquanto linha tênue dessa ambigüidade, encontra o seu espaço justamente nesse “não lugar”. Sua importância nas práticas contemporâneas das artes visuais torna-se cada vez mais intensa, porém, exatamente por causa de sua dissolução nessa poética, sua potência muita vezes é dissimulada, confundida ou simplesmente não identificada. Entretanto, é neste ponto que sua função corrosiva encontra o mais alto grau de funcionalidade. Agente infiltrador, cáustico, portador de questionamentos, elemento criador de seu próprio circuito, a natureza da ironia é apenas uma, mas suas ações são múltiplas. As obras dos artistas brasileiros selecionados nessa pesquisa demonstram a diversidade dessas ações e a forma como a ironia foi gerada, identificada (às vezes, anulada), percebida e mobilizada no circuito de arte. Sua potência está diretamente relacionada ao contexto em que foi produzida e a forma comunicativa que foi estabelecida entre os agentes envolvidos; entretanto, o legado que a ironia traz, especificamente na produção contemporânea das artes visuais brasileiras, é a sua característica como marco de investigação e impermanência (uma certa volubilidade), aspectos que demarcaram o conceito de “experimentação” dessa notável produção nacional. 299 BIBLIOGRAFIA Livros: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998. AMARAL, Aracy. Projeto construtivo brasileiro: 1950-1962. Rio de Janeiro, MAM; São Paulo, Pinacoteca do Estado, 1977. ANDRADE, Oswald de. Obras completas de Oswald de Andrade: do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1978. ANJOS, Moacir dos. Adoração: Nelson Leirner. Recife; Brasília: MAMAM; Ecco, 2003. BARBOSA, Felipe. Felipe Barbosa. Rio de Janeiro: Galeria Arte em Dobro, 2006. BARRIO, Artur. Artur Barrio: a metáfora dos fluxos, 2000/1968. Rio de Janeiro, MAM; Salvador, MAM; São Paulo, Paço das Artes, 2001. BARSON, Tanya; GRUNENBERG, Christoph. Jake and Dinos Chapman: bad art for bad people. Liverpool: Tate Publishing, 2006. BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Lisboa: Seuil, 1985. BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual. Porto Alegre: Zouk, 2007. BATAILLE, Georges. O azul do céu. São Paulo: Brasiliense, 1986. BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. 7 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. BAUDRILLARD, Jean. A arte da desaparição. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997. BENJAMIN, Walter. Reflexiones sobre niños, juguetes, libros infantiles, jovenes y educación. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1974. _______. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. BERGSON, Henri. O riso. São Paulo: Martins Fontes, 2001. BRAIT, Beth. Ironia em perspectiva polifônica. Campinas: Editora da UNICAMP, 1996. BRITO, Ronaldo. Waltercio Caldas Jr: aparelhos. Rio de Janeiro: GBM Editoria de Arte, 1979. BONAMI, Francesco et al. Maurizio Cattelan. Londres: Phaidon Press, 2000. BRETT, Guy. Brasil experimental: arte/vida, proposições e paradoxos. Rio de Janeiro: Contra capa, 2005. 300 BRITO, Ronaldo. Antonio Manuel. Rio de Janeiro: Centro Cultural Hélio Oiticica, 1997. CALABRESE, Omar. A idade neobarroca. Lisboa: Edições 70, 1988. CANONGIA, Ligia (Org.). Artur Barrio. Rio de Janeiro: Modo, 2002. CARVALHO, Flávio de. Experiência n.2: realizada sobre uma procissão de CorpusChristi, uma possível teoria e uma experiência. Rio de Janeiro: Nau, 2001. CAVALCANTI, Lauro (Ed.). Caminhos do contemporâneo: 1952-2002. Rio de Janeiro: Paço Imperial, 2002. CHAVES, Marcos. Marcos Chaves. Rio de Janeiro: Casa da palavra, 2007. CHIARELLI, Tadeu. Nelson Leirner: arte e não arte. São Paulo: Takano, 2002. CLARK, Lygia. Lygia Clark. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1998. COCCHIARALE, Fernando; GEIGER, Anna Bella. Abstracionismo geométrico e informal: a vanguarda brasileira nos anos 50. Rio de Janeiro: Funarte, 1987. DELEUZE, Gilles. Présentation de Sacher-Masoch. Paris: Minuit, 1967. _______. Logique du sens. Paris: Minuit, 1969. _______. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1988. _______. Conversações: 1972-1990. São Paulo: Editora 34, 1992. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. vol. 3. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996. DIAS, Antonio (Ed.). Antonio Dias. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian; São Paulo, Cosac & Naify, 1999. DICKERMAN, Leah (Org.). Dada. Washington, National Gallery of Art; Paris, Centre Pompidou Musée National d’Art Moderne, 2005. DONAHUE, Phillip; QUANDAHL, Ellen (Org.). Reclaiming Pedagogy: the rethoric of the classroom. Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1989. DUARTE, Paulo Sérgio. Anos 60: transformações da arte no Brasil. Rio de Janeiro: Campos Gerais, 1998. _______. Waltercio Caldas. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. ECO, Umberto. Obra aberta. São Paulo: Perspectiva, 1976. _______. Tratado geral de semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2002. ESCARPIT, Robert. L’humour. Paris: P.U.F., 2001. FARIAS, Agnaldo. Nelson Leirner: Por que museu? Niterói: MAC-Niterói, 2006. 301 FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. 2 ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. FERGUSON, Russel; DE SALVO, Donna; SLYCE, John. Gillian Wearing. Londres: Phaidon Press, 1999. FERREIRA, Glória (Org.). Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006. FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Org.). Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987. _______. As palavras e as coisas. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1987. _______. Isto não é um cachimbo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. _______. Foucault/Blanchot. Nova York: Zone Books, 1990. _______. O que é um autor? In:______. Estética: literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. FRANCASTEL, Pierre. A realidade figurativa. São Paulo: Perspectiva, 1982. FRYE, Northrop. Anatomia da crítica. São Paulo: Cultrix, 1989. FURST, Lilian. Fictions of romantic irony. Cambridge: Harvard University Press, 1984. GADAMER. Hans-Georg. A atualidade do Belo: a arte como jogo, símbolo e festa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985. GOLDBERG, RoseLee. Performance art: from futurism to the present. 3 ed. Londres: Thames & Hudson, 2001. HENDRICKS, Jon. O que é Fluxus? O que não é! O porquê. Rio de Janeiro, Centro Cultural Banco do Brasil; Brasília, Centro Cultural Banco do Brasil; Detroit, The Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection Foundation, 2002. HERKENHOFF, Paulo; MOSQUERA, Gerardo; CAMERON, Dan. Cildo Meireles. São Paulo: Cosac & Naify, 1999. HERKENHOFF, Paulo (Org.). Cildo Meireles, geografia do Brasil. Rio de Janeiro: Artviva Produção cultural, 2001. HUTCHEON, Linda. Splitting images: contemporary canadian ironies. Toronto: Oxford University Press, 1991. _______. Teoria e política da ironia. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. 302 JEUDY, Henri-Pierre. A ironia da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2001. JUHL, Peter. Interpretation: an essay in the philosophy of literary criticism. Princeton: Princeton University Press, 1980. KIERKEGAARD, Sören. O conceito de ironia: constantemente referido a Sócrates. 2. ed. Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2005. KLEIN, Yves. Yves Klein, 1928-1962: a retrospective. Houston: Institute for the arts, Rice University, 1982. KNOX, Norman. The word “irony” and its context: 1500-1755. Durham: Duke University Press, 1961. KUNDERA, Milan. A arte do romance. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. MANUEL, Antonio. Antonio Manuel. Rio de Janeiro: Funarte, 1984. _______. Antonio Manuel: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1999. MANZONI, Piero. Piero Manzoni. Londres: Serpentine Gallery, 1998. MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles. Rio de Janeiro, Funarte, 1981. _______. Cildo Meireles: ouro e paus. Rio de Janeiro: Joel Edelstein Arte Contemporânea, 1995. MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. In: _______. Husserl e MerleauPonty. São Paulo: Abril Cultural, 1975. _______. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: _______. Husserl e MerleauPonty. São Paulo: Abril Cultural, 1975. _______. O visível e o invisível. São Paulo: Perspectiva, 1992. _______. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. MOLES, Abraham. O kitsch. São Paulo: Perspectiva, 1986. MORAES, Antonio Carlos Robert. Flavio de Carvalho: o performático precoce. São Paulo: Brasiliense, 1986. MORAIS, Frederico. Depoimento de uma geração: 1969-1970, ciclo de exposições sobre arte no Rio de Janeiro. Galeria de Arte Banerj: Rio de Janeiro, 1986. _______. Cildo Meireles: algum desenho (1963-2005). Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2005. MOURÃO, Raul. Raul Mourão. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007. 303 MUECKE, Douglas. The compass of irony. Londres: Methuen, 1969. _______. Ironia e irônico. São Paulo: Perspectiva, 1995. OBRIST, Hans Ulrich Obrist. Arte agora em 5 entrevistas: Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Olafur Eliasson, Cildo Meireles, Rirkrit Tiravanija. São Paulo: Alameda, 2006. OSORIO, Luiz Camillo. Flávio de Carvalho. São Paulo: Cosac & Naify, 2000. PAPE, Lygia. Lygia Pape. Rio de Janeiro: Funarte, 1983. _______. Lygia Pape: entrevista a Lúcia Carneiro e Ileana Pradilla. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. _______. Gávea de tocaia. São Paulo: Cosac & Naify, 2000. PARREIRA, Lélia Parreira. Ironia e humor na literatura. Belo Horizonte: Editora PUC Minas; São Paulo: Alameda, 2006. PAZ, Octavio. Marcel Duchamp ou o castelo da pureza. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. PIRANDELLO, Luigi. Seis personagens à procura de um autor. São Paulo: Abril Cultural, 1978. SAID, Edward. The world, the text and the critic. Cambridge: Harvard University, 1983. SALDANHA, Claudia et al. Márcia X revista. Rio de Janeiro: Paço Imperial, 2005. SCHWARZ, Roberto. O pai de família e outros estudos. São Paulo: Paz e Terra, 1978. SEARLE, John. Speech acts: an essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. STAROBINSKI, Jean. La mélancolie ao miroir: conferénces, essasi et leçons du Collége de France. Paris: Julliard, 1989. TARDE, Gabriel. A opinião e as massas. São Paulo: Martins Fontes, 2005. TERDIMAN, R. Discourse/counter-discourse: the theory and practice of symbolic resistance in Nineteenth-century. Londres: Cornell University Press, 1985. VENANCIO FILHO, Paulo. Marcel Duchamp: a beleza da indiferença. São Paulo: Brasiliense, 1986. _______. Carlos Zílio. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. WALKER, Nancy. Feminist alternatives: irony and fantasy in the contemporary novel by women. Londres: University Press of Mississipi, 1990. 304 WARD, Frazer; TAYLOR, Mark; BLOOMER, Jennifer. Vito Acconci. Londres: Phaidon, 2002. WEARING, Gillian. Gillian Wearing. Fundação La Caixa, Barcelona; Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela, 2001. WEITEMEIER, Hannah. Yves Klein: international Klein blue. Köln: Taschen, 2005. WHITE, Hayden. Metahistory: the historical imagination in Nineteenth-century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973. Artigos em periódicos: BARROS, Geraldo. Depoimento. In: FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1. São Paulo: Centro de Estudos de Arte Contemporânea, 1979, p. 81. BARROS, Geraldo et al. Regulamento Rex. In: FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1, op. cit., p. 84. _______. Aviso: Rex Caput. In: FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1, op. cit., p. 89-92. BASBAUM, Ricardo. X: percursos de alguém além das equações. In: GERALDO, Sheila Cabo (Org.). Concinnitas: arte, cultura e pensamento. vol.1. n.4. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Arte, Instituto de Artes, UERJ, 2003, p. 165-173. BESSA, Sérgio. X-rated. In: BASBAUM, Ricardo; COIMBRA, Eduardo. Item. n.4. Rio de Janeiro, nov. 1996, p. 79-83. CORRÊA, Thomaz Souto. Rex Time: aviso é a guerra. FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1, op. cit., p. 82. ANJOS, Moacir dos. Do caráter mercantil, monetário e, ainda assim, autônomo do objeto de arte. In: FERREIRA, Glória; VENANCIO FILHO, Paulo. Arte e ensaios. n.6. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Escola de Belas Artes, UFRJ, 1999, p. 73-79. FOSTER, Hal. O retorno do real. In: GERALDO, Sheila Cabo (Org.). Concinnitas: arte, cultura e pensamento. vol.1. n.8. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Arte, Instituto de Artes, UERJ, 2005, p. 162-186. 305 OITICICA, Hélio. Parangolé, da antiarte às apropriações ambientais de Oiticica, Rio de Janeiro, Revista GAM, n. 6, mai. 1967. OSORIO, Luiz Camillo. Lygia Pape: experimentation and resistance. In: MOSQUERA, Gerardo et al. (Ed.) Third Text, Londres, Routledge, volume 20, n. 5, 2006, p. 571-583. SGANZERLA, Rogério. O bandido da luz vermelha. In: ARANTES, Otilia; FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1. São Paulo: Centro de Estudos de Arte Contemporânea, 1979, p. 18-19. ROCHA, Glauber. Uma estética da fome. In: ARANTES, Otilia; FAVARETTO, Celso; JÚNIOR, Matinas Suzuki. Arte em revista. Ano 1. n. 1. São Paulo: Centro de Estudos de Arte Contemporânea, 1979, p. 15-17. VINHOSA, Luciano. Da prática da arte à prática do artista contemporâneo. In: GERALDO, Sheila Cabo (Org.). Concinnitas: arte, cultura e pensamento. vol.1. n.8. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Arte, Instituto de Artes, UERJ, 2005, p. 143-157. Artigos em jornais: NAME, Daniela. Estou em busca do poema. O Globo, Rio de Janeiro, 22 fev. 2002, p. 01. Catálogos de exposição: CHIARELLI, Tadeu. Panorama 99: o acervo como parâmetro. Panorama de Arte Brasileira. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1999. Teses e dissertações: COELHO, Frederico Oliveira. Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado: cultura marginal no Brasil dos anos 60 e 70. 2002. Tese (Dissertação em História Social) Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 306 GÓMEZ, Diego Léon Arango. Experiência e expressão artísticas como fundamentos para uma crítica da arte em Merleau-Ponty. 1991. Tese (Dissertação em Filosofia) – Departamento de Filosofia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Artigos publicados em meio eletrônico: CANONGIA, Ligia. Chaves para leituras. Laura Marsiaj arte contemporânea, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: <http://www.lauramarsiaj.com.br/frame_artista.htm>. Acesso em: 21 mai. 2007. DA SILVA, Renato Rodrigues. O ponto central e os outros pontos. Revista Polêmica imagem, Rio de Janeiro, n. 11, 2003. Disponível em: <http://www.polemica.uerj.br/pol11/cimagem/imagem_arte_renato_ro_meio_p11.htm>. Acesso em: 22 jun. 2007. DE MORAES, Fabiana. Wim Delvoye: estética pela deslegitimação. Revista Polêmica imagem, Rio de Janeiro, n. 17, 2007. Disponível em: <http://www.polemica.uerj.br/pol17/cimagem/p17_fabiana.htm>. Acesso em: 28 jul. 2007. FARIAS, Agnaldo. Nelson Leirner. Galeria Brito Cimino – revista eletrônica de artes, São Paulo, n.1, 2002. Disponível em: <http://www.britocimino.com.br/port/artistas/leirner/texto.htm#bienal25>. Acesso em: 30 ago. 2007. MOURÃO, Raul. Luladepelúcia de Raul Mourão na Lurixs. Canal contemporâneo – revista eletrônica de arte, Rio de Janeiro, a. 5, n.130, 2005. Disponível em: http://www.canalcontemporaneo.art.br/e-nformes.php?codigo=960#6bis_b. Acesso em: 30 ago. 2007. X, Márcia. Márcia por Márcia. Márcia X.: revista eletrônica, Rio de Janeiro, n.1, 2005. Disponível em: http://marciax.uol.com.br/mxText.asp?sMenu=3&sText=16. Acesso em: 27 jul. 2007. _______. Natureza humana. Márcia X.: revista eletrônica, Rio de Janeiro, n.1, 2005. Disponível em: http://marciax.uol.com.br/mxText.asp?sMenu=3&sText=44. Acesso em: 27 de jul. 2007. 307 Depoimentos gravados em áudio: BARBOSA, Felipe. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2006. CALDAS, Waltercio. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2006. DIAS, Antonio. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 15 de março de 2006. DUARTE, Ronald. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006. MANUEL, Antonio. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de março de 2006. MEIRELES, Cildo. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005. _______. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2006. _______. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2007. _______. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007. _______. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 02 de julho de 2007. _______. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 09 de julho de 2007. TUNGA. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2006. Entrevistas concedidas por meio eletrônico (e-mail): BARRIO, Artur. ...........Respostas............. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <[email protected]> em 5 outubro 2007.
Download