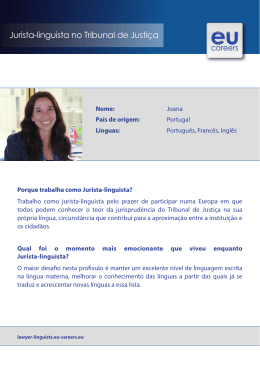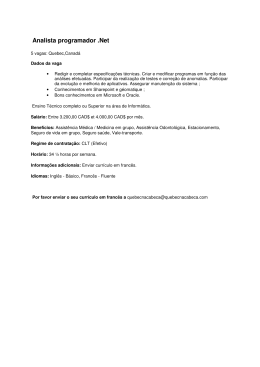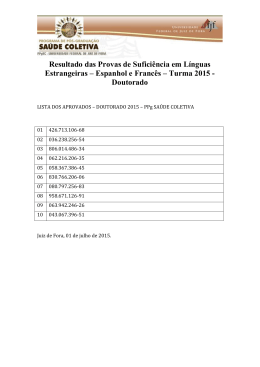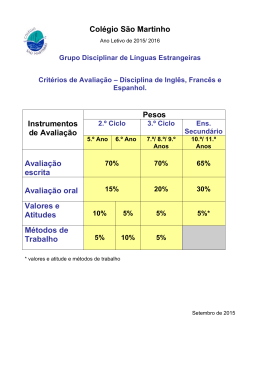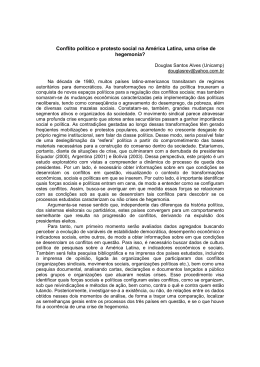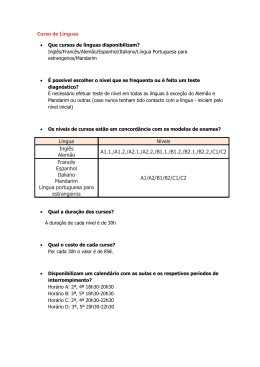Texto acessado de www.wcaanet.org/events/webinar como parte do seminário virtual EASA/ABA/AAA/CASCA de 2013. Transformações e alienações linguísticas por Christine Jourdan Fomos convidados a refletir sobre a dimensão política da língua na nossa prática profissional, particularmente no que diz respeito à posição hegemônica que o inglês ocupa atualmente na Antropologia. Dois aspectos caracterizam minha intervenção: 1) primeiramente, a decisão de utilizar um tom mais leve, próximo da conversação, diferente do jargão técnico e teórico habitual, e de deixar que a teoria apareça nas entrelinhas do texto; trata-se de uma escolha tanto metodológica quanto política, no seu sentido mais amplo; 2) que me perdoem, mas parto aqui de experiências pessoais, fazendo uma espécie de arqueologia do meu conhecimento e de sua formação, e utilizando em certa medida uma forma de epistemologia reflexiva que conduz a considerações mais amplas e mais políticas sobre a prática antropológica e o lugar da língua (e de sua representação) na conscientização antropológica. Afinal, o antropólogo é, frequentemente, tanto em nível linguístico como profissional, o resultado das experiências de vida que o constituíram. Seus conhecimentos e sua prática antropológica estando profundamente impregnados destas experiências. Formações e transformações Foi apenas quando cheguei em Montreal, vinda do interior da França, aos 20 anos, que me dei conta pela primeira vez do fato de falar francês, isto é, me dei conta do peso ideológico associado ao fato de falar o francês ‘padrão’ (standard). Até então, a única coisa que contava era a qualidade da língua que utilizava, resultado da ladainha sem fim que suportei na escola sobre a beleza da língua francesa, e também em casa, sobre a necessidade de a falar bem para “se fazer respeitar”, me diziam, e, principalmente, para que eu não falasse como um meliante! Foi também em Montreal que conheci o valor político da língua como eixo de identidade étnica e de reivindicação política. Os atritos que caracterizavam a coexistência do francês e do inglês em Montreal eram acompanhados por atritos similares entre o francês padrão falado pelos “malditos franceses” da época e os quebequenses. Tendo me lançando aos estudos de Etnolinguística na Universidade de Montreal, querendo compreender tudo o que se passava ao me redor, e também o que me afetava, eu saía das aulas de Etnolinguística de Gilian Sankoff completamente abatida, chorando pela minha inocência perdida e por me terem mentido durante toda minha infância: esta construção, “o francês”, não era apenas um dos mitos fundadores da nação francesa, mas principalmente uma fonte de opressão. Todas as relações entre língua e poder, implícitas ou explícitas, me saltavam aos olhos. Na França, eu fazia parte da maioria silenciosa; agora, no Quebec, eu fazia parte das minorias que se podia ouvir. Me tornei imediatamente silenciosa. E depois de ter escrito dois artigos no início da minha carreira sobre a dimensão ideológica da língua no Quebec, passei ao estudo, mais neutro para mim em termos emocionais, do pidgin das Ilhas Salomão. Aquilo que estava distante me parecia menos arriscado. Na Austrália, na época do meu Doutorado na Universidade Nacional (ANU), descobri outro tipo de hegemonia e de insegurança linguística. Não se tratava mais de desempenho no sentido ideológico; tratava-se simplesmente de uma questão de competência linguística. Como se fazer levar a sério durante as discussões e os seminários quando temos dificuldades com coisas tão simples como as vogais fechadas ou abertas do inglês e quando, ao invés de dizer I’d like to live on a ship (Eu gostaria de morar em um navio), em resposta a uma pergunta banal sobre escolhas de vida, dizemos, para o grande espanto de nossos interlocutores, I’d like to leave on a sheep (Eu gostaria de ir-me em uma ovelha)? Como me defender da opinião dos doutorandos do meu grupo a respeito da minha capacidade de falar ‘bem’ o pidgin, a própria língua do meu ©2013 Jourdan 1 Texto acessado de www.wcaanet.org/events/webinar como parte do seminário virtual EASA/ABA/AAA/CASCA de 2013. campo, que aprendi com amor e com grande sucesso, quando escutamos: Oh, isn’t she cute : she speaks Pijin with a French accent’ (Olha, que gracinha : ela fala pidgin com sotaque francês). Desde quando falar pidgin com sotaque inglês constitui a norma que deve ser seguida pelos estrangeiros? Claro, desde a época da colonização inglesa, eu deveria saber! Qualquer desvio a esta norma era considerado uma anomalia sóciolinguística, mesmo em se tratando de uma língua que era estrangeira para todos. Representar a língua do outro Foi nas Ilhas Salomão, antiga colônia inglesa, que me tornei consciente de outro aspecto da hegemonia do inglês: As relações pós-coloniais se transformam, em alguns casos, em relações neocoloniais: o inglês continuava a ser a língua do poder e da promoção social, a despeito das línguas locais. Descobri ainda o multilinguismo em grande escala e a coexistência harmoniosa entre as sessenta e quatro línguas vernáculas. A questão da língua de campo surgiu imediatamente: qual escolher entre as 64? A questão era importante, uma vez que a língua do campo não constitui apenas uma ferramenta de comunicação que facilita a pesquisa. Nós o sabemos bem: através das redes e das áreas de conhecimento às quais ela nos dá acesso, ela guia nossa percepção do mundo. Ainda hoje estou convencida de que a escolha que fiz de trabalhar em pidgin - escolha tanto pragmática e metodológica quanto teórica - orientou minha compreensão do mundo urbano em desenvolvimento, longe das preocupações disciplinares da época em relação aos grupos étnicos. Língua de todos e de ninguém, o pidgin é o meio de expressão do urbano e etapa obrigatória para se atingir o estatuto de citadino. Apreender o urbano pelo intermédio de uma língua vernácula me faria imergir em uma perspectiva étnica que queria evitar. Para tanto, era preciso resistir à vontade dos autóctones, amigos e interlocutores, de se apropriar do antropólogo em um nível simbólico por intermédio da língua. Contudo, se fazia necessário ainda representar esta língua degradada por anos de opressão ideológica e prática por parte dos administradores coloniais. O que melhor haveria senão um dicionário para dar legitimidade linguística a uma língua até então considerada por seus críticos e por alguns dos seus locutores como jargão sem forma? Na Antropologia, um dicionário é, frequentemente, um produto que resulta da pesquisa principal. No entanto, as escolhas de publicações que fazemos, e os temas que adotamos, não são banais, ainda que, em alguns casos, eles se oponham àquilo que amamos. Eles se opõem também frequentemente àquilo que nossos interlocutores locais gostariam de ver publicado. Publicar na língua dos outros Os antropólogos possuem códigos de ética que são quase mandamentos sagrados: não enganarás a teus informantes; protegerás os seus interesses; não lhes roubarás a sua propriedade intelectual; não inventarás teus próprios dados, etc. Esses ‘mandamentos’ funcionam como imperativos morais e guias de boa prática. Se considerarmos que publicar nossas pesquisas faz parte da nossa responsabilidade científica, publicar na língua dos nossos informantes, ou naquela em que podem ler, é, a meu ver, um imperativo moral. Eu publico em francês aquilo que escrevo sobre o Quebec e em inglês aquilo que escrevo sobre as Ilhas Salomão, apesar de ter em mente o seguinte paradoxo: diante de uma minoria das pessoas ser simplesmente capaz de ler, ou de ler em inglês, quem, nas Ilhas Salomão, gostaria de ler alguma coisa que, para eles, já é conhecida? Nem que seja pela curiosidade de ver se bem entendi, ou de ver como representei as coisas. Desenganador, este paradoxo nos permite não apenas manter uma simplicidade de bom tom, mas também levantar questões sobre a pertinência daquilo que fazemos. Entretanto, as circunstâncias locais nos levam a infringir nossas próprias regras. Assim, escrevo em francês de tempos em tempos para me opor à hegemonia ©2013 Jourdan 2 Texto acessado de www.wcaanet.org/events/webinar como parte do seminário virtual EASA/ABA/AAA/CASCA de 2013. do inglês. Mas o francês também é uma língua hegemônica! E escrevo em inglês para ser lida, uma vez que a maior parte dos meus colegas anglófonos, canadenses e americanos, não lê em francês. Publicamos em inglês para sermos lidos, para difundir o conhecimento, desenvolver nossa carreira (ter acesso aos periódicos prestigiosos da disciplina, quase todos em língua inglesa, também faz parte), mas também em nossa própria língua ou na língua dos nossos interlocutores de campo, por convicção política. Tal gesto não é banal. Deste modo, quando publiquei o dicionário de pidgin acima mencionado, era importante que ele fosse trilíngue pidgin-inglês-francês, a fim de promover o pidgin ao nível das duas línguas internacionais do Pacífico, o francês e o inglês. Evidentemente, podemos dizer que se trata de um cuidado puramente simbólico e ideológico, uma vez que esse dicionário não mudou em nada a situação do pidgin localmente, ainda que sua publicação coincida com o desenvolvimento de uma geração de citadinos pós-coloniais que fez desta língua o símbolo de sua distinção social e cultural frente a uma elite urbana que utiliza o inglês como trampolim social. Contudo, no que diz respeito à representação da língua do outro, me parece que a maior dificuldade está relacionada às expectativas culturais locais sobre a natureza da linguagem, seu lugar na sociedade e a função de um texto. Neste sentido, duas questões resultam particularmente importantes: Como justificar no plano epistemológico local o fato de escrever um dicionário de uma língua que nunca aparece na sua forma escrita (à exceção da tradução da Bíblia pelos linguistas do SIL)? Qual sentido se pode dar à transformação de uma língua oral em uma série de palavras descontextualizadas? Por que esta vontade de dar legitimidade a uma língua cujos próprios interlocutores a denigrem? Toda decisão que se refere à representação da língua, em um dicionário ou outra manifestação, constitui, de fato, uma escolha epistemológica, mas também uma escolha ética. A questão da hegemonia do inglês como língua de comunicação científica não pode ser dissociada da hegemonia do inglês em outras esferas, tais como na internet e nas relações internacionais. Isto já foi dito. Além do mais, ela tampouco pode ser dissociada da questão mais geral do papel das línguas glotofágicas no desaparecimento de um bom número de línguas do mundo. No Quebec, a questão da hegemonia do inglês serve de pano de fundo a debates identitários mais profundos que se assemelham a inúmeros outros em outras partes do mundo. Todas essas influências diversas, e a vantagem conceitual que proporciona a vivência em uma sociedade multilíngue como é o Quebec hoje, multilinguismo ocultado durante tanto tempo pelas tensões políticas em torno do bilinguismo francês-inglês, marcaram certamente minha concepção da Antropologia como uma disciplina que deve ser multilíngue e multicultural. Além da hegemonia do inglês que, paralelemente, nos permite enriquecer a disciplina através de uma glocalização criativa, me indago também sobre a hegemonia da Antropologia americana. Apoiada por uma associação profissional rica de aproximadamente 10.000 membros e por periódicos profissionais que, em virtude dos fatores de impactos, se tornaram dos mais prestigiosos, ela é incontornável. Nós sabemos como estes fatores de impactos são calculados. Olhando com atenção os textos citados nas bibliografias dos periódicos mais qualificados, percebemos que, em alguns casos, e de acordo com os temas, as grandes escolas se destacam. Essas antigas escolas têm a tendência de citarem umas às outras. Pouco a pouco, temos um efeito de massa: ignorando a produção externa, damos a impressão de que a produção anglófona, e particularmente a americana, é não somente a produção mais importante em termos quantitativos (o que é provavelmente verdadeiro, dado o número de antropólogos e de linguistas nos Estados Unidos), mas também a mais importante em temos de conteúdo e de impacto. Finalmente, é preciso levar em consideração o efeito de moda. Se quisermos estar na corrente é preciso mostrar que conhecemos a literatura da corrente (aquela citada nos periódicos mais qualificados, por exemplo), assim como o jargão que a acompanha, e isto mesmo que outros autores tenham dito antes as mesmas coisas em outras línguas e com palavras diferentes. ©2013 Jourdan 3 Texto acessado de www.wcaanet.org/events/webinar como parte do seminário virtual EASA/ABA/AAA/CASCA de 2013. No seio da nossa profissão, esta hegemonia reforça as relações de poder que existem entre os locutores monolíngues do inglês e os locutores monolíngues de outras línguas que devem se tornar bilíngues ou multilíngues para ter uma voz na cena internacional. A hegemonia do inglês, e da Antropologia americana, na Antropologia permite aos antropólogos anglófonos continuar sendo unilíngues, obrigando todos os outros a se tornarem no mínimo bilíngues. Para concluir, gosto de pensar que a questão da hegemonia do inglês não terá provavelmente sentido daqui a 100 anos, quando então falaremos mais da hegemonia do mandarim em escala internacional. Os impérios comerciais e políticos vão e vêm, e as línguas se internacionalizam e se tornam línguas de poder. Mas isto é outro assunto. ©2013 Jourdan 4
Download