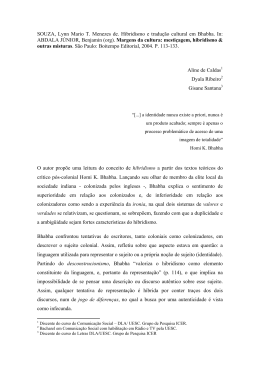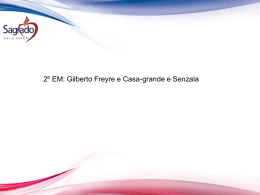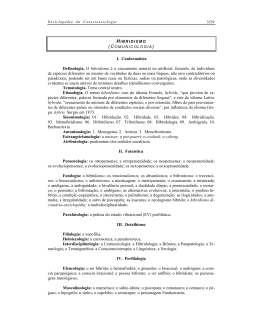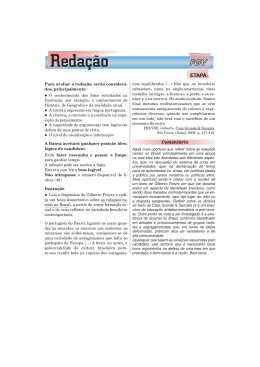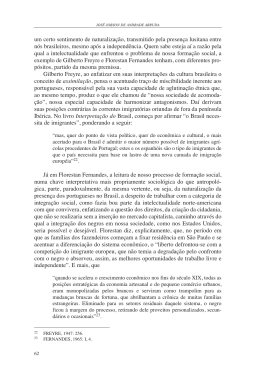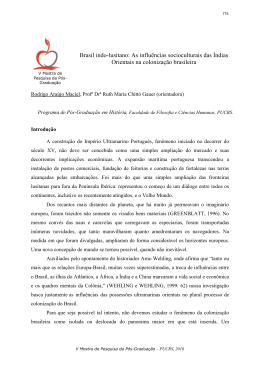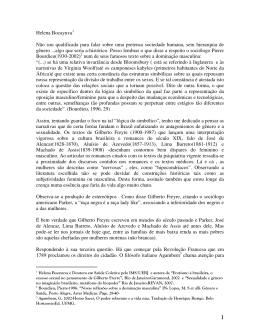Pós-colonialismo e o hibridismo no Brasil Mele Pesti Universidade de Tallinn, Estonia [email protected] Introdução Durante os meus estudos na Universidade de São Paulo em 2010 participei numa diciplina sobre Modernismo Brasileiro. Nessas aulas o termo “hibridismo” era muitas vezes mencionado de uma forma pouco reflexiva ou sem ser visto como um termo que pede uma definição antes de ser usado ou discutido. Como já tinha estudado teoria pós-colonial e compreendi que “hibridismo” podia ser um conceito chave para perceber a situação cultural única do Brasil, fiquei curiosa e perguntei: „O que querem dizer com hibridismo e que tradição de hibridismo cultural seguem no Brasil?” Pelos olhares confusos que vi percebi que a pergunta parecia estranha. “Hibridismo” é uma palavra comum na nossa língua, e uma das características mais importantes da nossa cultura. Sempre a usámos!”, afirmou o professor. A percepção de que o hibridismo cultural é algo de muito comum e talvez mesmo central na sociedade brasileira – um país colonizado pelas potências europeias durante séculos – interessou-me pelas suas eventuais ligações com o uso do termo “hibridismo” nas obras de proeminentes teóricos do pós-colonialismo. Para compará-los, escolhi dois autores: as obras do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre e de um dos principais líderes da escola da teoria póscolonial, Homi K. Bhabha. Sei que existe um debate muito intenso no Brasil sobre os argumentos de Gilberto Freyre na formação da sociedade brasileira e do seu possível atraso no contexto contemporâneo. Ainda acredito que parte do que escreveu em 1933 se mantém actual hoje e ajuda-nos na difícil tarefa de formular algumas descrições operacionais sobre a condição brasileira. Como mais a frente referirei, nem Freyre nem Bhabha nos dão respostas muito boas, mas ambos contribuem com algo para esta discussão. No início os diferentes tipos de “hibridismo” sobre o qual escrevem parecem muito distantes um do outro. Tentei preencher o espaço entre ambos através de concepções genéricas sobre hibridismo cultural. Assim, usei o trabalho de outros teóricos e também o recente livro de Peter Burke “Cultural Hybridity”(2009) – a sua tentativa de juntar vários métodos na explicação de processos de hibridização cultural no mundo. Este processo de colocar lado a lado duas teorias de hibridismo e compará-las fez-me também pensar numa escala um pouco maior sobre a justificação do uso de teoria pós-colonial numa análise da América Latina. Este debate já existe (ver por exemplo Sara Castro-Klarén (1995) lamentando a falta de atenção dada pelo pós-colonialismo ás realidades latino-americanas ou Klor de Alva (1995) lutando contra o uso do termo, (ambos citados em McLeod 2007:120)). O primeiro objectivo deste ensaio é comparar o uso do termo “hibridismo cultural” na velha tradição brasileira tal como apresentado em Gilberto Freyre’s “Masters and Slaves” (CasaGrande e Senzala, 1933) e na teoria pós-colonial mais contemporânea. Depois prosseguirei para o debate mais amplo sobre a justificação do uso de teoria pós-colonial na América Latina. O ultimo e talvez o mais importante objectivo é tentar descobrir quem mais para além dos mundialmente conhecidos teóricos do pós-colonialismo e de Freyre pode dar-nos uma descrição ou análise de hibridismo cultural aplicável ao Brasil. O que quer dizer chamar o Brasil de “nação híbrida”? O tema da miscigenação tem estado no centro de intensos debates entre intelectuais brasileiros no que diz respeito a questão da identidade brasileira. Esta discussão prolongou-se durante o século XX, tendo atingido um dos seus pontos altos durante anos 30 (período que nos trouxe os textos mais influentes de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Hollanda e Paulo Prado). Durante o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945), a miscigenação foi transformada numa bandeira ao serviço da ideologia do estado chamada “democracia racial”, afirmando que o racismo não existia num país no qual quase todos os cidadãos partilhavam sangues vários. A usurpação por um ditador do conceito de hibridismo através da miscigenação para servir propósitos ideológicos não deve tirar crédito ao uso inicial do termo, e deixar para trás a possibilidade de explicar algo importante sobre a sociedade brasileira. Apesar de Gilberto Freyre nunca ter usado o polémico termo de “democracia racial”, este foi claramente aproveitado a partir do seu conceito de “nação híbrida”. No seu livro mais importante, “Casa-Grande e Senzala, (1933) ele coloca o termo “híbrido” logo no título do primeiro capítulo: “Características Gerais da Colonização Portuguesa do Brasil: A Formação de uma Sociedade Agrária, Escrava e Híbrida”. Na primeira página ele afirma que a nova sociedade brasileira do século XVI é de “composição híbrida, com uma mistura de Índio e mais tarde de Negro.” (Freyre 1966:3). Freire não se limita a narrativa clássica, quase mitológica de um Brasil formado por três elementos – os habitantes indígenas originais, os colonizadores portugueses e os escravos de África. De uma forma inteligente ele menciona a união de várias culturas compreendendo diversos factores étnicos: “O “Velho Cristão” português, o Judeu, o Espanhol, o Holandês, o Francês, o Negro, o Ameríndio, os descendentes dos Mouros” (Freyre 1966: xii). Freyre explica em detalhe como e porquê as relações interraciais começaram de uma forma tão rápida e intensa no Brasil quando comparado com todas as outras colonizações nas Américas. Explica-o sobretudo pela natureza dos portugueses que chegaram ao Novo Mundo: era a população masculina que tinha ficado em casa após as descobertas portuguesas na Índia, e que consistia sobretudo “daqueles pobres em recursos económicos, plebeus e de origem Moçárabe – com uma consciência racial muito fraca” (Freyre 1966: 85). “As inclinações lascivas de indivíduos sem ligações familiares e rodeados de mulheres índias nuas serviriam as razões poderosas do Estado, através da rápida população das novas terras com descendentes mestiços”. (ibid). O rápido processo de miscigenação contrastava de forma clara com a dos colonizadores britânicos na América do Norte, onde estes se comportavam muito mais como grupos fechados, mudando-se para o Novo Mundo com as suas mulheres, sendo mais conservadores, e tendo muito menos experiência de vida em comum com outras raças do que os portugueses. No sentido oposto, e de acordo com Freyre, os homens portugueses tinham viajado para o Novo Mundo sem família, sentiam-se muito atraídos pelas mulheres índias e por terem tido a experiência de conviver com outras raças não viam as diferenças raciais como um problema. Mas estas diferenças parecem ser claras mesmo quando o início da colonização do Brasil é comparada com as conquistas espanholas no Novo Mundo. Freyre argumenta de uma forma bastante lógica que as culturas Incas, Aztecas e Maias foram destruídas pelos colonizadores espanhóis porque eram perigosas para o Cristianismo e pouco favoráveis a uma exploração mais fácil das suas riquezas minerais. Como os recursos naturais esperados não foram inicialmente descobertas no Brasil, havia menos antagonismo e uma necessidade mais forte na constituição de famílias e no início da produção agrícola por razões de sobrevivência. Freyre refere várias vezes a família como sendo um agente absolutamente decisivo na construção da sociedade brasileira durante os primeiros séculos de colonização. No “The Routledge Companion to Postcolonial Studies” (2007) Claire Taylor escreve que a partir da segunda metade do século XVII a população mestiça en America Latina começou a crescer, bem como a quantidade de casamentos interraciais legítimos. As estatísticas exactas sobre a composição étnica da nação brasileira através da sua história são difíceis de encontrar: cada fonte indica dados diferentes e define grupos étnicos de forma diversa. Zita Nunes escreve num artigo sobre raça e antropologia no Brasil: “Durante o período do comércio de escravos, o Brasil recebeu até 37% do número total de africanos trazidos pela força para as Américas (em comparação com os 5% da América do Norte) – (Curtin 1969).” (Nunes 1995: 115). Nunes refere igualmente uma pesquisa (da Costa 1989) que estabelece o número de 1 347 000 brancos e 3 993 000 negros e mulatos a viver no Brasil em meados do século XIX. Enquanto contextualiza as especificidades do Brasil, Freyre cita também (entre muitos outros) um importante trabalho sobre relações raciais conduzida pelo seu contemporâneo Ruediger Bilden em 1931. De acordo com este estudo, os diferentes tipos de colonização na América Latina encontram-se divididos em quatro grupos: as repúblicas maioritariamente brancas da região de Rio de la Plata e do Chile com poucos índios; México e Perú, com conflitos acentuados pelas riquezas minerais e onde a exploração e o antagonismo entre raças resultaram numa super-estrutura europeia; Paraguai e Haiti com uma maioria de Índios e Negros; e o último grupo, cujo único exemplo é o Brasil, onde o elemento europeu nunca se encontrou numa posição de domínio absoluto sem disputa e por isso mesmo sempre teve que competir com os outros numa base de maior igualdade. Freyre acrescenta um comentário: “Híbrida desde o inicio, a sociedade brasileira é, entre todas as das Américas, a mais harmoniosamente constituída no que diz respeito às relações raciais, no contexto de uma reciprocidade cultural prática” (Freyre 1966: 83). Tocando agora no lado mais discutível da narrativa de Freyre, existem muitos pontos altamente criticáveis que podem ser feitos, mas dois destes são particularmente importantes. Em primeiro lugar, ele não dedica muita atenção à violência que está presente no processo de “hibridismo ao nível da família. Concretamente, a questão é a seguinte: a formação de uma nova família híbrida foi sempre inteiramente voluntária no que diz respeito à mulher Índia/Negra? E se existia, por muito pequeno que fosse, um elemento económico ou de medo envolvido, podemos ainda falar de “relações raciais harmoniosamente constituídas?” Talvez o hibridismo perdesse assim parte do seu significado positivo e se passasse a analisar o fenómeno num contexto de dominação, repressão, etc. A segunda questão a colocar sobre as premissas de Freyre é a questão sobre a que sectores da sociedade o “hibridismo” a que este se refere são aplicáveis. O “hibridismo” a que se refere Freyre no Brasil parece ser racial e de alguma forma cultural, mas não exactamente social ou político. Deste modo a discussão sobre uma sociedade híbrida harmoniosa tal como apresentada por Freyre requer atenção especial: nalguns sectores os seus argumentos possuem alguma verdade, mas noutros são muito limitados. Enquanto se celebram os frutos do hibridismo racial não devemos idealizar a nova raça híbrida e fechar os olhos às relações hierárquicas e enormes desigualdades presentes na sociedade brasileira. Apesar de todo este hibridismo racial as desigualdades continuam, paradoxalmente, a ter uma base racial. “No Brasil a desconstrução da raça levou a esconder o facto de que a discrepância estatística entre brancos e “castanhos” (pardos) na mortalidade infantil, esperança de vida e rendimento disponível é consistentemente elevada, enquanto que a discrepância estatística entre “castanhos” e negros é consistentemente pequena. (Nunes 1995: 116-117) O optimismo de Freyre sobre a sociedade tem alguma razão de ser, mas ignora igualmente muitas realidades sociais: “Os portugueses não trouxeram para o Brasil divisões políticas, como os espanhóis o fizeram nas Américas, nem diferenças religiosas, como foi o caso dos ingleses e franceses nas suas colónias.” (Freyre 1966: 40) “Talvez em mais nenhum lugar ocorra o encontro, intercomunicação e a fusão harmoniosa de tradições culturais diferentes de uma forma tão liberal como no Brasil” (ibid: 78) Freyre avança com algumas críticas (sobre o grande fosso entre doutorados e iletrados, sádicos e masoquistas, senhores e escravos) mas termina a sua argumentação numa nota optimista: “Entretanto o fosso entre os dois extremos continua a ser enorme, a intercomunicação entre tradições culturais é em muitos casos deficiente; mas de qualquer modo o regime brasileiro não pode ser acusado de rigidez ou/…/ de falta de uma mobilidade vertical.” (ibid). Aqui podemos mais uma vez detectar o entusiasmo de Freyre sobre o hibridismo racial que ele não separa de um hibridismo social/político. Em vez disso ele funde-os num só, transmitindo um diagnóstico geralmente positivo. O diálogo entre o “hibridismo” na teoria pós-colonial e de Gilberto Freyre Os teóricos pós-coloniais Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin compilaram os conceitos chave do pensamento pós-colonial. Eles definem hibridismo de uma forma abrangente, como a criação de novas formas transculturais no interior da área de contacto produzida pela colonização, as suas formas sendo linguísticas, culturais, políticas e raciais (Ashcroft et al 2000). A forma como Freyre analisa o hibridismo encaixa perfeitamente nesta definição: a partir do ano de 1500 o Brasil transforma-se claramente numa área de contacto por causa da colonização. Das formas transculturais ele dá mais atenção à racial, mas sublinha que esta não é a questão mais importante do hibridismo. O que para ele é mais importante é a diversidade étnica que deixa a sua marca nas formas culturais da vida. Freyre faz igualmente algumas incursões linguísticas tentando explicar a suavidade do português do Brasil em comparação com a sua versão europeia através da diversidade étnica dos seus falantes no Novo Mundo. O pensador/intelectual que preencheu o termo “hibridismo” com um conteúdo mais sólido foi Homi K. Bhabha. Nos seus principais trabalhos sobre teoria pós-colonial (editados no livro “The location of culture” 1994) Bhabha tende a problematizar a oposição binária demasiado simples entre “colonizador” e “colonizado”. Tal como aplicado ao Brasil, a reconsideração desta oposição torna-se inevitável. Quando o processo de miscigenação já teve um impacto muito forte na formação da sociedade, torna-se impossível colocar em oposição “colonizadores” e “colonizados” de forma clara. O proto-colonizador (o português) e o protocolonizado (o índio, o africano), transformaram-se num só: o brasileiro. A repressão mantémse mas não através de linhas definidas entre colonizador e colonizado. Lendo com mais atenção os textos de Bhabha devemos lembrar-nos que os escreveu em diálogo com Edward Said e outros críticos do discurso colonial. Bhabha viu-os como uma imagem transmitindo uma imagem monocromática do colonizador e colonizado no Oriente, e em especial na Índia, e criou a sua própria teoria para iluminar áreas mais abrangentes na sua composição. Bhabha sublinha a interdependência entre colonizador e colonizado e a construção mútua das suas subjectividades. Na sua compilação de conceitos chave do pós-colonialismo, Aschcroft, Griffiths e Tiffin explicam que para Bhabha o reconhecimento de um espaço de ambivalência de identidade cultural pode ajudar-nos a ultrapassar o exotismo da diversidade cultural em prol do reconhecimento de um hibridismo libertador no qual a diversidade cultural pode operar (2000: 118). Isso encaixa na perfeição com o principal conceito nos trabalhos de Freyre - e é importante perceber que o exotismo também é possível no contexto de uma nação, especialmente se é de tal maneira grande e distinta como a brasileira. Na actualidade, uma das questões fundamentais no mundo globalizado é: o que é que uma sociedade precisa fazer num contexto onde coexistem vários grupos étnicos vivendo juntos? Nos discursos europeus e norte-americanos a principal resposta hoje em dia é o multiculturalismo, e no Brasil desde o início da colonização sempre foi: hibridismo. Bhabha parece preferir o último, sugerindo que a celebração da diversidade não é suficiente para uma sociedade funcionar bem. “Porque a vontade em penetrar em território desconhecido/…/ pode permitir a conceptualização de uma cultura internacional, que não toma por base o exotismo do multiculturalismo da diversidade de culturas, mas na inscrição e articulação do hibridismo cultural.” (Bhabha 1994: 56) Assim podemos chegar a uma conclusão preliminar que nos diz que o hibridismo que Bhabha encontra no caso da Índia num espaço bastante abstracto formado algures no terceiro espaço entre colonizador e colonizado, está presente de uma forma muito mais aberta noutro país com uma trajectória histórica muito diferente. Talvez os brasileiros já alcançaram o objectivo que Bhabha coloca às sociedades: ultrapassar o exotismo da diversidade cultural em favor de um reconhecimento de um hibridismo libertador? Peter Burke avisa-nos sobre os perigos em idealizar o “hibridismo”. O conceito de hibridismo também foi criticado por oferecer uma imagem de harmonia de algo que é obviamente um confronto e por ignorar descriminações sociais e culturais. /…/ No entanto pode ser útil distinguir estes conflitos sociais das suas consequências não intencionais no longo prazo – a mistura, interpenetração ou hibridação de culturas.” (Burke 2009: 7) *** É também extremamente importante tomar em consideração nesta discussão o grande impacto da escravatura na história brasileira, cujos efeitos ainda são muito visíveis na sociedade actualmente, muito após a abolição da escravatura em 1888. Mesmo quando o Senhor não era de origem pura europeia e a sua mulher indígena, ele ainda ocupava o lugar do Senhor e deste modo, do repressor. É no entanto muito discutível se podemos tratar o Senhor por colonizador, especialmente porque na medida que o tempo passa se torna cada vez mais difícil distinguir quando é que o dono da plantação de origem portuguesa ou o seu filho ou neto deixa de ser português e se torna brasileiro. Podemos afirmar que a dinâmica que nos interessa aqui tem lugar entre o senhor e o escravo, e não entre o colonizador e o colonizado. Nesta relação antagónica os termos sugeridos por Bhabha: “mimetismo/mimicry” e “ambivalência/ambivalence” também encaixam bastante bem para descrever os processos em curso. A relação pouco clara entre colonizador/colonizado fica ainda mais complicada se adicionarmos o precedente da mudança da Coroa do Império português para o Brasil em 1808-1821 – a colónia periférica transformando-se na metrópole. A relação entre colonizador e colonizado parece ficar esvaziada do seu significado inicial nesta situação de alteração da ordem de poder, bastante única na história mundial. Poderia certamente ser uma base para o estudo das relações centro/periferia em circunstâncias de mudança. No que diz respeito ao objectivo deste trabalho – comparar o hibridismo visto do Brasil com o da teoria pós-colonial – podemos assumir que o hibridismo no caso brasileiro não é necessariamente formado na oposição colonizador/colonizado – ou se o é, é num sentido muito mais abrangente, onde pelo menos uma parte da equação, o “colonizador”, se torna progressivamente uma figura quase mitológica: “colonizador” é cada vez menos um indivíduo concreto e mais uma ideologia ultrapassada que se manifesta apenas parcialmente na figura do dono da plantação. O senhor e o seu chicote são muito reais na mente do escravo (que parece encaixar na figura do “colonizado”) mas os valores que o senhor traz consigo não são necessariamente puramente coloniais. Portugal estando tão longe e sendo tão pequeno e tendo que tomar conta de tantas outras colónias noutros continentes – tudo isto ao mesmo tempo que perde a sua importância como potência mundial. Não possui a energia necessária de uma super-potência para impor um domínio colonial aos seus sujeitos. Assim, a distância entre a noção da representação democrática do povo vs os serviço imposto por um governo colonial central tal como descrito por Bhabha (1994: 136-137), ou a distância na lealdade dos senhores coloniais, entre a sua antiga pátria e a nova não pode ser aplicada no Brasil de uma forma simples. A segunda ou pelo menos a terceira geração de senhores coloniais encontrava-se já tão afastada de Portugal que fez tais questões dissiparem-se. As questões enunciadas por Bhabha sobre democracia e representatividade não são realmente aplicáveis no contexto do Brasil colonial mas a questão da lealdade dos colonizadores ainda pode ser colocada. Daquilo que nos dizem Freyre e os historiadores brasileiros sobre a mentalidade dos senhores entre os séculos XVI-XIX no Brasil, eu suponho que as suas limitações éticas no dia-a-dia não eram o resultado de uma divisão de lealdades entre dois países tal como Bhabha o coloca. O Brasil parece ter sido para muitos a sua única casa, e a mística pátria portuguesa estava simplesmente demasiado longe, fisicamente e psicologicamente. A partir dos séculos XVII-XVIII, o senhor – se acreditarmos nas descrições de Gilberto Freyre – já não é necessariamente o colonizador português: este tornou-se parte de uma cultura híbrida. Mesmo que ela provenha de uma das poucas linhas de sangue “puramente” portuguesas ele teria muito provavelmente uma ama negra, um amigo para as brincadeiras que seria um escravo negro e uma amante negra ou índia. Tudo isto o afecta de forma profunda – muito mais do que qualquer família inglesa seria influenciada pelos hábitos indianos ou a sua maneira de pensar. Não nos devemos esquecer que esta imagem do senhor é um pouco idealizada/fabricada. Afirmar que a noção de colonizador desapareceu rapidamente devido ao rápido progresso do hibridismo não quer dizer que a repressão e práticas cruéis não tinham lugar tão frequentemente como noutros países colonizados onde os colonizadores mantinham a sua identidade e estavam ligados de uma forma mais directa à sua pátria. Gilberto Freyre tem sido acusado de excesso de optimismo na maneira nostálgica como escreve a história, não fazendo referência à violência presente nesta imagem idílica de uma sociedade híbrida. Se analisado mais de perto, o seu “The Masters and Slaves” é escrito a partir da perspectiva do senhor. Apesar da sua simpatia pelos escravos e dos seus esforços para elevar o orgulho pelas contribuições dadas pelos indígenas e africanos para a consciência nacional, existe um elemento paternalista presente. A história do ponto de vista do escravo (ou qualquer outra pessoa de estatuto social baixo) continua sem ser contada – as obras de Gayatri Spivak no campo dos estudos subalternos poderão neste caso ser uteis. *** Um dos problemas no uso da teoria de Bhabha para analisar a situação brasileira reside na diferença do nível de auto-confiança do colonizador em vários casos. O sistema colonial (indiano) apresentado por Bhabha implica uma situação onde os colonizadores conseguiram convencer os indígenas sobre a superioridade dos britânicos (apesar das confusões sobre a credibilidade de uma autoridade que come carne). Baseado na classificação dos diferentes estilos de colonização de Ruediger Bilden acima mencionados, algumas semelhanças podem ser aplicadas no contexto da “Super-estrutura europeia” no México e no Perú, mas não no Brasil, onde a hierarquia racial era muito menos rígida e a miscigenação tinha já tido um efeito muito rápido e forte na sociedade. Algo semelhante ao que Bhabha descreve como ambivalência colonial e o uso do mimetismo poderá ter acontecido (num processo que talvez possa ser chamado de auto-colonização cultural) na relação entre brasileiros e britânicos. Houve uma onda de “londronização” no inicio do século XIX quando os homens no Rio de Janeiro usavam grossos fatos britânicos no meio do calor tropical (Burke 2009: 80), e Freyre tinha referido situações semelhantes na sua cidade natal do Recife. Existe também uma expressão no Brasil – em uso desde o século XIX – “para inglês ver”, que tem um significado semelhante á da “aldeia Potyomkin” nos países mais próximos da cultura russa – algo que é feito apenas para que o patrão/senhor/colonizador veja, algo que aquele que o prepara ou mostra não acredita, ou que nem sequer existe. Parece ser muito próximo da definição de “sly civility” tal como referido por Bhabha (1994). Mas mais uma vez – o exemplo não é muito válido para analisar de uma forma tradicional o processo de colonização (a relação entre Portugal e o Brasil) pois esta expressão descreve um aspecto da relação entre brasileiros e ingleses, que oficialmente nunca tiveram uma relação no campo da colonização. Os dados que colocam de parte o Brasil da análise (parcial) da teoria pós-colonial. A partir de tudo aquilo que já foi referido, começo a formar a hipótese sobre as grandes limitações em analisar o Brasil a partir do hibridismo de Bhabha – não porque ele o defina de forma diferente mas pelas diferenças entre os contextos históricos dos países analisados. Apesar destas limitações, ainda podemos utilizar algumas das formulações de Bhabha sobre o hibridismo. Parece-me que no caso do Brasil o hibridismo foi formado a partir de diversos elementos étnicos devido e apesar do colonialismo, sendo que aconteceu certamente na zona de contacto que se formou apenas por causa da colonização. Depois, neste mesmo processo, este mesmo hibridismo começou a trabalhar contra o colonialismo – não como uma resistência activa contra o poder colonial mas de uma forma mais subtil. Hibridismo visto a partir da tradição brasileira (baseado sobretudo nos trabalhos de Freyre) é um processo que construiu uma nação, uma força centrípeta que juntou vários elementos – os colonizadores, os colonizados e os que ficam no meio – formando uma mistura. Não devemos pensar que esta mistura traz igualdade para todos os seus elementos constituintes (isso significaria aceitar a visão promovida pelo presidente Getúlio Vargas) mas o processo de hibridização criou certamente alguma coesão entre pessoas que entraram nesta mistura a partir de pontos de entrada muito diferentes e níveis de hierarquia social diversos. As pessoas de origem portuguesa que podiam claramente ser identificadas como os colonizadores no início do século XVI foram gradualmente perdendo a sua identidade como colonizadores, mas mantendo-se como senhores. Os portugueses tornaram-se brasileiros. Não nos devemos esquecer de um dos principais factores que torna o Brasil diferente da Índia (este último país é o principal caso de estudo de Gayatri Spivak e Homi Bhabha): não existiam “brasileiros” no início, não havia sujeito para formar o parceiro antagonista (na opinião de Edward Said) ou ambivalente (na opinião de Bhabha). Assim, se Bhabha afirma, baseado em Derrida e Lacan, que a situação colonial se baseia no mimetismo, ou na imitação multifacetada da situação da pátria na terra da conquista colonial imposta aos sujeitos coloniais, podemos facilmente dizer que tal não se aplica ao Brasil porque o sujeito colonial não existia quando os portugueses chegaram. Algo com o potencial de se tornar num sujeito colonial começou a formar-se num processo que incluiu o colonizador original, os seus escravos (isto é – os colonizados de outro continente) e os colonizados originários do Brasil (os indígenas). Pode-se afirmar que o resultado deste processo – o brasileiro – foi mais tarde colonizado economicamente (pelos britânicos, e mais tarde pelos americanos e pelas empresas multinacionais) mas isto já é um tipo diferente de colonização e requer novas estruturas teóricas de análise. Claro que os indígenas estavam presentes no “Novo Mundo” no momento do contacto e existem processos extremamente interessantes a ter lugar nas leituras de ambos os lados sobre este contacto – mas isso é uma outra história (ou talvez parte da mesma história, mas apenas uma parte). O único momento durante projecto brasileiro de colonização no qual podemos analisar a relação entre colonizador e colonizado é logo no início do século XVI quando os homens portugueses que chegaram ao Novo Mundo mudaram de forma violenta as vidas dos indígenas e começaram a agir da maneira que acharam própria em nome de um Império e em nome da civilização que entrava agora numa “não-civilização”. Mas este jogo com dois jogadores não durou muito: os portugueses começaram a perder a sua “portugalidade” – no sentido de se sentirem abandonados pela sua pátria e também por deixarem rapidamente o seu anterior sistema de valores. O terceiro elemento – o escravo Negro, apareceu igualmente neste contexto e mudou-o também de forma radical. Nos processos de hibridização que começaram a partir daqui, contados de uma forma tão sedutora por Gilberto Freyre, a lógica colonial apresentada por Homi Bhabha enfraqueceu ou deixou mesmo de funcionar. Toda a vida dos descendentes dos colonizadores estava agora no “Novo Mundo” /que também deixou de ser “novo”), e estes perderam a sua posição volátil e ambivalente entre dois países que os funcionários britânicos na Índia ainda mantinham na primeira metade do século XX. Vamos fazer uma última tentativa para iluminar o contexto brasileiro com as fórmulas de Homi Bhabha sobre a natureza do hibridismo. Ele define-o primeiramente por aquilo que não é e depois pelo que é: “Não é uma terceira definição que acaba com a tensão entre duas culturas, ou duas cenas de um livro, numa peça dialéctica de “reconhecimento”….o hibridismo colonial não é um problema da genealogia ou identidade entre duas culturas diferentes que pode depois ser resolvido através do relativismo cultural. O hibridismo é um problema de representação colonial e de individualidade que altera os efeitos da negação colonialista, para que outros conhecimentos “recusados” entrem no discurso dominante e alterem a base da sua autoridade – as suas regras de reconhecimento.” (1994: 162) Como sabemos agora que no contexto brasileiro o “hibridismo” existe num espaço diferente – não entre colonizador/colonizado mas entre os diferentes actores étnicos na situação colonial apesar e apesar da situação colonial – podemos ver que tudo na definição mais abrangente de “hibridismo” ainda é aplicável ao Brasil. O discurso dominante não é claramente definido como sendo o discurso colonial, é cada vez mais o discurso do senhor/master que estão a ser afastados do império europeu – a voz colonial. Ao mesmo tempo a situação mantém-se “algo” colonial por causa da escravatura, peça central no processo de produção de significado na vida brasileira mesmo após a abolição, e que tem as suas origens no colonialismo. Procurando outras possibilidades para teorizar a condição Latino-Americana A um nível geral, os dois principais pensadores usados neste trabalho – Freyre e Bhabha – podem ser vistos como dois analistas da mesma tendência global: mistura racial e cultural, fusão, transferência, troca – que está claramente em crescimento, apesar das diferentes denominações e preferências teóricas dos autores. Peter Burke tentou coligir todos os teóricos destes processos e colocá-los em grupos diferentes de trocas culturais, como exemplos de imitação, apropriação ou mistura. Não é claro o porquê da utilização de apenas um dos elementos como título do livro (“hibridismo cultural”). Quer isso dizer que ele o considera suficientemente genérico para ser usado como termo-chapéu aplicável a todas (e muitas vezes em competição) descrições de misturas culturais? (eu tento utilizar “mistura” como termochapéu para não confundir com “hibridismo”, que é um dos tópicos em análise). Apesar de Burke “premiar” o hibridismo colocando-o no título do seu livro, também o critica por não ser um conceito ideal. “Hibridismo é um conceito complexo e ambíguo, ao mesmo tempo literal e metafórico, descritivo e explicador”. (Burke 2009: 154) Burke vê Gilberto Freyre como um dos primeiros dois defensores do hibridismo, sendo o segundo o mexicano José Vasconcelos, o autor de “The Cosmic Race” (1929), que apresentou o mestiço como sendo a essência da nação mexicana (Burke 2009: 4) Estes dois autores já apontam para o hibridismo como algo que cresceu e se desenvolveu a partir dos trabalhos de teóricos latino americanos (e levanta a questão sobre o porquê desta ligação não ter sido identificada na teoria pós-colonial mainstream?). Esta linha de pensamento é ao mesmo tempo precedida e seguida por outros conceitos de origem latino-americana paralelos ao hibridismo. Não entrarei em detalhes sobre os mesmos, que vão para além dos objectivos deste texto, mas farei uma curta apresentação. Primeiramente a escola de antropofagia surgiu – ainda antes de Freyre e Vasconcelos – no Brasil dos anos 20. O “Manifesto Antropofágico” (1928) é muitas vezes menorizado pelos historiadores das ideias, provavelmente porque o seu autor, Oswald de Andrade, gostava de se expressar de uma forma bastante hermética e metafórica, e as ideias bem á frente do seu tempo/época não revelam o seu verdadeiro significado numa primeira leitura. Burke refuta estas ideias como uma versão de imitação, sublinhando apenas a “parte-digerida” da metáfora (2009:38) e deixando totalmente de lado as ideias vanguardistas sobre o reverso do poder cultural e as sugestões para reanalisar a história mundial a partir de um ponto de vista latinoamericano. Oswald de Andrade é um autor respeitado e estudado no Brasil, mas parece que o “peso” filosófico e sociológico do seu “Manifesto Antropofágico” continua a ser menorizado. Merece ser estudado de forma mais aprofundada no contexto da discussão do hibridismo no Brasil. De facto “antropofagia” poderia ser uma metáfora mais acertada que o termo hibridismo para compreender a condição brasileira, pelas razões acima mencionadas: apenas alguns aspectos do hibridismo (raciais, étnicos) funcionam realmente, enquanto outros (sociais, políticos) nem por isso, e a antropofagia devora-os todos. No período entre as obras de Frantz Fanon e Edward Said no contexto da teoria pós-colonial surge uma outra interessante teoria produzida por um autor latino-americano. No seu texto de 1971 “Caliban: Notes Towards a Discussion of Culture in Our America”, o escritor cubano Roberto Fernandez Retamar lida com tópicos e problemáticas pós-coloniais. Tomando por base “Storm”, de Shakespeare, Retamar sugere que o símbolo mais apropriado para a América Latina não é Ariel mas sim Caliban. Próspero invadiu as ilhas, matou os seus antecessores, escravizou Caliban e ensinou-lhe a sua língua para que ele próprio pudesse ser compreendido. È por isso que Caliban é uma representação útil da América Latina, na qual apenas termos que são emprestados podem por ele ser utilizados para a sua expressão. Não existe uma identidade latino-americano “essencial” que possa ser expressada/explicada sem os constrangimentos impostos pela língua colonial (Taylor 2007: 123). Mais uma vez estamos perante uma metáfora que é eventualmente mais adequada para explicar as realidades brasileiras que os autores descreveram anteriormente. Primeiramente revela o lado violento do processo de hibridismo cultural que Gilberto Freyre não considera nos seus textos e por outro lado o contexto histórico local do continente é tomado em consideração – algo que Bhabha nunca poderia ter feito. Taylor chama a nossa atenção para um detalhe muito importante sobre Retamar e Ortiz, mas eu aplicaria também a de Andrade. Nenhum destes três pensadores rejeita os conceitos dos poderes coloniais, mas argumentam que a exploração estratégica e a manipulação desses termos deve ser a forma de expressão para os latino-americanos. “Tal conceito parece esvaziar os conceitos de sly civility, mimetismo e hibridismo apresentados anos mais tarde por Bhabha” (Taylor 2007: 124). A linha de pensadores latino-americanos que teorizam a situação pós-colonial sem fazer referência à teoria pós-colonial mainstream (e também em muitos casos precedendo-a) continua. Entre os intelectuais brasileiros contemporâneos podemos mencionar Silvano Santiago com a sua noção de “in-betweeness” (Santiago 1971) cujos agumentos são próximos ao hibridismo de Bhabha, atribuindo um papel mais activo aos “nativos”, ou Roberto Schwartz (1992) com a sua brilhante teoria sobre “misplaced ideas”. É talvez nesta linha contínua de pensamento que reside o actual discurso latino-americano sobre as mesmas problemáticas/questões que Bhabha e outros investigam nos seus trabalhos sobre outros locais no mundo. A razão pela qual os trabalhos destes intelectuais encontram mais dificuldades para se integrarem na história do pensamento pós-colonial não reside numa falta de qualidade ou falta de vigor académico mas eventualmente no facto de que estes autores continuam a ser “nativos”, sendo assim mais difícil de penetrar/influenciar a partir desta posição o discurso académico internacional. A partir de uma visão global podemos ver que os exemplos muito fragmentados de como diferentes intelectuais de todo o mundo registaram/problematizaram as suas ideias na obra “Hibridismo Cultural”, parece existir mais uma característica em comum que vai para além da semelhança de tópico. A partir das diferentes teorias aplicadas em contextos diferentes podemos detectar um eixo relativamente estável de uma avaliação totalmente negativa de misturas culturais em direcção de uma aceitação e até promoção dos efeitos positivos do processo. Parece que pelo menos os pensadores mais vanguardistas estão a ficar prontos para abraçar a inevitável tendência geral para o hibridismo e para o surgimento de novas formas. Burke sublinha o facto de que todas as culturas são híbridas, mas algumas são-no mais que outras. “Também existem algumas ocasiões de uma hibridização particularmente intenso, consequência de encontros culturais” (66). A seguir vem um período de estabilização, depois um novo encontro e o velho híbrido é protegido contra o novo (ibid.). Todas estas etapas podem ser analisadas/vistas de forma clara no Brasil durante os últimos 500 anos da sua história. Conclusão Por várias razões que foram apresentadas neste texto, o Brasil não parece ser o melhor exemplo para usar as análises exactas/objectivas e por vezes mesmo psicológicas que Homi Bhabha aplica aos processos que decorrem no interior da relação colonizador/colonizado. A análise de Bhabha funciona bem nos tipos de colonização onde é fácil definir o colonizador e o indígena, como na Índia colonial e em muitos outros países. O hibridismo, nesses casos, é formado num terceiro espaço entre os dois, está também presente e por vezes de forma vigorosa no Brasil, mas o processo de formação é diferente, a sua presença é muito mais aberta e por isso mais fácil de detectar do que em muitos outros países colonizados. Apesar da sua diferente forma, é este mesmo hibridismo, visto pelo dois principais autores analisados neste texto como algo de positivo ou, de uma forma mais neutra, uma consequência inevitável do colonialismo. Hoje em dia podemos vê-lo sendo aplicado em todo o lado pois vivemos no mundo moderno onde nenhum homem é uma ilha. A colonização iniciou alguns processos irreversíveis há muito tempo e agora os contactos entre etnias têm lugar a uma grande escala. Durante a análise da situação pós-colonial no Brasil, os textos dos autores latino-americanos poderão ser mais úteis do que os dos autores que fazem parte da nata da teoria pós-colonial. Perceber porquê estes autores não fazem parte deste grupo é uma questão diferente mas que vale a pena também analisar. O que é importante: os autores da metáfora da antropofagia ou símbolo de Caliban e muitos outros pensadores latino-americanos demonstram de uma forma muito original a multiplicidade de contactos culturais entre a Europa (e mais tarde os EUA) e a América Latina, as estratégias de reversão/oposição das aparentes relações de poder unidireccionais e algumas alternativas muito criativas de manipulação estratégica dos termos impostos pela Europa. Bibliografia: Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen (eds) 2000. Post-Colonial Studies. The Key Concepts. Routledge, New York. Bhabha, Homi K. 1994. The Location of Culture. Routledge, London and New York Burke, Peter 2009. Cultural Hybridity. Polity Press, Cambridge. Freyre, Gilberto 1966. The Masters and The Slaves. Alfred A. Knopf, New York. Levine, Robert M. 1999. The Brazil Reader: History, Culture, Politics. Duke University Press. McLeod, John (ed). The Routledge Companion to Postcolonial Studies. NY, 2007. Nunes, Zita 1995. Anthropology and Race in Brazilian Modernism. In: Colonial discourse/ post-colonial theory. Edited by Francis Barker, Peter Hulme, Margaret Iversen. Manchester University Press, p 115-125. Santiago, Silviano 1978. Uma literatura nos trópicos. Editora Perspectiva, Sao Paulo. Schwarz, Roberto 1992. Misplaced Ideas. Essays on Brazilian Culture. Verso, London.
Baixar