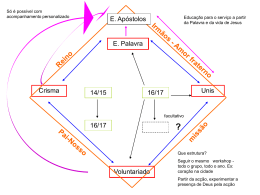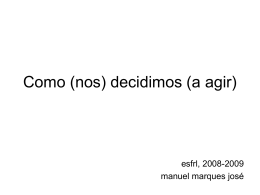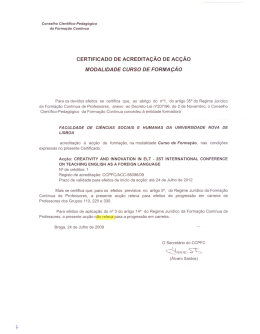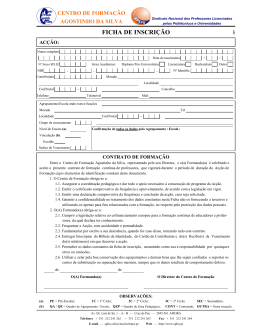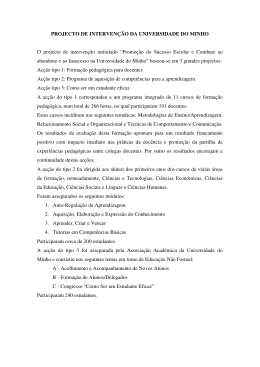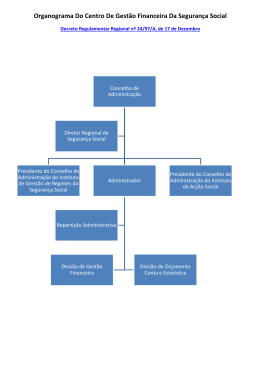UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE DIREITO O DEVER DE CUIDADO COMO MODELO DE GESTÃO DO RISCO CARLOTA PIZARRO DE ALMEIDA TESE ORIENTADA POR: PROFESSORA DOUTORA MARIA FERNANDA PALMA DOUTORAMENTO EM DIREITO RAMO: CIÊNCIAS JURÍDICAS ESPECIALIDADE: DIREITO PENAL 2010 1 ÍNDICE INTRODUÇÃO…………………………………………………………………….5 1. O PROBLEMA E O SEU CONTEXTO……………………………………....13 1.1 Objectivismo, subjectivismo e a tentação omissiva……………….14 1.2 A falácia objectivista e a falácia subjectivista……………………...29 2. O DIREITO PENAL NA SOCIEDADE DE RISCO……………………….45 2.1 Perigo, risco, incerteza…………………………………………………45 2.2 Sociedade de risco: uma nova realidade?...........................................50 2.3 Distribuição de vantagens e de custos – quem suporta os riscos?............................................................................................................55 2.4 Princípio da precaução………………………………………...............57 2.5 O papel central da negligência……………………………….............63 3. ANÁLISE ECONÓMICA DO DIREITO........................................................68 3.1 Nota prévia……………………………………………………………...68 3.2 Arqueologia de Posner…………………………………………..…….69 3.2.1 A fórmula de Learned Hand……………………………………..72 3.2.2 Henry Terry: “a negligência é uma conduta”………………….75 3.2.3 Do homem médio ao homem razoável……………...................79 3.2.4 J. Bentham e o(s) utilitarismo(s)………………………………..85 3.3 Para além de Posner……………………………………………………94 3.4 Críticas e contra-críticas……………………………………………...102 3.5 A culpa e a justiça…………………………………………………….111 4. O SUJEITO COMO OPERADOR RACIONAL……………………..........118 4.1 Homem real e homo economicus……………………………...…….118 4.2 Racionalidade limitada…………………………………….………...122 2 4.3 Desvios e limites………………………………………………...........126 4.4 Compreender para influenciar………………………………..…….134 4.5 Enviesamentos e desenviesamentos………………………………..136 5. UTILIDADE (SUBJECTIVA) ESPERADA……………………….……......140 5.1 Em busca de um código comum. Como quantificar?.....................140 5.2 Valor subjectivo e escalas de utilidade…………………………….149 5.3 Negligência, dever de cuidado e lotarias…………………………..155 6. A ACÇÃO ENQUANTO ESCOLHA……………………………………....162 (O mito da negligência consciente) 6.1 A acção como opção…………………………………………………..162 6.2 A questão da culpa………………………………………………..…..171 6.3 A ficção da negligência consciente…………………………………180 6.4 O processo intuitivo………………………………………………….184 6.5 Automatismos e vontade…………………………………………….186 7. PROBABILIDADES………………………………………...……….……….192 7.1 De Parménides a Pascal……………………………………………...192 7.2 O mundo visto através da incerteza………………………………..197 7.3 Decisão em contexto de incerteza…………………………………..199 7.4 De que falamos quando falamos de probabilidade?.....................202 7.5 O dever de cuidado num universo bayesiano…………….............207 7.6 Desvios no cálculo das probabilidades…………………………....211 7.7 De como se formam as convicções………………………….............214 8. O ALGORITMO DO CUIDADO……………………………….………….218 8.1 Um modelo de gestão do risco……………………………………....218 8.2 Definição de um padrão de risco…………………………………...222 3 8.3 Construção de uma matriz. O algoritmo do cuidado…………….229 8.4 Os custos e os benefícios, mais uma vez…………………………..235 9. PARÂMETRO OBJECTIVO DE CUIDADO……………………..……….246 9.1 Tipo negligente: tipo aberto?..............................................................246 9.2 O elemento subjectivo. Capacidades e conhecimentos individuais………………………………………………………………...260 9.3 O cuidado “a que está obrigado e de que é capaz”……………….268 10. DESVALOR DA ACÇÃO NA NEGLIGÊNCIA………………...………276 10.1 Relevância da acção final…………………………………………...276 10.2 O que torna uma acção desvaliosa?.................................................286 10.3 Tipo subjectivo: elementos psicológicos (internos) na negligência …………………...291 10.4 Papel do resultado na negligência………………………………...297 CONCLUSÕES…………………………………………………………………..309 BIBLIOGRAFIA CITADA……..............................…….……….……………..314 4 Introdução INTRODUÇÃO A denominada sociedade de risco desencadeou profundas alterações no tratamento da negligência. Surgiu a necessidade de criar novas incriminações em áreas onde os erros e/ou os descuidos podem levar a consequências dramáticas pela sua dimensão – quer na gravidade dos danos produzidos quer no elevado número de pessoas atingidas. O aumento e diversificação exponenciais da criminalidade negligente evidenciaram que a dogmática da negligência, construída e adaptada a partir das categorias do dolo, não dava resposta adequada à maioria das questões emergentes e requeria uma profunda reconstrução. Com efeito, ainda que a negligência compartilhe muito da estrutura do dolo, há elementos específicos que terão de ser considerados. Muito esquematicamente, podemos descrever do seguinte modo as respectivas estruturas: - Estrutura do crime doloso: 1. decisão de produzir um resultado proibido; 2. acção; 3. produção do resultado. - Estrutura do crime negligente: 1. decisão de agir (criando um risco acima do risco tolerado); 5 Introdução 2. acção; 3. produção do resultado. Entende-se geralmente que, no dolo, a decisão de agir (a acção) é proibida porque visa um objectivo proibido. Na negligência, a decisão de agir (a acção) é proibida porque cria um (grau de) risco proibido. Como veremos, tanto no dolo como na negligência, o agente cria (e intencionalmente) uma síndroma de risco; mas enquanto no dolo este é instrumental face ao objectivo (o resultado proibido), na negligência é uma “peça autónoma” cuja construção não pode ser desprezada. Impõe-se, ASSIM, determinar o objecto da acção negligente - aquela entidade que se situa logicamente entre o agente e o resultado, sobre a qual incide a decisão e que condiciona o desencadear dos eventos negativamente valorados. A construção de um algoritmo do cuidado, que englobe e relacione todos os factores relevantes, não só diminuirá o empirismo e aleatoriedade que têm marcado o tratamento da negligência, como permitirá clarificar muitos dos problemas recorrentes na dogmática do crime negligente. Se é ainda o crime doloso que ocupa preferencialmente as preocupações e temores do cidadão comum, tal só se deve a um efeito de persistência das impressões. Uma observação atenta levará à constatação de que constatação de que, na sociedade actual, devemos temer principalmente a imprudência – seja relativa a produtos comercializados para consumo, a danos ambientais que se reflectem na saúde humana e comprometem a estabilidade do clima, a actos médicos, a acidentes (desde os grandes acidentes industriais aos quotidianos acidentes de viação), etc. Há, por esta via, uma larga área de criminalidade em que as categorias tradicionais assumem novos contornos, quer no plano das vítimas, quer no dos agentes, quer na abordagem das relações de causalidade. 6 Introdução O facto de toda esta problemática se ter desenvolvido principalmente no âmbito de situações que implicam pessoas colectivas tem contribuído para a análise dos problemas a uma luz nova, libertando-os do subjectivismo exacerbado que adulterava os conceitos e contribuía para a infiltração na tipicidade negligente de elementos que apenas têm lugar a nível da culpa. Por outro lado, a constatação de que os riscos são omnipresentes nas relações sociais, e bem assim no plano intersubjectivo, lançou nova luz sobre o verdadeiro conteúdo do cuidado devido. Só porque essa omnipresença nem sempre se apresenta claramente à consciência se compreende que ainda hoje, em quadros teóricos que contrariam em absoluto tal perspectiva, seja recorrente afirmar que o sujeito é negligente quando “não teve o cuidado necessário para evitar o resultado”. É uma ironia que a negligência, que tem constituído um dos mais difíceis puzzles a resolver pelo finalismo, se revele, afinal, aquela área onde o conceito de desvalor da acção tem mais rendimento. Sabemos hoje que o risco-zero não existe, o que desde logo afasta qualquer tentação de adoptar um conceito causalista de acção. E afasta também a identificação do comportamento negligente como um comportamento omissivo: não se trata, em primeira linha, de evitar um resultado, mas de criar riscos para além do permitido. Igualmente, o que está em causa não é a omissão de acções tendentes a diminuir riscos inerentes à interacção em sociedade – ou seja, de um dever de acção. O que importa é que o indivíduo aja mantendo os riscos criados dentro da fronteira do permitido – claramente, de um dever de omissão. O máximo a que podemos aspirar é a um safe enough, que deverá ser normativamente delimitado. A negligência aparece assim como uma gestão deficiente do risco inerente a qualquer actividade, uma errada ponderação 7 Introdução dos factores em jogo – errada porque desconforme com o padrão imposto pelo direito. A gestão eficiente será então aquela que não ultrapassa uma probabilidade de lesão ainda socialmente suportável, pelo que se requer a construção de uma matriz de decisão que sirva de referente. Esta matriz põe termo ao critério do “homem médio” e não recorre sequer à figura do homem “fiel ao direito”, pois o que se pretende é um padrão funcionalmente adaptado às necessidades da sociedade actual, e este resultará de valorações e ponderações dos factores em jogo, as quais terão de corresponder a opções normativas e traduzir comandos claros. Não basta um vago dever de “agir com cuidado”. A imposição de um modelo objectivo de cuidado, construído nestes termos, pressupõe – para ser legítima, por um lado, e eficaz, pelo outro – que as decisões dos agentes são determinadas racionalmente, isto é, correspondem a opções. De outro modo, não haveria um código comum que permitisse estabelecer regras gerais quantitativamente expressas, restando apenas uma avaliação casuística e baseada em critérios próximos dos da culpa. Esta racionalidade parece inquestionável no que toca às pessoas colectivas, que sempre tomarão as suas decisões (nomeadamente em relação às precauções a ter no desenvolvimento da actividade a que se dediquem, que é o que nos importa em sede de negligência) de acordo com raciocínios de custo-benefício, como é próprio do seu modus operandi e faz parte da sua natureza. Mas o mesmo processo não é evidente relativamente às pessoas singulares, em especial no âmbito da divisão entre negligência consciente e inconsciente, em que esta última não depende, na perspectiva tradicional, de decisões racionalmente determinadas. 8 Introdução Uma primeira tarefa se impõe, portanto: demonstrar que as opções de qualquer indivíduo são sempre determinadas por critérios de racionalidade, ao resultarem da ponderação de custos para alcançar objectivos (esta questão será abordada nos capítulos 3 e 5). O que varia (dificultando a compreensão deste processo) é a importância atribuída pelos indivíduos a cada factor em jogo. As variações podem, aliás, levar à total falta de elasticidade do leque de soluções admitido pelo indivíduo – situação em que já estaremos na fronteira da inimputabilidade. Este processo decisório verifica-se relativamente a qualquer acção humana e, por isso, a acção corresponde sempre a uma opção livre e é punível enquanto tal. Como veremos, as operações mentais envolvidas são mais complexas do que se supunha há algumas décadas. O conhecimento actual neste domínio, ainda que muito incompleto, permite já determinar mecanismos de controlo antigamente insuspeitados e que demonstram que a negligência inconsciente não passa de uma ficção – aliás sem qualquer vantagem prática. Na construção do tipo negligente, a dicotomia entre cuidado a que está obrigado e de que é capaz orienta-nos, pelo menos aparentemente, para uma objectivação do primeiro elemento (a que está obrigado), restando para o segundo todo e qualquer factor subjectivo que possa vir a ser considerado e que, em rigor, deve inserir-se no juízo de culpa. Não é de estranhar que se encontre esta construção híbrida no artigo 15.º do Código Penal, se nos lembrarmos de que a disposição legal em causa resulta da redacção de Eduardo Correia, para quem a negligência era uma forma de culpa e não elemento da tipicidade, como hoje é considerada pela maioria dos autores. Encontrar o sentido útil do preceito (no segmento em que se refere ao “cuidado de que é capaz”) dentro do quadro dogmático actual é um dos desafios que se colocam e ao qual, como veremos, um 9 Introdução modelo objectivo de cuidado permite dar resposta, do mesmo passo que clarifica o conteúdo da tipicidade subjectiva e do desvalor da acção. O enquadramento da negligência como modelo de gestão do risco fruto de uma opção racional do sujeito e, enquanto modelo proibido, em confronto com o modelo adoptado pelo direito - será o primeiro patamar que se pretende alcançar com o presente trabalho. No plano prático, tenho em vista a elaboração de uma proposta de algoritmo que se constitua como referente e, simultaneamente, seja dotado de operacionalidade. Não aspiro, no entanto, a ser exaustiva neste domínio, nem sequer atingir mais do que o apuramento técnico estritamente necessário para demonstrar que o projecto é viável. Sempre fui a favor de uma colaboração interdisciplinar que evite o confinamento – necessariamente empobrecedor de cada profissão aos seus saberes específicos. Limitar-me-ei, portanto, a explanar o meu ponto de partida e a descrever, de forma breve, os instrumentos conceptuais utilizados para a construção do modelo proposto. Nas disciplinas convocadas – v.g. a teoria da decisão e o cálculo de utilidades, bem como as indispensáveis ferramentas actuariais e informáticas – haverá profissionais especializados que poderão contribuir com eficiência para a construção de um modelo sofisticado. Recorri a conceitos e métodos da análise económica do direito por serem os que melhor se coadunam com a visão do indivíduo que entendo relevante para o direito penal: o homo economicus, dotado de racionalidade e decidindo de acordo com a melhor vantagem que pode obter em cada conjuntura. Este não é, no entanto, um trabalho centrado na abordagem que a análise económica do direito faz do direito penal. A utilização de métodos e saberes da análise económica do direito cingiu-se à medida em que estes poderiam ser úteis (e por vezes foram mesmo indispensáveis) para a 10 Introdução construção do modelo que se tinha em vista, ou seja, foi puramente instrumental. A ligação entre a economia e o direito, tendo já um longo percurso feito, abrange vastas áreas que não revestiam interesse directo para o objectivo do presente trabalho e foram, portanto, deixadas à margem. Cite-se, a título de exemplo, o contributo dado pela análise económica do direito na área da política criminal e que não foi aqui sequer abordado por se situar num plano completamente diverso daquele onde se situa a problemática do dever de cuidado enquanto categoria dogmática. Aquilo que me interessou foi um certo conceito de sujeito (o homo economicus) e uma perspectiva de análise centrada na contabilização de custos e benefícios. Qualquer destes pontos é fundante da análise económica do direito e tem-se mantido constante desde os primórdios da mesma. O conceito de homo economicus clarifica uma perspectiva do sujeito, destinatário do direito penal, como responsável pelos seus actos e permeável a estímulos de punição e reforço – na linha do pensamento que também a psicologia tem vindo a desenvolver Veja-se a colaboração estreita que encontramos entre economistas e psicólogos, expressa em trabalhos conjuntos de autores oriundos de ambas as áreas (os trabalhos de Kahneman e Tversky, distinguidos com o prémio Nobel em 2002, são um dos muitos exemplos dessa colaboração). No que toca às concepções da acção como opção baseada numa análise de custo-benefício, pode-se encontrar ligações teóricas evidentes entre a abordagem da análise económica e a psicologia, bem assim como com a filosofia por intermédio do utilitarismo. Nenhuma ciência humana pode alicerçar-se numa perspectiva que não considere o indivíduo como um decisor movido pela satisfação dos seus interesses – sejam eles egoístas ou altruístas, mas constituindo sempre o alvo que define a direcção das acções. 11 Introdução A análise económica do direito impôs-se então como uma ferramenta adequada – não como análise especificamente orientada para o fenómeno jurídico mas como súmula dos pressupostos de determinadas correntes da filosofia, da psicologia, da teoria da decisão e da análise actuarial do risco. Teve um [insubstituível] valor funcional enquanto método de análise das realidades em causa. A construção de uma matriz como a que proponho permitirá apurar o cuidado devido em cada situação da vida e estabelecer directrizes para a decisão correcta perante o complexo de risco inerente a qualquer acção. Objectivar a medida do cuidado, além de contribuir para minorar a incerteza jurídica numa área onde esta tem ocupado um lugar excessivamente amplo, poderá fornecer valiosas indicações a nível de política criminal. Se transportarmos para o direito os ensinamentos da teoria dos jogos, podemos equacionar as relações dos indivíduos entre si e com a sociedade como jogos de estratégia. Na medida em que o payoff de cada jogada depende do comportamento dos outros participantes, a descodificação dos critérios de decisão é de importância crucial. Se o direito penal constitui, do ponto de vista do criminoso, um jogo de soma zero, é como tal que deve ser assumido e jogado pelo legislador, que actua como representante dos interesses colectivos. 12 1. O Problema e o seu contexto 1 O PROBLEMA E O SEU CONTEXTO Gössel: Saber em que consiste um crime negligente, quais os seus elementos constitutivos e como se encontra construído, são coisas acerca das quais se verifica uma total falta de consenso e de clareza. Este capítulo destina-se a explicitar de forma sucinta os pressupostos dogmáticos em que assenta a presente dissertação. Persegue simultaneamente três objectivos. Por um lado, situa o tema do dever de cuidado no contexto mais geral das múltiplas discussões que, no direito penal contemporâneo, têm por objecto a estrutura das infracções negligentes. Por outro lado, indica as posições que neste trabalho se adoptam como ponto de partida, e as razões que justificam esse posicionamento teórico. Em terceiro lugar, e consequentemente, contribui para uma delimitação do escopo exacto da dissertação. Abordarei, em particular, as seguintes questões: a relação entre os crimes negligentes e os crimes omissivos; a distinção, fundamental, entre perigo e risco; o problema do conteúdo do juízo de tipicidade subjectiva na negligência; as dificuldades teóricas suscitadas pela figura da negligência 13 1. O Problema e o seu contexto inconsciente, especialmente no plano do juízo de culpa. A exposição integra, a cada passo, a discussão crítica de posições e argumentos, representativos quer das orientações de que discordo, quer das que entendo serem de acompanhar. 1.1 Objectivismo, subjectivismo e a tentação omissiva Para uma adequada compreensão da dogmática da negligência, duas questões têm de ser clarificadas. A primeira prende-se com a recorrente imprecisão que leva a tratar o ilícito negligente como se estivéssemos perante um crime por omissão. Uma observação minimamente atenta, no entanto, revela que o dever de cuidado não é o dever de evitar o resultado. O ilícito negligente não se concretiza porque o agente não agiu de forma a evitá-lo, mas porque o agente agiu criando um risco proibido que se materializou no resultado. A segunda questão – a qual, embora aparentemente de pormenor, acaba por se revelar seminal de vários problemas – consiste em estabelecer uma clara definição dos conceitos de perigo e risco, frequentemente confundidos e impropriamente utilizados. Como teremos oportunidade de constatar, a divisão entre posições objectivistas e subjectivistas coincide com a posição tomada sobre cada uma destas duas questões: da parte dos subjectivistas há uma tentação (quase diríamos irresistível) para identificar a negligência com um dever de agir que não foi cumprido e, simultaneamente, uma tendência para não prestar grande atenção à precisão terminológica, na medida em que a separação dos conceitos de perigo e de risco se revela pouco relevante nesta linha de pensamento. Inversamente, os autores que se inscrevem na posição 14 1. O Problema e o seu contexto objectivista, vêem a negligência como uma violação de um dever de omitir e consideram de suma importância a distinção entre perigo (noção que não está mais ligada à negligência como conceito do que estará ao dolo) e risco, consistindo este no complexo jogo implicado nas decisões em situação de incerteza (que estão na origem dos comportamentos negligentes). A linha de divisão (a vexata quaestio) que separa estas duas correntes prende-se com o lugar a atribuir a uma incontornável realidade: as capacidades individuais são infinitamente variáveis (desde o conhecimento à habilidade). Como conciliar esta variedade com a fixidez do bem jurídico protegido? Pode o cuidado exigido ter sempre o mesmo nível (desrespeitando as variações individuais e, por esta via, o princípio da igualdade)? Ou deve adaptar-se a cada agente (desprotegendo ocasionalmente o bem jurídico em questão)? Na construção que proponho, os elementos subjectivos são atendidos na medida em que interferem com a probabilidade de se verificar o resultado lesivo caso o agente actue. Se forem de molde a diminuir a probabilidade, permitirão acções que não seriam permitidas a agentes menos capazes – mas então terão de ser utilizadas essas capacidades especiais, sob pena de se falsear os valores da matriz. Para Paula Ribeiro Faria, o determinante, neste cálculo, será a probabilidade do resultado e a gravidade deste. Admite, no entanto – apoiando aqui Prittwitz - que “por vezes” releve igualmente a “utilidade social” do risco1. Mas Paula Ribeiro Faria tende a preferir a esta lógica que apelida de “matemática” um juízo de “irrelevância social da conduta naquelas circunstâncias concretas”2. Ora este juízo carece de determinação suficiente para poder servir de critério decisivo da aplicabilidade da norma penal. Por esta via, facilmente cairíamos no problema das normas penais 1 2 FARIA (2005) p. 978. Ibidem p. 981. 15 1. O Problema e o seu contexto abertas que tem atormentado a dogmática da negligência e que é vital ultrapassar. Não é de estranhar, assim, que Paula Ribeiro Faria acabe, neste contexto, por ter de regressar ao homem médio (uma versão normativa de homem médio, ligada ao conceito de adequação social). A lógica “matemática” que propugno, alicerçada em princípios e teorias já sobejamente testados, permite encontrar uma esfera de risco de contornos bem definidos, perceptível a todos, desde o destinatário da norma ao julgador. Quanto ao conteúdo do dever de cuidado No que concerne ao dever de cuidado e à sua posição no crime negligente, várias posições são possíveis e têm sido subscritas - desde a que prescinde de tal elemento, por encarar o crime negligente de uma perspectiva puramente causalista (esta, pode-se dizer, hoje ultrapassada) – até à posição de autores que vêem a negligência apenas como infracção de um dever [de cuidado] prescindindo do próprio resultado como componente do ilícito. Pelo meio fica a maior parte da doutrina actual, que tenta estabelecer critérios para a delimitação do conteúdo de um cuidado mais ou menos interligado com as características individuais do agente. No âmbito de uma concepção puramente causalista e que situe a violação do dever de cuidado ao nível da culpa, não se colocam especiais dificuldades na definição daquele. Ao recusar um modelo em que à acção bastava ser causal (e voluntária) para poder integrar a tipicidade e a ilicitude – só depois se avaliando se haveria dolo, negligência ou nem tanto – o finalismo vem alterar as respostas aos problemas tradicionais e criar novos problemas. 16 1. O Problema e o seu contexto Partindo do princípio de que ao direito penal só interessam – só podem interessar, melhor dizendo – as acções finais, uma vez que só estas podem ser alvo da sua função dissuasora, o finalismo propõe que o dolo e a negligência, enquanto consubstanciando finalidades desaprovadas, sejam avaliados logo no tipo de ilícito. A delimitação do cuidado devido, enquanto objecto da acção negligente, passa assim a constituir um problema logo no momento inicial da análise do crime; e é possível, não obstante as suas múltiplas divergências, agrupar os autores em duas grandes correntes (a objectivista e a subjectivista) consoante a ênfase que atribuem aos factores individuais. O padrão objectivista, com raízes já no pensamento de Engisch, é continuado e desenvolvido por Welzel, que, para além do recurso ao cuidado que empregaria um homem prudente, com os conhecimentos do autor, introduz a ideia de adequação social e de risco permitido (caso em que não haverá violação de dever de cuidado), incorrendo assim no que considero uma dupla tautologia. Por um lado, se se trata de um homem prudente – se essa é a referência padrão – o critério não poderá contrariar a adequação social (que já está contemplada no “prudente” enquanto juízo valorativo); por outro lado, se a fronteira entre risco permitido e proibido só existir normativamente (i.e. se não se lhe atribuir qualquer conteúdo decorrente de um ponto de partida exterior e independente destas categorias), não se compreende o que possa acrescentar ou aclarar como critério delimitador. O recurso à figura do homem médio, como referência objectiva, tem sido uma tentação sempre presente para os objectivistas, por permitir um padrão de comportamento passível de ser imposto a todos e a todos acessível. Mas, como veremos, esta construção encerra um vício inultrapassável por incluir – em maior ou menor grau – o que se pretende evitar naquilo que se propõe em substituição: os elementos subjectivos 17 1. O Problema e o seu contexto (contidos no factor “com os conhecimentos do autor”) interpenetram o padrão [que se pretende] objectivo. Esta miscigenação leva a que o cuidado (a medida do cuidado) que constitui o objecto da acção proibida seja condicionado pelas características inerentes ao autor, a quem devia ser oponível. Falha-se assim o propósito de definir o alvo proibido da acção nos crimes negligentes3. Não obstante este erro lógico e a decorrente dificuldade em enquadrar a negligência dentro da teoria finalista, muitos são os autores que defendem a necessidade de não abstrair dos factores individuais na delimitação do cuidado exigido (apesar de não rejeitarem a localização dogmática da negligência ao nível da tipicidade). Roxin aborda o problema a partir de um ângulo diferente, retomando o tema do risco proibido e construindo a partir daí a sua concepção do conteúdo do cuidado. Este é um passo importante na objectivação do cuidado devido, mas falta definir como se traça a fronteira entre risco permitido e risco proibido. As normas técnicas – a que Roxin dá especial relevo – ajudam nesta tarefa, mas não são suficientes: a) porque não abrangem todas as actividades e b) porque, mesmo quando uma dada actividade é contemplada, as normas técnicas não esgotam a definição do cuidado devido (pode haver negligência mesmo sem desrespeito das normas técnicas aplicáveis). Ao centrar-se na criação de um risco proibido, Roxin afasta-se da consideração das capacidades individuais – pelo menos a nível do tipo de ilícito. E fá-lo coerentemente, pois a medida do risco proibido há-de ser algo Também no sentido de que a inclusão de elementos subjectivos no “cuidado devido” contraria a função do tipo como norma de determinação, permitindo a arbitrariedade e abuso do poder estatal, v. MURILLO (1991) p. 176. Este autor considera mesmo que essa indeterminação prejudica a função de prevenção geral do direito penal e a própria interiorização dos modos de conduta esperados, ao não fornecer um padrão de referência suficientemente preciso. 3 18 1. O Problema e o seu contexto a fixar objectivamente, não podendo depender das capacidades de cada indivíduo, antes se prendendo com a intolerabilidade do risco criado, consoante o bem jurídico em causa e o valor social da actividade. Numa posição muito diversa, Jakobs é um firme defensor da consideração das capacidades individuais na delimitação do dever de cuidado4, a partir da consideração de que o direito penal não apoia a expectativa de que todos os indivíduos sejam igualmente capazes, apenas espera de todos uma igual motivação fiel ao direito. Naturalmente, vê-se assim confrontado com inúmeras situações da vida em que o agente não está à altura das dificuldades que se lhe deparam e que teria de ultrapassar para evitar o resultado danoso – casos que são resolvidos pela maioria dos autores através do recurso à culpa na assunção da tarefa. Mas, para Jakobs, a negligência na assunção da tarefa só pode afirmar-se quando haja uma posição de garante, estabelecendo um paralelo entre este aspecto da negligência e os crimes de comissão por omissão – “quando o agente está obrigado a evitar as consequências”5. Mais uma vez se reafirma que o paralelo é incorrecto6. Veja-se o exemplo dado por Jakobs de um indivíduo que empreende uma viagem de automóvel quando está manifestamente muito cansado. Na condução automóvel, não é correcto afirmar que o indivíduo está, à partida, obrigado a evitar quaisquer possíveis consequências negativas. Dado que a condução envolve riscos que são social e juridicamente aceites, o agente não estará obrigado a evitar as consequências (que são a concretização desse risco) mas tão só a evitar exceder o grau de risco permitido. JAKOBS (1991) p. 385 ss.9; JAKOBS (1972) p. 67 ss. JAKOBS (1991) p. 389. 6 Referindo-se a esta posição de Jakobs, Schmidhäuser contrapõe a perspectiva de que o agente fez algo que não devia ter feito à perspectiva de que o agente não respeitou o cuidado devido, referindo a afirmação (quanto a mim correctíssima) de Nowakowski segundo a qual “a negligência não reside na omissão do cuidado, mas na criação do risco proibido” - cf. SCHMIDHÄUSER (1975) p. 149 ss. 4 5 19 1. O Problema e o seu contexto E não se pretenda que a questão se resolve num momento posterior, a nível da imputação objectiva. Há que evitar a confusão entre o risco permitido e o cuidado objectivo, pois nem os conceitos se sobrepõem nem a respectiva medida coincide. O que basta para se verificar a imputação objectiva pode não ser suficiente para afirmar a negligência. Considere-se o seguinte exemplo: uma mãe que muda a fralda ao seu bebé, com dois meses de idade, apercebe-se, já depois de ter retirado a fralda suja, de que se esqueceu dos toalhetes de limpeza. Deixando o bebé em cima da cama, desloca-se rapidamente até à prateleira onde os toalhetes se encontram, na mesma divisão da casa; nestes breves segundos, com um movimento brusco das pernas, a criança cai ao chão, fazendo um grave hematoma. É sabido que mesmo crianças muito pequenas, ainda desprovidas de locomoção, não devem ser deixadas em lugares de onde podem cair, pois acontece deslocarem-se, em consequência de movimentos repentinos, o suficiente para haver graves acidentes. A mãe estava em posição de garante; podia e devia ter evitado o resultado, que, embora improvável, era previsível, inscrevendose num quadro de normalidade (qualquer manual de puericultura recomenda que as crianças, mesmo de tenra idade, não sejam deixadas sem vigilância em lugares de onde possam cair). Segundo critérios de adequação, podemos concluir que há imputação objectiva da lesão ao comportamento da mãe. O risco criado pelo comportamento da mãe é um risco proibido, tendose concretizado no resultado dentro da esfera de protecção da norma. Mas poderá formar-se um juízo de negligência? Se considerarmos o incómodo de transportar o bebé consigo enquanto vai buscar os toalhetes, a rapidez com que a mãe se deslocou até à prateleira, a escassa probabilidade de, por uma vez em que o deixe em cima da cama, o bebé cair, devemos concluir que não foram atingidos os parâmetros que fundamentariam a negligência: o risco corrido não terá sido irrazoável. 20 1. O Problema e o seu contexto Abordando a questão por outro prisma, pode-se afirmar, aliás, que se considerarmos a negligência como uma ultrapassagem do risco ponderado de acordo com determinadas variáveis7 (segundo a matriz de cuidado de que falaremos adiante e que constitui o cerne deste trabalho) um juízo positivo de negligência só é possível quando haja uma dada probabilidade (e previsibilidade) de o resultado se verificar; se o valor da probabilidade for igual a zero, não há lugar à ponderação imposta pela matriz. Stratenwerth situa-se também entre os autores que defendem uma penetração dos factores subjectivos no conceito de cuidado, o qual não poderá abstrair das diferenças entre capacidades individuais presentes em cada agente e cada caso. Para este autor, o ponto de referência do cuidado devido é estabelecido com carácter geral, na medida em que se fixa os limites do risco permitido e do risco proibido; mas a questão da “conduta que se exige para excluir o risco proibido depende das capacidades individuais” 8. No entanto, o facto de todos os exemplos dados por Stratenwerth para ilustrar a medida do exigível estarem relacionados com comportamentos omissivos em que há posição de garante (nadador-salvador, cirurgião, etc.)9, não contribui para aclarar qual o método a ser utilizado para fixar o alcance do cuidado devido10. Pois, como é evidente, tratando-se de sujeitos que estão obrigados a fazer tudo o que esteja ao seu alcance para evitar o resultado, o limite desse dever coincide com as capacidades individuais; como Stratenwerth afirma, Basicamente: o desvalor do resultado lesivo, a probabilidade de este se verificar e o custo inerente à acção apta a evitá-lo. 8 STRATENWERTH (2000) p. 421. E, no mesmo sentido STRATENWERTH (1985) p. 285 ss. . 9 Esta aproximação entre negligência e crime omissivo é, aliás, por diversas vezes, assumida expressamente – v. STRATENWERTH (2000) p. 421, 422 e passim. 10 Schmidhäuser comenta, criticamente, a ligação feita por Stratenwerth entre negligência e omissão, contestando alguns dos exemplos referidos por este autor. Para Schmidhäuser, o delito negligente em nada se distingue, estruturalmente, do delito doloso, não comportando, como alguns autores pretendem, necessariamente um momento omissivo.– SCHMIDHÄUSER (1975) p. 154 ss. 7 21 1. O Problema e o seu contexto “o direito só pode exigir o que é possível”11, asserção que ninguém contestará. Mas daqui nada pode retirar-se quanto à medida do perigo que é permitido criar num mundo onde, crescentemente, o quotidiano se inscreve num quadro de incertezas e ponderação de riscos. A tentação de ver a negligência como um fenómeno omissivo é recorrente e compreende-se porquê: em todos os factos negligentes se poderá afirmar que “se o agente tivesse tido o cuidado a que estava obrigado” o resultado não se teria verificado – ou seja, pode-se tentar uma abordagem centrada na omissão do cuidado devido. Mas esta é uma perspectiva errada que alimenta muitas das confusões e dificuldades da dogmática da negligência. O direito não impõe à generalidade das pessoas um dever genérico de agir de determinado modo; à semelhança do dolo, na negligência o que se proíbe é a criação de um risco irrazoável; trata-se de um comando de non facere. O problema do cuidado devido não se coloca no plano da omissão, mas no da acção criadora ou potenciadora de riscos. Esta perspectiva é potenciadora de uma concepção objectivista, segundo a qual o dever de cuidado tem parâmetros que podem (e devem) ser fixados sem recurso às características especiais de cada agente. Não se pretende com isto negar que cada sujeito tem capacidades próprias, que podem exceder ou ficar aquém da média, e que tal facto tem de relevar, de algum modo, para o direito penal. Trata-se, antes, de situar dogmaticamente cada um dos elementos do comportamento negligente. Para Jescheck, o cuidado objectivo é avaliado na ilicitude e as capacidades individuais são consideradas posteriormente, ao nível da culpa. Jescheck perfilha, portanto, a teoria do duplo escalão, à semelhança de muitos autores que assim tentam conciliar a concepção objectivista com a evidência inegável das variações de capacidade individuais. Entre nós, 11 STRATENWERTH (2000) p. 421. 22 1. O Problema e o seu contexto Figueiredo Dias tem vindo a defender esta posição, subscrevendo, aliás, muitos dos pressupostos de que parte Jescheck12. E também Taipa de Carvalho se pronuncia no mesmo sentido13. Paula Ribeiro Faria, na medida em que centra a definição do cuidado num juízo “acerca da adequação social ou inadequação social da acção”14, aproxima-se da posição objectivista; os poderes do agente só têm relevância enquanto permitam uma leitura do poder médio ou da exigibilidade social. Não obstante, a autora acaba por concordar com Stratenwerth e Jakobs quando estes afirmam que a determinação do que é uma violação do dever de cuidado terá de tomar em conta as circunstâncias do caso concreto15. A fim de conseguir esta conciliação de opostos, Paula Ribeiro Faria não consegue evitar o recurso à equiparação com situações de omissão e posição de garante (o médico com especiais conhecimentos, por exemplo), por um lado, e por outro à figura do recorrente homem médio com as adaptações necessárias para preencher o espaço entre a regra abstracta (que responde à aspiração objectivista) e a situação concreta (que é a medida da cedência ao subjectivismo). Sobre esta questão, na doutrina portuguesa, Faria Costa tem uma posição algo diferente, na medida em que enfatiza a importância de uma definição rigorosa do cuidado enquanto “manifestação do princípio da segurança” exigida, desde logo, pelo princípio da tipicidade 16. Faria Costa chama a atenção para a importância crescente da negligência nas sociedades actuais, considerando indispensável a identificação de um critério material DIAS (2007) p. 865 ss. E já também em DIAS (2001) p. 355. No entanto, Figueiredo Dias considera que, ao contrário do que sucede com as capacidades inferiores à média – que apenas relevarão a nível da culpa – as capacidades superiores, onde existam, devem ser tidas em conta no sentido de “poderem fundar o tipo de ilícito na negligência” – DIAS (2007) p. 873. 13 CARVALHO (2008) p. 527 ss. 14 FARIA (2005) p. 926. 15 Ibidem p. 933. 16 COSTA (1992) p. 479 ss. 12 23 1. O Problema e o seu contexto que permita definir o cuidado objectivo, sem o qual não se poderá proceder legitimamente ao controlo jurídico-penal das “consequências atinentes às condutas negligentes”17. A “actualização” do problema a que procede leva Faria Costa a proceder a uma – sempre necessária, mas esquecida por muitos autores – distinção entre perigo e risco e a salientar a importância do conceito de risco para a compreensão da negligência numa sociedade em que, mais do que nunca, se torna inevitável a aceitação de que as condutas implicam riscos e que muitos desses riscos são indispensáveis ao correcto funcionamento de actividades socialmente úteis. Embora apoiando a tese do duplo escalão, Faria Costa expressa uma inusual preocupação com a definição do segmento objectivo que pertence ao ilícito-típico. Vai mesmo ao ponto de o questionar aí onde existem regras profissionais que regulam a actividade em causa, consciente de que estas não esgotam o problema – logo, a solução terá de ser encontrada num outro ponto, que constitui o verdadeiro cerne da questão. Para tal, interroga-se sobre o alcance da expressão “segundo as circunstâncias” que lemos no artigo 13.º do Código Penal, entendendo que esta se reporta não apenas à dimensão subjectiva do dever de cuidado mas também na própria “dimensão objectiva implícita no ilícito típico”18, e concluindo que as circunstâncias são indispensáveis como contextualização que permite alcançar o sentido normativo (“o ilícito inerente à regra de cuidado”) face ao caso concreto19. Esta é a perspectiva que considero correcta, e que neste trabalho se toma como ponto de partida para uma clara apreensão da estrutura do ilícito negligente e do conteúdo do dever de cuidado. Falta, contudo, identificar as coordenadas que permitirão integrar as circunstâncias concretas no comando Ibidem p. 486. Ibidem p. 519. 19 (…) “é a concreta determinação dos parâmetros em que a situação em apreço se solidifica que permite uma clara apreciação sobre o ilícito negligente”- p. 521. 17 18 24 1. O Problema e o seu contexto abstracto sem prejuízo da segurança jurídica. Ou seja, falta uma matriz que seja operatória e inclua nas varáveis a considerar aquelas capacidades individuais relevantes para o universo contextualizante. Falta, afinal, um modelo cibernético como o que proponho, um algoritmo que permita processar os dados de forma objectiva e controlável. No caso do controlador aéreo que Faria Costa utiliza como leading case para a sua argumentação20 podemos concluir que o juízo sobre a actuação do controlador depende (mais uma vez) da ponderação do risco. Esta ponderação deverá ter em conta a probabilidade de tal acidente se verificar, os custos do acidente (no caso, centenas de vidas humanas) e o custo alternativo de seguir escrupulosamente as regras profissionais (as quais teriam evitado a verificação do acidente). Em termos que veremos adiante, é deste jogo de factores que depende o juízo sobre a negligência21. Os benefícios obtidos através de uma construção rigorosa do cuidado objectivo são inúmeros e de vária ordem e têm sido destacados por autores que não enfatizam por igual os diversos aspectos nem concordam sobre a Trata-se de uma hipótese construída na qual (resumidamente) um controlador aéreo leva a cabo uma rotina de tratamento de dados muito mais rápida do que aquela que resultaria do cumprimento minucioso das regras vigentes, rotina essa que é, aliás, praticada por todo o serviço, que a considera indispensável para não provocar o bloqueamento do tráfego aéreo; um dia, verifica-se um choque entre aviões, do qual resultam centenas de mortes, vindo a provar-se que o acidente teria sido evitado se as regras de cuidado normativamente previstas tivessem sido respeitadas – mais pormenorizadamente, COSTA (1992 ) p. 484 ss. 21 Uma observação adicional: parece-me evidente que as regras técnicas devem ser adequadas ao correcto funcionamento da actividade que pretendem disciplinar. O que significa não deverem exceder aquele grau de exigência que é ainda compatível com o bom senso e a experiência (dito de outro modo, da racionalidade em sentido próprio). Isto sob pena de se tornarem prejudiciais e, assim, desencadearem um fenómeno de “convite à desobediência” – com o duplo efeito negativo de a) descredibilizar o direito, que as produziu e/ou manteve em vigor quando já desactualizadas face à evolução tecnológica, comprometendo a eficácia preventiva do mesmo; e b) deixarem materialmente sem qualquer regra uma actividade que se pretendia regular. Não significa isto que uma norma técnica, só por si, sirva em qualquer caso para traçar a fronteira entre o comportamento diligente (quando cumprida) e o comportamento descuidado (quando desprezada). O seu valor formal é, para esse efeito, meramente indiciário. Em última análise, valerá sempre a a avaliação do cuidado exigido pela situação concreta. Sobre esta última questão, v. CORCOY BIDASOLO (1989) p. 101 ss. 20 25 1. O Problema e o seu contexto abrangência dos factores a englobar mas partilham o reconhecimento da necessidade de um núcleo que sirva de referente claro a todos os destinatários da norma. Jescheck defende as vantagens de uma concepção objectivista com os seguintes argumentos: a) a valoração autónoma da acção negligente a nível de ilicitude contribui para afastar o perigo de uma responsabilidade pelo resultado; b) permite a aplicação de medidas de segurança, nos casos em que o autor seja declarado inimputável; c) fortalece a função de garantia da lei penal; d) implica o reconhecimento de um limite máximo de exigência, o que preserva o princípio da igualdade22. Mesmo que não se concorde com todas estas vantagens (os defensores do subjectivismo facilmente dirão que, precisamente, um dos efeitos perversos do objectivismo é não exigir mais de quem mais pode), penso que a certeza jurídica é inequivocamente reforçada havendo um referente objectivo23 e que, no outro lado da relação, a potencial vítima é mais eficazmente protegida. Também Schünemann chama a atenção para a necessidade de estabelecer um parâmetro objectivo na negligência, sob pena de se perder o efeito preventivo da norma. E destaca que o efeito preventivo tem de se basear numa perspectiva ex ante, discordando das posições subjectivistas que, ao requererem a avaliação da situação concreta, remetem inevitavelmente para um juízo ex post24. Mais recentemente Duttge veio introduzir uma perspectiva que podemos considerar híbrida, embora de pendor subjectivista. Este autor JESCHECK (1988 [1993]) p. 513. Muito crítico acerca da imprecisão dos comandos a que conduz o critério subjectivista, Schünemann manifesta a sua profunda discordância com a indiferenciação entre culpa e ilicitude - SCHÜNEMANN (1975) p. 160. Também Hirsch, partidário da concepção objectivista, destaca a necessidade de manter a separação entre culpa e ilicitude, de modo a diferenciar claramente o dever e o poder individual (“Sollen und individuellem Können”) – HIRSCH (1982) p. 267. 24 SCHÜNEMANN (1975) p. 165. 22 23 26 1. O Problema e o seu contexto recusa um conceito-padrão de cuidado, uma vez que no direito penal os conceitos e respectivos conteúdos devem ser sempre o mais concretos possível. Deste modo, também o recurso à figura do homem médio é de rejeitar, pois será sempre necessária uma verificação autónoma do risco criado25. Mesmo as normas técnicas corresponderão apenas a uma avaliação provisória, tendo apenas um valor indiciário. Embora sublinhe que a violação do dever de cuidado não pode ser, no direito penal, puramente objectiva, Duttge reconhece que há necessidade de encontrar referências para fixar uma medida que não seja puramente casuística. E considera que, para responder a questões da vida real, se terá de partir exactamente daí, nomeadamente através da análise de numerosos casos de jurisprudência, tentando encontrar, na respectiva ratio decidendi , o conceito de negligência. Antecipando a crítica que este método (indutivo) inevitavelmente suscitará, Duttge argumenta que mesmo a dedução mais não alcança do que uma verdade relativa, sempre dependente das premissas de que parte o raciocínio, e, assim sendo, o método que defende não trará particulares problemas de incerteza e insegurança jurídica. Na mesma linha de pensamento, o autor tenta estabelecer uma ponte entre o ser e o dever ser, ou seja, entre as circunstâncias da vida e condicionalismos inerentes à realidade do indivíduo, por um lado, e os preceitos do direito, pelo outro. Tendo em vista este objectivo, pretende, com recurso a outras ciências (v.g. a psicologia cognitiva) compreender o processo humano de conhecimento e decisão e até que ponto os indivíduos são capazes de se aperceber dos perigos inerentes às usas acções. Para concluir que há oito categorias de sinais de perigo relacionados com a previsibilidade [do resultado danoso] e o momento em que o perigo se torna perceptível26. A 25 26 DUTTGE (2001) p. 491. DUTTGE (2001) p. 494 ss. 27 1. O Problema e o seu contexto possibilidade de percepção, a probabilidade do dano e o tempo de reacção disponível são elementos indispensáveis, sendo que é irrenunciável a verificação de pelo menos o tempo necessário para uma reacção rápida. O juízo de negligência dependerá do grau desses sinais no caso sub judice, sendo que, por exemplo, quanto mais directa for a perceptibilidade do perigo tanto maior será o juízo de negligência a não ser que a probabilidade seja muito diminuta. Deverá também atender-se à gravidade do dano previsto, à necessidade de o indivíduo recorrer à sua memória pessoal, aos seus conhecimentos específicos27, etc. A grande vantagem da construção de Duttge é o reconhecimento de que é necessário recorrer a uma multiplicidade de factores que devem ser balanceados entre si para se chegar a uma conclusão sobre a verificação da negligência, de tal modo que uns podem compensar outros e, assim, o juízo final não se situa num ponto imóvel, antes resultando da conjugação dinâmica de todos os factores28. Mas a dificuldade encontrada em manter o equilíbrio entre elementos subjectivos e objectivos dentro de um conceito complexo de negligência condu-lo, a final, para a conclusão de que num direito que se pretende justo e respeitador do princípio da culpa, ninguém “pode ser obrigado àquilo de que não é capaz”, pelo que o juízo de negligência dependerá sempre das capacidades individuais29. Não obstante, Duttge tenta encontrar referências objectivas (inclusive partindo do particular para o geral) que permitam minorar a insegurança jurídica. Neste esforço, como vimos, identifica alguns dos aspectos cruciais para a construção de um modelo objectivo do dever de cuidado. Contudo, o Sobre a questão dos conhecimentos específicos, v. ibidem p. 434. Para uma análise detalhada de sinais de perigo a ter em conta, cf. p. 411 ss. 28 Duttge defende que, excepto o tempo de reacção, todos os indicadores se compensam mutuamente – v. Ibidem p. 437. 29 DUTTGE (2001) p. 87. 27 28 1. O Problema e o seu contexto que poderia ser o ponto de partida para a construção de um parâmetro objectivo, acaba por se deter perante a dificuldade em fixar limites quantitativos mínimos, bem como em identificar um elenco fechado de elementos relevantes. Duttge acaba assim por concluir que não se pode encerrar esta construção numa fórmula final, e fica refém desta insuficiência que não lhe permite progredir para um modelo oponível a toda e qualquer situação e indivíduo. A dificuldade em determinar os contornos do cuidado objectivo exigido, especialmente se se quiser evitar o recurso à figura do homem médio (com todas as dificuldades e insuficiências que essa figura apresenta e que serão alvo de análise detalhada mais adiante neste trabalho) tem estado na origem de muitas das cedências feitas ao modelo subjectivista. De certo modo, pode afirmar-se que os autores se sentem divididos entre a vontade de instituir um parâmetro objectivo e a incapacidade de identificar o critério que permita manter esse parâmetro mesmo quando são evidentes as variações individuais. As vantagens da concepção objectivista - das quais se destacam a garantia da generalidade do comando, a clareza e segurança e a maior protecção do bem jurídico – são, no entanto, de molde a justificar um esforço no sentido de encontrar solução adequada para o problema. 1.2 A falácia objectivista e a falácia subjectivista Nos crimes dolosos, tanto o tipo objectivo como o tipo subjectivo têm um objecto claramente identificável, pois a “passagem ao acto” do agente é orientada para o mesmo resultado que será alvo da imputação objectiva. 29 1. O Problema e o seu contexto Não assim na negligência. Coloca-se então a questão: qual o objecto [do desvalor] da acção na negligência? Como determinar o tipo subjectivo? Para muitos autores, não haverá, simplesmente, lugar para um tipo subjectivo, na negligência30. A maior parte das críticas formuladas por esta corrente são bem fundadas, mas tal não significa que o ilícito negligente se reduza a uma dimensão puramente objectiva – transformando-se, a nível do ilícito, numa responsabilidade pelo azar, que só poderia ser excluída em momento posterior, mediante a avaliação da culpa. O que se passa é que o tipo subjectivo do ilícito negligente não compreende, à partida, características ou elementos psicológicos específicos do agente, nos termos verificados no dolo, mas apenas a direcção da vontade orientada para um objecto proibido pelo direito – a saber, a síndrome de risco que, potencialmente, desencadeará o resultado lesivo. É por esta via que o ilícito negligente suporta um elemento volitivo desaprovado, o qual, à semelhança do que sucede nos tipos dolosos, não se confunde com a culpa. Na negligência, o tipo subjectivo basta-se com a previsibilidade, por parte do agente, das consequências potenciadas pela sua acção31. Mas como determinar essa previsibilidade? Gössel afirma que, uma vez que a norma se dirige a todos, tem de consagrar um padrão comum, o que parece uma evidência. Mas em seguida Na doutrina portuguesa, Paula Ribeiro Faria afirma expressamente que afirma que “o ilícito negligente não integra tipo subjectivo de ilícito algum “ - FARIA (2005) p. 901. Numa posição menos radical, mas ainda assim desvalorizando a discussão sobre a existência de um tipo subjectivo negligente, cf. DIAS (2007) p. 886 ss. Na doutrina brasileira, toma posição também contra a existência de um tipo subjectivo nos crimes negligentes TAVARES (2009) p. 296 ss. Referindo-se ao tipo subjectivo nos tipos negligentes, Zaffaroni destaca a diferença relativamente ao que sucede nos tipos dolosos, na medida em que não há um conhecimento efectivo mas apenas potencial, no entanto considera que é conveniente manter uma construção comum – ZAFFARONI (xxxx) p. 432 ss. 31 Esta é uma posição moderada; numa formulação mais exigente, não bastará a previsibilidade, exigindo-se a previsibilidade individual ou, mais ainda, a previsão. Em suma, as posições variam num largo espectro que vai da negação da tipicidade quando falte o conhecimento efectivo (a previsão) à aceitação da culpa mesmo quando não haja previsibilidade, por bastar a componente objectiva. 30 30 1. O Problema e o seu contexto depara-se com a dificuldade de resolver os casos em que, reconhecidamente, não há previsibilidade individual32. Trata-se de um problema recorrente para quem pretende encontrar na previsibilidade do resultado a base para o tipo subjectivo negligente. Esta perspectiva terá, aliás, de concluir pelo não preenchimento do tipo de ilícito nas hipóteses de negligência inconsciente (que já suscitam sérias dificuldades de teorização a nível de culpa). É neste contexto que a posição de Struensee se revela profundamente inovadora, ao basear-se o conceito de síndrome de risco – conjugação de circunstâncias que propiciam a lesão do bem jurídico a um ponto considerado intolerável e que existem independentemente do conhecimento que o agente tenha delas, estão no mundo externo, objectivas e apreensíveis. Esta construção permite identificar o resultado finalisticamente buscado pela acção na negligência e que determina o seu desvalor. Que o objecto da acção [final] não seja o dano, ainda que o agente seja punido por este, é questão que tem suscitado severas críticas a esta construção do tipo negligente. Na negligência, porém, a potencialidade de lesão é de tal forma intrínseca ao complexo de risco carregar de tal forma que, ao assumi-lo, o agente tem de levar em conta essa possibilidade. É como se o “dolo” directo relativamente ao complexo de risco implicasse um “dolo” eventual relativamente à possibilidade (a potencialidade) de verificação do resultado. Só é possível conceber um risco enquanto tal se se considerar como possível a verificação do resultado – quando não, o risco não existiria. Aqui, mais uma vez, se evidencia a importância da distinção entre perigo e risco: o agente pode não aceitar sequer o perigo (enquanto situação que existe no mundo externo) mas aceita o risco enquanto construção lógica. E, ao querer assumi-lo, aceita essa mesma possibilidade – que depois vem a projectar-se 32 GÖSSEL (1978) p. 51 ss. 31 1. O Problema e o seu contexto efectivamente no resultado proibido33. Como veremos adiante, é por esta via que, na negligência, desvalor da acção e desvalor do resultado (aqui o resultado final, isto é, a lesão do bem jurídico) se encontram inextricavelmente ligados e mesmo interdependentes. Segundo González Murillo, na negligência o que se exige não é a previsão (consciente) do resultado mas a das “circunstâncias típicas arriscadas” e a medida deste risco é fixada pelo legislador; basta, portanto, que o indivíduo conheça as circunstâncias que produzem o grau de risco alvo de proibição (o risco proibido)34. González Murillo deixa, porém, vários problemas por resolver: a) não explica como o indivíduo acede a esse conhecimento das circunstâncias (o que pode conduzir ao mesmo impasse, já várias vezes referido: uns terão consciência das circunstâncias de risco e outros não); b) não refere o problema do erro sobre o tipo, que pode verificarse; c) não discute a questão de como adquire o indivíduo o conhecimento sobre o grau de risco proibido (onde passa a fronteira, v.g. quando não existam normas técnicas sobre aquela concreta actividade?). Ao analisar a posição de autores como Graven e Weideman, González Murillo defende que este conhecimento das circunstâncias (conhecimento efectivo, não conhecimento pressuposto por ser de esperar do homem médio) há-de existir como base imprescindível de um tipo subjectivo. Esta posição, que corresponde a uma corrente da doutrina fortemente motivada pelo princípio da culpa35, tem sido acusada de não resolver satisfatoriamente muitos dos casos práticos que diariamente se nos deparam. Haveria, segundo os críticos, lugar a uma impunidade inaceitável em inúmeras situações em que o agente nem sequer configurou os factores de Evidentemente, o agente não representa apenas a possibilidade de um resultado, mas de vários resultados possíveis – embora a posteriori só nos interesse aquele(s) desses resultados que a) tenham efectivamente ocorrido e b) realizem a descrição de um tipo penal. 34 GONZALEZ DE MURILLO (1991) p. 204. 35 Neste sentido, cf. KAUFMANN (1961) e também KÖHLER (1982). 33 32 1. O Problema e o seu contexto risco, como nos exemplos, citados por Herzberg e discutidos também por Struensee36, da mãe que dá ao seu filho comida envenenada sem o saber ou da enfermeira que esquece as instruções do médico sobre os alimentos que não devem ser dados a uma determinada criança. Struensee defende aqui o recurso à figura do erro sobre o tipo, concluindo pela impunidade uma vez que não há previsibilidade do resultado por parte do agente. Herzberg, numa posição mais objectivista, considera que só há lugar a tipicidade subjectiva nos crimes dolosos. E discorda do critério do erro sobre o tipo sugerido por Struensee, argumentando que este resultaria insatisfatório na medida em que levaria à isenção de responsabilidade do agente simplesmente por este se ter enganado, por não ter tido uma noção correcta do risco, sobrepondo a ignorância subjectiva à conformidade com o cuidado exigido pelas circunstâncias37. Para Hezberg, a tónica há-de ser colocada nos riscos criados e não na percepção que deles tem o sujeito. Ao que Struensee contrapõe que, a seguir-se a posição de Herzberg, a enfermeira que (apesar de avisada mais do que uma vez) deu à criança o alimento prejudicial agiria sempre de forma objectivamente negligente, mesmo que nada lhe tivesse sido dito 38. Face às conclusões de Struensee, as críticas que dirige a Herzberg são, até certo ponto, justas. Mas a verdade é que a construção daquele autor não conduz inevitavelmente às conclusões que defende. Embora se questione sobre o critério a adoptar para avaliar o conhecimento – ou cognoscibilidade – necessário para o juízo sobre a negligência, Struensee não desenvolve os pressupostos de que parte (exigência de um tipo subjectivo, consciência de um complexo de riscos, eventual erro sobre a tipicidade) e a sua construção HERZBERG (1987) p. 537 ss.; STRUENSEE (1987) p. 541. Herzberg (1987) p. 538. 38 “würde die Krankenschwester auch dann objectiv fahrlässig handeln” – STRUENSEE (1987) p. 41. 36 37 33 1. O Problema e o seu contexto fica, por isso, incompleta e exposta a críticas como as formuladas por Hezberg. Para se enquadrar correctamente o problema, temos de ter presente que ser negligente não é criar perigos no mundo exterior. Ser negligente é agir optando por um risco superior ao normativamente admissível. Logo, no exemplo da enfermeira, é incorrecto dizer que ela foi “objectivamente” negligente só porque o seu comportamento criou um perigo que se concretizou no resultado. Compare-se com casos semelhantes no âmbito do dolo para melhor se compreender. Pelo facto de Abílio ter disparado sobre Bento, julgando erradamente que estava a disparar contra uma peça de caça, não pode dizer-se que Abílio agiu dolosamente, ainda que objectivamente Abílio tenha visado Bento e lhe tenha acertado porque assim pretendeu. Neste caso, de acordo com o regime do artigo 16.º, n.º 1 do Código Penal, o dolo é excluído, subsistindo apenas a possibilidade de punir o agente a título de negligência. Mas note-se que o juízo de negligência não tem directamente por objecto a acção de apontar e disparar: esta, na sua configuração externa (objectiva) é uma acção intencional relativamente à qual não cabe discutir o cuidado no desempenho. O juízo de negligência, nestes casos, toma antes em consideração o modo como o agente avaliou a realidade, em termos de aferir se, segundo as circunstâncias, o erro era ou não evitável. Do mesmo modo, na negligência, quando o indivíduo desconhece os factores de risco cuja ponderação era indispensável para tomar uma decisão sobre a acção praticada, não pode falar-se em falta de cuidado relativamente à acção em si (administrar o medicamento ao doente, servir o alimento à criança, etc.). Não há, da parte do agente, uma opção pela síndrome de risco proibida, pois ele não chega a configurá-la. 34 1. O Problema e o seu contexto A conclusão sobre o dever de cuidado desloca-se então para o desconhecimento das circunstâncias relevantes – exactamente como sucede na exclusão do dolo por erro sobre elementos do tipo. Não é, portanto, necessário recorrer a construções específicas (e controversas) do tipo negligente para resolver estes casos, bastando aplicar analogicamente o regime geral do erro. A censura recua então até ao momento em que o indivíduo podia ter configurado correctamente a realidade (obtendo a necessária informação ou actualizando conhecimentos existentes) e todavia não o fez, estando essa ignorância na base do seu actuar descuidado. Pode afirmar-se estarem deste modo ultrapassados todos os problemas suscitados pela negligência inconsciente? Na negligência consciente o agente conhece os factores de risco e a possibilidade de o resultado se verificar; a existência desta possibilidade, decorrente dos factores de risco, consubstancia o objecto de uma previsibilidade – quando não mesmo de uma previsão – considerada indispensável para a realização do tipo negligente, integrando a tipicidade subjectiva39. Mas se o indivíduo age sem reconhecer sequer os factores de risco, não podendo, portanto, prever as consequências (juridicamente proibidas) da sua acção, pode esta ser considerada culposa sem violação do princípio da culpa nos termos em que o direito penal actual o acolhe? Mesmo admitindo que, de facto, todas as acções resultam de uma opção, ou seja, da escolha entre alternativas40 (ainda que nem sempre a ponderação das alternativas e a escolha pela acção arriscada se processe ao Para Gössel, a previsão individual (individuelle Voraussicht) integraria a negligência consciente, enquanto à negligência inconsciente corresponderia a mera previsibilidade individual (individuelle Voraussehbarkeit) – GÖSSEL (1978) p. 52. 40 Sobre esta questão, v. Capítulo 6. 39 35 1. O Problema e o seu contexto nível da consciência reflexiva) será isto suficiente para suportar um juízo de culpa? Sem esquecer autores que desde há muito têm debatido esta questão – e a que voltaremos mais adiante – analisemos o problema a partir de uma posição radical defendida por dois autores anglo-saxónicos41 numa obra recente, tomando também em conta o conjunto dos comentários publicados no número do periódico Law and Philosophy Review que lhe foi dedicado42. A escolha justifica-se por a teoria defendida por Alexander/Kerzan e a polémica a que deu origem tocar os principais pontos sobre que assenta a construção do algoritmo proposto na presente dissertação. Em traços gerais, pode-se dizer que Crime and Cupability, a monografia de Alexander e Kerzan converge para duas conclusões: (1) punir a negligência inconsciente viola o princípio da culpa e (2) a verificação de resultados deve ser irrelevante para efeitos de punição. É principalmente a primeira destas afirmações – e a discussão em redor do seu suporte teórico que nos interessa. Alexander/Kerzan baseiam-se nas seguintes premissas, que desenvolvem ao longo da obra: 1 – Não há culpa sem controlo, isto é, sem que o agente tenha tido a possibilidade de optar. Esta é uma ideia cara também ao pensamento finalista, como se sabe: a de opção como base de censura penal43. No campo da negligência, Alexander/Ferzan levam este ponto de partida às suas últimas consequências, negando a culpa em situações em que não há ALEXANDER/KERZAN (2009). Law and Philosophy, 29 (2010). 43 Compare-se, especificamente no campo da negligência, com uma perspectiva completamente diferente como a que Eduardo Correia expressava em 1961, apelando para a [falta de] preparação do agente, nomeadamente por não ter aperfeiçoado as suas capacidades de previsão – CORREIA (1961) p. 29. 41 42 36 1. O Problema e o seu contexto controlo (embora pudesse haver) simplesmente porque o agente não tem consciência do perigo no momento em que ele se concretiza. 2 - Os riscos e a desatenção são uma realidade omnipresente e não existe um modo não arbitrário de determinar o ponto a partir do qual devem ser punidos44. Embora se reconheça que esta delimitação será necessariamente normativa (não se trata, evidentemente, da identificação de um quid préexistente) não deixa por isso de estar limitada por parâmetros que condicionam a eficácia e legitimidade do direito penal. Sem dúvida, qual a via escolhida depende de uma opção normativa. Mas, ao impor um modelo de gestão do risco, está-se a impor uma regra de convivência essencial à vida em sociedade: está-se a regular as relações intersubjectivas e entre o sujeito e a comunidade mantendo-as dentro de parâmetros considerados indispensáveis45. 3 – O resultado é irrelevante, na medida em que o agente descuidado tanto merece uma pena quando o resultado se produziu como quando, por sorte, tal não aconteceu. Por outro lado, se o agente produziu o resultado inadvertidamente (i.e. sem ter consciência dos factores de risco relevantes) não deve ser punido a qualquer título. As acções (do agente) são avaliadas consoante o resultado esperado (subjectivamente esperado), independentemente de o produzirem ou não46. No valor (negativo) desse resultado é contabilizada também a probabilidade estimada (subjectivamente estimada) de ele vir a verificar-se. Note-se que Alexander/Kerzan defendem ALEXANDER/KERZAN (2009) p. 47 e 71 ss. Referindo-se ao padrão de negligência (negligence standard), Andrew Leopold considera que este não requer do sujeito que detenha toda a informação sobre o que pode provocar riscos para terceiros e discorda, por isso, de Alexander/Kerzan quando estes afirmam que o cuidado exige um grau de atenção impossível de preencher e que está constantemente a ser violado – LEIPOLD (2010) p. 457. Numa perspectiva que considero correcta, Leipold coloca a tónica na escolha do risco por parte do agente, risco esse que vem posteriormente a projectarse no resultado – Ibidem p. 459. 46 ALEXANDER/KERZAN (2009) p 62 ss. 44 45 37 1. O Problema e o seu contexto uma concepção radicalmente subjectiva de probabilidade – o que não suscitaria grandes problemas não fosse o caso de virem defender que o único valor relevante da probabilidade é o estimado pelo autor porque, na realidade, não existe outro: a probabilidade objectiva de um evento é puramente ilusória. Reduzem assim a probabilidade a uma das suas concepções sem que haja qualquer possibilidade de cotejar a probabilidade subjectiva (mera convicção) com algum outro valor que possa servir de termo de comparação. Este subjectivismo radical leva os autores a defender que o agente seja punido pelo que pensa fazer e não pelo que faz (o que é coerente com outras afirmações no sentido de só atribuir relevância ao elemento subjectivo, desprezando inclusive, como já foi referido, a componente objectiva da verificação do resultado). Mas será isto correcto? Refira-se, antes do mais, uma incongruência nas posições defendidas por Alexander/Kerzan: se o que releva é o controlo – e daí a não punibilidade das acções em que o indivíduo não tem consciência dos factores de risco – e se entre os factores de risco está, necessariamente, o valor da probabilidade, como conceber controlo e consciência se não houver um objecto externo de que se tem consciência, sendo essa consciência que permite o controlo (também este, controlo de um processo externo)? Recuemos, entretanto, um pouco, a fim de analisarmos a afirmação dos autores de que as probabilidades objectivas são mera ilusão47. Os autores afirmam que, na realidade, o valor da probabilidade só pode ser 0 ou 148. Isto é desvirtuar completamente o conceito de probabilidade, tornando-o inoperacional. Sem dúvida, relativamente a cada No capítulo 7 desta dissertação veremos que esta concepção se insere num campo teórico muito mais vasto, onde se inscrevem outras abordagens do raciocínio probabilístico. 48 ALEXANDER/KERZAN (2009) p 29 ss.; ALEXANDER/KERZAN (2010) p. 493. 47 38 1. O Problema e o seu contexto evento possível e incerto só há duas hipóteses: ou se verifica ou não. Esta é uma perspectiva “divina” do problema, pois não é possível a ninguém saber com antecipação se um acontecimento incerto vai verificar-se ou não. O cálculo de probabilidades insere-se numa outra perspectiva, que considera o evento não isoladamente mas como elemento de um conjunto. Um dos principais problemas do raciocínio de Alexander/Kerzan consiste na insistência em se reportarem sempre e apenas ao valor da probabilidade em cada exacta e concreta situação. Ora não é essa probabilidade que interessa para o cálculo do risco, mas a probabilidade numa situação genérica de incerteza, estimada ex ante e em geral49. No texto com que participa no número da Law and Philosophy dedicada ao tema, Eric Johnson critica justamente a posição de Alexander/Kerzan acerca da estimativa de probabilidades feita pelo agente, defendendo uma alternativa viável, com base em diferentes sentidos do conceito de probabilidade50. Johnson, na linha de Keynes, defende que, tomando por base os elementos conhecidos (e, neste caso, serão os elementos conhecidos pelo agente) é possível calcular probabilidades objectivas, cujo valor a partir daqueles pressupostos deixa de ser arbitrário51. Resta, no entanto, ultrapassar a objecção de Alexander/Kerzan segundo a qual a) não haverá forma de seleccionar qual o conjunto de elementos de que se parte para esse cálculo 52 e b) não poderemos basear-nos nos elementos “que o agente conhece” – como base para uma certa dose de objectividade - pois só releva o que “o agente acredita saber”. Como é do conhecimento geral, as companhias de seguros calculam riscos e estes consubstanciam uma realidade bem concreta e objectiva: de acordo com esse cálculo, é estimado o valor do prémio a ser pago, de forma a garantir a solidez financeira da companhia. 50 Johnson (2010) p. 422 ss. 51 Ibidem p. 425. 52 ALEXANDER/KERZAN (2010) p. 493. 49 39 1. O Problema e o seu contexto Quanto a este último ponto, desde logo se pode argumentar que a referência ao que o indivíduo sabe (não ao que acredita saber) remete para uma base empírica que há-de ser correctamente identificada pelo agente, sob pena de se encontrar em erro sobre elementos indispensáveis ao cálculo do risco. Na posse dos mesmos elementos, o grau de variação subjectiva é diminuto: existe, mas não excede os limites de que depende a partilha de juízos comuns sobre a potencial perigosidade. É esta racionalidade partilhada que permite o juízo de culpa53. Quanto ao primeiro argumento, embora suscite uma questão teoricamente válida, a verdade é que, como é do conhecimento geral, as estimativas de carácter frequencista são formuladas e podem ser apresentadas em termos apreensíveis por qualquer pessoa dotada de racionalidade. Mesmo que assim não fosse, no entanto, a dificuldade em calcular probabilidades de acordo com modelos homogéneos (e note-se que este objectivo não é incompatível com uma concepção epistémica de probabilidade) não implica só por si a negação de um risco objectivo – e é deste que se trata quando falamos de negligência. Outra das limitações da teoria de Alexander/Kerzan consiste – como bem destaca Westen na sua crítica54 - na identificação entre probabilidade e risco, reduzindo este ao conceito de probabilidade. Já aqui foi dito – e voltaremos a este assunto por diversas vezes no presente trabalho – quão pernicioso pode ser este esvaziamento de um conceito fundamental para toda a problemática em análise. Não só porque expõe, indevidamente, a noção de risco às dificuldades próprias da probabilidade, mas também Sobre o problema do erro, cf. o que é dito supra neste mesmo capítulo. WESTEN (2010) p. 412-413. Também Westen revela algumas confusões sobre o conceito de risco, que acaba por definir em termos coincidentes com os de perigo; a crítica que faz a Alexander/Kerzan é, no entanto, inteiramente bem fundada. 53 54 40 1. O Problema e o seu contexto porque elimina um dos eixos – talvez o principal – sobre os quais se constrói a ideia de negligência. Do ponto de vista interno à construção de Alexander/Kerzan, no entanto, mesmo se admitirmos o que os autores rejeitam – a existência de uma referência objectiva passível de cotejo com as convicções do agente – o ponto essencial da sua teoria não é afectado. No que se reporta à culpa (e é disso que nos ocupamos agora), se esta pressupõe liberdade de opção e a indispensável consciência dos factores em que se baseia essa opção, a censura a dirigir ao agente estará sempre dependente do que ele sabe (e sabe de modo consciente no momento em que podia ter evitado o resultado, não o tendo feito: o momento de controlo de que falam os autores) ou seja, da forma como ele configura, subjectivamente, a realidade circundante. O exacerbamento da consciência como requisito leva Alexander/Kerzan a darem importância apenas a esta, abstraindo de qualquer categoria objectiva. Nesta perspectiva, o direito penal contempla exclusivamente a dimensão subjectiva do facto, com as seguintes consequências, elencadas e analisadas por Westen55: o agente passaria a ser punido não pela criação efectiva de riscos (por mais evidente que estes riscos fossem) mas por imaginar que criava riscos (quer tal se verificasse ou não e mesmo que se tratasse de riscos impossíveis como consequência da acção executada). E a maioria dos chamados proxy crimes56 teriam de ser eliminados. Abstraindo da questão dos proxy crimes, centremo-nos no que constitui o cerne da posição defendida em Crime and Culpability: a WESTEN (2010) p. 403. A figura assemelha-se, em traços gerais, à ideia das infracções de perigo abstracto. Nem a produção de danos, nem a criação efectiva de perigo, são exigidas como elementos da descrição da „offence‟: nos proxy crimes, a proibição é fundada não num juízo de perigosidade intrínseca, mas num juízo de presunção de perigo associado ao tipo de comportamento em causa. 55 56 41 1. O Problema e o seu contexto incompatibilidade entre as exigências do princípio da culpa (que passam pela opção consciente do sujeito) e a configuração do direito penal actual. A teoria de Alexander/Kerzan enferma de duas espécies diferentes de fragilidades. Uma de ordem prática (não constituindo, portanto, uma objecção suficiente para invalidar a teoria em si, mas não deixando por isso de ter alguma relevância) e outra de ordem empírica e teórica. Punir as pessoas com base apenas nos riscos que elas imaginam criar e abstraindo dos riscos objectivos (que os autores recusam ter existência objectiva) e do resultado provocado (ou não), comprometeria seriamente o efeito preventivo do direito penal. Se tomarmos como um obstáculo inultrapassável o facto de o agente não se ter apercebido do perigo – sem atribuir relevância ao facto de que ele poderia ter-se prevenido, antecipadamente, contra distracções ou esquecimentos - acabaremos por ter de admitir que, em cada situação, o agente actuou como actuou porque… não poderia ter actuado de outro modo. Sem efeito dissuasor, restará ao direito penal exclusivamente a via da retribuição – o que não corresponde, como se sabe, ao paradigma vigente no nosso país nem na maior parte dos Estados de direito. Independentemente do pendor mais ou menos retributivo que se queira atribuir ao sistema penal, é hoje reconhecido que o direito penal tem (como função principal ou pelo menos concomitante) uma vocação de actuar, cuja efectividade condiciona a sua legitimidade. Westen chama a atenção para outra consequência negativa da abordagem proposta por Alexander/Kerzan. Punir apenas com base no que o agente pensa ter feito levaria a um direito penal extraordinariamente “invasivo”, no âmbito do qual a comunidade veria serem punidos actos 42 1. O Problema e o seu contexto reconhecidamente inócuos, enquanto, por outro lado, o direito não daria relevância a resultados lesivos57. Uma outra dificuldade prática que pode ser suscitada refere-se à possibilidade de determinar a extensão e conteúdo do conhecimento do agente. Se a responsabilidade deste se baseia na sua perspectiva pessoal, inteiramente subjectiva, como aceder a essa vivência interior? É sabido por todos, sendo quase ocioso repeti-lo: o nosso conhecimento do Outro é sempre – necessariamente – mediatizado. Não temos acesso directo ao real, só o assimilamos através de modelos e símbolos adquiridos que servem de descodificadores dos “sinais” apercebidos. Logo, para aferir do conhecimento e atitude do agente, teremos de captar esses sinais e interpretálos através de um filtro que sirva de termo de comparação e lhes confira um sentido. Que esse “filtro” não seja o homem médio não implica que possamos dispensar um outro em substituição. Questiona-se então como será possível, na óptica de Alexander/Kerzan, conhecer a perspectiva do agente que precedeu (e determinou) a sua acção. Embora este seja um problema recorrente em direito penal, assume na construção proposta pelos autores uma importância acrescida, na medida em que os aspectos subjectivos são extremados ao ponto de relegarem tudo o resto para segundo plano. Por fim – e esta crítica será talvez a que mais compromete a tese defendida em Crime and Cupability – constata-se que Alexander/Kerzan centram a sua concepção de culpa numa distinção entre estados psicológicos formulada com base em categorias tradicionais que a ciência tem vindo progressivamente a infirmar. Veja-se, por exemplo, a bipartição entre agir “acidentalmente” e agir “propositadamente”58 que contrapõem à abordagem WESTEN (2010) p. 404. Westen desenvolve em seguida uma demonstração da relevância normativa do resultado, com base naquilo que podemos considerar argumentos de prevenção geral positiva – Ibidem p. 405-410. 58 “accidentally” e “on purpose” – ALEXANDER/KERZAN (2010) p. 497. 57 43 1. O Problema e o seu contexto feita por Susan Bandes: o mecanismo de decisão descrito por esta autora inscreve-se, todavia, num registo completamente diferente que passa ao lado daquela bipartição e teria, portanto, de ser contraditado com outra ordem de argumentos. Bandes refere os conhecimentos científicos recentes para concluir que não é correcto contrapor consciência a inconsciência, como realidades estanques, uma vez que a consciência consiste num espectro e não numa série de estados delineados com exactidão59. Pode hoje dizer-se que há um consenso a nível científico no sentido de pôr em causa a dicotomia tradicional. Pelo contrário, é cada vez mais evidente que os vários níveis de consciência interagem entre si e consistem numa gradação60. E pode mesmo afirmar-se que a maior parte das decisões são tomadas com a participação de níveis fora da consciência reflexiva, quando não totalmente fora dela61. O dilema com que se debatem Alexander/Kerzan (e que tem atormentado muitos outros autores) estará assim em vias de ser ultrapassado pelos contributos da neurologia e da psicologia. Será esta visão do ser humano redutora da nossa concepção de liberdade? Remeterá as nossas opções para níveis inacessíveis à consciência reflexiva e, portanto, fora do controlo consciente? Como veremos, o processo de decisão é bem mais complexo. BANDES (2010)p. 438. Uma “escala de intensidade”, nas palavras de Damásio – cf. DAMÁSIO (2010) p. 211 ss. 61 Sobre este ponto, cf. o Capítulo 6 da presente dissertação. 59 60 44 2. O direito penal na sociedade de risco 2 O DIREITO PENAL NA SOCIEDADE DE RISCO 2.1 Perigo, risco, incerteza Frank Knight, na sua obra Risk, Uncertainty, and Profit, refere duas formas de incerteza: aquela que pode ser reduzida a uma probabilidade quantitativamente determinada e aquela que não é susceptível de medição e não pode, portanto, ser eliminada em caso algum62. Segundo Knight, o termo incerteza deve ser reservado a esta última. Esta definição é, ainda hoje, largamente consensual. Podemos, então, tomar como ponto de partida que, enquanto na incerteza as probabilidades são desconhecidas ou não se enquadram nas leis das probabilidades, no risco há uma probabilidade conhecida ou cognoscível. Mas o conceito de risco é algo de muito mais complexo; não se reduz a um meio caminho entre a incerteza e a certeza. “As we have repeatedly pointed out, an uncertainty which can objective, quantitatively determinate probability, can by any method be reduced to an objective, quantitatively determinate probability, can be reduced to complete certainty by grouping cases. but the present and more important task is to follow out the consequences of that higher form of uncertainty not susceptible to measurement and hence to elimination” – KNIGHT (1921) Parte III capítulo VII. 62 45 2. O direito penal na sociedade de risco O risco é uma entidade dinâmica, relacional, que depende do modelo construído pelo sujeito e dos valores atribuídos a cada uma das variáveis que integram esse modelo. Não admira, pois, que o conceito de risco seja muito mais recente do que os conceitos de perigo ou de incerteza: enquanto estes se apresentam ao indivíduo como realidades externas do quotidiano, o conceito de risco tem de ser construído e a sua utilidade está ligada à tomada de decisões (as quais implicam correr riscos para alcançar objectivos). Neste sentido, o conceito de risco está intimamente ligado à ideia de jogo: trata-se de fazer opções quanto ao valor da aposta – dependendo da probabilidade de ganhar a lotaria, do montante do prémio, da disponibilidade do indivíduo para fazer o sacrifício inerente à aposta. Se (aceitando o critério de Knight) a diferença entre incerteza e risco se pode estabelecer com clareza, já a diferença entre perigo e risco é muito mais problemática, não recolhendo consenso dos autores, que atribuem conteúdo muito diverso aos conceitos em causa 63. Acresce a esta dificuldade em defini-lo, o facto de o termo risco assumir diversos significados consoante o âmbito [de estudo] em que é utilizado64 Faria Costa, estabelecendo o percurso “da determinação à incerteza, passando pelo risco”, defende que “se age em uma situação de risco quando a cada decisão correspondem também vários resultados mas no que a estes se refere (…) consegue-se estimar a probabilidade da sua ocorrência” – COSTA (1992) p. 593. E densifica o conceito de risco afirmando que este surge quando nos colocamos numa “atitude intelectual que assuma projectivamente os dosi resultados (o positivo e o negativo) possíveis” – ibidem p. 611. Também Paula Ribeiro Faria desenvolve a ideia de que o conceito de risco se distingue do de perigo por conter a possibilidade de um ganho, não tendo portanto uma conotação necessariamente negativa – FARIA (2009) p. 376. Mais adiante, a Autora identifica dois momentos decisivos no juízo sobre o risco: “a probabilidade da sua ocorrência e a gravidade do mal em que ele se pode vir a concretizar”. Pese embora a confusão terminológica (pois, mesmo dentro dos quadros de raciocínio de Paula Ribeiro Faria, o risco a cuja probabilidade de ocorrência se refere não é certamente o mesmo sobre o qual incide o juízo global) é de realçar a identificação dos factores relevantes e a noção dinâmica do conceito tal como é enunciado – cf. FARIA (2009) p. 378 ss. 64 Desenvolvendo este aspect, HERTZ/THOMAS (1983) p. 9 ss 63 46 2. O direito penal na sociedade de risco Para Luhman65, a diferença entre perigo e risco depende da posição do sujeito. Quando alguém deve tomar uma decisão, considera as possíveis desvantagens da mesma e respectiva probabilidade, avaliando-as como riscos (que está disposto a correr – ou não – a troco de vantagens). O risco aparece assim ligado à escolha entre duas, ou mais, opções. Não obstante esta perspectiva, Luhman coloca sérias reservas à capacidade de os indivíduos elaborarem cálculos quantitativos segundo as regras convencionais da racionalidade. Às reservas expostas por Luhman pode hoje responder-se com as novas formulações da racionalidade do processo decisório, ou seja, uma racionalidade reconstruída integrando inúmeros factores subjectivos66. Na sua obra Runaway World, Giddens traça um breve quadro do aparecimento do conceito67. Depois de constatar que na Idade Média o conceito de risco era desconhecido, Giddens associa o risco a sociedades “orientadas para o futuro” e conclui que “as culturas tradicionais não dispõem do conceito de risco porque não precisam dele. Risco não é o mesmo que acaso ou perigo. O risco refere-se a perigos calculados em função de possibilidades futuras”. Esta ideia permite relacionar o aparecimento do conceito de risco com a emergência de um novo contexto social: a palavra (cuja origem etimológica é muito discutida) terá surgido para designar uma V. LUHMANN (1991 [1993]) p. 23 ss. Luhmann refere ainda casos em que a probabilidade é desconsiderada (ou no mínimo subvalorizada) por o evento aparecer como inevitável (por exemplo, a queda de um meteorito) para daqui concluir que a sociedade actual está muito mais orientada para a consideração dos riscos do que dos perigos – p. 27. 66 O próprio Luhmann contribui, aliás, para o acervo que constitui a base desta nova racionalidade. O conceito de limiar de catástrofe introduz uma separação entre um modelo de cálculo dos riscos orientado pelas expectativas de custos e benefícios e um outro que se lhe sobrepõe, quando o (eventual) resultado desfavorável é visto como “catástrofe”, afectando esse cálculo – v. Luhmannn (1996) p. 125. Mantém-se, no entanto, aberta a dúvida: será que há, nesse caso, uma alteração de paradigma, ou será que as diferenças verificadas correspondem apenas à introdução de valores extremos na matriz utilizada pelo indivíduo para análise do problema? 67 GIDDENS (2000 [1999]) p. 32 ss. 65 47 2. O direito penal na sociedade de risco realidade nova que não encontrava expressão adequada no léxico existente. E a sua capacidade operativa vai sendo testada à medida das necessidades conceptuais, atingindo actualmente o máximo de esforço face à denominada sociedade de risco. Curiosamente, Beck, o grande teorizador da sociedade de risco, embora concorde com várias das características atribuídas geralmente ao conceito de risco, considera difícil a delimitação entre este e o de perigo, por, na sociedade actual, se terem tornado categorias intermutantes. Mas, por outro lado, Beck torna mais complexo o conceito, entendendo que é importante distinguir entre duas concepções de risco: a) a probabilística (ligada à teoria de que tudo é mensurável e calculável); b) a de risco no sentido de incertezas que não podem ser medidas nem calculadas (“incertezas fabricadas”) – presente numa sociedade onde a incerteza é omnipresente e onde as inovações desencadeiam consequências imprevisíveis e incontroláveis. A distinção que proponho deve ser considerada apenas como de carácter operativo; não se pretende que ela tenha mais valor do que uma qualquer classificação destinada a estabelecer códigos comuns. O perigo corresponde a uma probabilidade elevada68 de um dano objectivo se verificar. Segundo uma parte da doutrina, essa probabilidade deve situar-se acima dos 50%. Faria Costa analisa desenvolvidamente esta questão, a partir da posição da jurisprudência alemã. Concordando embora com a ideia de que haverá sempre uma situação de perigo relevante quando a probabilidade de um resultado desvalioso é superior à probabilidade da sua não produção, Faria Costa questiona se, mesmo com uma probabilidade inferior a 50%, não poderá afirmar-se haver uma situação de perigo, e conclui que “há perigo sempre que, através de um juízo de experiência, se possa afirmar que a situação em causa comportava uma forte probabilidade de o resultado desvalioso se vir a desencadear ou a acontecer” COSTA (1992) p. 596 ss. 68 48 2. O direito penal na sociedade de risco O risco corresponde a uma probabilidade, mensurável, de uma acção desencadear um dano (um resultado desvantajoso) virtual; é um perigo potencial69. Note-se que, embora o perigo acompanhe a verificação de um risco elevado, não faço coincidir as duas realidades, pelo que não subscrevo o critério quantitativo. A distinção é de natureza, não de quantidade. Exemplificando: em sede de imputação objectiva, quando se diz “criar um risco (proibido) que se concretiza no resultado”, esse risco consiste numa probabilidade de o resultado se verificar na sequência da acção (probabilidade aferida em abstracto, de acordo com as regras da causalidade e adequação). O objecto corre perigo (ex ante) e, a final, é vítima de dano. O risco reporta-se à acção do indivíduo, o perigo ao objecto. O risco tem ínsito um carácter dinâmico, enquanto o perigo é preponderantemente passivo. Estará relacionada com esta diferença, intuindo-a, a teoria que distingue entre risco e perigo por, alegadamente, o primeiro se reportar a efeitos da acção humana e o segundo a eventos naturais. E, de algum modo, também podemos estabelecer uma relação com o facto de o termo risco só ter surgido muito mais tardiamente, quando os seres humanos se viram confrontados com opções que envolviam um alto grau de incerteza. De facto, a polémica sobre as origens do termo reveste pouco interesse para a definição da realidade subjacente ao uso intensivo do mesmo – como muitas vezes sucede, foi o conteúdo que procurou uma forma (de expressão). Deste ponto de vista, haveria crimes de perigo concreto, mas os chamados crimes de perigo abstracto seriam na realidade “crimes de risco”. 69 49 2. O direito penal na sociedade de risco 2.2 Sociedade de risco: uma nova realidade? Beck identifica a sociedade de risco como uma fase de desenvolvimento da sociedade em que a produção dos riscos políticos, ecológicos e individuais escapa, cada vez mais, às instituições de controlo e protecção próprias da sociedade industrial70. Esta concepção é o ponto de partida para uma reflexão sobre a modernidade, que Beck situa em três planos: 1. a relação da sociedade moderna com os recursos da natureza e a cultura; 2. a relação da sociedade moderna com o perigo e as repercussões deste nos vários universos simbólicos; 3. o processo de individualização decorrente da deterioração das representações colectivas e instituições de suporte. Segundo Beck, o indivíduo está hoje mergulhado no seio do risco (com alcance pessoal e global), o qual condiciona totalmente o seu modus vivendi71. Na classificação de Prittwitz, a abordagem de Beck corresponde ao modelo I da sociedade do risco, havendo que, a este, acrescentar os modelos II (a partir da concepção de Nowotny/Evers, que vêem a sociedade de risco como uma sociedade de riscos controláveis) e III (na sociedade de risco, paradoxalmente, as pessoas, apesar de viverem mais seguras, sentem-se mais inseguras, por o risco ser uma construção subjectiva)72. BECK (1996 [1993]) p. 201. A relação entre natureza e sociedade era enfatizada por Beck, já em 1986, como sendo o cerne da alteração de paradigma na sociedade de risco; o autor afirma, a propósito, que “na sociedade de risco surgem desafios completamente novos à democracia” - BECK (1998 [1986]) p. 88-89. Também Giddens enfatiza a alteração nas relações entre o indivíduo e a natureza na sociedade moderna e o aparecimento de uma nova categoria de riscos – GIDDENS (1991) p. 2 ss. 71 A propósito das classificações de Beck, com especial incidência no impacto cultural provocado pela percepção dos riscos e nos processos de “mediação” social, cf. ADAM/LOON ((2000) p. 13 ss. Alan Irwin e Stuart Allan analisam algumas dessas estratégias de mediação a partir da percepção do risco nuclear e do discurso (político e do público em geral, nem sempre coincidentes) sobre o mesmo – IRWIN/ALLAN/WELSH (2000) p. 81 ss. 72 PRITTWITZ (1993) p. 40-50, 62-65. 70 50 2. O direito penal na sociedade de risco Sem embargo de reconhecer os fenómenos na base dos três modelos, parto aqui da formulação de Beck por ser seminal do conceito e, de algum modo, conter no essencial as bases operativas do mesmo, a partir das quais toda a problemática foi desenvolvida. Não concordo, portanto, com Paulo Sousa Mendes quando este afirma que o modelo I é dispensável (precisamente porque não operativo)73. Este autor preconiza a conjugação do modelo II com o modelo III, no quadro de uma ambivalência do risco: a vertente temerária (centrada na avaliação do risco) e a vertente alarmista (centrada na percepção do risco). É certo que os dois modelos não são alternativos - podendo mesmo, em certa medida, ser complementares (aliás, nem Prittwitz os concebeu como alternativos e mutuamente excludentes74). Constata-se, no entanto, que algumas das contraposições entre ambos, referidas por Paulo Sousa Mendes, resultam de uma certa confusão terminológica que leva a comparar realidades situadas em planos distintos. Para citar apenas um exemplo: a dado passo, são utilizados indiferenciadamente os termos risco e probabilidade (de rebentamento de uma barragem)75; igualmente, em muitos casos em que se refere a percepção do risco, o que está em causa é, mais exactamente, uma percepção de perigo. Esta falta de rigor – que se verifica tanto na linguagem corrente como em textos científicos das mais diversas áreas - só contribui para a dificuldade em identificar claramente as questões mais prementes e evidencia a necessidade de uma clarificação de conceitos. MENDES (2000) p. 64. Numa posição oposta, de que me sinto próxima, Augusto Silva Dias considera redutor confinar Beck ao modelo I, pois Beck não deixou de fazer referência às conexões do risco com as representações do mesmo – S. DIAS (2008) p. 233. Beck, aliás, defendeu a superação do (aparente) contraste entre as conclusões “racionais” dos especialistas e a “irracionalidade” da população através da integração de novas variáveis no modelo decisório. 74 Cf. PRITTWITZ (1993) p. 77. 75 MENDES (2000) p. 67. 73 51 2. O direito penal na sociedade de risco Analisando as relações entre as decisões políticas e legislativas baseadas no parecer dos especialistas e o seu efeito a nível de opinião pública (ou seja, aquilo que podemos designar, na terminologia de Prittwitz, como modelos II e III) Stephen Breyer conclui que geralmente elas dão origem a um círculo vicioso. Na prática, seria precisamente o modus operandi baseado no modelo II que estaria na origem do paradoxo a que se refere Prittwitz. Uma vez que a avaliação dos riscos por parte dos cidadãos difere consideravelmente das posições dos peritos76, aqueles tenderão a perder a confiança e sentir-se crescentemente ameaçados, a não ser que se aprenda a gerir a relação entre ambos (o “breaking the vicious circle” a que se refere Breyer77). A partir da ideia de sociedade de risco – embora em acepções nem sempre coincidentes, como se vê - são inúmeras as análises e construções nas mais variadas áreas de conhecimento. No âmbito deste trabalho, contudo, interessam-nos apenas as necessidades e desafios colocados no universo simbólico do direito e, mais em particular, do direito penal. João Loureiro sistematiza do seguinte modo os principais pontos a ter em consideração como “dimensões jurídicas da sociedade de risco” 78: a) a emergência ou autonomização de novos bens jurídicos; b) o facto de, a nível dos destinatários, “as tradicionais relações jurídicas bipolares se mostrarem pouco adequadas para captarem toda a malha de relações e interesses em jogo”; c) os efeitos dos riscos tecnológicos a longo prazo convocarem como parte interessada as gerações futuras; d) o desenvolvimento de riscos fora do espaço estadual e relevância de novos espaços supra-estaduais; e) a prevenção como tarefa do Estado; f) a emergência do princípio da precaução; Sobre a forma como o cidadão comum SLOVIC/FISCHOFF/LICHTENSTEIN (1982) p. 463 ss. 77 BREYER (1993) p. 33 e passim. 78 LOUREIRO (2001) p. 877-880. 76 apercebe e avalia os riscos, cf. 52 2. O direito penal na sociedade de risco g) a revalorização dos procedimentos, nomeadamente administrativos; h) a importância da informalização e revalorização dos actos provisórios e precários; i) pluralização das estruturas. Destas características, penso ser de destacar as três primeiras, pela amplitude das consequências que implicam, a ponto de se falar hoje em crise do direito e, no plano do direito penal, haver mesmo quem preconize o surgimento de um direito penal do risco79. Augusto Silva Dias, a propósito do que apelida de “diagnóstico doutrinal” do direito penal em crise na sociedade moderna, destaca os seguintes pontos80: 1. a expansão do direito penal, v.g. na regulação de certas actividades económicas, e com recurso crescente a técnicas como conceitos indeterminados e leis penais em branco; esta expansão é acompanhada por uma administrativização do direito penal; 2. as incriminações deixam de ter como ponto de referência imediato “bens jurídicos tangíveis, concretos e ligados à liberdade e aos direitos individuais”, levando mesmo a questionar o conceito de bem jurídico como critério legitimador; 3. o centro do direito penal desloca-se da lesão para o perigo abstracto ou presumido, tendo como objectivo actuar antecipadamente, por Paredes Castañon refere, além das alterações a nível da dogmática e instrumentos do direito penal, “as tensões próprias dos processos de decisão colectiva, que cada vez mais interferem com o direito penal e a utilização crescentemente simbólica dos meios coercivos – PAREDES CASTAÑON (1999) p. 914. Sobre a problemática dos fins das penas na sociedade de risco – discordando de que se possa falar de uma “teoria da pena exclusivamente relacionada com a sociedade de risco”, cf. PEREZ DEL VALLE (1996) p. 66. O mesmo autor analisa a questão da causalidade na sociedade de riscos, que considera oferecer especiais dificuldades, nomeadamente quando as opiniões dos peritos não são conclusivas – PEREZ DEL VALLE (1996) p. 67 e (1999) p. 979 e passim. Incidindo sobre um aspecto diferente da problemática da causalidade – o da remoteness ou, melhor dizendo, da esfera de concretização do risco, cf. STAUCH (2001) p. 191 ss. 80 S. DIAS (2008) p. 238 ss. 79 53 2. O direito penal na sociedade de risco forma a prevenir a produção do dano; nesta medida, ganha importância o desvalor da acção em detrimento do desvalor do resultado; 4. várias categorias dogmáticas são forçadas à flexibilização, como, por exemplo, a imputação objectiva (na sua relação com o nexo de causalidade), a posição de garante, a delimitação entre autoria e participação ou o critério de distinção entre negligência e dolo eventual; 5. a censura da culpa “deixa de se aferir pela atribuição ao agente de um demérito pessoal pela prática do facto ilícito e passa a orientar-se pelas necessidades de reposição simbólica da vigência das expectativas sociais lesadas”. De todos os traços distintivos que podem ser enunciados, com diversas formulações e ênfase variável, penso que os mais marcantes serão: a) o facto de, além das inevitáveis catástrofes naturais, nos defrontarmos actualmente com perigos em grande escala criados artificialmente, através da actividade humana81; sendo estes resultado de uma opção, estão sujeitos à ponderação de custos e benefícios, ou seja, a uma ponderação em termos de risco; b) muitos dos riscos assim criados reportam-se a consequências imprevisíveis – pelo menos com exactidão – quer em termos de espaço (o onde) quer em termos de tempo (o quando), e mesmo em termos de se saber o se e o como; quanto aos destinatários, estes serão, por inerência, indetermináveis (interesses difusos). Este contexto, como seria de esperar, determina algumas consequências notáveis a nível de direito penal. Referir-me-ei apenas a três aspectos, que têm repercussões directas sobre o tema deste trabalho. Woollacoot destaca justamente que à medida que somos responsáveis por um número cada vez maior de perigos, aumenta também a nossa expectativa de controlo sobre eles – WOOLLACOOT (1998) p. 48. 81 54 2. O direito penal na sociedade de risco 2.3 Distribuição de vantagens e de custos – quem suporta os riscos? Os riscos das actuações individuais, na sociedade de risco, recaem sobre uma pluralidade indefinida de indivíduos, na medida em que um único acto de um indivíduo pode desencadear consequências globais82. Isto está na origem de um problema - a que Beck chama conflito de atribuição83 – que obriga à intervenção crescente do Estado, pois os mecanismos “de mercado” já não serão (totalmente) eficazes para regular as condutas. Há, na racionalidade da decisão, um elemento perturbador resultante de o custo da conduta não recair sobre o agente. A intervenção do Direito pode então ser encarada de duas perspectivas complementares: cumprindo a sua função dissuasora – directamente – e protegendo – mediatamente – os bens jurídicos ao introduzir um novo “custo”. É verdade que o direito penal sempre desempenhou este duplo papel, mas, no que respeita às matérias paradigmáticas da sociedade de risco, a segunda função enunciada supra visa um efeito equilibrador, sem o qual o desajuste entre os “titulares” dos custos e dos benefícios das opções pode levar a rupturas com consequências catastróficas para toda a colectividade. Pode-se reflectir sobre esta questão a partir de um exemplo bem conhecido. BECK (1998 [1986]) p. 26. BECK (1996) p. 205 ss. V. também BECK (1998) p. 18 e BECK (1995) p. 92 ss. Neste último texto, Beck destaca que “the poorest in the world will be hit the hardest”, prevendo, como consequência, o aumento exponencial da emigração dos habitantes das zonas mais atingidas pelos fenómenos provocados por actividades que não escolheram e de que não aproveitam. À longa lista de reflexos directos de uma industrialização desregrada, enunciada por Beck, podemos acrescentar alguns “preços” impostos pelo desequilíbrio dos poderes a nível internacional, de que é exemplo a utilização da Somália como depósito de resíduos tóxicos. No que se refere à crítica e contestação por parte do cidadão comum, Beck compara-a à realidade kafkiana de O Processo: “life and practice in the risk society have become kafkaesque in the strict sense of the word” – BECK (1988) p. 61-63. 82 83 55 2. O direito penal na sociedade de risco Na noite de 2 para 3 de Dezembro de 1984, verificou-se uma fuga de isocianato de metilo (um gás altamente tóxico) numa fábrica pertencente à Union Carbide, situada em Bhopal, na União Indiana. Mais de 8 000 pessoas morreram nos primeiros três dias, e aproximadamente 200 000 foram afectadas, vindo a morrer (15 000 a 20 000 mortes directamente relacionadas com o acidente) ou sofrendo ainda hoje os efeitos da exposição ao gás (problemas respiratórios, cancro, cegueira, etc.). O envenenamento ambiental persiste até agora e é responsável por uma elevada taxa de malformações nos recém-nascidos. Milhares de pessoas continuam a utilizar água contaminada e a consumir alimentos provenientes do solo onde a concentração de elementos químicos nocivos excede 500 vezes os valores admissíveis. A Union Carbide India tinha-se estabelecido em Bhopal em 1969, com uma participação de 49% das autoridades indianas e 51% da Union Carbide Corporation, multinacional norte-americana. As condições de funcionamento, bem como o material utilizado, não obedeciam às exigências legais norte-americanas mas eram consideradas satisfatórias na União Indiana. Independentemente do desfecho do processo instaurado na sequência do acidente84, o que quero destacar é que, em Bhopal, foram postos a funcionar equipamentos deteriorados85 e utilizados processos não testados – procedimento que não seria permitido no Estado de origem da empresa e que os responsáveis aí não ousariam adoptar86. O que ilustra de forma A Union Carbide Corporation negociou com o governo indiano uma compensação monetária de 470 milhões de dólares; no que respeita a responsabilidade penal, o presidente da empresa, Warren Anderson, deixou a Índia pouco depois do acidente e, embora alvo de um mandado de captura sob acusação de homicídio e outros crimes, não foi ainda entregue à justiça indiana, apesar de um pedido de extradição datado de 2003. Sobre as dificuldades processuais suscitadas no caso Bhopal, cf. ZAMORA CABOT (1990) p. 821 ss. 85 O próprio Warren Anderson comentou a seguir à notícia do acidente: “não se pode colocar uma instalação em segunda mão num lugar fora dos Estados Unidos e depois esperar que ela funcione bem”. 86 Nas palavras críticas de Litman, tratou-se de forçar “inocentes cidadãos estrangeiros a compartilhar, de forma desproporcionada, os riscos das empresas note-americanas” – LITMAN (1986) p. 599. 84 56 2. O direito penal na sociedade de risco tragicamente clara a ideia de conflitos de atribuição avançada por Beck e demonstra as dificuldades acrescidas trazidas ao direito penal pela globalização das actividades de risco. 2.4 Princípio da precaução Sendo as actividades produtivas modernas inevitavelmente ligadas ao risco – que terá de ser assumido, sob pena de se paralisar o desenvolvimento – casos há, no entanto, em que esses riscos se apresentam já sob a forma de incerteza. Ou seja, em que se torna impossível prever com um grau mínimo de segurança quais os riscos envolvidos. Isto verifica-se principalmente nas actividades recentes e muito complexas, que envolvem processos ainda pouco estudados (como acontece, por exemplo, com a manipulação genética ou com os danos ambientais provocados pela actividade industrial intensiva). Outros casos há em que a dificuldade se situa ao nível da prova do nexo causal, devido a insuficiência dos conhecimentos técnico-científicos87. Que fazer? Deve o direito, na dúvida, intervir, ou deve fazê-lo apenas quando haja informação suficiente para se estimar um risco inaceitável88? Cf. sobre esta questão, analisando algumas áreas particularmente problemáticas (uso de pesticidas na água para consumo humano ou de hormonas na criação de animais) a nível da União Europeia, TINDALE (1998) p. 57 ss. 88 Numa perspectiva de superação do problema como é geralmente equacionado, cf. GRANTS/QUIGGINS (2007) p. 10 ss. Depois de contrapor o princípio da precaução segundo o qual, “quando há uma probabilidade séria mas não provada de um dano, deve-se agir como se o risco correspondesse à realidade” – ao princípio permissivo – segundo o qual, nessas circunstâncias, se o perigo não está demonstrado, “deve-se conceder o benefício da dúvida e será permitido agir”, os autores propõem, em lugar desta opção dicotómica, a construção de um modelo que integre todos os eventos possíveis e as respectivas probabilidades e a partir do qual se defina um critério de escolha capaz de contemplar a evolução dessa descrição, à medida que os conhecimentos vão sendo alterados e 87 57 2. O direito penal na sociedade de risco O princípio da precaução tem sido avançado como uma via de resposta a esta questão89. No entanto, nem o seu conteúdo nem sequer a sua natureza são claros90. Desde logo, pode-se ter posições mais moderadas quanto ao momento em que se deve intervir ou, como fazem alguns autores, defender que, na mera hipótese de grandes perigos, a actividade deve ser proibida até se provar que é inofensiva91. Esta última posição parece-me insustentável, na medida em que não é possível provar que uma actividade é inofensiva; pois sempre subsistirá a hipótese de vir a descobrir-se que acarreta consequências nocivas que passaram despercebidas ou que só se revelam a médio prazo e eram, portanto, inexistentes no momento. Por outro lado, para muitos autores o princípio da precaução não consistirá num “comando de abstenção” mas sim num “comando de regulação”, a impor às actividades e situações particularmente perigosas um maior controlo dos riscos e uma disciplina mais apertada92. A discussão coloca-se também a nível da natureza do princípio: para alguns ele terá a função de orientar genericamente as condutas, surgindo, completados. Pretensão ambiciosa e não totalmente conseguida, mas a apontar talvez novos caminhos para a gestão do risco através dos recursos da teoria da decisão. 89 A precaução consistirá, na expressão de Alexandre Kiss, na prevenção do risco, ao regular os comportamentos de risco “tendo em conta directamente o risco e não apenas as suas consequências” – KISS (1991) p. 51. 90 Romeo Casabona chama (acertadamente) a atenção para a necessidade de conjugar a probabilidade de lesão com a gravidade do resultado. Para este autor, o princípio da precaução implica a necessidade de actuar a fim de prevenir danos particularmente graves, mesmo que não exista “uma evidência cientifica completamente comprovada” sobre o potencial lesivo de uma actividade ou de um produto – ROMEO CASABONA (2005) p. 95. Numa perspectiva não (directamente) jurídica, analisando o efeito das possíveis medidas sobre a opinião pública e a sua capacidade de estabilização social, cf. POWELL (2001) p. 224 ss. 91 Esta última é a posição de Kindhäuser, que rejeita a hipótese de, quando se trate de “grandes perigos”, se poder confiar apenas na obrigação de proceder com o cuidado devido – KINDHÄUSER (1996) p. 83 ss. 92 Cf. FRANC (2003) p. 362. 58 2. O direito penal na sociedade de risco portanto, com a natureza de uma norma dirigida a todos os membros da sociedade (pessoas singulares e colectivas)93. Para outros, seria um princípio orientador do poder público, impondo-se a sua intervenção quando estivessem em causa a segurança de bens jurídicos importantes, ainda que não se conhecesse com exactidão a gravidade do risco (ou mesmo as suas características). Por fim, o princípio da precaução pode ser considerado como um princípio interpretativo de normas – mas teria um papel a desempenhar também na delimitação dos comportamentos negligentes, assim se conjugando com esta a primeira acepção referida supra. Concordo com Romeo Casabona quando este autor defende que todas estas três vertentes integram a natureza do princípio da precaução 94, mas penso que, no que toca à orientação dos poderes públicos, a intervenção destes deve ser muito limitada, sob pena de, sem fundamento, se paralisar a livre iniciativa e, no direito penal, se desrespeitar o princípio da intervenção mínima. O direito penal não pode actuar – mesmo admitindo, como actualmente se admite (crimes de perigo, v.g. perigo abstracto), o seu papel preventivo – com um pendor antecipatório baseado em ignorância invencível quanto ao potencial lesivo da conduta em causa95. Embora em menor escala, a mesma abordagem restritiva do princípio da precaução deve aplicar-se no direito administrativo, com base V. definição e recomendações consagradas na Declaração de Wingspread, em 1998: “Corporations, government entities, organizations, communities, scientists and other individuals must adopt a precautionary approach to all human endeavours”. “Therefore, it is necessary to implement the Precautionary Principle: When an activity raises threats of harm to human health or the environment, precautionary measures should be taken even if some cause and effect relationships are not fully established scientifically.” 94 ROMEO CASABONA (2005) p. 95. 95 Ainda que concordando com a constatação de Silva Dias de que “a imposição de deveres de cuidado já não serve para evitar a lesão do bem jurídico, mas para impedir a superação de um risco artificialmente definido” – S. DIAS (2008) p. 248 – penso que é imperioso zelar, através de parâmetros claramente definidos, para que a prevenção não se torne o ponto de partida para um direito penal totalmente desprovido de referentes legitimadores. 93 59 2. O direito penal na sociedade de risco na objecção referida quanto à paralisação das actividades. Admite-se, no entanto, que em actividades particularmente arriscadas e sujeitas, por isso, a um controlo mais apertado, o princípio da precaução possa ser um elemento a ter em conta (uma espécie de “factor de desempate”) quando se trate de regular aspectos concretos dessa actividade. Desde 1980 têm proliferado os encontros e diplomas internacionais relacionados com a ideia de precaução, aplicada a diversas áreas. Cite-se, a título de exemplo e referindo apenas os mais antigos, pelo seu papel fundador: a Convenção de Viena, de 22 de Março de 1985, sobre a protecção da camada do ozono; a Conferência Ministerial de Bergen, em Maio de 1990, sobre desenvolvimento sustentável; a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas, adoptada em Nova Iorque, em 9 de Maio de 199296; a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em Junho de 199297. No âmbito da União Europeia, temos como ponto de referência a Comunicação da Comissão sobre o Recurso ao Princípio da Precaução, adoptada em Fevereiro de 2000. Com esta comunicação, a Comissão pretendeu informar as partes interessadas sobre a forma como pretende aplicar o princípio e define o seu âmbito de aplicação, destacando como objectos principais o ambiente, a saúde das pessoas e dos animais e a protecção vegetal. Nesta Comunicação pode ler-se: O princípio da precaução faz parte de uma abordagem estruturada à análise de riscos, sendo igualmente relevante no que Precursora de vários outros diplomas internacionais sobre o tema, dos quais se destaca o protocolo de Quioto. 97 É o seguinte o texto do Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: “Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. 96 60 2. O direito penal na sociedade de risco diz respeito à gestão de riscos. Abrange casos em que os resultados científicos são insuficientes, inconclusivos ou incertos e uma avaliação científica preliminar indica que há motivos para suspeitar que efeitos potencialmente perigosos para o ambiente, a saúde das pessoas e dos animais ou a protecção vegetal podem ser incompatíveis com o elevado nível de protecção escolhido pela EU. Note-se a expressão “há motivos para suspeitar”, a revelar uma posição cautelosa que contraria as tendências alarmistas na origem de um direito exageradamente securitário. Mais adiante, a Comissão afirma mesmo que o princípio da precaução não tem em vista “um nível zero” de risco, fornecendo tão só “um enquadramento razoável e estruturado para a actuação face à incerteza científica”. Pode ser útil acompanhar um caso recente que ilustra de forma exemplar os problemas em causa: a encefalopatia espongiforme de bovinos criados para consumo humano. A encefalopatia espongiforme bovina (BSE) foi detectada pela primeira vez no Reino Unido em Novembro de 1986. Inicialmente, pensou-se que a doença estaria relacionada com o scrapie, doença conhecida há muito98, que afecta as ovelhas e tem sintomas semelhantes. Os cientistas aventaram que o scrapie teria sido transmitido ao gado bovino através de alimentação preparada com restos de carcaças de ovelhas99. Colocou-se a hipótese de um Pelo menos desde 1732, embora nessa data ainda não fosse assim designada. Muito crítico sobre a forma como a BSE foi abordada inicialmente, v. GRAY (1998). E, numa perspectiva igualmente crítica e fortemente pessimista, GROVE-WHITE (1998) p. 50 ss. Este autor preconiza que as decisões sob incerteza, na sociedade industrial actual, devem ser tomadas de forma partilhada, com uma forte participação social. Mas pode-se questionar até que ponto isto será viável, uma vez que frequentemente as pessoas não detêm informação suficiente sobre os problemas; seria necessário investir numa comunicação detalhada e profunda sobre o que a ciência sabe e ignora, a um nível que, em certos casos, se revelaria impraticável. Sem esquecer que frequentemente a ciência não pode fornecer senão meras hipóteses e dúvidas, como destaca, precisamente a propósito do caso da BSE, DURANT (1998) p. 70 ss. O meu cepticismo não significa que discorde da bondade da participação popular nas decisões que afectam toda a comunidade e, por vezes, o próprio equilíbrio ecológico – traduz apenas a preocupação com os meios indispensáveis a uma capacidade decisória real. 98 99 61 2. O direito penal na sociedade de risco novo processo de preparação da alimentação, que tinha começado a ser utilizado cerca de 5 anos antes, não ser eficaz na destruição da doença, permitindo-lhe atravessar a barreira das espécies. Na realidade, segundo se veio a apurar, foi a “reciclagem” de tecidos animais em farinha para alimentação que esteve na origem da epidemia100. Desde 1900 que se utilizavam sistematicamente carcaças de animais na alimentação de herbívoros, sem que se suspeitasse que tal poderia vir a desencadear consequências com as proporções da BSE. Não foi, no entanto, directamente o scrapie o responsável pela BSE, ao contrário do que se pensara inicialmente. Estudos posteriores vieram revelar que a BSE resultara de mutações complexas nas proteínas (os priões). A partir de 1988 foram tomadas medidas destinadas a evitar a transmissão da doença entre os bovinos, nomeadamente interditando a utilização de carcaças na alimentação. Nesta fase não havia ainda indícios de ligação entre a BSE e a doença de Creutzfel-Jakobs (CJD), que afecta os humanos, embora tenham começado a surgir indícios que apontavam para essa eventualidade101. Só em 1996, no entanto, face à informação fornecida pelo gabinete de controlo da CJD de que era provável que a BSE estivesse na origem de uma nova variante da doença de Creutzfeld- Jakobs que começara a ser detectada, surgiram as primeiras proibições de comercialização, destinadas a evitar o contágio. Algumas das alterações, a nível legislativo, introduzidas na sequência do surto epidémico, vieram configurar uma nova abordagem na gestão de riscos102. Mas o que me interessa agora é analisar o exemplo do “BSE developed into an epidemic as a consequence of an intensive farming practice - the recycling of animal protein in ruminant feed. This practice, unchallenged over decades, proved a recipe for disaster.” – Relatório do BSE Inquiry, Key Conclusions, disponível em http://www.bseinquiry.gov.uk/report/index.htm. 101 V. o Relatório Tyrrell de 1990. 102 Cf. LITTLE (2001) p. 752-753 e passim. 100 62 2. O direito penal na sociedade de risco ponto de vista do princípio da precaução. Face à cronologia enunciada, quando teria sido o momento certo para actuar? Ou deve concluir-se que todos os procedimentos – e respectivo timing – foram correctos, apresentando-se o contágio de seres humanos como uma inevitabilidade103? Este episódio apresenta-se como exemplar das situações de risco que requerem novas abordagens do Direito, reunindo várias características paradigmáticas: a) imprevisibilidade do problema; b) ignorância sobre as causas, quando o fenómeno começou a manifestar-se; c) ignorância sobre os (exactos) efeitos. Muitos são os ensinamentos a retirar da epidemia de encefalopatia espongiforme e da forma como os poderes públicos encararam o problema. As perguntas acima enunciadas não são de fácil resposta. Mesmo dentro de uma perspectiva que tenta ser o mais objectiva e racional possível, como ponderar os riscos se não são conhecidos os valores das variáveis essenciais ao cálculo? Mesmo o princípio da precaução, que se move no plano da incerteza, requer alguns elementos de análise que permitam definir o momento certo para actuar. Enquanto o valor [quantitativo] de todos os factores em jogo for desconhecido – e nomeadamente o que diz respeito às consequências possíveis - e as relações causais não passarem de meras hipóteses sem confirmação, como contabilizar? 2.5 O papel central da negligência O actual desenvolvimento tecnológico leva a que uma errada gestão dos riscos inerentes a algumas actividades possa provocar resultados Há a registar até agora, no Reino Unido, cerca de 90 mortes; sendo o período de incubação da doença de 20 anos, e não sendo esta detectável antes de se manifestar, é impossível estimar quantas pessoas terão ficado contaminadas. 103 63 2. O direito penal na sociedade de risco dramáticos. Em consequência, há uma vasta área de criminalidade em que certas categorias assumem novos contornos, nomeadamente: a) a das vítimas (quer pelo elevado número que pode provocar um só acto “descuidado”, quer pela sua indeterminabilidade); b) a dos agentes (frequentemente grandes empresas, onde é difícil identificar os responsáveis, pois a cadeia de decisão se tornou inextrincável); c) a da causalidade (difícil de determinar, devido aos efeitos à distância e dispersão dos agentes causadores, sendo que, por vezes, os resultados só se revelam anos depois). O aumento da criminalidade por negligência está directamente ligado à presença crescente de “riscos provocados” – quer por acção, quer por omissão de deveres de vigilância da fonte de perigo104. A responsabilidade pelo produto tem sido um campo fértil de exemplos, dos quais os mais conhecidos serão o caso do Lederspray e o do óleo de colza105. Esta área é uma das que mais evidenciam as características próprias da sociedade de risco já enunciadas: um único acto negligente pode trazer consequências que se disseminam por uma multiplicidade de pessoas (os consumidores); os efeitos podem ser imediatos e/ou projectar-se no tempo; as questões da relação de causalidade são particularmente difíceis de Figueiredo Dias considera que a dogmática do risco incidirá particularmente nos crimes de omissão e nos crimes de negligência, principalmente de negligência grave ou grosseira, o que traz a necessidade de superar as deficiências dogmáticas que se verificam; não obstante, não entende ser necessária uma “dogmática alternativa”, propugnando antes uma adaptação dos conceitos existentes – DIAS (2001 a) p. 611; igualmente em DIAS (2001) p. 184 ss. 105 Alvo de acórdãos do BGH e do TS espanhol, respectivamente. Sobre estes casos e, em geral, a problemática da responsabilidade pelo produto, cf. HASSEMER/MUÑOZ CONDE (1995).Especificamente sobre o caso do óleo de colza, v. RODRIGUEZ MONTAÑES (1996) p. 263 ss. A responsabilidade pelo produto levanta com frequência graves problemas de comprovação de causalidade; analisando os casos do Lederspray e do azeite de colza desta perspectiva, PUPPE (1996) p. 215 ss. Sobre os problemas de imputação subjectiva suscitados pelo caso do óleo de colza, MAQUEDA ABREU (1995) p. 419 ss. KUHLEN (1996) p. 231 ss, comenta os problemas suscitados pela responsabilidade pelo produto de um ponto de vista sociológico e político-criminal, destacando o elevado potencial de perigo da fabricação de produtos nas sociedades altamente industrializadas. 104 64 2. O direito penal na sociedade de risco resolver; frequentemente, os responsáveis são pessoas colectivas, podendo haver, dentro delas, responsáveis individuais ou tratar-se de decisões de órgãos colectivos, o que dificulta a identificação do(s) agente(s); e é uma área em que se torna bastante evidente que a negligência é uma errada gestão dos riscos, pois qualquer produto tem, inerente, uma certa dose de risco que acompanha as vantagens do respectivo consumo106. Com efeito, pode afirmar-se que a sociedade de risco introduziu a consciência clara de que o agente negligente não é aquele que “cria riscos”. Pois que os riscos são omnipresentes e indissociáveis do quotidiano, ou seja, inevitáveis na vida em sociedade. O centro das relações sociais, no que importa ao direito penal, apresenta-se então como o risco e a gestão do mesmo. O papel do direito penal será, assim, manter os riscos inerentes à vida em sociedade dentro de parâmetros toleráveis (como quem organiza o funcionamento de um local cheio de instrumentos perigosos)107. Desta perspectiva, o tipo base passa a ser o negligente e não o doloso, uma vez que o cerne da questão é o não-respeito pelas regras sobre gestão do risco. O que o dolo traz a mais é a vontade de não gerir o risco de acordo com os limites definidos, sendo a violação duplamente intencional: violação intencional do parâmetro da diligência e funcionalização dessa violação para obter um resultado (proibido). Isto é assim na modalidade intencional do dolo, mas já não no dolo eventual – a criar mais um problema à dogmática no Isto torna-se particularmente notório quando se trate, por exemplo, de medicamentos (pois nunca são completamente isentos de efeitos secundários) mas está presente, em maior ou menor grau, em todos os produtos consumíveis. 107 Corcoy Bidasolo refere que, estando a vida actual repleta de actividades perigosas que invadem o quotidiano, o risco permitido terá de ser claramente definido e deverá ter em conta a utilidade social da actividade: quanto maior for esta utilidade, maior será o risco tolerado. A definição desta medida e o controlo do risco dentro dos limites considerados toleráveis, segundo esta autora, é essencial não só para evitar um número de acidentes socialmente insuportável, como também para evitar uma sensação de insegurança, por parte dos cidadãos, que levaria à compressão da sua liberdade e desenvolvimento pessoal. – CORCOY BIDASOLO (1999) p. 226. Também destacando a importância da utilidade social para o grau de tolerância ao risco, cf. CASTALDO (1997) p.235. 106 65 2. O direito penal na sociedade de risco que concerne ao lugar atribuído ao dolo eventual. Vários autores chamam a atenção para este problema, pondo em causa a adequação dos critérios adoptados até aqui108. Jakobs refere justamente que, embora sempre tenha havido riscos na sociedade, a evolução da técnica levou a que se centrasse a atenção na medida do risco permitido. Trata-se, então, de estabelecer quantitativamente até onde se permite o risco (v.g. de certas actividades). Neste sentido, quando se criam crimes de perigo abstracto, estes constituem fronteiras do risco permitido, estabelecidas formalmente; nem se pode afirmar que quem as ultrapasse está, sem mais, a agir negligentemente, mas terá de responder pelos possíveis resultados, pois criou um risco não permitido109. Jakobs está consciente de que não se trata de procurar o risco zero, mas de encontrar o ponto de equilíbrio socialmente óptimo, mantendo o risco dentro de limites aceitáveis sem inviabilizar as actividades. Todavia, considera que “não é possível indicar [o risco permitido] através de uma percentagem” pois vai depender das circunstâncias e das características da actividade que o desencadeia. Sem prejuízo de lhe assistir razão nas reservas feitas, pode afirmar-se que falta aqui a Jakobs um modelo dinâmico (com variáveis) que quantifique o risco permitido, modelo esse que me parece viável e que permitirá uma nova configuração do dever de cuidado – não criando novos parâmetros para o mesmo, mas tornando visível um critério dotado de operatividade. Se convertermos o dever de cuidado em um limite objectivo (móvel, mas dentro de parâmetros que permitem identificar os seus limites mesmo em movimento), a actuação de cada indivíduo deverá tê-lo como referente V. entre outros DIAS (2008) p.247; SILVA SANCHEZ (1999) p. 22, considerando que o desenvolvimento tecnológico tem incidências particularmente importantes a nível dos crimes não intencionais e que, para este efeito, “é secundário” distinguir entre negligência e dolo eventual. 109 JAKOBS (1997) p. 173 ss. 108 66 2. O direito penal na sociedade de risco dotado de exactidão e manter-se dentro da fronteira normativamente fixada. Esta abordagem pressupõe que o indivíduo é capaz, em cada momento, de avaliar os factores em jogo, quantificá-los e inseri-los numa matriz adoptada pela sociedade e comum a todos os seus membros. É isto possível? Corresponde este paradigma de sujeito à realidade? É o que tentaremos clarificar nos capítulos seguintes. 67 3. Análise económica do direito 3 ANÁLISE ECONÓMICA DO DIREITO 3.1 Nota prévia A análise económica do Direito assenta sobre dois pressupostos complementares entre si: a adesão aos princípios básicos do utilitarismo e o conceito de homo economicus110. É pela via do segundo que esta perspectiva, iniciada na segunda metade do século passado, interessa ao presente trabalho. Importa chamar a atenção para o facto de a análise económica do direito não pretender anular todo o enquadramento do direito que a antecede: ofereceu-se como uma alternativa, é certo, mas apresenta-se principalmente como um plus que, por constituir algo diverso, não invade o campo alheio, possibilitando antes um enriquecimento. Veja-se o exemplo do direito penal: que o sujeito do jus puniendi seja, ou não, um homo economicus, em nada afecta as categorias dogmáticas estabelecidas, como a tipicidade ou Nas palavras de Kornhauser, “ a microeconomia neo-clássica parte do pressuposto de que os indivíduos agem sempre no seu próprio interesse, de maneira imutável e fixa. O indivíduo é, pois, completamente racional, sabe exactamente o que procura e realiza de modo preciso todos os cálculos complexos necessários para identificar o curso óptimo da sua conduta” – KORNHAUSER (1985) p. 43. 110 68 3. Análise económica do direito a ilicitude111. Mas pode, por exemplo, sugerir soluções válidas no campo da ressocialização. Além disso, ao prever e interpretar a reacção dos indivíduos, permite uma avaliação ex ante dos efeitos das normas e, desse modo, facilita a escolha das mais eficientes. Este pendor consequencialista112 será também, na opinião de alguns, uma vantagem, na medida em que afasta o direito de uma visão demasiado formalista113. Outra virtude da análise económica do direito é o contributo dado para desmistificar a ideia do comportamento criminal como algo de anómalo: o delinquente é, também ele, uma pessoa que se rege por padrões de racionalidade e, no seu agir, pretende maximizar utilidades114. 3.2 Arqueologia de Posner “Negligence is an objective standard”115 Os novos paradigmas são sempre antecedidos por afloramentos dos seus componentes basilares. Assim aconteceu também com a perspectiva económica do direito. Já Beccaria, ao analisar o efeito das leis, se referia à 111 Embora se possa dizer que um direito penal dirigido a entes não racionais, insensíveis ao sistema de castigo/reforço, seria ineficaz e in limine ilegítimo. 112 A perspectiva que subjaz a toda a construção que aqui se analisa é incontornavelmente consequencialista. Se se recusar liminarmente o consequencialismo, a análise custo-benefício perde o sentido ou, na melhor das hipóteses, fica reduzida a uma peça integrante de um conjunto mais vasto: apenas (mais) um factor a ter em conta, uma conta em que os valores não são lineares. 113 MERCADO PACHECO (1994) p. 49. 114 Incidindo especificamente sobre esta questão, v. FRIEDMAN (1987) p. 32 e, desenvolvidamente, FRIEDMAN (1997) capítulo XX Parte I. Friedman vai mais longe, chamando a atenção para o facto de que não só os criminosos agem de acordo com um padrão de racionalidade, mas o mesmo pode dizer-se sobre juízes, polícias e potenciais vítimas. Também Becker afirma que o comportamento criminoso é racional, e que só sob esse pressuposto se compreende a existência de polícias e prisões – BECKER (1976) p.143. 115 POSNER (1972) p. 31. 69 3. Análise económica do direito interdependência entre valor e probabilidade (da sanção)116. Por outro lado, Bentham desenvolveu a ideia de utilidade117 como critério e, simultaneamente, objectivo. Foi também Bentham quem analisou de uma perspectiva economicista a aplicação de sanções118. Mas haveria de passar quase um século até que se impusesse uma teoria inovadora do direito – tributária destes precursores, mas também do desenvolvimento de outras disciplinas – com os seus instrumentos de análise próprios. A aplicação da microeconomia e da econometria ao sistema jurídico – quer ao efeito das leis, quer ao comportamento dos sujeitos (duas realidades interligadas) - tem início nos anos 1950, e ganha especial importância com Posner, na década de 1970. Antecedendo Posner, é de destacar o papel de Coase (cujo teorema e estudo das externalidades ficaram justamente célebres) e de Aaron Director, fundador do Journal of Law & Economics em 1958. Se tomo aqui como ponto de referência a obra de Posner (e, mais precisamente, o seu estudo de 1972) não é porque este tenha sido o primeiro a elaborar um parâmetro objectivo para a negligência – embora a frase citada supra tenha tido um enorme impacto e ainda hoje possa ser tomada como paradigmática de uma certa posição teórica. E também não será correcto ancorar a perspectiva económica sobre o direito na obra de Posner – ainda que não se possa abstrair do seu enorme contributo nessa área. A importância de Posner consiste em ter conjugado os progressos em diversas áreas de pensamento que tornaram possível uma perspectiva de A teoria enunciada por Beccaria de que os crimes são evitados mais eficientemente pela certeza do que pela severidade da pena, tem encontrado basta confirmação teórica e prática desde a sua formulação há mais de dois séculos. 117 A ideia de utilidade já tinha sido anteriormente tratada por outros autores, como o próprio Bentham reconhece. 118 BENTHAM (1780) cap. XIII e XIV. 116 70 3. Análise económica do direito análise completamente diferente, sistematizando a partir daí uma nova abordagem do Direito. Como afirma Parisi, Posner protagonizou uma verdadeira revolução metodológica, surgindo como líder de um movimento que importou para o direito os meios e princípios da economia119. O aspecto mais importante do trabalho de Posner em 1972 é a demonstração de que é possível – e como – fixar os padrões objectivos por que se pauta a negligência, e identificá-los quer ex ante quer ex post. Através da análise exaustiva das decisões judiciais sobre responsabilidade por negligência ao longo de três décadas (1875-1905), Posner demonstra que o raciocínio económico está presente nas conclusões dos tribunais, mesmo que só inconscientemente – ou seja, revela um conceito objectivo do dever de cuidado. Mas um trabalho de arqueologia centrado na negligência como a concebo implicará a referência a vários nomes conhecidos cujos contributos conceptuais, em diversas áreas de pensamento, podem ser considerados marcos determinantes. Não os reportarei por ordem cronológica, pois não se inscrevem numa linha de progressão e cada um deles não constitui necessariamente o antecedente de todos ou sequer de algum dos subsequentes. Uma vez que convergem num mesmo ponto – a construção de um conceito objectivo de negligência – parece-me mais adequado analisá-los de acordo com uma ordem estabelecida ex post. É também necessário esclarecer que não pretendo aqui fazer uma “história” da análise económica do direito nem, muito menos, do pensamento de Posner em geral, mas tão-só da abordagem que Posner faz da negligência – com todos os seus pressupostos. Por este motivo, omitirei 119 PARISI (2000) p. IX, XII ss. 71 3. Análise económica do direito alguns nomes centrais (como o de Coase ou Calabresi), que serão referidos apenas à medida que o seu pensamento se cruze com o dos autores que directamente se ocuparam da negligência numa linha de objectivação do dever de cuidado. 3.2.1 A fórmula de Learned Hand Começarei por referir o Juiz Hand, que, através da sua famosa fórmula (Hand Rule), pela primeira vez tentou fornecer um método despido de subjectividade e acessível a todos para decidir se um determinado acto foi ou não praticado negligentemente, ou seja, com omissão de um cuidado exigido. Na decisão proferida em 1947 no âmbito do processo United States v. Carroll Towing Co., Learned Hand enuncia o seguinte princípio: se o custo das precauções adequadas para evitar um determinado resultado danoso for inferior ao custo desse resultado multiplicado pela probabilidade de ele se verificar, o agente a quem competia tomar as referidas precauções procedeu negligentemente não as tomando. Deve entender-se por “precauções adequadas a evitar o resultado” todas as que se revelem necessárias, incluindo, se qualquer outra se revelar insuficiente, a abstenção da actividade em causa. Este cálculo é possível e relativamente fácil de efectuar quando se trate apenas de valores materiais – como no caso sub judice, que envolvia os estragos causados num navio120. Torna-se, no entanto, mais complicado Mesmo atendo-nos apenas a valores materiais, e até apenas monetários, não pode descurar-se o facto de que o mesmo dispêndio (p. ex. 300 euros) poderá não ter o mesmo significado para duas pessoas distintas, consoante as posses de cada uma. Assim, pode imaginar-se uma situação em que A, para poupar 300 euros, correu o risco de causar a B um prejuízo no valor de 200 euros, risco esse (digamos, de 50%) que se concretizou. De acordo com uma relação simples de custo-benefício, poderíamos afirmar que A não foi negligente, tendo tomado a decisão racional e acertada. Mas é possível que os 300 euros consistam numa 120 72 3. Análise económica do direito quando estão em causa factores imateriais, e um dos motivos para a reserva em aceitar o método custo-benefício no tratamento da negligência é o preconceito segundo o qual este método só “contabiliza” valores económicos – no sentido de valores materiais. Daí o objectar-se frequentemente que não se pode contrapor valores (ditos) económicos a valores como a saúde ou a vida. Há basicamente duas formas de ultrapassar esta objecção: ou se reduz tudo a valores monetários121, incluindo as motivações do agente e o sofrimento causado à vítima – solução que, embora de manejo fácil, peca pela sua extrema artificialidade – ou (solução que me parece preferível) se constrói uma escala na qual são graduados todos os factores a valorar. Posner tende, geralmente, a considerar apenas variáveis materiais e monetárias, numa contabilidade de custos em sentido estrito122, não entrando em linha de conta com factores emocionais, afectivos, etc. O desenvolvimento das teorias da decisão veio tornar claro que todos estes factores são incontornáveis e mais tarde fornecer as ferramentas para os contabilizar 123. A perspectiva de Posner é suficiente quando se trata apenas de proceder à insignificância para A, enquanto os 200 euros consubstanciem um elevado prejuízo para B. E, por outro lado, pode também acontecer que, se para A 300 euros são uma insignificância, para C, nas mesmas circunstâncias, impliquem um elevado esforço financeiro. Devem estas diferenças subjectivas ser tidas em consideração? 121 E não se diga que isto é impossível. Até a vida, para efeitos de indemnização, é equacionável em termos monetários: veja-se a indemnização por morte ou o cálculo feito pelas companhias de seguros tendo em conta os anos de vida (previsíveis estatisticamente). Não se trata, obviamente, de atribuir um real valor monetário ao bem vida, mas de o considerar com uma expressão monetária para efeitos de comparação com outros bens – ou seja, encontrar um denominador comum. Como diz Gigerenzer, a discussão sobre esta matéria centra-se não em se o valor da vida pode ser quantificado, mas sim em como: capacidade de ganho perdida, despesas necessárias para a salvar, o que o indivíduo estaria disposto a pagar para não morrer, etc. – GIGERENZER (1989) p. 266. Sobre o problema da quantificação do valor da vida humana, desenvolvidamente, v. VISCUSI (1998) p. 660 ss. 122 Embora, ao analisar o que deve ser considerado para efeito de fixar o montante de uma indemnização, refira também “o sofrimento para a vítima e para a família” e mesmo a “redução da capacidade para gozar a vida” – POSNER (1972) p. 46. 123 V.g. a partir do desenvolvimento da bounded rationality. 73 3. Análise económica do direito fixação de indemnizações pelos danos. Mas não permite explicar totalmente – nem prever – a decisão pela conduta arriscada124. Além de fornecer um critério objectivo para a aferição do dever de cuidado, a construção avançada por Hand, e posteriormente desenvolvida, tem, segundo Posner, a potencialidade de conduzir a um “nível eficiente” (um equilíbrio) entre a prevalência de acidentes e a segurança125 - ou seja, transposto este raciocínio para o âmbito do direito penal, poderíamos falar em exigências de prevenção geral negativa a serem assim satisfeitas. Como é óbvio, este “nível eficiente” não se situará nos extremos, uma vez que a segurança tem os seus custos sociais e, portanto, o objectivo será sempre encontrar o safe enough. Posner refere a este propósito o exemplo de uma pessoa que compra um bilhete para viajar de comboio e espera, naturalmente, que a companhia transportadora tome as precauções necessárias a uma viagem isenta de acidentes126. Mas não seriam exigíveis, mesmo do ponto de vista do passageiro, precauções que, por exemplo, causassem sérios atrasos e incomodidades em ordem a reduzir ou até anular o risco de acidentes cuja verificação seja altamente remota. Perante esta hipótese, seguramente que os potenciais passageiros (ainda que, numa Será por isto que a análise económica do direito (a qual pressupõe que os agentes são sempre determinados nas suas opções por critérios racionais) tem sido sujeita a intensas críticas por parte de autores que argumentam que os indivíduos nem sempre são racionais – no sentido de ponderarem objectivamente os custos-benefícios das suas decisões e optarem pela mais vantajosa, segundo o modelo de Kaldor-Hicks . Esta crítica encontra apoio privilegiado nas insuficiências da Rational Choice Theory, na medida em que resulta evidente a impossibilidade de reduzir o complexo processo decisório a uma escolha racional no sentido clássico. O aparecimento e rápido desenvolvimento da bounded rationality tornou inegável que – aparentemente – as regras da escolha racional não podiam ser aplicadas a inúmeras opções com que o indivíduo se defronta mesmo em situações correntes do quotidiano. Coube a Kahnemann e Tversky demonstrar que, através da introdução de novas variáveis e adequado tratamento das mesmas, é possível reconduzir todo o processo decisório às matrizes da teoria da decisão. Como Kahnemann afirmou na sua Leitura do Prémio Nobel, em 8 de Dezembro de 2002, o seu trabalho não leva à demonstração da irracionalidade humana, apenas refuta uma concepção irrealista da racionalidade. 125 POSNER (1972) p. 33. 126 POSNER (1972) p. 37 ss. 124 74 3. Análise económica do direito primeira abordagem, pudessem afirmar ser sua legítima expectativa contar com segurança no transporte) procederiam a uma análise (económica), ponderando a probabilidade de o acidente se verificar e as medidas necessárias a garantir a sua impossibilidade. Dir-se-á, então, que o utente exige as medidas razoáveis – e esta expressão é encontrada com frequência, quer no discurso do homem comum, quer mesmo no discurso do julgador – sendo que este critério invoca a utilização de parâmetros económicos de custo-benefício. 3.2.2 Henry Terry: “a negligência é uma conduta” Várias décadas antes de o Juiz Learned Hand ter proferido a sua decisão sobre o caso da Carroll Towing, foi publicado na Harvard Law Review um estudo que continha já, em embrião, muitas das ideias que são a argamassa de um dever de cuidado objectivo127. O referido estudo começa por afirmar “Negligence is often defined as consisting of a breach of duty. That is wrong: The duty in such a case can be defined only as a duty to use care, i. e., not to act negligently; and to define the duty so, and then to define negligence as consisting of a breach of the duty, is to define in circle” para, a partir desta crítica, propor analisar “the nature of negligence, not duties to use care”128. A abordagem assim enunciada traduz um passo importante no caminho para a objectivação do dever de cuidado, na medida em que, ao pretender encontrar a “natureza da negligência”, a encara como uma realidade exterior, apreensível por qualquer pessoa. 127 128 TERRY (1915). TERRY (1915) p. 40. 75 3. Análise económica do direito Terry, ao proferir a célebre afirmação “negligence is a conduct, not a state of mind”129; estabelece também uma clara distinção entre o juízo de censura que geralmente surge associado à avaliação da negligência e a conduta que é, em si, negligente, e, deste modo, antecipa aquilo que o finalismo havia de consagrar no direito continental anos mais tarde, a saber, a separação entre os elementos subjectivos do tipo, o desvalor da acção e a culpa130. Antecipando também os critérios de gestão do risco e de razoabilidade como regra de “boa decisão”, define o cuidado devido como a conduta que não envolve um risco irrazoavelmente grande de causar danos. Está subjacente a esta definição, como bem se compreende, o prenúncio de uma abordagem quantitativa – mensurável e contabilizável – que a análise económica do direito havia de consagrar e desenvolver. Terry apercebe-se de que o indivíduo, ao optar por correr um risco irrazoavelmente elevado, o faz por razões of his own131. Esta perspectiva, no plano da Teoria da Decisão e de uma abordagem puramente economicista (como a de Posner), corresponde à ideia de que o comportamento pode sempre ser explicado de acordo com um modelo de racionalidade, mesmo quando, aparentemente, foge aos cânones estabelecidos; deve, então, considerar-se que o indivíduo, ao optar por agir como agiu, o fez em virtude de novas variáveis inseridas na matriz decisória. Num esboço do que poderia vir a ser uma matriz do dever de cuidado, Terry enuncia os cinco factores a ter em conta para aquilatar da TERRY (1915) p. 40. Voltaremos a esta classificação mais adiante. Mais adiante, Terry retira desta sua posição a conclusão de que, face a um padrão de comportamento que é o exigido e que corresponderá à conduta de um homem razoável, o agente, tendo actuado de outro modo, será culpado de negligência ainda que tenha agido o melhor que sabia (p. 41). Pode mesmo colocar-se a hipótese de o agente ter sido motivado por um erro, mas este respeitará ao “state of mind” e não à conduta, que permanecerá negligente. 131 TERRY (1915) p. 41. 129 130 76 3. Análise económica do direito razoabilidade de determinado risco132: 1- a magnitude do risco; 2- o valor do objecto que é exposto ao risco (objecto principal, na terminologia de Terry); 3o valor do objectivo prosseguido através da conduta arriscada (objecto colateral); 4- a probabilidade de que o objecto colateral seja alcançado (utilidade do risco)133; 5- a probabilidade de que o objecto colateral não seria alcançável sem se correr o risco (necessidade do risco). O conceito de objecto colateral virá a ser de grande relevância na construção de uma matriz do dever de cuidado, nomeadamente quando se trata de saber como deve ser equacionado o seu valor e se há objectos colaterais, socialmente não aceites, que não devem ser contabilizados. Como veremos, no caso de um objecto colateral a que a sociedade não atribua qualquer valor (ou atribua mesmo um valor negativo), mas que, para a decisão do sujeito, foi determinante, e admitindo que a opção assim feita deva ser considerada errada segundo padrões normativos, há duas vias de abordagem: ou se recusa atribuir valor ao objecto colateral em questão, ou se condiciona essa atribuição ao enquadramento entre padrões fixos das restantes variáveis. Em qualquer das hipóteses, nem todos os valores a introduzir no modelo de dever de cuidado são os valores subjectivos estimados pelo agente134. N a aplicação do critério custo-benefício, temos que: a) o valor do bem em risco (objecto principal) é o atribuído pela sociedade, não o atribuído pelo indivíduo; b) o valor do objecto colateral é o atribuído pelo indivíduo - mas, além de estar limitado por outras variáveis (como veremos) pode questionar-se se devem ser contabilizadas certas compensações que os indivíduos TERRY (1915) p. 42-44. Este factor desaparece nas construções posteriores a 1915. 134 Cf. a extensa transcrição do Restatement of Torts (1934) em WRIGHT (2002) p. 154 ss. 132 133 77 3. Análise económica do direito valorizam, como, por exemplo, a excitação obtida ao conduzir fora de mão numa auto-estrada; c) o valor da probabilidade de concretização do risco é a variável de densificação mais controversa, e dela nos ocuparemos mais adiante. Terry ultrapassa o problema enunciado em b) circunscrevendo os objectos colaterais a serem considerados ao âmbito dos “objectos legais”, ou seja, aqueles e apenas aqueles que encontrem protecção na lei. Mas isto seria empobrecer desmesuradamente a capacidade operativa do conceito; desmesuradamente e desnecessariamente, uma vez que, como veremos mais adiante, se pode considerar o valor atribuído pelo agente sem que o juízo proferido sobre a sua conduta seja uma réplica da matriz decisória daquele. É desta dicotomia, aliás, que resulta a completude do tipo penal. Se Terry intuiu a maior parte das principais coordenadas do dever de cuidado objectivo, não foi, no entanto, capaz de se libertar do critério do homem médio (standard man) como referência do que considerou a razoabilidade da “boa decisão”. Chega mesmo a identificar o critério da razoabilidade com a actuação do homem médio, sem explicar porquê e esvaziando, de certo modo, o conceito que erigira como central de toda a sua construção135. Faltavam ainda alguns anos até que Ramsey lançasse a primeira pedra do que veio a ser a teoria da decisão136. E, embora as bases teóricas existissem já (quer no plano filosófico, quer a nível dos utensílios matemáticos) em 1915, foi pela porta da economia que o cálculo dos custos e TERRY (1915) p. 47 e ss. O ensaio de Ramsey, Truth and Probability, tem sido considerado como precursor da base em que assenta a moderna teoria da decisão e, por outro lado, da teoria dos jogos desenvolvida por Neumann/Morgenstern. Ao analisar o conceito de probabilidade subjectiva, Ramsey demonstra que a abordagem intuitiva feita por cada indivíduo obedece às leis das probabilidades e corresponde a um modelo de racionalidade. Ramsey elabora ainda um método para medir preferências e desmonta o mecanismo mental através do qual os indivíduos tomam decisões. Cf. Ramsey (1926) p. 166-167, 183, e principalmente 191 ss. 135 136 78 3. Análise económica do direito benefícios entrou no mundo do direito, quase meio século depois de Terry ter escrito o seu estudo137. 3.2.3 Do homem médio ao homem razoável A identificação ingénua entre o homem médio e o homem razoável está hoje ultrapassada nos países da common law, em grande parte devido à necessidade de contrariar a tendência dos jurados para avaliar o comportamento do arguido segundo padrões de homem médio138. Implantou-se assim um critério de razoabilidade, mais consentâneo com o sistema aí vigente e que, adaptando-se, foi, por sua vez, condicionando o paradigma em que se move139. O percurso não foi o mesmo no direito continental140; em particular no direito português e – pese embora a utilização do termo “razoável” em algumas normas, de que podemos destacar o artigo 35.º do Código Penal – o Em The Problem of Social Cost, Coase aplica as regras da microeconomia a relações sociais que se regem habitualmente pelas normas jurídicas; ao fazê-lo, econometriza não só as relações em causa mas também os respectivos agentes, que surgem como homines economici. Importando para o direito concepções e métodos próprios da economia, Coase abriu um novo campo de análise das relações entre os sujeitos e as formas de intervenção jurídica – cf COASE (1960). Note-se que a abordagem feita pela análise económica do direito não é prescritiva, mas descritiva: limita-se a descrever como o indivíduo – aqui visto como um maximizador de utilidades – se comporta em cada contexto. Esse conhecimento proporciona, obviamente, uma maior margem de intervenção – mas o sentido desta já não faz parte nem respeita à AED. 138 Sobre a diferença entre homem médio e homem razoável, v. WRIGHT (2002) p. 152 ss., com minuciosa análise jurisprudencial. 139 Segundo Fletcher, não é insignificante que o termo razoável, fundamental no direito anglo-saxónico, esteja ausente no direito da Europa continental: esta diferença serve um determinado propósito e corresponde a quadros de pensamento próprios – FLETCHER (1985) p. 950. 140 Sobre esta dicotomia, cf. HÖRNLE (2008), analisando as potencialidades de cada um dos conceitos e tomando partido a favor do critério utilizado no direito alemão (note-se, contudo, que o direito português não tem equivalente – nem a nível de direito positivado nem na jurisprudência – para o “der besonnene und gewissenhafte Mensch” a que recorre o direito alemão). 137 79 3. Análise económica do direito padrão de referência, quando é convocado, continua a ser o do homem médio. Desta constatação podem retirar-se diferentes conclusões, que se reconduzem às seguintes alternativas: a) ainda que a designação seja diferente, a substância é a mesma; nesta hipótese, utilizaríamos o termo “homem médio” com o conteúdo de “reasonable man” e não de “average/standard man”; b) os sistemas, sendo diferentes, utilizam figuras diferentes. A primeira tarefa será, portanto, identificar em que consiste a diferença conceptual entre homem médio e homem razoável. O homem médio, em direito penal, corresponde àquele padrão de comportamento que – de um ponto de vista estatístico – podemos verificar na maioria das pessoas [colocadas no contexto em que o agente actuou]. Esta figura, profusamente utilizada (mesmo quando não expressamente referida) traz consigo uma insuficiência e uma incorrecção enquanto modelo operativo. Uma insuficiência porque, não sendo o padrão fixado objectivamente (nem poderia sê-lo, como é óbvio) os seus contornos resultam de uma estimativa subjectivamente construída pelo julgador. Se em muitos casos esta estimativa é limitada pelas regras da experiência comum (um pouco à semelhança do que sucede com a livre apreciação da prova) não admitindo conclusões absurdas, muitos casos há que, sendo de fronteira, requereriam um referente menos manipulável do que o “critério do homem médio”. Para além disto, são cada vez mais frequentes, v.g. no domínio em que se insere o presente estudo, os casos em que teria de se recorrer a um homem médio na posição e com as características do agente, ou seja, um homem médio 80 3. Análise económica do direito específico (médico, industrial, empresário…), o que força o conceito até ao seu limite, a ponto de frequentemente o tornar inutilizável141. E, deste modo, para aferir da (hipotética) violação do dever de cuidado em situações de grande complexidade técnica, haverá a tendência de recorrer a um critério-padrão generalista; nada mais incorrecto e, frequentemente, pernicioso. Serão estes, aliás, os casos em que no direito anglo-saxónico se constatam as maiores divergências entre o julgamento dos jurados (inclinados a julgar o caso em apreço segundo critérios pouco elaborados) e um julgamento que leve em consideração todos os factores que tenham estado em jogo no momento de agir (ou não agir). Acresce ainda que o homem médio nada nos diz sobre o como agir em situações novas e inesperadas, cada vez mais frequentes numa sociedade extremamente complexa e em mudança acelerada. Nos países de direito anglo-saxónico sentiu-se a necessidade de substituir este critério de homem médio (standard man) por algo mais objectivo, como o reasonable man, aquele que decide de acordo com expectativas sociais de justa ponderação dos interesses em jogo142. Devemos entender que no direito continental, e no direito português em particular, não houve necessidade de alterar a terminologia porque, não obstante o conteúdo aparente, sob a capa do homem médio se encontra um homem razoável? Ou porque o homem razoável que é o juiz utiliza o critério Para uma análise detalhada do critério do homem médio (concluindo pela inexistência de um standard man), cf. SEAVEY (1927) p. 9-28. 142 Em termos gerais, podemos dizer, como Howarth, que se pretende (e incentiva) a consideração dos interesses dos outros implicados antes de decidir agir; e que estes devem ser equacionados de acordo com a concepção do juiz e não do agente – HORWARTH (2006) p. 467 e 469. O critério do homem razoável surge, assim, também como uma forma de disciplinar a prossecução dos interesses individuais. Num plano mais lato, defendendo que o conceito de comportamento racional – no sentido que lhe é atribuído pela teoria da decisão - fundamenta também uma ética, cf. Harsanyi, que se confessa tributário (nas suas posições éticas) simultaneamente de Adam Smith, de Kant e do utilitarismo de Bentham e Stuart Mill. Para Harsanyi, a teoria da decisão, a teoria dos jogos e a ética fazem parte de uma mesma teoria, mais geral, do comportamento racional - HARSANYI (1982) p. 42 e ss. 141 81 3. Análise económica do direito do homem médio mas evitando os embaraços e armadilhas que facilmente vitimam os membros de um júri? Substancialmente, utilizam os nossos juízes o referente do homem razoável? Até certo ponto, pode responder-se que o fazem – mas não com a precisão do direito anglo-saxónico. Clarifiquemos. Tanto o homem médio como o homem razoável são abstracções, bem entendido. Mas enquanto o homem médio é uma abstracção construída a partir de uma multidão de seres concretos, o homem razoável é uma abstracção inteiramente construída - correspondendo a uma vontade normativa, por um lado, e, por outro, às expectativas sociais e do direito143. Pode-se afirmar que o homem razoável está mais próximo da figura do bonus pater familiae144, mas vai mais longe no caminho da objectivação, aspirando a uma validade que não depende dos padrões verificados empiricamente. E é este desfasamento que leva a que o critério do homem médio carregue consigo um erro em termos de modelo operativo, como afirmei supra. Em muitas áreas, o comportamento adoptado pela maioria da população145 não é o que o direito espera e exige – e isto é particularmente evidente no campo dos comportamentos negligentes (pense-se, por exemplo, nos crimes estradais)146. Como afirma Westen, “reasonableness is not a statistical matter, it is a normative matter” – WESTEN (2008) p. 157. Igualmente em WESTEN (2008a), p. 543: “Reasonableness in criminal law and torts is not an empirical measure [of which facts actually obtain, e.g., whether Voodoo is in fact effective]. It is a normative measure [of what kinds of conduct, thinking, and emotions are normatively appropriate to such facts as obtain or are believed to obtain]”. 143 Também este não coincide necessariamente com o homem médio, constituindo um modelo de exigência que não encontra correspondência em grande parte da população. 145 Que o termo médio não nos induza em erro: as características do homem médio devem situar-se na mediana em termos de método quantitativo, desprezando, portanto, aqueles elementos que se situam nos extremos. Os valores do referente homem médio abstraem, como é evidente, dos heróis e dos santos e, no extremo oposto, dos piores delinquentes. 146 Cf. sobre esta questão, e no mesmo sentido aqui defendido, WESTEN (2008) p. 162. O autor cita várias outras situações em que encontramos um comportamento “médio” contrário aos ditames do direito. 144 82 3. Análise económica do direito É certo que a figura do homem médio tem valor operacional no direito penal, e desempenha mesmo, em certos aspectos, um papel essencial. Desde logo porque, sendo ele o destinatário da norma, esta deve ser para ele acessível. E, num outro plano, a nível da censura, quando existe falha perante as exigências do direito147. O juízo de culpa, conquanto avaliação individualizada, concreta, é, todavia, feito segundo um referente de homem médio. Mas já o mesmo não se verifica quando se trata de fixar o próprio conteúdo normativo do ilícito148. No plano da negligência isto é muito claro e explica como pode alguém agir negligentemente e ser, ainda assim, desculpado. Explica mais: como pode alguém ser considerado inimputável face a um facto negligente149. Sobre a relação entre exigibilidade e pessoa média, cf. PALMA (2005) p. 143 e p. 218 ss. Hörnle chama justamente a atenção para a necessidade de não confundir reasonable com ordinary, atribuindo a esta confusão a perda de potencial operativo do conceito de pessoa razoável – este deverá ser entendido à letra, ou seja, como um apelo à razão (racionalidade). Por outro lado, preconiza uma individualização mínima do conceito de pessoa razoável, embora admita que, em alguns casos, tal adaptação às características do agente é inevitável – HÖRNLE (2008) p. 30-31. 149 Esta questão consiste um verdadeiro teste à separação entre elemento subjectivo do tipo e culpa. A dificuldade reside em que a inimputabilidade penal deve ser estabelecida relativamente ao próprio facto praticado, ou seja, deve repercutir-se no comportamento do agente que preenche um tipo de crime. Teremos então de configurar uma situação em que o agente actuou (negligentemente) por força das suas próprias perturbações. Daqui resulta a necessidade de autonomizar o facto (objectivo) praticado relativamente às condições (pessoais) que foram determinantes para a sua prática. Imagine-se a seguinte situação: A, padecendo de uma anomalia psíquica não aparente, foi contratado como vigilante de uma passagem de nível. A sua tarefa consiste em fechar as cancelas ao sinal de aproximação dos comboios, sendo que, para maior dificuldade, estes nem sempre cumprem os horários. A deverá, portanto, permanecer no seu posto durante todo o tempo do turno que lhe compete, mantendo-se atento para, ao sinal emitido pela estação anterior aquando da partida do comboio, fechar a cancela. Simplesmente, A não cumpre a sua obrigação e, com evidente violação do dever de cuidado que sobre ele impende, vai com frequência alimentar os pardais num bosque próximo. Um dia, acontece o que era previsível: não estando a cancela fechada, um peão é atropelado mortalmente. Conclui-se que A, embora tivesse consciência do perigo que constituía, em abstracto, não estar presente para fechar a cancela, se dirigia ao bosque sob comando de uma voz que lho ordenava e, de qualquer modo, confiava em que podia ausentar-se porque o seu anjo da guarda o substituiria, zelando pelo correcto funcionamento da passagem de nível. A não pode, assim, ser punido pelo facto praticado, o que não impede que tenha havido omissão do cuidado devido. Se isto é possível face a um pressuposto da culpa, como a imputabilidade, é-o igualmente – e até de forma bem mais evidente - face a uma eventual exculpação. 147 148 83 3. Análise económica do direito Mas, enquanto referente da fronteira do que se pode exigir, entre o homem razoável e os comportamentos “comuns” há uma profunda cisão. Com frequência sucede que, numa situação em que uma pessoa razoável devia ter adoptado a conduta X, o homem médio (os motivos para esta incongruência podem ser muito diversos e não é isso que neste ponto nos interessa) adopta a conduta Y. Em 1915, Terry fazia ainda repousar no padrão do homem médio o critério para aferir da (ir)razoabilidade do comportamento e da negligência. É patente a dificuldade em autonomizar (objectivar) o critério de razoabilidade, mas nota-se também que Terry procura já delimitar o dever de cuidado, embora não tenha encontrado a fórmula para construir um padrão objectivo. Por isso tenta intui-lo a partir do comportamento standard. Simultaneamente, tem a noção de que este deve ser razoável; mas cai no erro de acreditar que os comportamentos habituais traduzem uma razoabilidade (no sentido clássico), conclusão que não demonstra e, pelo contrário, é frequentemente infirmada pelos dados empíricos. Embora não consiga sair deste impasse, Terry tem já a noção de que “the reasonableness or unreasonableness of conduct is an inference of data. The data consist of the conduct in question and the facts of the actor’s situation”150. E, nesta medida, é também aqui precursor de um método que Hand viria a consagrar e se implantou depois, solidamente, na prática dos tribunais e na teoria económica do direito. É o próprio Posner que o admite, fazendo referência a várias decisões judiciais151. Como é evidente, Posner não tem dificuldade em recorrer ao critério da razoabilidade – na sua vertente plenamente econométrica – pois considera o ser humano como um “maximizador racional dos seus fins” 152. Para ele, o TERRY (1915) p. 49. POSNER (1986) p. 150. 152 POSNER (1986) p. 3. 150 151 84 3. Análise económica do direito problema coloca-se já num outro nível: o de decidir se deve haver um padrão único de racionalidade ou se o direito deve contemplar variações individuais. Admitindo que há um desfasamento entre o homem razoável e o homem real (individual) a quem é aplicado o padrão, defende, não obstante, o padrão único (com o mínimo de desvios individuais) como preferencial: numa lógica puramente económica, parece-lhe isto preferível aos custos administrativos de proceder a uma individualização do critério153. 3.2.4 J. Bentham e o(s) utilitarismo(s) Uma arqueologia da análise económica do direito não pode deixar de incluir o nome de Bentham. Não só pelo que representa enquanto mentor do utilitarismo, mas ainda pelo contributo que a sua obra constituiu para uma perspectiva inovadora do direito154. Na década de 70 do século XX, o utilitarismo era uma referência incontornável, quer para os autores que a ele aderiam, quer para os que se lhe opunham e, inclusive, pretendiam apresentar alternativas155. Em consonância com o pensamento benthamiano, podemos detectar na análise económica do direito a convicção de que o indivíduo é motivado pela escolha entre dois pólos de sentido oposto156. Esta é a base do homo economicus, como um maximizador racional157. Note-se que a análise POSNER (1986) p. 152. Cf.BENTHAM (1780) v.g. capítulos XIII e XIV. 155 Rawls toma o utilitarismo como o paradigma que pretende, precisamente, combater: cf. RAWLS (1971) p. 13. 156 Sejam eles a dor e o prazer de que fala Bentham, a felicidade e infelicidade de Stuart Mill, ou designados de qualquer outra forma. 157 Becker, no entanto, chama a atenção para algumas das limitações do pensamento benthamiano a propósito da construção deste maximizador racional. Nomeadamente, Becker defende que a operação de maximização não é uma tarefa cega, antes procurando um equilíbrio entre os vários interesses prosseguidos mas que não podem ser todos alcançados 153 154 85 3. Análise económica do direito económica do direito não se pronuncia sobre o que são (e muito menos sobre o que deveriam ser) os interesses que motivam o comportamento humano. Pode mesmo afirmar-se que, na sua versão mais despojada, nem sequer será importante que este homo economicus corresponda a uma realidade, bastando que sustente um modelo operatoriamente eficiente. Esta característica tem sido alvo de muitas críticas, mas diga-se que injustamente: por um lado, porque a análise económica do direito não pretende explicar o comportamento humano, mas tão-só construir um modelo que permita descrevê-lo e efectuar previsões – e, nestes termos, não haveria nada a criticar pelo facto de não avançar explicações de ordem sociológica, psicológica ou outras para as opções do indivíduo. Em segundo lugar, porque, embora o escopo da análise económica do direito seja efectivamente elaborar um modelo operativo e, neste sentido, não importe se a concepção de indivíduo que lhe subjaz corresponde ou não à realidade, muitos dos seus cultores têm-se preocupado em discernir os reais interesses que integram a matriz decisória. Isto tem permitido um enriquecimento da análise económica que, sem o contributo da teoria da decisão e todos os seus avanços, se veria impossibilitada de ultrapassar alguns obstáculos e ser realmente eficiente. Com efeito, a construção do homo economicus é actualmente uma tarefa bem mais complexa do que se poderia prever há algumas décadas158. em simultâneo – BECKER (1976). Além disso, Becker, como se sabe, defendeu um entendimento muito amplo do que deve ser considerado interesse prosseguido pelos indivíduos, na medida em que estes são movidos, frequentemente, por motivações que escapam a um conceito restrito (Becker engloba assim na sua análise o problema das “motivações altruístas”). 158 Sobre os comportamentos (aparentemente) irracionais, cf. por exemplo BECKER (1962) e BECKER (1976) p. 153 ss. Becker foi pioneiro na forma como abordou o problema, pois incluiu na sua análise referentes próprios da sociologia e mesmo da psicologia. No campo da psicologia, o trabalho de Kahneman e Tversky é um marco incontornável, mas a bounded rationality constitui hoje uma vasta área de estudo, na qual se têm destacado inúmeros autores. 86 3. Análise económica do direito Não obstante, é inegável que, para a análise económica do direito, o importante é que o modelo de homo economicus de que se socorre “funcione”: ele será tão elaborado quanto necessário – mas não mais do que isso. E pode mesmo acrescentar-se que, embora pretenda não só equacionar o comportamento mas também fornecer, por essa via, as ferramentas que permitem interferir e controlar o respectivo processo, a análise económica do direito tem uma visão totalmente neutra do conteúdo do mesmo 159. E aqui diverge efectivamente do pensamento de Bentham, para quem o direito não é só alvo de descrição [com pretensões operativas] mas carrega também indissociavelmente uma carga valorativa. Esta diferença não impede que a perspectiva económica, eminentemente utilitarista, tenha raízes no pensamento de Bentham, embora encontremos, igualmente, vestígios dela na obra de Adam Smith160 de que, aliás, vários nomes cimeiros da análise económica do direito se afirmam tributários. Os laços entre o pensamento de Bentham e a análise económica do direito são por demais evidentes, podendo destacar-se alguns aspectos comuns, como a convicção de que é possível, através de alterações das regras jurídicas, introduzir alterações no comportamento do indivíduo161 e o culto da eficácia. Este potencial de indefinição ética não obsta a que, no campo dos utilitaristas, tenham surgido obras sobre os princípios da justiça, demonstrando que estes não são preocupação exclusiva dos kantianos – cf. por exemplo a obra de Harsanyi. 160 O famoso trecho “it is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest” – SMITH (1776) p. 18 - tem sido bastamente invocado por aqueles para quem o comportamento humano é determinado pela prossecução dos seus interesses. Mas note-se que o pensamento que decorre da Riqueza das Nações é bem diverso daquele que podemos encontrar em The Theory of Moral Sentiments. É nesta última obra que Posner se baseia para afirmar que o pensamento de Adam Smith não é utilitarista – cf. POSNER (1979) p. 105. 161 Para a análise económica do direito, é indiferente se o resultado é alcançado através de um incentivo negativo ou positivo, desde que o resultado obtido seja valioso (valioso conforme aos fins pretendidos; por exemplo, no caso do direito penal, será a não ocorrência 159 87 3. Análise económica do direito Segundo Kornhauser, a análise económica do direito integra quatro teses, logicamente independentes mas interligadas no plano conceptual: a tese behaviorista, a tese normativa, a tese descritiva e a tese evolucionista162. Para o autor, a tese behaviorista será a fundamental e implica um objectivo de eficiência do direito. Strowel, ao cotejar a análise económica do direito com o utilitarismo de Bentham, identifica três teses, agregando a tese descritiva e a evolucionista 163. Tanto Kornhauser como Strowel (que o segue de perto) centram a sua análise nas teses behaviorista e normativa, estabelecendo criticamente, a propósito de cada uma delas, o paralelo entre utilitarismo benthamiano e análise económica do direito. Segundo a tese behaviorista, o direito tem a capacidade de influenciar a conduta dos indivíduos. Esta afirmação, sendo incontestável164, não traduz, só por si, qualquer especificidade da análise económica do direito; o que é novo é a introdução dos métodos da microeconomia em ordem a prever qual o efeito de uma dada norma ou corpo de normas, o que abre caminho aos postulados da tese normativa. Strowel considera que Bentham e Posner, embora partilhando o essencial da tese behaviorista, divergem na questão dos objectivos e custos, na medida em que Posner os avalia exclusivamente em valores monetários, enquanto Bentham se exprime em termos de dor e prazer. Mas esta diferença de certos factos). O que não impede que, a partir daqui, se estabeleça uma hierarquia valorativa. Sobre esta última questão, v. BARON (1993) p. 111 ss. 162 KORNHAUSER (1985) p. 45 e ss. 163 STROWEL (1992) p. 165. 164 Só não seria correcta se entendêssemos que as pessoas se movem não de acordo com o seu interesse, mas em busca de outros valores – o que, ainda assim, nos levaria ao problema das motivações altruístas, que será abordado noutro capítulo deste trabalho. Sempre se poderá dizer, desde já, que, se o direito não tivesse a pretensão de, por alguma via, influenciar as decisões dos seres humanos, deixaria de existir enquanto disciplina normativa, reduzindose, quando muito, a um enunciado de princípios. Naturalmente, pode defender-se que o direito influencia os indivíduos mas não segundo regras económicas, ou pode mesmo defender-se que essa influência não obedece a padrões que permitam estabelecer previsões. 88 3. Análise económica do direito não me parece significante, pois traduz apenas o esforço de Posner em encontrar uma expressão quantitativa para as variáveis que devem ser consideradas, uma vez que só assim podem ser analisadas segundo o método económico. No que concerne à tese normativa, que, na formulação de Posner, apela à escolha das normas segundo um critério de eficiência165, Kornhauser questiona qual o critério de eficiência a ser adoptado166. Analisando criticamente a eficiência de Pareto167 que geralmente se entende estar subjacente àquela tese, pelo menos na sua formulação inicial, Kornhauser expõe as consequências, por vezes socialmente inaceitáveis, da sua aplicação. Para Kornhauser, o óptimo de Pareto não conduz aqui a uma maximização de riqueza e, por outro lado, pode ser alcançado por mais do que uma norma, não sendo, portanto, indicador correcto da norma jurídica a adoptar. Vejamos agora o que tem o próprio Posner a dizer sobre a relação entre o seu pensamento em particular e o pensamento de Bentham, no âmbito da análise económica do direito. No seu artigo Utilitarianism, Economics and Legal Theory, Posner propõe-se analisar as relações entre a análise económica do direito e o utilitarismo, refutando algumas das críticas mais comuns e contestando a associação feita entre as duas teorias168. É de notar que Posner se reporta, nas considerações que faz, ao utilitarismo no sentido de uma teoria segundo a qual o valor moral consiste na promoção da felicidade; recusa uma acepção próxima da análise POSNER (1977) p. 12 ss. Cf. também o curioso estudo de Posner sobre estatuto e estigma no direito penal – POSNER (2000) p. 88-111. 166 KORNHAUSER (1985) p. 47 ss. 167 Segundo Pareto, um estado de coisas é eficiente se nenhum dos indivíduos nele envolvidos puder melhorar a sua posição sem que outro piore; ou, dito de outra forma, talvez mais adequada ao tipo de relações sociais de que cuidamos, um estado de coisas x é superior, segundo Pareto, se todas as pessoas ficam tão bem no estado x como no estado y e pelo menos uma pessoa fica melhor no estado x. 168 POSNER (1979) p. 103 ss. 165 89 3. Análise económica do direito económica, que reduz o utilitarismo à busca da máxima eficiência segundo métodos de custo-benefício. Posner aceita, no entanto, que a análise económica se inscreve no consequencialismo em geral. A sua crítica situa-se, portanto, no plano normativo, questionando os fins visados e não o método utilizado. No início da análise a que procede, Posner contesta o que ele designa por falácias recorrentes nas críticas à análise económica do direito. A primeira, consiste em acreditar que a análise das instituições sociais tem duas dimensões - a positiva e a normativa – que não podem ser separadas (ou, pelo menos, tanto o utilitarismo como a análise económica do direito não lograriam separá-las). A segunda é a convicção de que um sistema de ideias não pode ter implicações normativas enquanto as suas bases filosóficas não forem validadas. Como veremos, ao longo do seu estudo Posner irá consolidar a sua oposição a ambas estas teses. Posner afirma-se como um defensor da dimensão normativa da análise económica do direito, e vai mais longe, ao defender que esta oferece uma alternativa quer ao utilitarismo, quer à abordagem kantiana. Ao indicar os custos de uma hipotética acção, a análise económica do direito fornece um elemento informativo que, pelo menos em certos casos, teria relevância a nível de certas questões éticas. Neste ponto, muitos argumentarão que as questões éticas são, em última análise, indiferentes a considerações de custo. Mas mesmo quem não seja consequencialista pode admitir, com Posner, que casos há em que as consequências de determinada decisão podem influenciar o valor positivo ou negativo da mesma169. Não vejo, por exemplo, que a análise das vantagens ou desvantagens, no plano da eficácia, da pena de morte como meio de combate ao crime contribua para o debate sobre a admissibilidade (ética) da mesma; mas admito que Posner possa ter alguma razão, pelo 169 90 3. Análise económica do direito Se Posner admite o critério consequencialista, realçando as vantagens que a análise económica pode trazer ao avaliar com precisão as consequências de cada acção, coloca, por outro lado, interrogações e duras críticas ao utilitarismo, algumas delas constituindo objecções de difícil resposta. A primeira é uma questão incontornável: como se delimita quem está incluído no cômputo do “somatório da felicidade” (o universo dos indivíduos a considerar - questão que, como se sabe, tem encontrado variadas respostas) e como se “contabiliza a felicidade”. Esta será uma dúvida particularmente pertinente para um pensamento economicista como o de Posner: por um lado, qual a unidade utilizada; por outro, como se mede, como se sabe, o quantum de felicidade produzido em cada indivíduo. Depois de expor por que entende que o critério paretiano não dá resposta a esta questão170, Posner toma posição a favor da teoria segundo a qual não há alternativa senão admitir que, no que toca ao quantum de felicidade, temos de presumir que todos os indivíduos são mais ou menos semelhantes nesse aspecto171. O ponto, quiçá, mais frágil do utilitarismo é, como se sabe, o da sua redução ética, na medida em que erige como fim a prosseguir a (maior) felicidade geral, sem cuidar dos meios pelos quais se alcança essa máxima felicidade. Posner chama a esta questão a predisposição do utilitarismo para as monstruosidades. Transposta para um tema muito debatido nos últimos tempos, e que concerne directamente ao direito, esta é a questão que subjaz, por exemplo, à menos, nos casos em que as considerações económicas não entrem em conflito com outros factores relevantes em causa) – v. POSNER (1979) p. 109. 170 . POSNER (1979) p. 114. 171 Isto pode ser uma solução, mas só é válido em traços muito gerais; frequentemente, é uma evidência que a felicidade obtida a partir de determinado facto não é a mesma para todos os indivíduos; expressão máxima desta diversidade são os casos em que aquilo que provoca felicidade a uns provoca repulsa a outros. 91 3. Análise económica do direito discussão sobre a legitimidade de utilizar a tortura; poderá a lei permiti-la em casos excepcionais (por exemplo, para evitar um grave atentado, como pretendem alguns dirigentes políticos)? Pode parecer uma pergunta de difícil resposta dentro do âmbito do pensamento utilitarista, mas talvez não seja irreal afirmar que a tortura como método suscita inevitavelmente um movimento de slippery slope - e, a médio prazo, teríamos uma sociedade em que seria pior viver. Já no plano da matriz do dever de cuidado, de que nos ocupamos, esta questão encontra uma resposta clara mas que por sua vez nos devolve uma outra questão. Pode afirmar-se que quem decide os valores de algumas das variáveis será forçosamente o legislador. Mas de imediato seremos remetidos para novo problema: o legislador decide com que base, qual o fundamento controlável (e por quem) das suas concretas decisões? Aqui chegados estamos já a confrontar-nos com a questão da legitimidade de (todo) o direito, que ultrapassa o âmbito do presente estudo e não é, de qualquer modo, o seu objecto. Regressemos então ao que é o ponto central da análise que Posner faz das relações entre o utilitarismo e a análise económica do direito: a densificação do conceito de felicidade e a busca de uma unidade de conta para a medir. Admitindo a estreita correlação entre utilitarismo e análise económica neste particular ponto, Posner propõe que o conceito de felicidade seja substituído pelo de riqueza, consistindo esta no valor em dólares ou equivalente atribuído a todos os bens – materiais ou não - na sociedade. Esse valor será medido de acordo com o que as pessoas estão dispostas a pagar por uma coisa ou, caso já a possuam, o que elas exigem para prescindir dela172. POSNER (1979) p. 119. Neste ponto, pode desde logo objectar-se que os valores propostos em alternativa não são equivalentes. O endowement effect, de que falaremos mais adiante, demonstra que estas duas perspectivas levam a resultados muito diferentes. 172 92 3. Análise económica do direito Segundo Posner, este método permite, simultaneamente, encontrar uma unidade de medida comum e uma definição unívoca de riqueza que, por sua vez, podem ser utilizadas enquanto correspondentes a felicidade, na medida em que “an actual market transaction may be good evidence of an increase in happiness”173. Ainda que se admitisse que este método era isento de críticas e insuficiências – o que não é o caso – dificilmente ele poderia ser transposto para o cálculo inerente à determinação do dever de cuidado. Como se calcula o valor monetário do risco? Não se trata de equacionar linearmente um bem contra outro; e podem não ser apenas dois agentes em confronto, pois muitas vezes estarão em causa interesses difusos. Além disso, o direito penal tem vertentes – v.g. preventivas – que extravasam desta solução. Em determinado âmbito, no entanto, este processo tem real valor, não só no plano operativo mas também no plano teórico subjacente. Havendo uma vítima, as dificuldades expostas supra serão parcialmente ultrapassadas. O crime surgiria, segundo esta construção, sempre como uma imposição, algo imposto por A a B contra a vontade de B, que não desejaria comprar o facto com que foi onerado mas seria obrigado a suportá-lo – sem a justa contrapartida. Neste sentido, a pena aparece também como uma compensação, em substituição de um preço que não foi pago pelo criminoso – concepção que chocará menos em países como os Estados Unidos da América, onde encontramos no direito penal um forte pendor retribuicionista, mas que parece irremediavelmente incompleta em qualquer sistema com uma formulação segundo a qual, independentemente de eventuais vertentes retribuicionistas, a pena visa objectivos de prevenção geral e de ressocialização que não são compatíveis com uma formulação, quase diríamos, exclusivamente civilista. 173 POSNER (1979) p. 120. 93 3. Análise económica do direito O próprio Posner não fica indiferente a algumas das implicações práticas das teorias que defende, se levadas às últimas consequências 174 - o que não é de estranhar dada a preocupação com o conteúdo normativo, que não o abandona. Mas, considerando que os direitos individuais e a prosperidade material constituem a base da felicidade, conclui que estes serão defendidos por um sistema de maximização de riqueza que, segundo as suas palavras, “accommodates the competing impulses of our modern nature”175. 3.3 Para além de Posner O trabalho de von Neumann/Morgenstern, ao criar um sistema operacional de análise adaptável a todas as ciências sociais, desencadeou um movimento global, que afectou o direito bem como muitas outras áreas de conhecimento. Determinante foi a concepção do comportamento humano como algo orientado por uma lógica de maximização, e a interacção entre indivíduos ou entre indivíduos e instituições como um jogo de estratégia, com regras próprias e analisáveis em termos matemáticos. No que concerne à lógica da maximização, von Neumann e Morgenstern sistematizaram uma série de axiomas176 que regulam o pensamento racional tal como o entendem e permitem identificar aquilo que se designa por utilidades. Estes axiomas, desde a publicação de Theory of Games and Economic Behavior, em 1944, têm sido alvo de diversas formulações177. POSNER (1979) p. 133 ss. POSNER (1979) p. 136. 176 Como se sabe, alguns destes axiomas têm origem em trabalhos anteriores (como é o caso da closure) ou mesmo nas regras clássicas da lógica (por exemplo, no caso da transitividade). 177 Para uma exposição simplificada desta matéria, despida de grande parte da carga matemática, cf. HASTIE/DAWES (2001) p. 254-279. 174 175 94 3. Análise económica do direito Segundo von Neumann e Morgenstern, os indivíduos decidem de acordo com utilidades esperadas (expected utilities), ou seja, entre várias alternativas será preferida aquela que, segundo a perspectiva do indivíduo, apresenta a máxima utilidade esperada. O cálculo da utilidade de determinada alternativa obtém-se de acordo com a fórmula muito antes enunciada por Bernoulli, multiplicando o valor de P (probabilidade) pelo de cada possível resultado decorrente dessa alternativa e somando todos os produtos assim obtidos. Este valor, derivando de um cálculo matemático, poderia, em teoria, divergir da percepção subjectiva que o indivíduo tem da utilidade. Mas, porque as operações se desenrolam dentro do quadro de uma escala intervalar, deverão conduzir a valores (relacionais) correspondentes aos valores subjectivos. E como as unidades de valor numa escala [de utilidades] intervalar são arbitrárias – à semelhança do que sucede, por exemplo, nas escalas de temperatura – desde que respeitadas certas regras de relação lógica internas ao sistema, qualquer escala, medida em qualquer unidade, é igualmente válida e universalmente acessível. Pela mesma razão, o zero pode ser fixado em qualquer ponto. A análise económica orienta-se, assim, para uma perspectiva do direito que coloca no centro a eficiência, não se pronunciando sobre a validade dos fins. O sistema jurídico é encarado como um meio: não contém os seus próprios objectivos (como, por exemplo, um sistema de direito natural) nem se centra em questões de validade formal. Os objectivos são exteriores e a validade é uma validade funcional. Esta perspectiva, em face da teoria dos fins das penas, é concordante com a rejeição das teorias retributivas (intervenção ex post) e aponta claramente para uma concepção do direito penal como meio de conformar o comportamento (intervenção ex ante) no sentido pretendido. 95 3. Análise económica do direito A análise económica do direito nada nos diz sobre qual deve ser esse sentido – ou sequer se há sentidos “melhores” do que outros178. Não é redutora, na medida em que o ponto de chegada não é o seu objecto, ocupando-se apenas do percurso. No entanto, daqui não pode inferir-se que todos os pontos de chegada tenham o mesmo valor – nem o contrário. É uma teoria sobre os meios, não sobre os fins. Por outro lado, o facto de se reportar à “maximização da utilidade” e às “regras do mercado” não a torna uma teoria economicista do direito, como alguns afirmam, pois nada obriga a que a “utilidade” seja de base material. Mesmo quando o custo é apenas (ou predominantemente) económico, não é correcto afirmar que a análise económica do direito reduz todas as motivações a motivações económicas. O custo de oportunidade não deve ser visto apenas em termos monetários. Pretender que o ser humano se motiva (e, portanto, opta) apenas segundo juízos de vantagem material, é desprezar por completo as influências sociais e de ordem psicológica que podem influir na tomada de decisão. Não subscrevo, portanto, a posição de Kornhauser segundo a qual a análise económica do direito exclui a hipótese de as normas jurídicas terem um impacto educativo sobre o sujeito179. O que entendo é que Este ponto não é pacífico, embora se possa sempre afirmar que, haja ou não a pretensão de erigir a análise económica em critério de justiça, todos concordam em que ela cumpre pelo menos a função que aqui lhe é atribuída. Sobre a relação entre análise económica e justiça, cf. PARISI (2000) p. XII-XVII. Superando em parte a dicotomia, Sousa Franco defende que mesmo o valor Justiça só ganha em ser prosseguido como realidade efectiva: FRANCO (1992) p. 65. Complementarmente, pode dizer-se, com David Friedman, que é de acordo geral que a eficiência económica constitui, se não um objectivo importante, um meio importante para alcançar outros objectivos: FRIEDMAN (1987) p. 33. 179 KORNHAUSER (1985) p. 43. No entanto, é Kornhauser que afirma: “O direito não pode influenciar o comportamento individual, a não ser introduzindo mudanças no domínio dos estímulos e da riqueza” – ou seja, admite expressamente a influência exercida pelo direito. O que Kornhauser rejeita é a conotação entre objectivos morais e esta influência, e nesse ponto penso que todos estaremos de acordo. Mas não se pode excluir a hipótese de os “estímulos” serem de ordem não directamente material, ainda que, sem dúvida, sejam sempre “contabilizáveis”. Shavell cai no mesmo erro de excessiva simplificação quando afirma que “para induzir uma empresa a instalar extintores que custam $1000, tudo o que a sociedade precisa é de aplicar uma multa excedendo $1000” – SHAVELL (2004) p. 583. Obviamente, 178 96 3. Análise económica do direito esse efeito educativo, quando alcançado, interfere na contabilidade dos incentivos (neste caso, como inibidor, ou seja, incentivo de sinal negativo) que determina se o indivíduo pratica, ou não, o facto ilícito. Não é necessariamente por uma contabilização de custos-benefícios monetários que um indivíduo cumpre ou não um contrato: a convicção interiorizada de que pacta sunt servanda, o “valor da palavra dada”, poderão desempenhar aí um papel crucial. Mas daqui não decorre que a análise económica do direito esteja errada ao comparar o custo de incumprir (a cláusula penal fixada) com a vantagem obtida pelo incumprimento, em ordem a prever se o indivíduo respeitará as obrigações contratuais. A utilização correcta das “ferramentas” fornecidas pela análise económica do direito vai no sentido de atribuir um valor (quantitativo) à convicção do indivíduo de que o contrato deve ser cumprido independentemente do interesse, entretanto surgido, em não cumprir. Consideremos um exemplo: A celebrou com B um contrato promessa em que se obriga a comprar a casa deste último; entregou X como sinal; pouco depois, A encontrou outra casa de que gostou mais. A decisão de A vai depender de: a) montante do sinal perdido; b) preço da segunda casa; c) interesse de A pela segunda casa; d) valor (ético) atribuído por A à palavra dada (influência da sociedade e das características individuais de A). Dificilmente, hoje em dia, o valor em d) será superior a tudo o resto, mas já o terá sido em tempos, pelo menos em certos grupos sociais, e, isto não é correcto, pois a empresa entrará sempre em linha de conta com, pelo menos, mais um factor: a probabilidade de a multa ser efectivamente aplicada. E Shavell sabe que há um manancial de sanções não monetárias (potencialmente eficazes) que, aliás, foram alvo de estudos seus – cf. SHAVELL (1997) p. 617 ss. 97 3. Análise económica do direito existindo residualmente ainda hoje, é maior para umas pessoas do que para outras; algumas haverá que dirão simplesmente, nesta situação: “tenho pena, mas já me comprometi com outrem”. Por outro lado, se o sinal for muito baixo, facilmente o indivíduo o dará por perdido, pois será menor esse prejuízo do que o interesse na nova casa. E a decisão dependerá também do interesse: a casa é muito mais barata e melhor? É a casa com que o indivíduo sempre sonhou? Do mesmo modo, a obediência a uma norma penal depende de uma variedade de factores, entre os quais o grau maior ou menor de anomia, destacando-se - a educação para o direito - a censura social (anátema) - a medida da pena - a probabilidade de aplicação da pena - a intensidade do interesse satisfeito pelo crime. A interferência de todos estes factores não invalida a utilização da análise económica do direito como instrumento de análise do direito. Não se pode é reduzi-la a uma quantificação (cardinal e monetária) apenas das variáveis superficiais em jogo, sendo necessário introduzir todos os factores relevantes, atribuindo-lhes um valor ordinal (de acordo com uma classificação previamente convencionada). Se este modelo de análise for correctamente construído, a análise económica do direito poderá cumprir a sua função de aferição do direito constituído ou a constituir. A análise económica do direito, tendo por objecto a análise da eficiência do direito, é, neste plano, um importante instrumento de previsão do potencial sucesso de cada uma das alternativas disponíveis em sede de 98 3. Análise económica do direito política criminal180. Ao pretender constituir uma “teoria do comportamento face às normas jurídicas”181, o seu contributo incide, portanto, naquilo que constitui, em termos modernos (por contraposição ao intento retribuicionista que enformou o pensamento jurídico-penal durante séculos), o cerne do direito penal: a sua função preventiva. É pressuposto da análise económica do direito que o indivíduo reage às normas em termos “económicos”, ou seja, fazendo opções de acordo com o seu interesse (e o seu interesse, de modo geral, será sempre o de maximizar o bem estar) e o prossegue de modo racional, norteado por uma ponderação de custo-benefício (o “preço” da opção). Impõe-se então clarificar o que se entende por “bem-estar” e “modo racional”. Usarei a expressão “bem-estar” no sentido lato, abrangendo, portanto, todo e qualquer valor que constitua aquele denominador comum aos objectivos que, para cada indivíduo, prevalecem sobre os demais. Isto significa que: a) não tomo partido (por tal não ter aqui qualquer relevância) na querela sobre esta questão entre as várias correntes da análise económica do direito; b) limito-me a considerar que, salvo casos de patologia psíquica, os indivíduos orientam a sua acção no sentido de maximizar a satisfação dos seus interesses – tentando, pois, obter sempre o máximo pelo mínimo preço; c) como há grande variedade de elementos a considerar, o modelo a aplicar terá sempre de ser multifactorial, sob pena de perder as suas capacidades de análise e previsão ao ignorar variáveis que se revelem determinantes. Sobre a capacidade da AED para prever como os indivíduos respondem às normas legais, cf. KORNHAUSER (1998) p. 683. 181 MERCADO PACHECO (1994) p. 38. 180 99 3. Análise económica do direito Deve entender-se que a racionalidade da acção implica uma acção voluntária e não aleatória, orientada de acordo com um processo lógico tendente a conduzir ao fim visado (não será racional, por exemplo, que alguém que pretende ser admitido num dado posto de trabalho se comporte intencionalmente, na entrevista de selecção, de modo a afastar a possibilidade de ser contratado). A consideração atenta da multiplicidade de factores em jogo permite ultrapassar a aparência de que, amiúde, os indivíduos fazem escolhas “irracionais”. Analisemos a seguinte situação: - À primeira vista, diríamos que é irracional o comportamento de quem conduz fora de mão numa auto-estrada por mero divertimento. Pois que o indivíduo em causa tem interesse em manter-se vivo e, por outro lado, nada revela que o seu objectivo seja lesar os condutores com que eventualmente se cruze. Além disso, é seguramente contra o seu interesse ser detectado pela polícia e em consequência sofrer as sanções previstas para a manobra realizada. Se não quisermos desistir de compreender o que motivou esse indivíduo, teremos, portanto, de procurar que factor pesou mais no conflito de interesses ou, o que é o mesmo, o “bem” que ele comprou com a sua conduta e que valeu o preço que pagou (pelo menos virtualmente). Isto não significa que a análise económica do direito deva converterse numa espécie de psicologia. Não se trata de fazer a análise de cada indivíduo enquanto tal, mas de encontrar os factores relevantes para as opções de uma classe de indivíduos, por forma a poder prever (e, assim, manipular) a sua atitude face às normas jurídicas. Retomando o exemplo do condutor que percorre vários quilómetros fora de mão, a questão coloca-se na medida em que esse comportamento comece a surgir com tal frequência que, por um lado, permita considerar que 100 3. Análise económica do direito existe um padrão, e, por outro, ponha em causa a eficácia social da norma que proíbe este tipo de manobra. Remetendo-nos para a situação real que se vive actualmente, teremos de considerar que não será por coincidência que, crescentemente, se verifica essa prática; e as opções de cada um dos autores não serão fruto de factores aleatórios que, por mero acaso, levam a manifestações semelhantes. Trata-se, portanto, de encontrar a motivação comum subjacente; mesmo que, superficialmente, pareça haver diversas motivações, há que identificar o seu denominador comum. Tendo presente que o “preço” arriscado pelo autor é mais do que apenas a aplicação da punição (incluindo, nomeadamente, o risco para a sua própria vida), não é certo que o endurecimento da mesma seja suficientemente dissuasor. Só a identificação completa dos factores em jogo permitirá determinar a melhor estratégia - e “melhor” aqui significa a que, com um menor custo, produz o resultado pretendido. Não que seja impossível influir nas opções do indivíduo por via apenas da agravação da pena – alterando a probabilidade e/ou a gravidade da mesma. Salvo raras excepções (que não se inserem no domínio do crime negligente, mas sim no do doloso, v.g. o passional) uma pena muito pesada e com 100% de probabilidades de ser aplicada é definitivamente dissuasora (nenhum agente racional rouba ou mata diante da esquadra de polícia!). O que pode acontecer é concluir-se, através da análise detalhada dos factores em jogo, ser economicamente mais vantajoso para o Estado actuar por outra via. POSNER identifica três conceitos básicos da análise económica do direito 182: 1 - a lei da oferta e da procura (relação inversa entre preço e procura); 182 POSNER (1986) p. 6. 101 3. Análise económica do direito 2 - o conceito de custo de oportunidade - valor da melhor aplicação alternativa. Ou seja, quando se faz uma escolha (de aplicação de um bem) este deixa de estar disponível para outras aplicações; o maior valor que poderia ser alcançado com uma escolha alternativa, é o custo de oportunidade da aplicação por que se optou; 3 - o princípio de equilíbrio (em situação de liberdade dos agentes, todos os sistemas tendem para o equilíbrio). Embora estas três leis sejam observáveis no comportamento do homo economicus, não são suficientes, só por si, para analisar (em termos de explicação/previsão) as opções deste. Pelo menos se considerarmos, com POSNER, que o preço do crime é a pena. Só uma abordagem mais abrangente, desenvolvendo o conceito de “custo de oportunidade”, permite identificar as valorações subjacentes a cada opção feita. As teorias da decisão trouxeram a este domínio um contributo fundamental. Assentando igualmente na racionalidade do indivíduo, construíram uma série de modelos que permitem reconstituir o processo decisório. 3.4 Críticas e contra-críticas Várias críticas têm sido aduzidas à perspectiva da negligência como uma ponderação de custos-benefícios, associada ao utilitarismo e princípio da eficiência económica. Num extenso artigo publicado em 2002, Richard Wright acusa esta perspectiva de desprezar a ideia de justiça, em favor de uma ideia de 102 3. Análise económica do direito eficiência183 que, para mais, não corresponderia à forma de o homem médio avaliar da negligência. Duas objecções podem ser levantadas contra a posição de Wright. Primeiro, em ponto algum Wright demonstra que o homem médio – ou o “reasonable man”, que a jurisprudência anglo-saxónica erige como padrão, em lugar do “average man” – não raciocina segundo as regras do homo economicus. Quanto a esta questão, central no presente trabalho, remeto para o capítulo 3, onde se conclui, precisamente, que o modelo de raciocínio dito económico corresponde a um padrão que pode, em certo sentido, ser considerado universal. Em segundo lugar, não se vê por que há-de a análise económica contrapor-se ao ideal de justiça, como se se tratasse de dois objectivos incompatíveis. Pelo contrário, parece evidente que o direito traz ínsita uma dimensão utilitarista, na medida em que se legitima como instrumento de defesa dos interesses da comunidade. Transposta para este âmbito a construção da análise de custo-benefício, pode-se considerar que, no caso do direito penal, uma das “pessoas” cujos interesses entram na ponderação é a comunidade. O que há a contrapor é o interesse do sujeito versus o interesse da comunidade em manter-se segura mas, simultaneamente, sem exigir demasiada segurança: quer porque não lhe interessa bloquear toda a actividade (v.g. nos casos de riscos industriais, químicos, etc.) quer porque, também aqui, deve imperar o princípio da subsidiariedade. Desde cedo, a perspectiva economicista se afirmou como incontornável para muitos autores, embora a alguns deles repugne que a WRIGHT (2002) centrou as suas críticas nesta vertente, numa comunicação apresentada em 2001 na Notre Dame Law School em Novembro de 2001, e publicada posteriormente no American Journal of Jurisprudence – WRIGHT (2002) p. 143 ss. 183 103 3. Análise económica do direito ponderação dos factores relevantes seja feita em termos puramente matemáticos184. Uma ponderação dos interesses em jogo será sempre necessária para aferir da medida de cuidado que situa o limite a partir do qual haverá negligência do agente. Considerando que o cuidado exigido não será, por certo, todo o cuidado possível (i.e. que o possível não coincide com o exigível) pois, como se sabe, o risco zero é uma abstracção e não seria, mesmo que acessível, desejável, terá de se traçar a fronteira a partir da qual o risco não é já legalmente tolerável185. Se se entender que a medida do cuidado médio – em cada caso concreto – não pode ser obtida estatisticamente, será necessário estabelecer a fórmula que permita alcançar uma medida-padrão, mediante a introdução dos valores [do caso concreto] no espaço de cada variável186. Klevorick defende que, se para a análise económica do direito o sujeito é alguém racional, que avalia os custos e benefícios das suas decisões e opta em consonância, de acordo com as probabilidades estimadas, o input de informação (sobre os custos e respectivas probabilidades) pode ser afectado pela presença notória da estrutura aplicadora das sanções (v.g. a polícia), pela experiência pessoal e social, pelas notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação, etc.187. Para além deste factor perturbador, na opinião de Klevorick a análise económica do direito encontra outras SEAVEY (1927) p. 7-8. Como acentua Militello, a “concretização da possibilidade ofensiva de uma actividade” só pode ser fonte de responsabilidade penal a partir de um certo nível de risco – MILITELLO (1988) p. 14. A fixação desse nível depende de vários factores, tolerando-se graus de risco variáveis consoante o contexto da acção, o número de alternativas, o interesse social da actividade, etc. O risco é uma entidade complexa que só pode ser descrita e analisada como tal; não há um ponto linear de risco proibido. 186 Tais valores são parcialmente flexíveis, mas incluem um limite que é fixado pela própria lei. Esta ideia, que será alvo de posterior desenvolvimento, aflora com frequência nas decisões judiciais, nomeadamente nos países de tradição anglo-saxónica, como resulta claro quer no Restatement of Torts de 1934, quer no Second Restatement of Torts de 1965. 187 KLEVORICK (1985) p. 300 ss. 184 185 104 3. Análise económica do direito limitações quando tenta construir um modelo abstracto aplicável a todas as situações concretas, desprezando as particularidades individuais na avaliação dos benefícios e custos. Por outro lado, critica a posição de Posner na medida em que esta não dá resposta à questão (crucial) de saber qual o fundamento para rotular alguns actos como crime e não outros, ou seja, rejeita a perspectiva neutra da análise económica do direito, quer no que respeita à política criminal, quer na medida em que abstrai das motivações profundas do agente188. Duas críticas, que surgem recorrentemente, merecem comentário: a incapacidade da análise económica do direito para explicar por que são alguns actos definidos como crime (esses, e não outros), e a subjectividade inerente às avaliações individuais do “estado do mundo” no momento de fazer opções. No primeiro caso, pode-se afirmar que não é, nem nunca pretendeu ser, o objectivo principal da teoria económica do crime dar resposta a essa questão. Curiosamente, é no campo da negligência que encontramos o enquadramento mais claro do problema e, de alguma forma, aí a teoria económica pode contribuir para uma solução válida: em termos de risco, o Estado “contabiliza” a gravidade do resultado potencial e a probabilidade de, naquelas circunstâncias, ele se verificar; depois, de acordo com os valores computados, decide o quantum que a sociedade pode suportar. Tudo se passa como na administração de uma companhia de seguros, que estima qual o prémio a exigir e, em certos casos, considera que simplesmente não é “saudável” para a empresa proceder ao seguro. Naturalmente, isto aplica-se apenas à determinação do ilícito típico; a teoria económica não tem como Coleman comenta a este respeito, opondo-se à tese de Klevorick, que não há necessidade de penetrar a teoria do crime com valorações de ordem moral, bastando a constatação do facto mais que evidente que “por uma ou outra razão – geralmente vantagem pessoal” as pessoas nem sempre respeitam as normas – COLEMAN (1985) p. 322. 188 105 3. Análise económica do direito alvo todas as categorias da dogmática penal, e nomeadamente não interfere com os juízos de culpa. Quanto à segunda objecção de Klevorick, ela é objecto de intenso estudo multidisciplinar, e será abordada no capítulo sobre a bounded rationality. Diga-se apenas, por enquanto, que o dilema entre a construção de um modelo (objectivo) que se pretende aplicável a situações em que os valores operacionais são subjectivos, se resolve, na minha opinião, introduzindo a subjectividade no modelo abstracto, tornando-o maleável o bastante para ser funcional em cada caso a que o apliquemos. Por seu turno, reportando-se ao problema do justo enquadramento da sanção no modelo da análise económica do direito, Coleman189 coloca a seguinte interrogação: se a lei penal é apenas um mecanismo para induzir determinada transacção (aquela que “interessa” ao Direito) por que atribuir um papel (como sabemos, fundamental) à culpa? E por que impor sanções como a privação de liberdade (aqui, como alguma ironia, Coleman coloca a hipótese de, em vez de uma pena de prisão, se impor ao criminoso a obrigação de frequentar um curso de economia)? Estas são objecções que facilmente acorrem à mente de quem avalia a perspectiva económica do direito penal e requerem, porque oportunas e recorrentes, resposta. O objecto deste trabalho não é a aplicação da análise económica do direito à dogmática do direito penal em geral, e da negligência em particular, mas tão-só a construção do dever de cuidado como um elemento do tipo, e, logo aí, desligado precisamente das valorações da culpa. Todavia, ao “coisificar” o dever de cuidado (mais exactamente, ao quantificar o cuidado exigido a que a lei se refere) não pretendo fazer um malabarismo esteticamente atraente. Algumas consequências práticas hão-de decorrer 189 COLEMAN (1985) p. 325. 106 3. Análise económica do direito dessa construção teórica, e não pretendo abstrair delas, muito pelo contrário. Como se verá, essas consequências repercutir-se-ão nas políticas criminais a seguir, pelo que não se pode aqui considerar despiciendas as observações de Coleman. Comecemos pela segunda. A pena de prisão – o mesmo poderá ser dito em relação a qualquer outra pena – insere-se num modelo de transacção, impondo um custo acrescido e considerado necessário para contrabalançar valores de utilidade desproporcionados quando inseridos na matriz normativa. Não se pode esquecer que, sendo parte da matriz preenchida com valores impostos ao cidadão e calculados de acordo com os limites socialmente tolerados190, todos os “desvios” que venham a verificar-se corresponderão a valorações disfuncionais introduzidas na parte da matriz que é deixada “em aberto”. No caso, por exemplo, de um indivíduo que excede a velocidade permitida e atropela mortalmente a vítima, é seguro que: a) ou o indivíduo tem um interesse desmesurado em exceder a velocidade (e vamos agora abstrair de motivações “aceitáveis” como as determinadas pela inimputabilidade, o erro não censurável ou qualquer causa de exculpação), ou b) desconsidera a vida humana, ou c) é incapaz de atribuir um valor razoável à probabilidade de verificação do resultado lesivo, dentro da margem de variação permitida considerando que, inevitavelmente, estamos sempre perante probabilidades subjectivas, mas que as variações destas, de indivíduo para indivíduo, não são infinitas. Perante uma situação como esta, o legislador, dentro de uma lógica económica, se quiser concretizar a “transacção”, só tem duas hipóteses: ou 190 Ou seja, tolerados por dada sociedade em ordem à sua estabilidade e bom funcionamento. 107 3. Análise económica do direito aumenta o custo de não obedecer aos preceitos legais, ou aumenta o incentivo para obedecer (oferecendo recompensas periódicas a quem não tenha cometido qualquer violação da lei). Nada mais conforme com a análise económica do direito, portanto, do que impor sanções, sejam elas a prisão ou outras quaisquer. Pode defender-se que, de acordo com esta perspectiva, quanto mais dura fosse a sanção, maior o seu poder dissuasor, levando a um direito penal “terrorista”. Adiantando desde já que tal não se verifica, deixamos para mais adiante a explicação do porquê. Quanto ao curso de economia ironicamente sugerido, porque não? Talvez em alguns casos fosse útil ensinar técnicas de decisão, incutir heurísticas que permitissem uma mais correcta “ressocialização”. Seria, no fundo, reforçar a aprendizagem empírica a que o indivíduo é sujeito, com as correspondentes ferramentas e enquadramento teórico191. A análise económica do direito, como já vimos, tem como peça basilar a ideia de homo economicus, ou seja, um sujeito que actua de acordo com os seus interesses, no sentido de alcançar o máximo de benefícios (subjectivamente determinados) com o mínimo de custos. O indivíduo escolhe os seus objectivos, de acordo com uma hierarquia estabelecida por ele, e age de forma a maximizar as probabilidades de os alcançar com um aproveitamento óptimo dos recursos disponíveis. Esta concepção linear revelou-se, na prática, eivada de incongruências, que vieram demonstrar ou a) que não corresponde à realidade dos indivíduos ou b) que o processo é muito mais complexo, englobando condicionantes e desvios inicialmente não considerados. Para alguns autores, é esta, primordialmente, a função das normas sociais, através das quais os indivíduos interiorizam respostas que se revelaram já socialmente adequadas; e este processo terá a vantagem de facilitar as decisões que os indivíduos são constantemente solicitados a tomar, ainda que tenha o perigo de induzir um exagerado conformismo – cf. BOYD/RICHERSON (2001) p. 283 ss. 191 108 3. Análise económica do direito Outra objecção levantada à concepção do homo economicus é a de que ignora as influências e condicionantes sociais a que o indivíduo está sujeito. Mas esta crítica não me parece ter fundamento, na medida em que o homo economicus não é uma visão totalizante do indivíduo, não pretende “explicálo” em todas as suas facetas, mas apenas descrever o seu intrínseco processo de decisão. Nomeadamente, ao afirmar que esse processo é orientado para a prossecução de preferências, não discute como são formadas as preferências – o que deixa terreno livre para o homo sociologicus, assim como para muitas outras hipóteses de explicação. Por outro lado, não deve entender-se a ideia de custo de modo estritamente financeiro. O custo considerado na análise económica é o custo de oportunidade – aquilo de que se prescinde para obter o que se pretende – e, tal como os objectivos humanos não são necessariamente monetários, assim também o respectivo custo de oportunidade (o que não significa que não seja passível de expressão monetária). Costuma referir-se, como um marco importante nas origens da análise económica do direito, a decisão do juiz Learned Hand no caso United States v. Carroll Towing Co, em 1944, a que já fizemos referência. Não se trata ainda de uma análise custo-benefício, característica da análise económica, mas alerta para elementos determinantes e atribui-lhes já uma ponderação relacionada com cálculos probabilísticos192. A decisão do juiz Hand incidiu sobre um acidente entre dois navios – Anna C. e Carrol - sendo que a carga do Anna C. era propriedade dos Estados Unidos e se perdeu completamente. Com vista a atribuir as responsabilidades pelos prejuízos emergentes, o juiz Learned Hand considerou que: Verifica-se ainda, como seria de esperar, um certo sincretismo entre a dimensão objectiva e os aspectos relacionados com a culpa, que só algumas décadas mais tarde seria clarificado. 192 109 3. Análise económica do direito Dado que em determinadas circunstâncias, qualquer navio pode soltar-se das amarras, e dado que, uma vez que tal aconteça, esse navio se torna uma ameaça para o meio envolvente, o dever do proprietário, tal como noutras situações semelhantes, de compensar os danos que daí possam resultar, é uma equação resultante de três variáveis: (1) a probabilidade de o navio se soltar; (2) a gravidade dos danos causados, se tal acontecer; (3) o custo das medidas de precaução adequadas. Talvez esta noção se torne mais evidente, se a colocarmos em termos algébricos: designando a probabilidade por P; os danos por D; e o custo por C; a responsabilidade depende de C ser ou não menor que D multiplicado por P: ou seja, quando C <PD193. O problema era mais complexo do que a apreciação simples sobre deveres de cuidado, uma vez que envolvia questões de distribuição dos contributos causais para o resultado. Mas a decisão assumiu grande importância na medida em que introduziu critérios mensuráveis, matemáticos, na avaliação da responsabilidade e uma objectivação da mesma em ordem a quantificar a análise; é também importante por se tratar de um embrião da aplicação de um modelo objectivo para medir a “negligência”. A Hand Rule, devido ao facto de se reportar apenas a custos monetários, não entra em linha de conta com o sujeito, nem mesmo como homo economicus: a regra é-lhe imposta, sem exigir dele uma ponderação, uma vez que os valores de B, L e P (designação original)194 são fixados e impostos pelo tribunal – como se existissem por si, coisas que se podem medir, meras quantidades. Since there are occasions when every vessel will break from her moorings, and since, if she does, she becomes a menace to those about her; the owner’s duty, as in other similar situations, to provide against resulting injuries is a function of three variables: (1) The probability that she will break away; (2) the gravity of the resulting injury, if she does; (3) the burden of adequate precautions. Possibly it serves to bring this notion into relief to state it in algebraic terms: if the probability be called P; the injury, L; and the burden, B; liability depends upon whether B is less than L multiplied by P: i.e., whether B < PL. 194 Sendo P = probability; L = loss; B = burden. Ou seja: P = probabilidade; L = dano; B = custo (das precauções). 193 110 3. Análise económica do direito Esta fórmula pode também ser representada graficamente do seguinte modo, como faz POSNER195, o que permitirá compreender melhor de que modo o legislador utiliza o conceito de “dever de cuidado” como fronteira entre o risco permitido e o risco não admitido pelo Direito196. Voltaremos a esta questão mais adiante, analisando as potencialidades desta representação para a construção da negligência. 3.5 A culpa e a justiça Coleman, na sua crítica à abordagem económica do direito, defende que a análise económica é plausível no que toca a responsabilidade por indemnização – à semelhança do que sucede na precursora decisão do juiz Hand – mas já não no direito penal, pois que, neste, há uma vertente moral, POSNER (2003) p. 149. Em SILVA M.(1997) p. 20, podemos ver a representação gráfica da fórmula marginalizada de Hand. 195 196 111 3. Análise económica do direito que legitima a aplicação de sanções e é incomportável pela análise estritamente económica197. É um facto que a aplicação das sanções penais pressupõe a culpa, e poderíamos mesmo acrescentar que não só do ponto de vista da legitimidade como também, até certo ponto, do ponto de vista da eficiência: os efeitos dissuasores da pena só fazem sentido se o indivíduo for responsável pelos seus actos, caso contrário (se eles não dependeram da sua vontade nem podia evitá-los) é irrelevante se se comina ou não uma pena198. Mas, ao contrário do que Coleman afirma, os aspectos morais não são o essencial da responsabilidade criminal - a não ser num sistema de pura retribuição, há muito abandonado na maior parte dos sistemas penais. Do mesmo modo, não basta ao Estado, que o indivíduo mereça a pena, embora (estaremos provavelmente todos de acordo) essa seja condição sine qua non. O que Coleman não faz é distinguir radicalmente entre dois momentos: a função do direito penal, enquanto mecanismo de aplicação de penas, e a legitimidade do mesmo para impor sanções (distintas do carácter restaurador de uma indemnização). No primeiro destes momentos, não se compreende por que não teria a análise económica aplicação – e nenhum dos argumentos de Coleman a inviabiliza. No segundo momento, se considerarmos que estão englobadas, por seu turno, duas vertentes (a eficácia no cumprimento da função – preventiva – e a culpa do sujeito), ainda podemos aplicar o método da análise económica, com carácter descritivo, para aferir da eficácia e da proporcionalidade em termos utilitaristas)199. Apenas no plano da culpa não há, obviamente, lugar à aplicação das teorias económicas (v.g. se entendermos a culpa a partir de uma perspectiva kantiana). Mas, dado que a culpa não é todo o direito penal (em termos extensivos) não pode assim rejeitar-se a aplicação da análise económica do COLEMAN (1985) p. 326. Sobre os limites desta tese, cf. ALMEIDA (2000) p. 27 ss. 199 Cf. SCHULHOFER (1985) p. 330. 197 198 112 3. Análise económica do direito direito – não com uma ambição totalizante, é certo, mas com grande vantagem de clarificação em certos domínios. É o próprio Coleman, aliás, que cita aprovadoramente a notável frase de Terry: “negligence is a conduct, not a state of mind”200. Se os estados de espírito são rebeldes à análise económica (mas não incompatíveis, como a psicologia recente vem demonstrando), as condutas são perfeitamente recondutíveis aos modelos do homo economicus. Esta distinção suscita outra reflexão importante. A ideia muito vulgarizada entre os defensores da análise económica do direito (a começar por BECKER) de que uma pessoa comete um crime se a utilidade esperada assim obtida excede o custo alternativo é, quanto a mim, absolutamente correcta. Mas daqui não pode retirar-se a conclusão (também muito vulgarizada) de que assim fica explicado por que certas pessoas cometem crimes. Trata-se de um erro de perspectiva, pois a questão, a que se julgava dar assim resposta, subsiste infiltrada nos próprios termos. Os mesmos actos não têm a mesma utilidade esperada para toda e qualquer pessoa, e é isso que provoca o desequilíbrio – pois a utilidade de não cometer o crime (o nãocusto) mantém-se idêntico pelo menos no plano da não-sujeição à sanção. Também esta, aliás, terá desutilidade diferente de indivíduo para indivíduo – ser condenado a um ano de prisão não significa o mesmo valor negativo para A (sem família e com larga experiência criminosa e numerosos amigos na prisão) que para B (com filhos menores, emprego, uma vida alheia ao mundo da delinquência). Quando os defensores mais extremistas da análise económica do direito pretendem que esta possa substituir – tornar desnecessárias – outras abordagens explicativas do fenómeno criminal, incorrem no erro de tomar a descrição pela explicação. O modelo económico permite plasmar e relacionar os factores de decisão do indivíduo no 200 COLEMAN (1985) p. 326. 113 3. Análise económica do direito momento de agir. Mas não descreve o percurso que conduziu aos valores determinantes para a opção economicamente ajustada. Com razão afirma Schullofer que, ao dizerem que o homem é “um maximizador racional de utilidade”201 Becker, Posner e os seus seguidores estão ao lado do problema, ainda que a afirmação seja verdadeira. A toda esta polémica, e sem a desvirtuar, há ainda que acrescentar o seguinte: a) poderá a análise económica englobar os apports das outras ciências interligadas com o direito penal (psicologia, sociologia, etc.) por forma a densificar (de modo mais compreensivo) o critério de utilidade? b) mesmo admitindo que se trata de um método incompleto, até que ponto é a análise económica um método funcional? Tem utilidade prática? E essa utilidade, a havê-la, inscreve-se no plano descritivo, no plano normativo, ou em ambos? A questão a), porque crucial para o desenvolvimento do presente trabalho, será discutida detalhadamente mais adiante. Quanto à questão b), adiantaremos desde já o seguinte: o modelo de homo economicus e as teorias de decisão podem ser encaradas do ponto de vista normativo ou descritivo; mas o crivo da realidade empírica será sempre importante. É (pelo menos) questionável se se deve defender um modelo normativo que a realidade empírica contradiz constantemente. Pode também considerar-se que o modelo de homo economicus e o respectivo processo de decisão são descritivos e normativos, como faz Savage. Shafer questiona a posição de Savage, argumentando que ela é constantemente contrariada pela realidade empírica, v.g. no que respeita à separação entre valores e convicções. Mas isto já se sabia através de Tversky/Kahneman e muitos outros. A questão é: há outra alternativa? Pode-se construir um modelo de homo que não seja racional? Mesmo as 201 “a rational maximizer of utility” – SCHULLOFER (1985) p. 340. 114 3. Análise económica do direito tentativas mais conseguidas, como as da fuzzy logic, não logram apresentar um indivíduo passível de ser sujeito de direito penal. As pessoas fazem escolhas a todo o momento, desde as grandes escolhas que se projectam no futuro, condicionando-o profunda e duradouramente, até às pequenas escolhas do quotidiano (ligar ou não ligar a TV, se a liga qual o canal que vê, descer pelas escadas ou pelo elevador, comer carne ou peixe no restaurante, etc. etc.). Como são feitas estas escolhas? Certamente que não através de uma decisão tomada após longa ponderação de todos os elementos relevantes. Mas são feitas ao acaso, aleatoriamente? Que se passa no nosso cérebro antes – e até dar a ordem aos músculos e articulações para atravessar a rua aqui e não dez metros à frente? Retomando o famoso exemplo de Savage, como decide uma pessoa – qualquer pessoa – se vai partir o ovo directamente na frigideira ou primeiro numa taça para ver se não está estragado? Que leva A a decidir de um modo e B a decidir diferentemente? Mais uma vez: será o acaso? Ou A e B processam informação e tiram conclusões de acordo com valorações e preferências? Tome-se outro exemplo de Savage202 discutido por Shafer203: Jones hesita entre comprar um sedan por 1000 dólares, um descapotável igualmente por 1000 dólares, ou não comprar nenhum deles, continuando sem carro. A análise mais simples leva-nos à conclusão de que Jones hesita entre três prazeres: o do sedan, o do descapotável e o dos 1000 dólares. O acaso e a incerteza parecem nada ter a ver com a situação. Mas podemos imaginar vários factores (futuros e incertos) que teriam influência na decisão de Jones: ele decidir-se-ia pelo descapotável se se concretizasse a sua esperança de umas férias num local quente; não compraria nenhum dos carros se 202 203 SAVAGE (1954) p. 83. SHAFER (1988) p. 224. 115 3. Análise económica do direito considerasse provável ver-se confrontado com uma emergência financeira devida a uma súbita doença; de bom grado compraria um carro se temesse uma elevada taxa de inflação. Shafer considera, com alguma razão, que é uma quimera pretender uma descrição suficientemente pormenorizada de todas as hipóteses que, a serem consideradas, permitiriam a Jones decidir de acordo com uma ponderação das respectivas utilidades e probabilidades. Shafer conclui que Jones decidiu comprar o descapotável porque ele e a mulher planeiam fazer férias no Novo México e não quer analisar todos os desfechos que tal viagem pode vir a ter, por um lado porque se sente incapaz de os seriar de acordo com as respectivas probabilidades, e por outro porque esses cenários alternativos não são “o objecto do seu desejo”. Assim, Shafer defende que o modelo de decisão racional não se aplica, pois que a decisão é anterior à eventual consideração das variáveis envolvidas. Mas como foi essa decisão tomada? Foi-o, seguramente, considerando factores que não estão contemplados na matriz de decisão apresentada, mas em uma outra que o indivíduo utilizou. O argumento de Shafer nada prova contra o homo economicus. Sendo consensual que nenhuma matriz inclui todas as variáveis possíveis, o problema está em escolher quais as que terão obrigatoriamente de constar da matriz adoptada pelo direito. Não será útil – porque completamente desfasada da realidade empírica – uma matriz que ignore variáveis que os indivíduos, sistematicamente, incluem e consideram para analisar os problemas. Mas, porque o normativo é sempre orientado para um objectivo – é sempre funcional – a escolha também não é completamente livre, estando vinculada a variáveis relevantes para esse fim. 116 3. Análise económica do direito O problema consiste em estabelecer uma ponte entre o descritivo e o normativo204. Pois que o normativo não pode abstrair da realidade empírica, mas também não pode corresponder-lhe 100% porque, nesse caso, deixava de ter carácter normativo. Ou seja, no plano normativo temos um modelo idealizado de análise e decisão, que corresponde ao modelo ideal. Não é, portanto, idêntico ao modelo real de decisão da pessoa real, mas sim uma construção que deve servir-lhe como referência. Mas para que seja funcional – efectivo – tem de obedecer a um parâmetro de compatibilidade com o modelo real. Não é normativo aquilo que prescreve o impossível. Na prática, trata-se de englobar os desvios (enviesamentos) no modelo de decisão racional, mas deixando ainda um espaço de tensão, que é a margem de normatividade do modelo. Sobre a tensão entre as dimensões descritiva, normativa e prescritiva da análise do processo decisório, cf. BELL/RAIFFA/TVERSKY (1988) p. 9-30. 204 117 4. O sujeito como operador racional 4 O SUJEITO COMO OPERADOR RACIONAL 4.1 Homem real e homo economicus O homo economicus não pode ser uma figura idealizada: tem de ser adaptado ao homem real. Tal só é possível se o modelo incluir as limitações do homem real fazendo-as suas205. Mas isto não significa, de modo algum, que devamos orientar-nos pelo critério do “homem médio”, e menos ainda por um critério individualizado, de acordo com o agente concreto. O direito não deve abdicar do seu carácter normativo. No caso da negligência, há que estabelecer um padrão de cuidado adequado à protecção (mínima) dos bens jurídicos. Trata-se, portanto, de estabelecer a ponte entre um padrão racional (ideal) e uma prática (concreta) racionalmente limitada. A concepção do comportamento racional como aquele que, sendo livre, se contrapõe ao comportamento em que o indivíduo, dominado pelas paixões, não controla o sentido da acção, dificultou durante muito tempo a Para Jolls, Sunstein e Thaler, o homem real difere do modelo económico em três aspectos: na racionalidade, na vontade e no interesse pessoal (self interest) – JOLLS et al (1998) p. 1476 ss. 205 118 4. O sujeito como operador racional construção de modelos explicativos para a conduta humana tal como é observável empiricamente. Se nos ativéssemos a tal conceito de racionalidade, teríamos de concluir que, frequentemente, as pessoas agem e optam “irracionalmente” – aliás, esse seria mesmo o padrão prevalecente na vida quotidiana. E, desse modo, na maioria das situações as pessoas não tomariam realmente qualquer verdadeira decisão, pois seriam influenciadas por factores afectivos que condicionariam irremediavelmente a sua vontade. A velha dicotomia entre razão e paixões, entre o espírito e os sentidos, teve expressão num dado conceito de racionalidade – todo ele impregnado por juízos valorativos. A razão seria, nessa perspectiva, apanágio do ser humano – como um patamar elevado a que só ele (e por vezes) acederia, e não como um método, um modus essendi et operandi. Mas se, pelo contrário, se entender a racionalidade como um processo com vista a atingir fins, aquela tornar-se-á uma característica habitual do comportamento humano (e não só)206. Repare-se na associação frequentemente feita entre a loucura e a “falta de sentido”, o comportamento inexplicável à luz dos pressupostos ditos “normais”207. Esta associação, muito difundida, traduz a noção Pode-se então concluir que os teoremas construídos com base numa abordagem “económica” do comportamento humano não são incompatíveis com os elementos “irracionais” desse comportamento. Desde logo porque, como afirma Becker, a primeira tarefa será definir o conceito de racionalidade – este não é um dado adquirido mas uma construção – BECKER (1962) p. 1 e (1968) p. 153. Tudo depende, portanto, da maior ou menos abrangência do conceito, que pode inclusive englobar as emoções. 207 A falta de “sentido” resulta de um desconhecimento da realidade imaginária em que o indivíduo está mergulhado. A decisão, aparentemente insensata, de A abater com um tiro de caçadeira o cão do vizinho que, como habitualmente, se dirigia a este para festejar o seu regresso a casa ao fim do dia, seria compreensível e adequada se o cão estivesse atacado de raiva, como “uma voz” assegurou a A. Também no caso das paranóias, por exemplo, o comportamento do indivíduo pode ser completamente racional, tendo em conta os factos como são por ele configurados. Em outros tipos de patologias, pode ser o relevo dado a factos reais – as reacções desencadeadas por estes – que se encontra profundamente alterado, desequilibrando a ponderação “normal” que estes assumiriam. 206 119 4. O sujeito como operador racional implícita de que as acções humanas correspondem a um plano que se põe em prática para atingir determinado fim208. A racionalidade será assim uma estratégia, ou, como diz Baron, referir-se-á a métodos de pensamento utilizados e esses métodos serão tanto mais racionais quanto mais eficazes forem para atingir os objectivos de quem pensa209. É necessário ter presente que os objectivos podem não ser egoístas no sentido mais imediato do termo. Se alguém deixa o emprego para se dedicar a tempo inteiro a cuidar de um filho que, em consequência de um acidente, ficou paraplégico, essa decisão é racional, em função do objectivo (cuidar do filho) e não satisfaz, pelo menos aparentemente, os interesses da mãe – embora se possa dizer que, em última análise, os satisfaz, pois o interesse em cuidar do filho, claramente, se sobrepôs ao de continuar a carreira profissional. Também a contraposição entre razão e emoção é falaciosa, até porque as emoções podem ser uma componente dos objectivos a atingir, e, portanto, constituírem elas próprias um objectivo “servido” pela racionalidade. Bem entendido, não se pretende negar que por vezes as emoções possam afectar a racionalidade do comportamento, actuando como forças externas. Por exemplo, o medo ou a raiva podem alterar a capacidade do indivíduo para gerir os meios disponíveis em ordem aos fins, ou mesmo a sua capacidade de percepção da realidade que o cerca. Mas estas serão situações excepcionais, ocorrendo raramente e apenas em casos extremos. As emoções devem, em qualquer dos casos, ser integradas no processo racional. Quando fazem parte do objectivo, serão tidas em consideração (tanto no plano descritivo como no prescritivo) na decisão E é impossível não notar a similitude com os pressupostos da acção associados às teorias finalistas. 209 BARON (2000) p. 55; na mesma linha, HASTIE/DAWES (2001) p. 249, afirmam que “a racionalidade da decisão respeita ao processo de escolha, não ao que é escolhido”. 208 120 4. O sujeito como operador racional sobre a melhor forma de o alcançar. Quando possam, previsivelmente, afectar o desempenho do sujeito, deverão ser contabilizadas como dificuldades a enfrentar no percurso delineado para alcançar o fim proposto210. Na concepção aqui defendida, emoções e racionalidade consistem em entidades de natureza distinta. As emoções são estados (agradáveis ou desagradáveis) enquanto a racionalidade é um método. Não são, portanto, comparáveis, mas podem inter-relacionar-se211. A convicção de que os agentes são racionais nas suas escolhas, decidindo de acordo com a “utilidade” que calculam vir a obter mediante a alternativa escolhida, foi ganhando uma adesão crescente a partir dos anos 80 do século XX212. Paralelamente, desenvolveu-se a contestação a esta mesma ideia, a partir da observação empírica de que nem sempre os agentes se comportam de modo racional, não correspondendo aos axiomas e modelos que foram sendo construídos213. Não me parece correcto, todavia, extrair desta observação nenhuma das seguintes (recorrentes) conclusões: a) os agentes não se comportam afinal racionalmente; ou seja, a afirmação inicial estaria errada; b) o comportamento dos agentes não pode ser reduzido a axiomas e modelos, de modo mais ou menos determinístico e constante, requerendo antes uma abordagem não-linear. Note-se que por vezes, como afirmam Jolls, Sunstein e Thaler, as pessoas respondem racionalmente ás suas próprias limitações cognitivas, minimizando assim os erros e os custos da decisão - JOLLS et al (1998) p. 1477 ss. 211 E, como veremos, influenciar-se mutuamente. 212 Dito de outro modo: “o comportamento é funcional” (behavioral is functional) – EINHORN/HOGARTH (1988) p. 113. 213 Sobre a tensão entre os modelos de racionalidade propostos pela teoria da decisão e o comportamento adoptado pelos indivíduos concretos, cf. TVERSKY (1996) p. 5 ss. 210 121 4. O sujeito como operador racional Contra a conclusão a) pode aduzir-se o seguinte argumento: é impossível conceber (e portanto uma nulidade teórica) um processo de decisão totalmente aleatório, entregue ao acaso. Esta ideia pode corresponder à realidade aparente do comportamento humano em diversas situações mas, além de encerrar uma contradição nos seus próprios termos, sofreu uma drástica redução a partir do momento em que se identificaram as dimensões não conscientes do ser humano, que comandam (e explicam) muitos dos seus actos, de outro modo incompreensíveis. Só pessoas gravemente afectadas na sua integridade mental tomarão “decisões” que não radicam em qualquer motivo – por muito absurdo, ou obscuro, que este possa parecer a terceiros. Mas, ainda que assim não fosse, e a racionalidade não correspondesse ao modus operandi do cérebro humano, ela seria uma imposição, já não ontológica, mas metodológica, sob pena de o estudo do comportamento humano se tornar inviável. Com efeito – e à semelhança do que acontece em todas as ciências – os modelos com que abordamos a realidade não têm necessariamente de corresponder à sua verdadeira natureza (nem sequer interessando discutir se essa verdadeira natureza existe ou é apenas uma expressão sem conteúdo): basta que sejam operacionais, isto é, que “funcionem”. Isto significa que, quando o modelo não “funciona”, estará apenas mal construído ou incompleto. Não passamos do plano científico para o mítico: corrigimos o modelo. O conceito de racionalidade aqui adoptado é o que entende como racional o aproveitamento óptimo dos meios disponíveis. Quer na composição do objectivo, quer no elenco dos meios disponíveis, transparecerão elementos afectivos214. Acompanhando Dawes, considerar-se214 DAWES (1988) p. 8. 122 4. O sujeito como operador racional -á que uma escolha racional é aquela que preenche três condições: a) baseia-se nas disponibilidades do agente (incluindo disponibilidades materiais e também estados fisiológicos, capacidades psicológicas, relações sociais e sentimentos); b) tem em conta as possíveis consequências da opção escolhida; c) quando essas consequências são incertas, a sua probabilidade é avaliada sem violar as regras básicas da teoria das probabilidades. Do exposto se infere que os modelos decisórios só poderão funcionar correctamente se introduzidas todas as variáveis relevantes, o que frequentemente não sucede. Nomeadamente, há a tendência para omitir os sentimentos e afectos, considerados erroneamente elementos “não racionais”, puramente subjectivos ou à margem dos modelos decisórios, quando, pelo contrário, são componente essencial de todo o processo que culmina nas opções humanas215. 4.2 Racionalidade limitada Ainda que partindo do pressuposto de que o indivíduo toma decisões de acordo com um processo racional como o descrito, não é possível escamotear que, com frequência, o comportamento humano, nomeadamente quando confrontado com situações de incerteza, se revela esquivo aos padrões da racionalidade. Foi Simon quem cunhou o termo “bounded rationality” (racionalidade limitada) para designar o processo simplificador, e por vezes enviesado, que Certas correntes, no entanto, consideram necessário atribuir estatutos diferentes aos gostos e às convicções. É o que sucede, nomeadamente, com as correntes tributárias das doutrinas de Harsanyi; para este autor, as divergências na percepção da realidade derivam de diferente informação (ou de diferentes quantidades de informação): em condições de igualdade, todos os indivíduos teriam acesso à mesma perspectiva da realidade. Nesta concepção, é evidente que as preferências, no que respeita a gostos individuais, não pertencem à mesma categoria das convicções. 215 123 4. O sujeito como operador racional os indivíduos utilizam com vista a optar entre as alternativas de que dispõem216. A relação entre a teoria da utilidade, com o correspondente conceito de racionalidade, e as teorias da racionalidade limitada, não tem sido pacífica Para alguns autores, a teoria da utilidade é principalmente normativa, enquanto a racionalidade limitada tem um carácter descritivo, sendo que a primeira postula a obtenção do máximo de satisfação, enquanto a segunda aceita que os indivíduos, por força das suas deficiências a nível de cálculo de probabilidades e dificuldades em enfrentar as situações de risco, visam apenas um resultado satisfatório (não necessariamente um maximum)217. Mas a vertente descritiva, ao ser tomada em conta pela vertente normativa, acaba por ser determinante para a construção desta, assim se gerando uma síntese das duas. Na realidade, a capacidade de fazer previsões (e o carácter prescritivo assim tornado possível) é o objectivo último de todas as teorias económicas. É nessa dimensão que elas podem ser úteis ao direito e por isso é importante ultrapassar o hiato entre a teoria e a realidade introduzido pela constatação de que a racionalidade humana é, afinal, uma racionalidade limitada218. Entretanto, uma outra perspectiva do problema tem sido proposta. Gigerenzer critica a concepção segundo a qual o ser humano, devido aos enviesamentos, é vítima de ilusões cognitivas que afectam a sua percepção e capacidade de julgamento. Em suma, rejeita a ideia de que a identificação de “heurísticas e enviesamentos” invalide a asserção de que o pensamento SIMON (1956) p. 129 ss. cf. SLOVIC/KUNREUTHER/WHITE (2000) p. 4 ss. 218 Admitindo que esta ultrapassagem seja conseguida, poderemos concluir, com Guthrie, que a racionalidade limitada (bounded rationality), nomeadamente através da prospect theory, é aplicável a todas as áreas do direito, pois “esclarece como as pessoas se comportam e o modo como o direito pode influenciá-las” – GUTHRIE (2003). 216 217 124 4. O sujeito como operador racional humano se rege segundo padrões de racionalidade. Aliás, Gigerenzer considera mesmo, com Selten, que a bounded rationality surgiu como forma de ligar – não de opor – o racional ao psicológico219. Contestando a abordagem da probabilidade feita pelos dois autores no seu estudo, Gigerenzer põe em causa a abordagem bayesiana, defendendo que as conclusões finais seriam diferentes se nos baseássemos em probabilidades frequencistas. Utilizando os mesmos exemplos, mas adaptando-os a uma abordagem frequencista, Gigerenzer conclui que os “erros” decrescem enormemente (de 80% a 90% das respostas para 10% a 20%)220. A alteração consiste, sucintamente, no seguinte: em vez de se pedir aos sujeitos uma estimativa para um evento, pede-se uma estimativa em termos de percentagem num conjunto. Contra isto pode-se argumentar que o indivíduo é convocado no quotidiano para formular juízos sobre um evento singular – e tendo em conta o problema de que nos ocupamos aqui, isto parece bastante evidente – sendo nessa base que raciocina e decide. Deste modo, há sempre que contar com os enviesamentos identificados por Kahneman e Tversky, bem como pelos autores que se lhes seguiram na mesma linha221. Mas Gigerenzer questiona a própria ideia de “erro” nos juízos feitos pelo sujeito, pois à partida não aceita que haja apenas uma resposta 222. Ora, a GIGERENZER/SELTEN (2001) p. 1. Num outro texto, Gigerenzer destaca que há vários caminhos para estudar os limites da racionalidade, contrapondo, nomeadamente, a abordagem psicologista (que destaca os desvios cognitivos) e a abordagem ecológica (que parte do exterior (do ambiente) para tentar compreender o processo mental – GIGERENZER (2001) p. 39. Também Selten, na caracterização que faz da bounded rationality, enfatiza que racionalidade limitada não pode ser confundida com irracionalidade – SELTEN (2001) p. 15 ss. 220 GIGERENZER (2002) p. 250. 221 Numa abordagem um pouco diferente, sobre o mesmo problema, pode ver-se SUNSTEIN (2002) capítulo 3 e passim. 222 GIGERENZER (2002) p. 244. 219 125 4. O sujeito como operador racional ser assim, haveria que demonstrar haver várias respostas, não alterando os dados do problema e colocada a questão da mesma forma – o que não nos parece ser conseguido pelo autor. A solução preconizada por Gigerenzer apenas coloca a questão de outra perspectiva: nada resolve sobre o problema que nos interessa aqui. O que se verifica, na realidade, é o indivíduo ser confrontado com situações (de risco) particulares e ter de decidir em contexto como vai reagir. Ao analisar mais adiante o exemplo dos cintos de segurança, verificaremos que o sujeito formula o seu juízo de cada vez que se desloca de automóvel, não considerando a probabilidade de acidentes numa concepção frequencista. Gigerenzer pretende que “the mind act as if it were frequentist”, mas não é isso que se constata observando o comportamento humano. É evidente, e sobejamente reconhecido, que o modo de colocar a pergunta condiciona a resposta. Naturalmente, pode-se retirar a conclusão de que (como pretendem Gigerenzer e outros) não há uma “norma”, uma resposta certa – mas para qual pergunta? 4.3 Desvios e limites Desde que, em 1956, Simon afirmou que a racionalidade ideal da teoria económica não corresponde ao modelo real do pensamento, foram já estudados e alvo de experiências inúmeros factores que distorcem o processo de decisão. Refira-se, a título de exemplo – que pode ser considerado particularmente relevante no âmbito da negligência - o efeito de negação provocado pela imaginação de acontecimentos especialmente perturbadores. A partir de um dado limiar, a perspectiva de uma consequência 126 4. O sujeito como operador racional extremamente negativa não parece ter qualquer influência na estimativa da probabilidade da sua verificação223 - o que poderá explicar por que correm algumas pessoas riscos elevados que deveriam, face à probabilidade de concretização e gravidade do resultado previsível, ser evitados a todo o custo. A valência do resultado previsível influencia também a estimativa das probabilidades: numerosos estudos têm demonstrado que os resultados positivos são geralmente considerados como mais prováveis do que os resultados negativos224. Este fenómeno poderá também influenciar a gestão de riscos, levando a subestimar a probabilidade de verificação de um dano em consequência da conduta adoptada. São numerosos os enviesamentos (biases) identificados e estudados, não havendo necessidade de os descrever e analisar aqui exaustivamente225. Limitar-me-ei a referir alguns dos mais comuns e que são susceptíveis de afectar o julgamento que o indivíduo faz sobre os riscos corridos e eventuais consequências226. Alguns destes enviesamentos afectam particularmente a avaliação das probabilidades, outros o processamento dos dados reunidos, etc. Porque, em qualquer caso, o resultado pode ser uma incorrecta gestão da situação de risco, não estabelecerei uma distinção formal entre eles ao enumerar alguns dos que mais frequentemente se repercutem na atitude do sujeito face ao cuidado objectivamente devido. PLOUS (1993) p. 125. Cf. PLOUS (1993) p. 134 ss. 225 Uma questão que se pode colocar e que reveste enorme relevância para a problemática da negligência é a de saber se também as pessoas colectivas estão sujeitas aos mesmos desvios e limitações na apreciação e processamento da informação, que têm sido detectados a nível dos agentes individuais. Por agora, não há ainda elementos que nos permitam tirar conclusões definitivas, mas os estudos efectuados parecem indicar uma resposta afirmativa (pelo menos no que toca a alguns dos enviesamentos) – cf. sobre esta matéria, com referência a vários outros autores, GUTHRIE (2003). 226 Para uma análise centrada na perspectiva da psicologia cognitiva, v. NOLL/KRIER (1990) p. 749 ss. 223 224 127 4. O sujeito como operador racional - Heurística da representatividade Tversky e Kahnemann testaram a resposta das pessoas ao seguinte problema: Houve um atropelamento e fuga, à noite, envolvendo um táxi. Na cidade, há duas companhias de táxis: a Verde e a Azul. Sabendo que: - 85% dos táxis da cidade são verdes e 15% são azuis; - uma testemunha identificou o táxi como sendo azul; o tribunal testou a fiabilidade da testemunha, em condições idênticas às do acidente, e concluiu que a testemunha identificava correctamente a cor dos táxis em 80% dos casos, falhando em 20%. Qual a probabilidade de o táxi envolvido no acidente ser azul? A maioria das pessoas questionadas estima que a probabilidade de o táxi ser azul é maior do que a de ser verde (desde > 50% a 80%) – quando, na realidade, acontece precisamente o contrário. Aplicando a fórmula de Bayes, conclui-se que a probabilidade de o táxi ser azul é de 0,41. Mas as pessoas tendem a desprezar os dados anteriores e a valorizar o facto de haver uma testemunha (dai a referência frequente a 80% - percentagem de casos em que a testemunha identifica correctamente a cor dos táxis à noite). Esta heurística leva a que o sujeito insira os dados em categorias familiares, a que não correspondem exactamente mas com as quais têm similitudes consideradas relevantes, nomeadamente a nível do aspecto que mais se salienta (subjectivamente) na origem desses dados. A falácia original consiste em proceder como se a analogia existente em certos aspectos fosse extensível a todos os restantes. 128 4. O sujeito como operador racional - Falácia do jogador É sabido por todos que a probabilidade de uma moeda atirada ao ar cair cara ou coroa é de 50%. Muitas pessoas têm tendência para pensar que, se uma moeda foi atirada, por exemplo, 5 vezes e caiu cara em todas elas, ao ser lançada uma sexta vez a probabilidade de cair cara é superior à de cair coroa pela sexta vez consecutiva. Na realidade, a moeda não tem memória (como é evidente), e a probabilidade, nessa sexta vez, mantém-se exactamente nos 50%. - Heurística da disponibilidade Como afirma Baron, “quando alguma coisa não está representada na nossa análise, tendemos a não pensar nela”227. O contrário é igualmente verdade: aquilo que está representado impor-se-á ao nosso pensamento, com tanta mais insistência quanto mais vívida for a representação. Temos, assim, que situações cuja presença é acessível e recorrente influenciarão o indivíduo levando-o a sobrestimar (ou subestimar) os riscos inerentes a dada situação. Naturalmente, os casos análogos que o indivíduo desconhece (ou que se apagaram da sua memória) não serão tidos em consideração. A disponibilidade depende, assim, da experiência de vida do sujeito. Mas não só: estudos efectuados demonstram que a disposição do sujeito pode afectar a disponibilidade dos exemplos a que este recorre - levando-o a evocar uns e “esquecer” outros. A consideração desta heurística pode ter grande relevância a nível de política criminal: a difusão de certos exemplos (acidentes, por exemplo) pode repercutir-se na disponibilidade dos elementos considerados pelo sujeito na análise que faz do risco de determinada situação. A prática seguida em alguns países de deixar em evidência, na berma das estradas, automóveis violentamente danificados em 227 BARON (2000) p. 142. 129 4. O sujeito como operador racional acidentes de viação insere-se na convicção de que estes provoquem nos automobilistas um impacto visual que os leve a moderar a velocidade e respeitar as regras de condução. Como referem Slovic, Kunreuther e White, qualquer factor que torne um evento intensamente memorável ou imaginável contribui consideravelmente para aumentar a percepção do risco de verificação desse evento228. - Lei dos pequenos números Verifica-se uma tendência generalizada (observada mesmo entre cientistas229) para extrair conclusões de uma amostra muito reduzida, sem considerar que uma tal amostra não é representativa da “população” em causa. A partir de constatações (retiradas da sua experiência pessoal ou de relatos ouvidos) as pessoas generalizam para todos os elementos pertencentes a determinada categoria (como é evidente, a formação das categorias é também ela uma construção). Assim, por exemplo, se A, lisboeta, tem um litígio de longa data com um vizinho e este é croata, não será improvável ouvirmos A afirmar convictamente que “todos os croatas são rudes e antipáticos”. Do mesmo modo, se, em cinco crianças numa sala, quatro preferem o brinquedo A ao brinquedo B, o observador pode ser tentado a concluir que as crianças (em geral) preferem o brinquedo A, numa percentagem de 80% - o que não corresponderá necessariamente à realidade230. Kahneman identifica 4 características básicas que acompanham este enviesamento231: SLOVIC/ KUNREUTHER/ WHITE (2000) p. 15. Cf. COHEN (1969). 230 Exemplo adaptado de KAHNEMAN/SLOVIC/TVERSKY (1982). 231 KAHNEMAN/SLOVIC/TVERSKY (1982) p. 29. 228 229 130 4. O sujeito como operador racional 1 - o indivíduo baseia-se numa pequena amostra sem ter em conta que as probabilidades contra a sua conclusão são (irrazoavelmente) altas; 2 - o indivíduo confia incorrectamente nas observações e na estabilidade do padrão observado; 3 - perante repetições, o indivíduo tem expectativas irrazoavelmente elevadas de que elas confirmarão as conclusões anteriores; 4 - o indivíduo raramente considera os desvios observados, pois tende a encontrar uma “explicação” para todas as discrepâncias. É fácil compreender que poucos enviesamentos estarão tão ligados à violação do dever de cuidado como a lei dos pequenos números. As características enunciadas supra correspondem, por exemplo, ao retrato típico do “condutor fora de mão na auto-estrada” ou a qualquer pessoa que, baseada na experiência anterior, reitera comportamentos negligentes, confiante de que, mais uma vez, eles não terão consequências desastrosas. - Ancoragem Kahneman e Tversky realizaram a seguinte experiência: pediram aos estudantes para calcular qual a percentagem de países africanos que faziam parte das Nações Unidas; à data (1972) eram 35%. Antes de responderem, era pedido aos sujeitos, divididos em dois grupos, para dizer se essa percentagem seria superior ou inferior a 10% (grupo A, por ex.) ou superior ou inferior a 65% (grupo B). Estes valores foram escolhidos aleatoriamente. Os elementos do grupo que designámos por A calcularam, em média, uma percentagem de 25%; a média dos valores finais calculados pelos sujeitos pertencentes ao grupo B foi 45%. Ou seja, os indivíduos foram influenciados no seu cálculo pelo valor que lhes foi referido inicialmente, no qual a sua atenção permaneceu “ancorada”. Experiências posteriores 131 4. O sujeito como operador racional demonstram que este valor inicial não só serve como ponto de partida para a estimativa como influencia a apreciação de toda a informação posterior232. A ancoragem é um enviesamento extremamente difícil de ultrapassar. A “primeira impressão” torna-se incontornável, condicionando todo o subsequente processo de raciocínio e de escolha (por isso pode-se entender aqui impressão no sentido gráfico do termo; há, aliás, quem defenda que este fenómeno está relacionado com modelos computacionais inscritos a nível neuronal233). Anulá-la torna-se, assim, uma tarefa semelhante à de desformatar e voltar a formatar. Este é o enviesamento mais próximo daquilo a que correntemente designamos por preconceito – na verdade, pode tornar-se mesmo uma predisposição. No plano do direito, tem-se confirmado que, por exemplo, o valor da indemnização pedida inicialmente influencia o valor atribuído a final; do mesmo modo, a pena pedida pelo Ministério Público funciona frequentemente como ancoramento para a pena fixada pelo juiz. - Endowement effect Instadas a atribuir valores monetários a objectos, as pessoas valorizam mais aqueles que lhes pertencem – ou seja, o valor atribuído ao objecto [para prescindir dele] não é igual ao valor atribuído ao mesmo objecto [para o adquirir]. O primeiro autor a identificar este enviesamento foi Richard Thaler234. Muitos exemplos podem ser dados para comprovar este enviesamento, resultando de numerosas experiências, das quais a mais conhecida será talvez a das canecas de café235: os intervenientes na experiência foram divididos em três grupos – Buyers, Choosers e Sellers. A este HASTIE/DAWES (2001) p.102. HASTIE/DAWES (2001) p. 58 ss., v.g. p. 62. 234 THALER (1980). 235 KAHNEMAN et al (1991) p. 195-197. V. também CAMERER (2000) p. 294 ss. 232 233 132 4. O sujeito como operador racional último grupo foi atribuída uma caneca (cujo preço, na loja em frente, era de 6 dólares). Foi então testado: i) por quanto estavam os Sellers dispostos a vender a caneca aos Buyers; ii) quanto estavam os Buyers dispostos a pagar pela caneca; iii) aos Choosers foi dado a escolher receberem uma caneca igual ou uma soma em dinheiro. Os valores (médios) atribuídos à caneca por cada um dos grupos foram os seguintes: Buyers: 2,87; Choosers: 3,12; Sellers: 7,12236. O elevado valor atribuído pelos Sellers justifica-se pelo endowment effect. Este mesmo fenómeno é referido por Kahneman e Tversky como resultando do que designam por “loss aversion” e foi também referenciado por Samuelson e Zeckhauser com a designação de “status quo bias”237. Ao contrário dos enviesamentos ligados ao cálculo de probabilidades, o endowment não está directamente relacionado com o (in)cumprimento do dever de cuidado. Se o referimos aqui, é porque ilustra de forma clara um dos pontos-chave de toda a Prospect Theory: as avaliações que os indivíduos fazem dependem do seu Ponto de Referência (reference point), e nisso residirá a explicação para muitas das aparentes inconsistências dos seus raciocínios. O fenómeno do reference point pode apresentar uma amplitude surpreendente. Baron refere alguns exemplos ilustrativos de como as reacções podem ser afectadas por este enviesamento. Vejamos dois deles: a) “Paul detém acções da Companhia A. No ano passado considerou a hipótese de as trocar por acções da Companhia B, mas desistiu da ideia; conclui agora que teria ganho 1200 dólares se o tivesse feito. George tinha 236 237 KAHNEMAN et al (1991) p. 196. SAMUELSON/ZECKHAUSER (1988). 133 4. O sujeito como operador racional acções da Companhia B. No ano passado, trocou-as por acções da Companhia A; conclui agora que teria ganho 1200 dólares se tivesse mantido o seu stock na Companhia B”. Face a esta situação, a maioria das pessoas considera que George estará mais descontente do que Paul. A reacção difere por a comparação se estabelecer entre acções e omissões238. b) “O Sr. C e o Sr. D deviam sair do mesmo aeroporto à mesma hora, em diferentes voos. Apanhados pelo trânsito, chegam ao aeroporto meia hora depois da hora prevista para o voo. O Sr. D é informado de que o seu avião partiu à hora marcada; o Sr. C é informado de que o seu voo se atrasou e partiu há apenas 5 minutos”. A maior parte das pessoas considera que o Sr. C terá ficado muito mais exasperado239. Aqui o factor determinante para a reacção das pessoas é o ponto de comparação (o que podia ter-se verificado). 4.4 Compreender para influenciar A estrutura básica do processo decisório é fundamental para compreender a omissão do cuidado devido (melhor dizendo: a opção de não cumprir o dever de cuidado) e poder, assim, actuar sobre os factores relevantes. Longe de “tout comprendre, c’est tout pardonner” o que importa, em termos de política criminal, é compreender para influenciar. É patente que nem sempre se pode confiar na capacidade dos indivíduos para avaliarem correctamente o risco e se determinar de forma racional. Isto reflecte-se, aliás, em muitas decisões legislativas (como as que impõem precauções destinadas a proteger o próprio destinatário da norma). Os estudos realizados sobre a atitude do indivíduo perante o risco têm revelado que a percepção do risco é deformada por factores que levam a 238BARON 239 (2000) p. 292. Ibidem p. 293. 134 4. O sujeito como operador racional que a probabilidade subjectiva seja muito diferente da probabilidade real. Além disso, o indivíduo tem tendência para avaliar a probabilidade de verificação de um dado resultado danoso reportando-se apenas àquele momento e não ao número de vezes em que adopta o comportamento arriscado. Ou seja, na realidade pode dizer-se que a avaliação do perigo (diminuto) ofusca de algum modo a avaliação do risco. Ou, colocada a questão noutro plano, estamos perante o que os psicólogos designam como falácia do jogador. Tome-se como exemplo o uso de cinto de segurança (exemplo estudado e utilizado por variadíssimos autores) Sabido, como é, que o uso do cinto de segurança pode salvar vidas em caso de acidente, é difícil de compreender por que persiste muita gente em não o utilizar, para mais quando arriscam (além da sua própria segurança, o que, à partida, devia constituir motivação suficiente) o pagamento de uma coima elevada. A explicação reside em que o indivíduo estima como muito reduzida, em cada viagem, a probabilidade de sofrer um acidente, e mais, um acidente no qual o cinto de segurança lhe serviria de importante protecção. O que não deixa de ser exacto; mas é também certo que, em termos gerais, há uma considerável probabilidade de tal vir a suceder240. O que acontece é que o indivíduo valora a consequência negativa cada vez que utiliza o automóvel, omitindo a perspectiva global. Esta característica produz uma probabilidade subjectiva (conjugado com outros factores, como o hábito, o incómodo no uso do cinto, etc.) que leva o sujeito a construir uma matriz em que é racional não usar o cinto, computadas todas as variáveis em jogo e sendo o valor da probabilidade de verificação da consequência negativa reduzidíssimo. Se, por algum meio, se conseguir alterar o valor que o indivíduo atribui a essa Como afirma Slovic “for the driver, the probability of a serious accident on the very next trip is rather small, but the probability of such an accident occurring sometime during the approximately 50000 trips taken in one’s lifetime may be quite high” – SLOVIC (2000) Introdução. 240 135 4. O sujeito como operador racional probabilidade, o resultado apurado através da mesma matriz será alterado em conformidade. Este fenómeno leva, em termos de política criminal, à consideração de várias soluções alternativas, direccionadas para as diferentes variáveis e já não apenas para a variável “resultado”. No exemplo em causa, não se conclui que as sanções previstas para a circulação sem cinto de segurança não sejam eficazes (mormente se acompanhadas de uma fiscalização que permita a sua efectiva e pronta aplicação); mas apenas que há que ter presente a hipótese de investir (alternativa ou concomitantemente) em medidas que actuem a outro nível, orientadas adequadamente no sentido de actuar sobre as percepções que os sujeitos têm da questão – os valores que atribuem a cada uma das variáveis presentes no modelo de risco. 4.5 Enviesamentos e desenviesamentos A Prospect Theory, criada em 1979 por Kahneman e Tversky, estuda o modo segundo o qual as pessoas decidem entre alternativas que envolvem riscos e/ou incertezas e propõe um método de análise que integra as respectivas condicionantes. Considera-se que o processo decisório se desenrola em duas fases: na primeira, o indivíduo cria heurísticas e ordena os resultados (outcome) possíveis; na segunda, atribui valores (utilidades) de acordo com os potenciais resultados e respectivas probabilidades e escolhe a alternativa que proporciona a mais alta utilidade. Desde 1956241 que se sabia que o processo decisório é afectado por enviesamentos, que condicionam a racionalidade da decisão. Muitos autores, além de Kahneman e Tversky, analisaram os enviesamentos patentes e propuseram estruturas interpretativas; alguns 241 SIMON (1956). 136 4. O sujeito como operador racional põem em causa a própria ideia de racionalidade, mesmo que assumidamente limitada (bounded rationality). Mas o que Simon veio dizer não foi que a teoria da utilidade esperada estava errada e devia ser posta de lado, mas sim que é necessário confrontá-la com desvios e limitações242. A racionalidade limitada deve ser encarada no exacto valor dos seus termos: não é um outro método, é o mesmo método mas com distorções que não correspondem à sua formulação pura. A questão que urge colocar é a seguinte: é possível “desenviesar”? Sim, pelo menos em parte. Fischoff refere algumas das estratégias que podem ser utilizadas para contrariar os enviesamentos, como por exemplo: confrontar as respostas encontradas com eventuais discrepâncias, evitando concentrar a atenção apenas em pormenores que as corroborem; decompor o problema em vários componentes; formular o problema de várias maneiras diferentes243. Aprender com a experiência, analisando os factos e cotejando-os com os respectivos antecedentes e com as previsões feitas, é outra forma de diminuir o impacto dos enviesamentos no futuro. Há, no entanto, que estar atento de forma a evitar a tendência para considerar, em retrospectiva, que os factos verificados eram previsíveis muito para além do que efectivamente eram ou, pior ainda, que de algum modo foram previstos quando não o foram (hindsight bias). A posteriori, tudo pode, evidentemente, ser explicado. Admitir a probabilidade de erro e aceitar a incerteza contribui para julgamentos mais exactos. Pelo contrário, a sobreconfiança (overconfidence) no que se sabia – exagerando a posteriori – produz uma sobreconfiança acerca do Note-se que Simon considera que o conceito de indivíduo racional é “endémico”, estando presente em todas as ciências sociais, que não o dispensam – SIMON (1988) p.64. 243 FISCHOFF (1982) p. 427 ss. Fischoff apresenta estas e outras sugestões para diminuir os enviesamentos num contexto muito específico, mas o método pode ser utilizado com carácter geral. 242 137 4. O sujeito como operador racional que se sabe244, desmotivando o indivíduo na busca de elementos de informação em que funde as suas conclusões. O conhecimento destes e de outros métodos correctivos dos desvios à racionalidade pode ser de grande utilidade em política criminal. E será seguramente desejável que (nos casos de negligência consciente) as pessoas colectivas, e mesmo as pessoas singulares, os tenham presentes, com vista a empenharem-se na anulação dos enviesamentos; estes podem estar na origem de opções pouco adequadas face às variáveis em jogo e ao fim visado. A questão principal, no entanto, subsiste: em última análise, devemos concluir que, afinal, o indivíduo não se comporta racionalmente – segundo os princípios de uma racionalidade económica? São as heurísticas e enviesamentos uma demonstração de comportamentos erráticos, não sujeitos a regras claras e, principalmente, não obedecendo a uma lógica de ponderação objectiva de custos e benefícios? Ou serão antes uma solução fácil e pragmática que, no final, acaba por se revelar menos onerosa do que se o indivíduo prescindisse delas245? Baron, a propósito da self-deception246, defende que esta acaba por consistir num outro processo racional, que cruza o processo inicial em curso, interrompendo-o: daí a aparência de irracionalidade247. Ou seja, o indivíduo ilude-se para evitar determinadas situações ou reacções à sua própria FISCHOFF (1982) p. 431. Para uma análise mais detalhada, com exemplos retirados de diversas áreas (desde acidentes nucleares aos efeitos de chuva ácida), cf. SLOVIC/FISCHOFF/LICHTENSTEIN (2000 [1979]). FISCHOFF et al (1993 [1981]) analisam, nos capítulos 9 e 10,os métodos que podem melhorar a análise do risco. 245 Fernando Araújo perspectiva os enviesamentos como heurísticas destinadas a gerir faltas de informação (frequentemente, em contextos de informação dispendiosa) reduzindo simultaneamente a complexidade das decisões – ARAUJO ((2007) p. 310. 246 Na self-deception tudo se passa como se o indivíduo se dividisse em dois eus, um que engana e outro que é enganado – e que não pode saber (conscientemente) que está a ser enganado. O eu-enganador cria no eu-enganado as convicções convenientes aos fins deste. 247 BARON (2000) p. 63. 244 138 4. O sujeito como operador racional incapacidade – e, neste sentido, também a self deception é racional. O mesmo pode dizer-se a propósito de inúmeras outras heurísticas. Por outro lado, como os desvios ocorrem principalmente na obtenção e selecção dos dados, não invalidam a aplicação do método racional segundo as regras estabelecidas. Vários autores consideram a intuição um contributo valioso para a tomada de decisão, v.g. em situações de stress248. Kahneman e Tversky , apesar de apresentarem algumas reservas ao recurso à intuição, destacam as suas vantagens e afirmam mesmo a sua indispensabilidade na escolha das variáveis, dos factores relevantes e dos valores iniciais considerados249. Indo mais longe, Hastie e Dawes chamam a atenção para o facto de as estratégias do processo decisório resultarem de milhões de anos de evolução selectiva e, a nível de cada indivíduo, aperfeiçoadas pela experiência ao longo da vida250. Se, como os mesmos autores reconhecem, o comportamento humano parece contrariar, frequentemente, as regras do comportamento racional, talvez o caminho certo seja tentar encontrar a “racionalidade” subjacente a esses “desvios”, buscando uma síntese entre a teoria normativa e as teorias descritivas. Daniel Isenberg analisa o papel dos processos intuitivos na actividade profissional quotidiana dos executivos, concluindo que aqueles se revelam de extrema utilidade. Segundo Isenberg, os executivos utilizam a intuição de cinco maneiras diferentes: 1. para se aperceberem de que há um problema; 2. na aprendizagem de novos padrões de comportamento; 3. na síntese de informação e dados da experiência; 4. como método de controlo das conclusões alcançadas por processos “racionais” e sistemáticos; 5. para obter soluções rapidamente, através de um processo cognitivo quase instantâneo que identifica e selecciona padrões familiares – ISENBERG (1988) p. 530-531. 249 KAHNEMAN/TVERSKY (1982 [1979]) p. 421. 250 HASTIE/DAWES (2001) p. 22. 248 139 5. Utilidade (subjectiva) esperada 5 UTILIDADE (SUBJECTIVA) ESPERADA “In choosing an act whose expected utility is maximal an agent is simply doing what he wants to do.”251 5.1 Em busca de um código comum. Como quantificar? A transposição dos valores subjectivos para um código comum, que os torne acessíveis a todos e objecto de análise externa, é uma condição essencial para a construção de modelos de decisão. Como veremos, na infracção do dever de cuidado o que está em causa é, geralmente, uma disfunção na valoração dos bens afectados no contexto de uma acção que comporta riscos. Sendo as valorações do foro pessoal, impõe-se encontrar modos de as tornar comparáveis, a fim de poderem ser inscritas numa matriz decisória que será alvo da análise crítica do julgador. RESNIK (1987) p. 99. Para Resnik, esta perspectiva é normativa, não descritiva. O agente a que se refere é um agente ideal que pode servir como referência, como guia. Resnik admite, contudo, que o agente real possa ponderar as utilidades e preferências segundo regras semelhantes às do agente ideal, através de um sistema de tentativas e correcções. 251 140 5. Utilidade (subjectiva) esperada Só através da quantificação dessas valorações será viável a comparação e trade-off entre os indivíduos ou entre estes e o Estado. Deverá, pois, encontrar-se um método adequado de as tornar mensuráveis. Todas as teorias que apresentam o processo decisório como ponderação de utilidades esperadas repousam na convicção de que esta tarefa é exequível. Por valor de um bem deve entender-se o valor que esse bem tem para o indivíduo, ou seja, a sua utilidade, pois é esta que é determinante (conjugada com as probabilidades de verificação dos resultados possíveis) da opção entre várias alternativas. A utilidade de um bem não é um atributo desse bem, mas uma qualidade que lhe é aposta consoante a função e o destinatário. Veremos, no capítulo 6, que as probabilidades, embora possam ser de natureza subjectiva e qualitativa, se expressam sempre em termos quantitativos; a sua subjectividade reside em consubstanciarem convicções do indivíduo, mas convicções sobre valores que têm expressão numérica. Não é assim no caso da utilidade. Por um lado, os sujeitos atribuem às alternativas valores que não são, na maior parte dos casos, expressos quantitativamente. Por outro lado, frequentemente, o determinante não é o valor em si mas a ordem de preferências252. Impõe-se, então, recorrer a uma Actualmente muitos autores, quer em economia quer na teoria da decisão, avaliam a utilidade de um resultado na medida em que este determina as escolhas do sujeito, não pretendendo aceder directamente àquilo que podemos designar como a utilidade experienciada. No entanto, autores como Kahneman e outros demonstram que a própria utilidade experienciada é mensurável e empiricamente distinta da chamada utilidade de decisão – Kahneman et al (1997). A abstracção da utilidade reportada directamente ao indivíduo, por sua vez, cria o risco de o sistema se tornar autopoiético e não contribuir para explicar o que subjaz à realidade das decisões observáveis. Note-se, contudo, que é o valor da utilidade decisória que serve de referente para o dever de cuidado: a negligência corresponde a uma utilidade decisória não admitida pelo Direito - e que, tal como qualquer outra, se infere a partir das escolhas feitas em concreto. Read, partindo das experiências relatadas por Kahneman, conclui que a utilidade decisória (decicion utility) não só difere da utilidade experienciada como pode induzir o indivíduo em erro – READ (2004). Mas é possível abordar a questão de outro prisma: há, seguramente, um enviesamento que leva à distorção [subjectiva] da experienced utility, tornando-a diferente do que aparece objectivamente. Se a subjectivarmos 252 141 5. Utilidade (subjectiva) esperada escala que nos permita graduar as utilidades subjectivas dos diferentes resultados (outcomes). Um dos modos mais fáceis de quantificar as utilidades consiste em atribuir-lhes valores monetários. Embora possa parecer que tal não é possível, dada a forma marcadamente qualitativa como o indivíduo atribui utilidades às alternativas que se lhe deparam, essa conversão tem sido conseguida com sucesso em inúmeras situações. O método de valoração consiste, na sua versão mais simples, em perguntar às pessoas quanto estão dispostas a pagar pelo bem (ou quanto considerariam aceitável para abdicarem dele). Este processo permite obter valores quantitativos para os gostos e preferências dos indivíduos e, em geral, avaliar o valor de qualquer bem para o qual não há valor de mercado. Tem sido utilizado, por exemplo, para decidir sobre políticas de saúde ou para definir a importância atribuída por uma comunidade ao ambiente saudável. Um outro processo, a que se recorre com frequência, consiste num sistema de apostas: estimando quanto o indivíduo estaria disposto a apostar em A1, A2… An, podemos encontrar os respectivos valores em forma de quantias monetárias. A conversão em valores monetários por esta via é, em teoria, sempre possível. Para quem se questione sobre como atribuir um valor monetário à integridade física253 convém recordar que as companhias de seguros dispõem de tabelas com os valores a atribuir a cada lesão susceptível de indemnização e a cada grau de incapacidade: perder um dedo, uma mão, um braço, etc. Também os danos morais, como se sabe, são convertíveis em dinheiro para assumidamente, ela coincide com a decision utility. É uma questão de conteúdo substancial dos nomes. 253 Pode-se mesmo equacionar opções complexas, como por exemplo: I tem de optar entre submeter-se a uma operação que, com probabilidade de 90% o curará e com probabilidade de 10% poderá causar-lhe a morte; ou, em alternativa, ficará sem ambas as pernas. 142 5. Utilidade (subjectiva) esperada efeitos de indemnização. Aliás, parafraseando Resnik254, se podemos atribuir valor monetário ao tempo, à força de trabalho, etc., não se vê por que seja impossível fazê-lo relativamente a qualquer vantagem ou preferência que o indivíduo deva considerar nas suas decisões. A principal dificuldade consistirá no valor do bem vida, que constitui, de certo modo, um caso particular. Pode a vida ser avaliada em termos monetários? Como calcular quanto vale uma vida? Se perguntarmos a alguém quanto está disposto a pagar para evitar a morte certa e imediata, seguramente que responderá que entregará todos os seus bens em troco da possibilidade de sobreviver. Significa isto que a vida, pelo menos para o próprio, tem um valor infinito, insusceptível de quantificação? Como afirma David Friedman, “o problema não consiste em multiplicar pelo infinito, mas em dividir por zero”255. Perante a hipótese de morrer, de nada aproveita ao indivíduo conservar qualquer parcela do seu património, pois, morrendo, não terá oportunidade de desfrutar dele. Ou seja, nessa eventualidade a utilidade do dinheiro será igual a zero – logo, a disponibilização de “todos os seus bens” não tem qualquer significado em termos de quantificação do valor em troca. Que o valor da vida não é, para o próprio, infinito, revela-o claramente o facto de o próprio indivíduo aceitar trocá-la, em certas circunstâncias, por outros interesses que ele considera superiores: num acto de heroísmo e abnegação no campo de batalha, por uma causa em que acredita, sacrificando-se para salvar os filhos, etc. Aliás, também para o direito o valor da vida não é absoluto, ao contrário do que muitas vezes se afirma. Se o fosse, não poderia ser sacrificado em legítima defesa (e, como se sabe, a nossa lei permite causar a 254 255 RESNIK (1987) p. 85. FRIEDMAN (2000) p. 95. 143 5. Utilidade (subjectiva) esperada morte ao agressor mesmo em casos em que não está em perigo a vida do defendente), nem poderia sequer o Estado enviar tropas para qualquer cenário de guerra. Considera-se, geralmente, que o modo correcto de calcular o valor subjectivo (monetariamente expresso) da vida será averiguar quanto está o sujeito disposto a pagar para evitar um risco x, ou, inversamente, quanto exigirá para correr determinados riscos na sua profissão256. Suponhamos que, por exemplo, na construção de uma estrada em condições adversas, é necessário que alguns operários trabalhem suspensos por uma corda sobre o abismo. Sabe-se, por experiências anteriores semelhantes, que uma pequena percentagem desses operários acaba por cair e morrer. Quanto é preciso pagar a mais para que haja voluntários para essa tarefa? Multiplicada essa quantia pela probabilidade de queda, obteremos o valor que o trabalhador em questão atribui à sua vida257. Este método tem, contudo, uma consequência absurda: teríamos de concluir que a vida de um pobre vale – para o próprio! – menos do que a vida de um rico258. Ora não parece legítimo tirar esta conclusão, que, além do Não é indiferente colocar a questão de um ou outro modo, como se sabe, e os valores obtidos não serão os mesmos. 257 Refira-se, de passagem, que este cálculo, realizado em inúmeras situações de assunção de risco, leva a valores entre 1 e 10 milhões de dólares – valor elevado, mas, como se vê, não infinito; cf. FRIEDMAN (2000) p. 97. 258 Na mesma linha de pensamento, veja-se o exemplo descrito por Adams: o Kakadu Park, na Austrália, é uma vasta área (cerca de 20000 km2), habitada desde há cerca de 40 000 anos e considerada sagrada pelos aborígenes. Nos anos 70 do século passado, uma grande empresa internacional manifestou interesse em explorar as jazidas de urânio existentes no parque. Os aborígenes opuseram-se, considerando um sacrilégio a invasão deste espaço até então preservado. Como decidir? Que valor atribuir aos interesses em confronto? E qual o valor que deve ter para o governo australiano a opinião pública da população em geral, que não via com bons olhos o desrespeito pela cultura aborígene? Não se pode comparar a disponibilidade para pagar [pela conservação do parque] dos aborígenes, que quase não dispõem de dinheiro, com a disponibilidade de uma grande empresa interessada na exploração mineira da região. Uma análise baseada nas atitudes de uma amostragem da população australiana, indagando quanto estariam dispostos a despender para que a licença fosse recusada (as respostas variavam entre 52 e 128 dólares por ano, o que, no conjunto, excedia os lucros previsíveis da exploração de minério), foi considerada base insuficiente 256 144 5. Utilidade (subjectiva) esperada mais, repugna à intuição e ao bom senso; o que está em causa, e originará a diferença, é antes um problema de utilidade marginal do dinheiro. Será mais correcto concluir que vale menos se avaliada directamente em termos monetários mas, se utilizado outro critério de avaliação, valerá provavelmente o mesmo. Além disso, é sabido que, em circunstâncias extremas, se a própria sobrevivência de um indivíduo e da sua família próxima depender daquele emprego, ele aceitará o risco a troco de bem pouco – o valor da vida será aqui determinado pelas leis do mercado e não reflectirá mais do que a dependência total relativamente ao empregador. Não seria, por exemplo, aceitável que, com base em situações de facto como essa, os tribunais impusessem o pagamento de uma indemnização menor a quem atropela mortalmente um sem-abrigo do que a quem atropela um próspero homem de negócios259. Da mesma forma, não é porque, em alguns países extremamente pobres, há pessoas dispostas a vender um rim que a integridade física dessas mesmas pessoas tem menos valor, abstractamente, do que a da restante população260. Fazer depender a estimativa do valor da vida do “preço” exigido para correr riscos leva ainda a outras distorções de raciocínio: devemos concluir que as pessoas que têm alta apetência por desportos arriscados valorizam menos a vida do que o cidadão cauteloso que faz um check-up anual, se preocupa com a alimentação, não bebe nem fuma? Há uma componente qualitativa que não pode ser desprezada na quantificação da para decidir, tendo o governo acabado por encomendar um estudo que levou dois anos a concluir e que utilizou métodos muito variados, incluindo entrevistas, estudos de peritos em várias áreas, etc. Para um desenvolvimento crítico dos problemas suscitados por este caso, cf. ADAMS (1995) p. 108 ss. Pode encontrar-se uma descrição pormenorizada da polémica no Outside Magazine de Março de 1999. 259 Estou a referir-me a indemnização atribuída pelo dano morte, directamente, e não a compensações devidas à família – essas, como se sabe, estão sujeitas a inúmeros factores de variação. 260 Sobre o valor operativo da compensating variation, num quadro de maximização de riqueza, v. KORNAUSER (1998) p. 679 ss. 145 5. Utilidade (subjectiva) esperada utilidade. Muitas pessoas, se confrontadas com a hipótese de pagar x por dez anos de vida sem qualidade ou a mesma quantia por oito anos de vida plena, optariam pela segunda hipótese261. A extrapolação e uniformização de valores atribuídos despreza erroneamente as variações individuais. Também a atribuição rígida de valores monetários às lesões da integridade física padece do mesmo defeito. Ficar sem uma perna não significa o mesmo para um contabilista casado sem filhos que para uma mãe solteira com um filho de seis meses que dela depende integralmente262. Apesar de todas estas limitações, a expressão da utilidade (do bem vida) em valores monetários pode ter relevância em certos casos. Como todos sabemos, os recursos estatais são escassos, não sendo possível acorrer a todas as necessidades. Daqui decorre que, por vezes, o Estado tem de fazer opções entre adoptar medidas que poderiam salvar um certo número de vidas ou, em alternativa, empregar o dinheiro para melhorar a qualidade de vida de um número muito mais elevado. Mais uma vez, não é correcto afirmar que o valor vida se sobrepõe sempre a todos os outros; se assim fosse, não suscitaria hesitações a opção entre gastar vinte milhões de euros para salvar, através de intervenções médicas muito dispendiosas, a vida de dez pessoas padecendo de uma doença rara, ou aplicar esses vinte milhões num programa de investigação que levaria com forte probabilidade à descoberta da cura para grande parte dos casos de cegueira (ou, por exemplo, em assistência pré-natal que reduziria para menos Este método de avaliação de utilidade, chamado time-tradeoff, tem revelado que os indivíduos, quando a duração da vida prevista é muito curta, são insensíveis ao factor qualidade; mas resulta desde que se trate de prazos alargados. 262 Rowe destaca esta diferença entre a importância que o mesmo resultado pode assumir para diferentes pessoas, considerando-a determinante para a resposta que os indivíduos apresentam perante o risco. Para o autor, a estimativa do risco é constituída por cinco passos, sendo o valor da consequência para a pessoa afectada o quinto passo – esse valor, conjugado com a probabilidade da ocorrência, é, segundo o autor, o que determina a resposta. ROWE (1988) p. 30-31. 261 146 5. Utilidade (subjectiva) esperada de metade o nascimento de crianças com deficiências): sempre prevaleceria o salvamento das dez vidas. No entanto, parece-me que, nessa hipótese, seria racional que o Estado, não podendo satisfazer todas as necessidades, investisse na assistência pré-natal, ou na investigação sobre a cegueira, com prejuízo das dez vidas. Todos sabemos, aliás, que muitas opções de investimento do dinheiro público são feitas de acordo com raciocínios deste tipo. Pode ter interesse reproduzir aqui um exercício mental proposto por Baron263: “Considere-se a pretensão de que a vida deve ser colocada à frente de tudo o resto. Suponha-se que uma companhia de seguros de saúde (para decidir quais os tratamentos que deve cobrir) tem de escolher entre salvar a vida do Sr. Smith pagando uma operação que custará milhões de dólares ou, em alternativa, pagar o tratamento da artrite a um milhão de segurados (escolho a artrite porque é uma doença dolorosa mas que geralmente não constitui ameaça para a vida). Se quisermos colocar a vida acima de tudo o resto, poderíamos decidir pagar a operação do Sr. Smith. Mas agora suponhamos que o sucesso da operação não é certo, mas apenas uma probabilidade (P). Suponhamos que P é 0,001. Continuaríamos a preferir a operação? E se P fosse 0,000001? Parece que haverá um valor de P suficientemente reduzido para alterar a nossa preferência. Se esse valor de P existe (superior a 0) então estamos, de facto, a negociar entre os dois atributos em questão – a vida e a dor”. Na realidade, é possível escalonar o valor quantitativo de qualquer utilidade264. O que não significa que não haja um limiar a partir do qual outras considerações se sobreponham ao referencial numérico alcançado. Voltaremos a esta matéria mais adiante, para referir não só os problemas que BARON (2000) p. 352 ss. As principais dificuldades residem em encontrar o método adequado para o fazer; mas, tratando-se de dificuldades, não impossibilidades, não invalidam a proposta. 263 264 147 5. Utilidade (subjectiva) esperada suscita mas também, e principalmente, as potencialidades que desencadeia. Aliás, casos há que, logo à partida, estão vocacionados para uma avaliação segundo outros parâmetros, como por exemplo, o desempenho dos serviços de emergência, ou a resposta a uma epidemia mortal265. Ao estabelecer o valor em termos monetários, convém não nos deixarmos confundir pelo facto de, regra geral, ninguém trocar uma mão, voluntariamente, pelo dinheiro da correspondente indemnização266. Do que se trata é de um cômputo entre valores abstractos, não de decisões que afectam seres individualizados. Mesmo no caso da morte, é uma morte estatística que pretendemos avaliar, não uma morte individual. Aceitamos que o Estado estabeleça relações de custo-benefício entre a despesa necessária para implementar determinadas medidas de segurança e o número de potenciais vítimas na ausência de tais medidas 267, mas seria impensável que o Estado negasse o auxílio necessário para salvar, por exemplo, a vida dos mineiros João e Aníbal, aprisionados por um aluimento, com o argumento de que o custo do salvamento era superior ao valor daquelas duas vidas268. Exemplos referidos por KEENEY/RAIFFA (1976) p. 138 ss. Penso, no entanto, que os parâmetros aí equacionados (tempo de resposta; número de mortes causadas pela epidemia) podem ser posteriormente convertidos em referências monetárias. Tomemos o caso da epidemia: se a questão fosse apenas evitar mortes, a opção seria, com certeza, o mínimo de mortes possível, de preferência zero. Mas qual o preço a pagar para alcançar esse objectivo? Se este último problema não se colocasse, não estaríamos a debater realmente uma escolha, uma decisão entre várias alternativas. 266 Embora haja casos em que o indivíduo se lesiona propositadamente para receber da companhia de seguros a compensação acordada, estes casos são raros e a todos os títulos excepcionais. 267 Linnerooth-Bayer analisa a relação entre a estimativa do risco pelos cidadãos e pelas entidades públicas de uma perspectiva crítica, questionando as eventuais cedências determinadas pela visão catastrófica que a população tem acerca de certas actividades susceptíveis de provocar danos elevados, ainda que a probabilidade de tal se verificar seja muito reduzida– LINNEROOTH-BAYER (1996) p. 133 ss. 268 Sobre esta questão, cf. VISCUSI (1998) p. 665. 265 148 5. Utilidade (subjectiva) esperada 5.2 Valor subjectivo e escalas de utilidade Se tivermos presente que lidamos com abstracções, a atribuição de valores monetários pode ser satisfatória em muitos casos, e tem a vantagem da simplicidade e acessibilidade a qualquer observador. Permite uma comparação linear entre valores e é geralmente eficaz na análise de um evento singular. No entanto, há que ter em conta os limites do seu campo de aplicação. Não só pelos motivos expostos, mas também porque se torna ineficiente na análise de eventos mais complexos - pois obrigaria à conversão em unidades monetárias de uma multiplicidade de factores de variadíssima natureza. Esta é uma das razões por que o valor subjectivo de um objecto pode, em certos casos, divergir fortemente do valor que lhe é geralmente atribuído. Suponhamos duas casas próximas, ambas com 100 m2 de área total: a casa A tem quatro divisões e uma pequena varanda; a casa B tem apenas três divisões, mas tem um esplêndido terraço com vista para o mar. Se calcularmos o valor das casas com base em preço/m2/localização, as casas A e B deverão ser postas à venda pelo mesmo preço. Se fizermos o cálculo com base em preços de mercado – regulados pela lei da oferta e da procura – deveremos ter em conta as características da população naquela zona. Suponhamos que se trata de uma população tendencialmente constituída por casais com um ou dois filhos em idade escolar: claramente, a casa A terá um valor de mercado superior. A casa B só será mais valiosa para um mercado de agregados familiares pequenos e com um poder de compra médio (se o poder de compra for baixo, as pessoas preferirão comprar uma casa com menor área e mais barata, pois o terraço constituirá um luxo que não quererão suportar). 149 5. Utilidade (subjectiva) esperada O mercado imobiliário é, aliás, um bom exemplo de como a atribuição de valores monetários resulta de um processo complexo, dependendo de múltiplos factores que influenciam o preço final – factores esses tão variados como área, localização (vizinhança, acesso a comércio, escolas, transportes), características do imóvel, etc. Se esta argumentação parece suportar a tese de que tudo é, afinal, convertível em unidades monetárias – pois, efectivamente, os imóveis são transaccionados por determinadas somas de dinheiro – demonstra também que o cômputo é muito complexo e, se exequível em termos de média – para uma população com determinadas características – pode tornar-se ineficaz quando queremos calcular o valor subjectivo (unitário) com expressão quantificada. A construção de escalas de utilidade revela-se, nestes casos, uma forma mais adequada de estabelecer preferências e comparar utilidades. Com efeito, se perguntássemos a um concreto indivíduo quanto vale uma vista para o mar, ser-lhe-ia difícil quantificar esse valor (subjectivo) em termos de “preço”; muito mais facilmente, no entanto, identificaria a sua opinião numa escala de x a y, pois esta permite situar o valor em termos de preferência (valor relativo) sem necessitar de estabelecer o equivalente numa quantia concreta. Enquanto os valores monetários obrigam a precisar uma utilidade cardinal (difícil de estabelecer e sujeita a grandes flutuações individuais, por isso de reduzida eficácia como código comunicacional) o sistema de escalas apenas requer a atribuição de utilidades ordinais. Se nos pedirem para dizer quanto vale, em dinheiro, um passeio no campo, teremos dificuldade em responder; mas será com certeza fácil dizer se (para nós) esse passeio vale 150 5. Utilidade (subjectiva) esperada mais ou menos do que uma ida ao cinema, ou mesmo situar esse valor numa dada escala269. Ao construirmos uma escala de utilidade, as preferências entre as várias alternativas (A1, A2… An) deverão ser nela inscritas de acordo com a ordem e intervalo que as separa; desse modo, poderá ser-lhes atribuído um valor numérico. Tratando-se de uma escala intervalar, as diferenças entre os vários pontos assinalados admitem interpretações que constroem um sentido, pois correspondem a uma relação entre as preferências do sujeito – ou seja, a escala capta a dinâmica inter-relacional para além dos valores (estáticos) inscritos. Este tipo de escalas, pelas suas características, está particularmente vocacionado – e tem sido utilizado – para registar atitudes, opiniões, sentimentos ou percepções (como por exemplo a dor – que é uma experiência irredutivelmente individual). Aliás, uma vez que o ponto zero não é fixo, mas inscrito arbitrariamente, o que interessa é a distância (o intervalo) entre os valores, que não têm um significado absoluto em relação a qualquer ponto, mas apenas valores atribuídos em função de uma hierarquia convencionada. Se, por exemplo, I deve escolher entre ir de férias para Tavira, para o Sul de Espanha ou para a Sardenha, e se I prefere a Sardenha a Espanha e esta a Tavira, teremos (por hipótese) numa escala de 0 a 10: Sobre a ordenação de preferências do decisor numa escala, cf. Keeney e Raiffa: depois de estabelecerem o modo de inscrição das consequências consoante a ordem de preferências, os autores conjugam a escala assim obtida com a ordenação das probabilidades estimadas pelo decisor. A partir da fórmula π‟ = ∑ pi πi (em que π corresponde ao valor ordinal na escala e p à probabilidade) os autores demonstram como os valores escalares condicionam a utilidade esperada e a escolha do indivíduo - KEENEY/RAIFFA (1976) p. 133-134. 269 151 5. Utilidade (subjectiva) esperada A1 A2 A3 T E S 0 10 Numa escala intervalar, a alteração dos valores inscritos só pode ser efectuada mediante uma conversão linear positiva, de modo a que se respeitem os intervalos. Esta conversão obtém-se aplicando a fórmula x’ = a+bx. Desta forma, é sempre possível converter uma escala em outra sem afectar os intervalos relativos das preferências (ou qualquer outra realidade) nela inscritas. Tudo se passa como se a distribuição das preferências ao longo da escala se deslocasse para a direita ou para a esquerda (conforme a componente aditiva a seja positiva ou negativa), mas mantendo as posições relativas. Graficamente, podemos apresentar deste modo o efeito obtido: original transformada A componente multiplicativa, por sua vez, vai ampliar os desvios mas respeitando as suas proporções. 152 5. Utilidade (subjectiva) esperada No exemplo das férias de I, se convertêssemos a escala supra numa escala de 1 a 20, e se T correspondesse a 2, E a 4 e S a 9, o resultado seria o seguinte: Xi Xi’ = a + bX T=2 T’ = 4,8 E=4 E’ = 7,6 S=9 S’ = 18,1 * sendo a = 1 e b = 1,9. Veríamos, então, que E não vale o dobro de T, pois os valores passariam a ser, respectivamente, 4,8 e 7,6. Assim se tornaria mais evidente que a opção A2 é relativamente indiferente a A1, o que pode influenciar a escolha do indivíduo a favor de A1, tendo em conta os restantes factores a considerar. Também por isso, é importante que a escala a construir seja intervalar: as transformações permitem interpretar melhor os dados disponíveis. Há ainda um segundo argumento de peso contra a referência a valores monetários com vista à construção de matrizes de decisão. Suponhamos uma empresa (WW) que comercializa um produto (milho colorido) cuja inocuidade para a saúde humana suscita dúvidas270. O que é importante contabilizar, para efeitos de tomada de decisão sobre a comercialização do produto, não é directamente o valor das vendas (quanto milho vende por ano a WW, por exemplo) mas qual a utilidade que isso representa para a WW: é diferente se constituir 50% das vendas, se a WW é 270 Este exemplo será retomado, desenvolvidamente, mais adiante. 153 5. Utilidade (subjectiva) esperada uma grande ou pequena empresa, etc. Bernoulli afirmava, na solução apresentada para o paradoxo de S. Petersburgo, em 1738, que cada aumento de riqueza produz um aumento de utilidade inversamente proporcional à quantidade de bens que o indivíduo já possui. Esta é uma verdade sempre presente, desde as grandes mudanças até às pequenas realidades do quotidiano (para utilizar um exemplo absolutamente banal: para alguém que chega a casa cheio de sede, numa tarde de Verão, o primeiro copo de água tem uma utilidade superior ao segundo, e assim sucessivamente, até que porventura o quarto ou o quinto não terá já qualquer utilidade para o indivíduo em causa). De certo modo, quando Bernoulli, no século XVIII, se referia a utilidade em lugar de valor, estava já a dar lugar à ideia de utilidade marginal271, ou seja, um valor que varia de indivíduo para indivíduo. Não há, realmente, um valor objectivo, mas apenas uma qualidade para o sujeito que depende da utilidade que aquele bem possa ter para ele naquele momento. Mesmo na formulação mais simples da utilidade subjectiva esperada, esta componente está presente. Se UE = ∑ (PiVi) (em que P é a probabilidade de cada alternativa e V o valor da consequência de cada alternativa) está ínsita na utilidade esperada a subjectividade do valor atribuído ao outcome. Conceito que só um século depois seria teorizado e desenvolvido, a partir dos trabalhos de Walras e Pareto, na Suíça e, em Viena, de Menger. A ideia de utilidade marginal estava efectivamente já presente no trabalho de Daniel Bernoulli, em 1738, e foi aflorada por Gabriel Cramer, contemporâneo de Bernoulli, e por vários outros autores ao longo do século XVIII. Mas só com a chamada Revolução Marginalista, no final do século XIX, a ideia de utilidade marginal ganhou aceitação generalizada e se desenvolveu, revelando todas as suas potencialidades. 271 154 5. Utilidade (subjectiva) esperada Se a quantificação da utilidade sempre foi uma tarefa difícil (constituindo, por isso mesmo, um dos calcanhares de Aquiles do utilitarismo) a introdução de uma maior dose de subjectividade no conceito deveria ter tornado essa tarefa praticamente impossível. Paradoxalmente, não foi isso que sucedeu. 5.3 Negligência, dever de cuidado e lotarias É certo que, durante um certo período, a quantificação da utilidade parecia, cada vez mais, ser incompatível com a expressão numérica. Mas as tentativas de resposta a esse desafio foram-se sucedendo e acabaram por alcançar resultados positivos. Ao indexarem Pi a Ui,, von Neumann e Morgenstern trouxeram de novo a possibilidade de adicionar utilidades. Estes autores configuraram a medição das preferências como uma lotaria, em que se pretende encontrar o quantum de risco que uma pessoa está disposta a aceitar para obter um determinado resultado. Há quem objecte que a teoria de Neumann/Morgenstern inverte os dados da questão, uma vez que se mede a preferência da pessoa pela lotaria e não pela utilidade do resultado, sendo esta inferida a posteriori a partir da aposta escolhida. Esta crítica não parece justa, uma vez que assenta numa ilusão: pois o que está subjacente à preferência pela lotaria é a preferência pela utilidade do outcome vezes a probabilidade de o obter. Por isso, precisamente, é que é possível, a partir da preferência pela lotaria, fazer o percurso inverso e chegar à utilidade do outcome. Note-se a coincidência entre o método defendido por estes dois autores e o método de aferição do dever de cuidado aqui preconizado: a 155 5. Utilidade (subjectiva) esperada acção do agente, numa situação de risco, traduz a sua aposta e, a partir dela, podemos avaliar da conformação com as valorações impostas pelo direito. O sistema de apostas de Neumann/Morgenstern pode ser aplicado a qualquer bem – independentemente de ter ou não valor de mercado. Tem ainda a vantagem de medir não só as preferências, mas também o grau em que as alternativas são preferidas, permitindo assim comparações mais exactas. Verifica-se, também, uma clara aproximação ao modo de calcular probabilidades subjectivas, de que falaremos no capítulo 6: em ambos os casos, encontra-se o valor de uma realidade através do quantitativo que o sujeito está disposto a apostar. Tanto em um como no outro caso, acabamos a trabalhar com valores (objectivos) construídos a partir das convicções subjectivas. Não há aqui qualquer contradição, na medida em que a objectividade é apenas operacional. Consegue-se, deste modo, construir um modelo que respeita integralmente a subjectividade, sem, no entanto, ficar dela refém. Transposta para o problema do dever de cuidado, esta perspectiva significa que a construção do direito pode integrar a vertente subjectiva sem deixar de impor parâmetros normativos. A graduação das alternativas de acordo com o preço de cada lotaria calculado este de acordo com uma lógica de maximização de utilidade – parece especialmente vocacionada para aferir da (potencial) negligência, uma vez que, nesta, está sempre em causa uma decisão tomada em situação de incerteza, ou seja, uma aposta que comporta riscos272. Seja qual for o processo utilizado para calcular e expressar utilidades, são inevitáveis certas disparidades entre indivíduos – obrigando a trabalhar Note-se que a teoria da utilidade não impõe preferências, fornecendo apenas regras sobre as relações entre preferências. 272 156 5. Utilidade (subjectiva) esperada com margens de variação alargadas se quisermos tirar conclusões aplicáveis em geral. Em parte, como vimos, estas disparidades serão determinadas pelas diferenças de utilidade marginal, que introduz alterações na utilidade que cada unidade acrescentada (ou retirada) tem para o indivíduo. Mas não só: a estimativa subjectiva é também alterada porque o ponto a partir do qual se gradua a utilidade não é sempre o mesmo. Este aspecto, que passou despercebido durante muito tempo, esteve na origem de graves dificuldades sentidas pelos teóricos da decisão, uma vez que as opções dos indivíduos pareciam não obedecer a padrões de racionalidade. Kahneman e Tversky tentaram encontrar explicação para os múltiplos desvios à “racionalidade” do processo decisório. Quando surgiu, em 1979, a Prospect Theory apresentava-se como uma tentativa de superar as deficiências apresentadas empiricamente pela teoria da utilidade esperada desenvolvida por Neuman/Morgenstern273. Relativamente à teoria da utilidade, a inovação da Prospect Theory consiste em não ser linear, incluindo no cômputo os enviesamentos (biases) susceptíveis de alterar a decisão que resultaria da aplicação de um modelo simples de utilidade subjectiva. Mas a principal alteração introduzida pela Prospect Theory, e que veio revolucionar a teoria da decisão, consiste na ideia de que os valores são calculados a partir do ponto de referência estabelecido de acordo com um framing a que o indivíduo procede. Podemos considerar dois aspectos fundamentais no chamado framing effect: a) o ponto de referência é geralmente situado no status quo e é a ele que as pessoas se reportam para fazer opções, e não ao outcome respectivo; O texto “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk” foi publicado pela primeira vez em 1979, na revista Econometrica XLVII p. 263-291. 273 157 5. Utilidade (subjectiva) esperada b) as pessoas têm atitudes diferentes quanto aos ganhos e as perdas não é igual perder 100 ou deixar de ganhar 100 – precisamente porque estão a reportar-se ao ponto de referência: quando não ganham, ficam como estavam, quando perdem descem relativamente ao ponto de referência. Os valores atribuídos são utilidades subjectivas, não têm a ver com valores monetários nem sequer com valores objectivamente mensuráveis, mas com uma ordenação subjectiva, estabelecida pelo indivíduo. Na verdade, segundo a Prospect Theory, o indivíduo não estabelece valorações (para efeitos de escolha) entre x e y, sendo x o primeiro valor da escala utilizada e y o último. Estes valores podem ser utilizados para cálculos de utilidade em abstracto; mas, em cada situação de incerteza com que se vê confrontado, o indivíduo mede as utilidades a partir de um ponto de referência que é pessoal. Cada unidade que ganha a partir desse ponto não representa o mesmo que cada unidade (de igual dimensão) que perde. Isto explica as (aparentes) disparidades de indivíduo para indivíduo e, mesmo relativamente ao mesmo indivíduo, as (também aparentes) incoerências. Permite também compreender grande parte dos fenómenos de aversão ao risco. O método e os padrões utilizados são sempre os mesmos e, repita-se, as incoerências, bem como as disparidades, são meramente aparentes. Tudo depende do ponto que serve de referência para as operações. Repare-se na função de valores construída por Kahneman e Tversky274: 274 Reproduz-se aqui a curva com as legendas originais. 158 5. Utilidade (subjectiva) esperada Da curva em S conclui-se que o efeito de qualquer alteração marginal diminui com a distância do ponto de referência, em ambas as direcções275. A “revolução” introduzida por Kahneman e Tversky consistiu em alterar o modo como são atribuídos os valores (introduzindo o reference point como valor de partida). Isto basta para deslocar a teoria da utilidade para um outro plano (é como transformar um modelo em duas dimensões num modelo a três dimensões). Em vez de se considerar o valor dos “objectos” finais, os valores são atribuídos em função de ganhos ou perdas relativamente a um ponto de referência. Este ponto é fixado pelo indivíduo; no entanto, é óbvio que está sujeito a manipulações externas que poderão influenciar as escolhas consequentes. Este é um perigo real, mas ter dele consciência pode ajudar à compreensão de determinados fenómenos e distorções, e constitui a melhor forma de desenvolver estratégias protectoras276. Vejamos, ainda, uma outra alteração de perspectiva produzida por estas inovações. 275 276 TVERSKY/KAHNEMAN (1988) p. 173. Sobre este ponto, cf. BARON (2000) p. 258. 159 5. Utilidade (subjectiva) esperada A teoria da utilidade esperada assume um carácter normativo (pois que visa estabelecer, objectivamente, a melhor escolha) enquanto a Prospect Theory tem carácter descritivo, ao reproduzir o modo como o indivíduo enquadra (framing) o problema no contexto, e a partir daí (desse “ponto de vista”) ele vai escolher a sua melhor aposta. A fase do enquadramento é, deste modo, determinante. Tversky e Kahneman dividem o processo de decisão em duas fases277. Na primeira, o indivíduo procede à análise preliminar do problema; o framing é condicionado pela forma como o problema é apresentado e também pelas normas, hábitos e expectativas do decisor. Na segunda, que se desenvolve dentro do quadro construído pela primeira, procede-se à avaliação e selecção da aposta mais valiosa, sendo que esta escolha pode ser efectuada de duas formas: identificando a aposta dominante ou comparando os valores entre si. Para a aplicação deste processo (ao problema de que aqui nos ocupamos, bem como a qualquer outro) é indiferente qual o ponto que se considera como de utilidade zero, pois que ele serve apenas de referência. Do mesmo modo, não é também relevante se contamos as utilidades como valores positivos ou negativos (custos ou benefícios, pois sempre os custos poderão ser vistos como benefícios não obtidos e os benefícios como custos não suportados). A decisão depende das diferenças entre utilidades – e estas não têm um valor absoluto, mas apenas relativo, dentro da escala. O que importa é manter o ponto de referência e a coerência entre os valores atribuídos278. TVERSKY/KAHNEMAN (1988) p. 172. Voltaremos a esta questão, pois ela não afecta apenas o cálculo da utilidade esperada, mas também os restantes elementos de todo o processo decisório. 277 278 160 5. Utilidade (subjectiva) esperada A teoria da decisão não distingue quanto aos conteúdos, e isto é precisamente o que permite utilizá-la para aferir da conformidade das valorações dos agentes com as exigidas pelo direito. De acordo com as regras da teoria da decisão, é sempre possível encontrar a racionalidade subjacente às opções (ou seja, compreender por que é racional para o obeso continuar a comer exageradamente, por exemplo). De um ponto de vista valorativo, não seria possível estabelecer essa racionalidade e seríamos levados a pensar que o agente não se conduzia racionalmente. Mas, porque não estamos a trabalhar com custos e benefícios, nem utilidades consideradas do exterior segundo um padrão préestabelecido (o que poderia considerar-se, de alguma forma, uma contradictio in terminis), é possível encontrar a matriz que configura racionalmente a opção. Não é nunca a decisão que é irracional, mas os valores atribuídos que podem ser disfuncionais face à matriz erigida como padrão. É a cisão entre a teoria da decisão como processo e o conteúdo substancial da opção que permite encontrar um modelo objectivo do dever de cuidado. Como disse já, enquanto a teoria da utilidade é normativa, a prospect theory é descritiva. Na fixação dos valores inscritos na matriz, o Estado guiase pela primeira, enquanto a segunda explica como decidem os agentes. Como estabelecer a ponte entre ambas? Até onde deve o Estado permitir desvios relativamente aos ditames da teoria da utilidade, cuja normatividade deve prevalecer? O equilíbrio conseguido nesta matéria, não sendo fácil, é, no entanto, crucial. Trata-se de encontrar o ponto onde os comandos são eficientes (na protecção do núcleo essencial de interesses sociais) sem deixarem de ser acessíveis aos destinatários – o que não só determinaria a sua ineficiência como violaria o princípio da culpa. 161 6. A acção como opção 6 A ACÇÃO COMO OPÇÃO O mito da negligência inconsciente 6.1 Toda a acção é uma escolha? A preocupação em delimitar um conceito de acção no âmbito do direito penal está associada a uma preocupação com a acção causal, ou seja, com uma perspectiva naturalista (e causalista) de causa-efeito. Na realidade, do que se devia cuidar era de opção e não de acção – o que, estando já subjacente nos conceitos de ilícito pessoal e de desvalor de acção, não foi, no entanto, levado às últimas consequências. A acção como momento central do direito penal define-se na realidade como a opção (aqui contidas a liberdade e a decisão pessoal) que consubstancia um desvalor penalmente relevante – integrando indissociavelmente o tipo penal. Ninguém esteve tão perto desta verdade como os finalistas; mas a tónica colocada na finalidade obscureceu o cerne da questão. É por isso que não logram compatibilizar a sua teoria com a negligência, e apenas muito parcialmente com a omissão. Por isso, também, facilmente resvalam para um 162 6. A acção como opção direito penal das intenções, cujos perigos são sobejamente conhecidos. Se, pelo contrário, tivermos em consideração que o importante não é, ao escolher determinado caminho, o ponto de chegada que se pretende alcançar mas o acto da escolha e o conteúdo material desta, o direito penal fica ancorado à projecção objectiva do indivíduo. Para a construção da negligência que pretendo efectuar, o importante não é a acção causalista nem a acção como expressão valorativa de um indivíduo; o importante é a acção como resultado de uma escolha, ou seja, como produto de um processo lógico. Ao entendê-la nesta perspectiva, o que me interessa são as consequências para a estrutura do ilícito (e não, como para a maioria dos finalistas, para a construção de um ilícito pessoal). São as repercussões a nível de ilícito objectivo que relevam para a identificação e delimitação do dever de cuidado, sem cuidar das (possíveis) implicações a nível do ilícito pessoal. A acção traduz um modus operandi que é prenhe de implicações, independentemente de qualquer juízo valorativo. Neste sentido, partilho, com a escola de Welzel, a pretensão de identificar uma estrutura ontológica de acção, mas não sobre a base da acção finalmente determinada, antes da acção como decisão perante alternativas. Pode-se afirmar que, enquanto a maioria dos finalistas coloca a tónica no porquê da “escolha” que a acção traduz, o que me interessa é o como do processo de escolha que culmina na acção. Analisar os “porquês” nesta fase é ceder (mais uma vez) à promiscuidade entre tipicidade e culpa, que tem sido uma constante no direito penal e contribui para a dificuldade em delimitar os exactos contornos do conceito de negligência. A acção é aqui final (na acepção voluntarista defendida pelo finalismo) não porque vise um fim (proibido) mas porque resulta de uma ponderação de custos e benefícios dos vários fins possíveis. 163 6. A acção como opção Esta minha posição não significa que partilhe com o finalismo a defesa do carácter ontológico da acção final como inerente à acção humana. Entendo que a “acção final” corresponde a uma abordagem entre muitas possíveis da acção humana, na qual se destaca o elemento relevante para o direito penal. Ou seja, o direito penal define o seu objecto seleccionando, de entre vários, aquele a que atribui relevância. O objecto seleccionado podia ser diferente – e, nesse caso, corresponder-lhe-ia outro direito penal. Para Stratenwerth, o verdadeiro cerne da teoria da acção final seria a restrição do âmbito do direito penal àqueles processos sobre os quais tenha existido pelo menos a possibilidade de interferência por meio de uma acção final, afastando-se, deste modo, a multiplicidade de eventos não domináveis279. Esta afirmação traz à luz a componente da vontade humana na construção do ilícito – ou seja, como categoria simultaneamente delimitadora e definitória, prévia ao juízo de culpa. A abstracção das manifestações externas da acção, em benefício daquilo que podemos designar por estrutura objectiva interna da mesma, permite alcançar a há muito almejada libertação do paradigma causalista. No que respeita à negligência, o dever de cuidado torna-se, nestes termos, uma instrução sobre o como e não um quid, não um referente fixo mas uma tensão em contexto. Deixa de constituir problema se o indivíduo “agiu descuidadamente” ou se não praticou os actos necessários para garantir o nível de segurança por que era responsável280. Em qualquer caso, o relevante é ter-se comportado de um modo considerado inadmissível pelo STRATENWERTH (2005) p. 201. Não estaremos aqui longe da formulação de Jescheck, segundo a qual a conduta humana é “resposta humana a uma exigência situacional conhecida ou, pelo menos, cognoscível, mediante a realização de uma possibilidade de reacção que está à sua disposição” – JESCHECK (1988) p. 201. E, mais adiante, o autor conclui que, se a conduta humana se traduz numa relação com o mundo circundante, é possível englobar (no conceito social de acção) tanto as acções dolosas como as negligentes. 279 280 164 6. A acção como opção direito – inadmissível porque se situa para lá do limite de risco considerado exigível. A ideia de acção, nesta perspectiva, corresponde basicamente ao conceito de conduta, o que, do mesmo passo, elimina a querela sobre a distinção entre acção e omissão. Como observa Jakobs, não interessa questionar se o indivíduo passou o semáforo vermelho (acção) ou se não parou no semáforo vermelho (omissão), pois que – acrescentaria eu – se trata afinal da mesma conduta, na qual radica o risco (proibido) concretizado no resultado281. Dito de outro modo: a acção desvaliosa consiste em um comportamento humano voluntário criador de um grau de risco inadmissível. É neste sentido – e apenas neste sentido – que importa falar do conceito de acção, ou seja, num sentido totalmente normativizado, no qual os factores naturalistas são apenas acessórios ou, quando muito, componentes não determinantes. Chegados a este ponto, estamos já a aglutinar a teoria social da acção com a teoria da acção final – o que não devia repugnar ao finalismo, atenta a sua concepção ontológica de acção282. Configurando a acção como opção, nos termos acima expostos, é inevitável enfrentar o problema suscitado pela negligência inconsciente, pois que, nesta, dificilmente se pode sustentar ter havido uma opção. Se o indivíduo desconhecia parte dos dados do problema, como defender que, ainda assim, decidiu pela acção arriscada e deve ser por isso responsável? Sobre esta questão, as opiniões dividem-se drasticamente. Sobre esta questão, com vários exemplos retirados da jurisprudência, v. GIMBERNAT ORDEIG (1994) p. 14-15. 282 Welzel defende expressamente que um dos propósitos do finalismo foi desde o início “a compreensão da acção como um fenómeno social” – WELZEL (1951) p. 53. Na sua crítica ao conceito de acção, Marinucci aproxima frequentemente a teoria finalista e a teoria social, por considerar que ambas partilham da mesma aspiração a delinear um conceito pré-jurídico e, nessa medida, se expõem às mesmas objecções – MARINUCCI (1998) p. 63 ss. 281 165 6. A acção como opção Para Köhler, a negligência inconsciente não pode ser um facto punível (criminalmente) porque não contém uma decisão voluntária283. Concorda, assim, com a posição de Arthur Kaufmann, segundo o qual a punição da negligência inconsciente atenta contra o princípio da culpa. Com efeito, Arthur Kaufmann defende que a negligência inconsciente não pode ser incluída nas condutas culposas, pois nela está ausente a vontade do indivíduo284. Já Roxin entende que é sempre possível manter sob controlo os perigos inerentes à vida em sociedade, e portanto também a negligência inconsciente está dentro do âmbito do direito penal e da punibilidade, mas não apresenta a fundamentação para a afirmação inicial285. Deverá ser afastada a punibilidade da negligência inconsciente, por respeito ao princípio da culpa, como pretende uma parte dos autores? Há resposta para as críticas avançadas por estes? Ou estará a questão simplesmente mal colocada? A distinção entre negligência consciente e inconsciente não tem, como se sabe, qualquer relevância a nível do tipo penal286. Não a tem, em primeira análise, porque seria impossível (pelo menos na esmagadora maioria dos casos) um observador externo concluir a posteriori se houve ou não um momento de hesitação antes de agir, mesmo que apenas breves segundos em que o indivíduo considerou o risco inerente à sua acção e resolveu agir287. KÖHLER (2000) p. 83. KAUFMANN (1961) p. 156. 285 ROXIN (1994) p. 1020. 286 Como afirma Mir Puig, esta distinção não tem hoje a importância que lhe foi atribuída durante o “império da teoria psicológica da culpa”, só sendo convocada na distinção entre negligência consciente e dolo eventual – MIR PUIG (2002) p. 281. Paula Ribeiro Faria defende mesmo que não é possível estabelecer uma distinção material por se tratar apenas “de uma distinção conceitual” – FARIA (2008) p. 725. 287 Como muito justamente refere Mir Puig “ex post a única coisa que se consegue realmente provar é que o indivíduo não acautelou o perigo” – MIR PUIG (1983) p. 14. 283 284 166 6. A acção como opção Mas não tem relevância por outro motivo: é que pouco importa para preenchimento do tipo penal, repete-se - se essa consideração consciente cruzou os pensamentos do agente. O que releva é que este infringiu os limites do cuidado exigido e o fez consciente dos factores determinantes para o risco. É por isso que, se o agente interpretou mal os factos externos relevantes, ou ignorava algum deles, estamos perante um erro sobre elementos do facto típico. Qualquer magistrado do Ministério Público, ao analisar um caso que configura uma possível negligência, tratará de saber se o hipotético autor conhecia a situação em que agiu – os factores de risco. Mas se os factores desse risco – que assumiu ao agir – foram ou não ponderados conscientemente, é algo que não faz parte das averiguações essenciais à conclusão do inquérito288: não é, geralmente, sindicável, mas também não é importante que o seja, visto que não afecta a decisão final do magistrado no sentido de acusar ou arquivar. Consubstanciará esta prática uma ofensa aos princípios por que se rege o nosso sistema penal? O que pretendo demonstrar é que a diferença entre negligência consciente e inconsciente corresponde, mais do que a uma realidade insindicável, a uma autêntica ficção, elaborada a partir de aparências. A ser assim, estão com a razão aqueles que recusam qualquer efeito prático a tal distinção. A relação entre pensamento reflexivo (uma certa acepção de racionalidade ou, como diz Epstein289, uma forma analítica e verbal de apreensão da realidade) e a apreensão intuitiva, imediata e impregnada de afectividade, não é oposta, nem mesmo paralela, sabe-se hoje. Damásio demonstrou que as emoções não só participam da racionalidade como são 288 289 Exceptuando-se, como é óbvio, a hipótese de dolo eventual. EPSTEIN (1944) p. 710. 167 6. A acção como opção indispensáveis à mesma. Ou seja, as duas abordagens do mundo formam um todo incindível, uma amálgama, pelo que a ancestral distinção entre “agir com a cabeça ou segundo o coração” não tem hoje qualquer sentido. Agimos de acordo com opções racionais que resultam da gestão dos dados em jogo e de acordo, também, com as emoções implicadas290. Neste processo, há seguramente uma parcela que permanece velada, inacessível à consciência (pelo menos no comportamento quotidiano) e uma outra – maior ou menor – que pode aflorar ao nível consciente. Qual a fracção presente no consciente e com que intensidade aí surge, é questão que pode ter reflexos na valoração da culpa, se assim se tiver por adequado. O que nos interessa agora é que – seja essa fracção maior, menor ou mesmo nula – o processo decisório deve ser considerado como um todo perfeito, traduzindo a opção e a autonomia do sujeito: ele é aquele que decide, é o gestor e o objecto de gestão. Entretanto, há que deixar desde já claro que a teoria aqui apresentada não radica em qualquer perspectiva de “automatização” do comportamento que possa remeter para a culpa na formação da personalidade ou, pelo menos, para a concepção de um comportamento social aprendido e interiorizado através do seu exercício repetido. Não que eu rejeite que esse fenómeno possa estar presente nas opções do agente – e com frequência está291. Mas ninguém pode ser responsabilizado por aquilo que é – sob pena de o direito penal se tornar uma ética imposta – tão só por aquilo que faz (projectando o que é)292. Do ponto de vista da adaptação ao ambiente exterior, deve mesmo considerar-se que as emoções desempenham um papel importante, permitindo decisões mais rápidas e filtradas por todo um processo de selecção natural que potencia a sua eficiência – cf. GIGERENZER/SELTEN (2001) p. 9 ss. 291 Alguns autores dirão que é mesmo parte integrante de todas as acções, como veremos adiante. 292 Sobre a problemática da culpa na formação da personalidade, v. por todos, DIAS (1976 [1995]) p. 87 ss. 290 168 6. A acção como opção Em suma, não pretendo explicar a punibilidade da negligência inconsciente através de nenhuma das teorias avançadas sobre a matéria – e designadamente a teoria da vontade. Pois qualquer delas incorre, genericamente, na inevitabilidade de um regresso ad infinitum em busca do momento em que se possa fundar o juízo de culpa. O meu ponto de partida é outro: com base numa realidade utilizada há muito no direito penal e a que os modernos estudos, quer de psicologia quer de neurologia, têm conferido base científica, contesto o próprio conceito de negligência inconsciente como produto de um processo irracional – no sentido de que a conduta do agente, nestes casos, não resultaria de uma ponderação e selecção dos factores relevantes em jogo. Já em 1964, Platzgummer apelava a um entendimento do conhecimento assente nos contributos da psicologia, contestando que tivéssemos de nos bastar com o conhecimento potencial nos casos em que não há sinais de conhecimento directo, reflexivo dos elementos relevantes para a responsabilidade penal293. Com base na distinção entre o objecto e o conteúdo da consciência e partindo da teoria de que há vários graus de consciência, construía uma terceira categoria, a da co-consciência. A ideia de que a consciência tem uma grandeza variável estava já presente em outros autores (como, por exemplo, Welzel) sem que tenham daí extraído todas as consequências. Platzgummer elabora a partir dessa perspectiva toda uma teoria fértil de repercussões para o direito penal. Assim, refere que o ser humano adulto vê todas as coisas à sua volta imediatamente como coisas com um determinado significado e sentido; esta “impressão”é construída, na maior parte das vezes, automaticamente e no próprio acto da percepção294. PLATZGUMMER (1964) p. 63 ss. O autor dá vários exemplos que ilustram este processo: ao vermos alguém com o respectivo uniforme, sabemos que estamos a lidar com um polícia, mesmo que não 293 294 169 6. A acção como opção Ou seja, vemos e identificamos as coisas que nos rodeiam num processo imediato e não reflexivo. Isto desenrola-se na co-consciência, que passa despercebida porque está sempre presente: como afirma Platzgummer – e a psicologia tem vindo a revelar – o seu âmbito é muito mais vasto do que geralmente se julga. Tudo atravessa a nossa co-consciência e esse conhecimento da realidade não é “não-real” mas sim uma (implícita) vivência consciente. Aqui chegados, uma outra observação se impõe: se é verdade que grande parte dos comportamentos do indivíduo em sociedade resultam, como inúmeros autores têm vindo a afirmar, de respostas estereotipadas, adquiridas anteriormente e automatizadas (como resposta-padrão à situação x ou y), não é menos exacto que, por um acto de vontade, o indivíduo pode bloquear essa resposta automática e substitui-la por uma diferente. A não ser assim, o indivíduo converter-se-ia em mero títere das suas experiências passadas, perdendo a autonomia existencial e, em última análise, deveria ser considerado inimputável. Se o sujeito pode aplicar ou não a resposta-padrão, de acordo com uma decisão livre, ele é tão responsável quando a substitui por outra como – integralmente – quando recorre a ela. Ainda que os meandros do processo decisório permaneçam fora da consciência reflexiva, correspondem sempre a uma selecção de alternativas e uma opção final que o sujeito tem de assumir como sua. reflictamos sobre isso; o agressor sexual de uma criança (sua vizinha) “sabe” que a vítima não tem ainda 14 anos, mesmo que naquele instante não pense na idade dela – ob. cit. p. 88. 170 6. A acção como opção 6.2 A questão da culpa Para a negligência, o importante é que o sujeito tenha consciência do risco (proibido) que está a criar voluntariamente. Esta consciência é pressuposta atentas as circunstâncias (à semelhança do elemento volitivo do dolo, que também, por vezes, é pressuposto: quem dispara uma arma apontada à cabeça da vítima, a curta distância, não pode invocar depois que não pretendia matar, pois tal é contrariado pela experiência comum da vida. Até demonstração em contrário – v.g. provando a existência de um erro: por exemplo, o agente julgava que a arma estava descarregada – pressupõe-se a existência de dolo). Da mesma forma, quem actue em circunstâncias que, segundo o juízo socialmente aceite, indiciam a criação de um risco proibido (por criação de risco ou aumento de risco previamente existente) está, à partida, a criá-lo consciente e voluntariamente, mesmo que venha depois afirmar que não teve consciência de tal facto. Essa não-consciência, a verificar-se, só poderá resultar de um erro (sobre elementos do facto) à semelhança do que ocorre no citado exemplo da arma. Ou seja, a conduta do agente está sujeita a juízos de presunção no quadro da experiência comum – que serve de necessário referente – cujo afastamento terá de resultar de adequada elisão. No caso da negligência inconsciente, o erro que possa ter conduzido à “inconsciência do risco”, existindo, será submetido ao crivo da censurabilidade (censurabilidade do erro) tal como sucede no domínio dos crimes dolosos. Fletcher debruça-se sobre esta questão no seu texto “The fault of not knowing”295, no qual defende, a final, que a negligência (inconsciente) pode 295 FLETCHER (2002). 171 6. A acção como opção sustentar a censura pelos danos causados. Tendo como ponto de partida que “a mens rea consiste em escolher agir erradamente”, questiona como pode a conduta de alguém que desconhece o risco sustentar uma condenação 296. O autor refere a posição de Jerome Hall, segundo o qual a negligência inconsciente não é uma base aceitável para a responsabilidade penal, mas não se mostra sensível a esta tese, uma vez que parece considerar as várias categorias da negligência como construções normativas, susceptíveis de ampla variação (o que, segundo Fletcher, poderá constatar-se comparando diversos sistemas jurídicos). A crítica de Jerome Hall, todavia, levanta questões que não são facilmente ultrapassáveis e requerem uma análise atenta e argumentos substanciais que a ela se oponham. O ponto de partida de Jerome Hal consiste, na linha de toda a filosofia desde Aristóteles, em tomar a possibilidade de escolha (ou seja, a acção voluntária) como base da culpa297. Considerando que há factores no passado de cada indivíduo que condicionam as suas atitudes ao longo da vida, v.g. o ambiente em que decorreu o período de formação desde a primeira infância, Hall põe em causa que o indivíduo deva responder pela não aquisição, no passado, de aptidões normais. É precisamente por rejeitar essa relevância de [culpa na] formação da personalidade que rejeita igualmente a responsabilidade por negligência inconsciente, a qual resultaria de uma atitude temerária adquirida ao longo de um processo iniciado na infância. Note-se que, embora elaborada no quadro do direito anglo-saxónico, a problemática abordada por Fletcher tem plena validade no direito continental. Aliás, Fletcher estabelece a ponte entre os dois sistemas, utilizando mesmo diversos exemplos retirados do direito alemão. Na verdade, por muitas diversidades que possam apresentar, todos os sistemas jurídico-penais actuais têm em comum a exigência de livre opção, sem a qual não é possível responsabilizar alguém pelos seus actos. 297 HALL (1963) p. 635 ss. 296 172 6. A acção como opção Cabe perguntar se, também na negligência consciente (e até mesmo no dolo), não haverá interferência desse EU estrutural que determina o modo de estar no mundo de cada indivíduo. Aquele que decide não é diferente daquele que reage, não é uma entidade abstracta que se contrapõe às tendências adquiridas que comandam os nossos actos “não reflexivos”. Hall parece considerar que o indivíduo, ao fazer opções conscientes, se liberta de todos os condicionalismos da sua personalidade adquiridos ao longo da vida (e caberia aqui acrescentar os condicionalismos introduzidos pelo património genético) e os controla, tomando uma decisão “livre”. O indivíduo será então responsável por essa decisão, pois ela resulta exclusivamente da sua opção, daquilo que ele quer e não daquilo que ele é. Mas como pretender que o indivíduo-que-decide é diferente do indivíduo que constitui a sua base de sustentação? Dito de outro modo: que outro EU existe que não seja EU? No século XXI, com todo o conhecimento adquirido no campo de genética e psicologia, a resposta só pode ser: o eu é apenas um e resulta da interacção entre todos os componentes, herdados e adquiridos. Voltamos ao determinismo, sendo levados a rejeitar os pressupostos elementares da responsabilidade penal (e, sobre este ponto, não se pode deixar de concordar com Jerome Hall)? Não necessariamente. O indivíduo-que-decide terá de ser visto como um gestor, que faz opções a partir dos elementos (condicionantes) de que dispõe. Como a população da aldeia diariamente invadida pelos leopardos a que se refere Kafka298, ele terá de integrar os seus limites na própria liberdade. Os condicionalismos inerentes a qualquer adulto não desaparecem no quadro de uma liberdade que, a acompanharmos Hall, seria mais uma afirmação de princípio do que uma conclusão demonstrada. Trata-se de um conhecido aforismo escrito por Kafka: “Leoparden brechen in den Tempel ein und saufen die Opferkrüge leer; das wiederholt sich immer wieder; schliesslich kann man es vorausberechnen und es wird ein Teil der Ceremonie”. 298 173 6. A acção como opção Regressando à vexata quaestio da negligência inconsciente, Hall defende que os danos causados negligentemente, ao invés dos dolosos, não afrontam os valores da comunidade, pelo menos em termos dignos de tutela penal299. O autor não justifica a afirmação, no entanto, nem se vê por que não afrontariam. Pelo contrário, nos tempos que correm, torna-se por demais evidente o abalo (quer material quer a nível da confiança e paz sociais) causado pelos comportamentos de risco susceptíveis de lesar bens jurídicos importantes e de causar, logo à partida, um clima de forte insegurança na comunidade. Mais fértil de implicações é a questão colocada um pouco adiante300: qual o grau de violação (do dever) exigido para que se justifique a punição do agente? A resposta parece, contudo, evidente: tendo em conta que o direito penal há-de constituir sempre uma última ratio, o grau de violação exigido será o necessário – não mais, mas também não menos – para a adequada protecção dos bens jurídicos dignos de tutela penal. E, desde logo, uma primeira triagem é feita ao exigir-se a verificação do resultado – como se sabe, a negligência não é punida na ausência de resultado, diferentemente do que sucede com o comportamento doloso301. Por último, Hall interroga-se sobre as vantagens da punição face a outras consequências como, por exemplo, a responsabilidade civil. Esta é uma questão válida mas que não respeita especificamente à negligência: a mesma dúvida pode ser colocada relativamente aos factos dolosos. Tomando como referência o texto de Hall, referirei ainda três outras questões aí suscitadas. A primeira está relacionada com o problema, já referido, da culpa por aquilo que se é. Contestando que os danos causados HALL (1963) p. 637. Ibidem, p. 638. 301 Os crimes de perigo constituem, em certo sentido, uma excepção a esta regra, pois aí pune-se a conduta arriscada (podendo exigir-se ou não a existência efectiva de um perigo) ainda que o risco criado não se tenha materializado em dano. 299 300 174 6. A acção como opção por negligência correspondam a uma “moral fault”, Hall afirma que o arrependimento que pode surgir a posteriori está apenas ligado ao facto de ter causado um dano (causado no sentido naturalístico), diferentemente do que acontece no dolo. Mas isto não é correcto, pois, frequentemente, os agentes recriminam-se por “terem sido descuidados”, por “não se terem apercebido dos riscos”, numa palavra: por terem procedido negligentemente. Mais pertinente será a interrogação, também suscitada por Hall, sobre como é possível, em termos penais, censurar alguém por ser imprudente. Trata-se de uma questão crucial, a ser resolvida fora do âmbito da discussão sobre a culpa na formação da personalidade a que aludimos supra. Sem prejuízo de voltarmos a este problema, desde já se afirma que, numa perspectiva de protecção de bens jurídicos, a conduta de alguém que actua estouvadamente, ainda que sem pensar, parece tão ou mais grave do que muitos comportamentos dolosos. Há, aliás, nos crimes negligentes, uma parcela de elementos comuns aos dolosos: o desvalor do resultado e a perigosidade objectiva da conduta. Não bastarão para fundar a ilicitude? Penso que, encontrado o desvalor da acção (questão incontornável, a que dedicarei o capítulo 9) a resposta deve ser positiva, justificando-se plenamente a intervenção do direito penal. A terceira questão emergente do texto de Hall que gostaria de abordar prende-se com a crítica feita pelo autor à perspectiva dita utilitarista: Hall argumenta que a ameaça da pena não poderá surtir efeito no caso da negligência inconsciente porque o agente não pondera os custos e benefícios, uma vez que, no momento de actuar, não tem consciência dos riscos criados pela sua conduta. Esta é uma objecção lógica que só pode ser ultrapassada invalidando um dos seus termos – ou seja, demonstrando o que parece absurdo: que o indivíduo pondera os custos e benefícios mesmo no caso da negligência inconsciente. 175 6. A acção como opção A resposta a estas questões radica, assim, na solução do mesmo problema: como responsabilizar alguém que não optou, pois que não se apercebeu sequer da opção a tomar? E a conclusão só pode ir no sentido de que a responsabilidade, nos termos em que a entendemos e que serão os únicos compatíveis com o direito penal, implica, necessariamente, a possibilidade de agir de outro modo. Se o dever de cuidado correspondesse apenas a um padrão delineado segundo critérios estritamente objectivos, deveria dizer-se que, mesmo alguém acometido por uma súbita e imprevisível incapacidade física que o impedisse, por exemplo, de ver, quando manejava uma máquina, e por esse facto viesse a causar um acidente, teria procedido negligentemente. Mas qual o cuidado a que estava obrigado? Como pode afirmar-se que alguém está obrigado a algo que não pode cumprir? Por outro lado, se optarmos por um critério subjectivo, ficaremos reféns das incapacidades individuais, permanentes ou acidentais, esvaziando de sentido útil a imposição do “que é capaz”. Fletcher considera que a distinção entre padrões subjectivos e padrões objectivos da negligência tem sido mal compreendida pois, em qualquer dos casos, é sempre possível encontrar uma base para a responsabilidade penal: ainda que o agente desconhecesse as potenciais consequências da sua conduta (e portanto não seja possível afirmar que ele optou por agir descuidadamente), poderá ser do mesmo modo responsabilizado “por não saber”302,303. O agente será responsável por criar FLETCHER, ibidem, p. 9. Pode ser interessante estabelecer aqui o paralelo com o que se verifica nos casos do artigo 16.º do Código Penal: ao admitir que o erro seja, em certas circunstâncias, censurável, punindo assim o agente a título de negligência (artigo 16.º/3) estamos a atribuir consequências penais a condutas que o agente adoptou no total desconhecimento sobre as reais consequências – pois que não só desconhecia os exactos contornos da realidade (inconsciência) como inclusive supunha uma realidade diferente. O agente, a ser punido, no âmbito desta disposição, sê-lo-á a título de negligência inconsciente (pelo menos na grande 302 303 176 6. A acção como opção um risco não razoável, ou seja, a omissão do dever de cuidado, para Fletcher, deverá ser sempre encarada como uma acção – a acção de “introduzir no mundo” um risco injustificado304. A partir desta abordagem, pode conceber-se a existência de situações em que o dever (de cuidado) consistiria em o agente ter-se informado, à partida, dos riscos inerentes à acção projectada305. Na perspectiva que defendo sobre esta questão, será então necessário, para estes casos, distinguir entre duas espécies de negligência inconsciente: a negligência aparentemente inconsciente, aquela em que há um conhecimento e ponderação dos riscos a nível da consciência periférica ou co-consciência, nos termos expostos supra; e a negligência efectivamente inconsciente, em que o indivíduo não chegou mesmo a aperceber-se dos riscos existentes, por falta de informação306. Para esta, ao contrário do que pretende Fletcher, parece-me ser inevitável recorrer ao paralelo com a omissão. E o dever de informação fundar-se-á numa “responsabilidade” inerente à decisão de agir (à conduta arriscada). Na verdade, nestes casos subsiste ainda o momento essencial da opção (essencial para a ilicitude), só que em lugar de ser uma opção por uma acção com riscos X, é uma opção por uma acção cujos riscos se desconhece – mas cujo potencial de riscos se conhece, em abstracto. maioria dos casos, uma vez que quase só a título académico podemos configurar a hipótese de ele ter ponderado um possível erro de percepção sem se cair no dolo eventual). Não consta, todavia, que, por isso, alguém defenda que o erro deva excluir liminarmente a punibilidade: o agente será punido por “não saber” quando esse desconhecimento era evitável. 304 Não me parece, pois, justificada a crítica de Rabin quando afirma que Fletcher elide a distinção entre o indivíduo que é indiferente à necessidade de se informar e o indivíduo que nem sequer tem a noção da necessidade de se informar – cf. RABIN (2003) p. 431. Fletcher não elide o problema, simplesmente coloca a questão do (des)conhecimento dos riscos num outro plano. 305 Não se pode, também, esquecer que, desde logo, a atitude perante a situação em causa pode condicionar o grau de atenção e detecção dos riscos envolvidos – cf. WHITE (1991) p.33. 306 Simons chama ainda a atenção para a dificuldade em distinguir entre situações em que o agente não tem consciência do risco daquelas em que tem uma consciência imperfeita ou incompleta – SIMONS (2002) p. 20. 177 6. A acção como opção Exemplificando: conduzir um veículo é indubitavelmente uma acção que provoca riscos (em abstracto). A condução do veículo Y no momento Z envolve riscos que o agente pode (negligência consciente/aparentemente inconsciente) ou não (negligência efectivamente inconsciente) conhecer. Mas, mesmo neste último caso, o agente sabe que a condução, em abstracto, implica riscos e tem o dever, inerente à projecção da sua actividade no mundo externo, de se informar correctamente antes de agir. Este risco abstracto inerente a cada actividade é obrigatoriamente do conhecimento de qualquer indivíduo inserido socialmente e imputável. A negligência apresenta-se, assim, como a criação de um grau de risco desaprovado. É a escolha de uma conduta. O dever de cuidado é aferido no momento em que há opção (ou não seria um dever). Reporta-se sempre a algo voluntário, a uma conduta humana. Por exemplo, o cirurgião que opera distraído, ou com sono, e por esse motivo produz um corte inadequado, lesionando o doente, foi negligente ao operar (mal), não ao cortar 1 cm mais do que o indicado. Seavey refere o exemplo do condutor principiante (com a concomitante inexperiência)307. Não se lhe pode exigir, obviamente, as capacidades que só com a prática é possível adquirir; esperase, então, que não conduza, de início, nas artérias mais movimentadas. Mas, pergunta Seavey, que dizer se, por razões excepcionais e inesperadas, a rua ficar de repente cheia de trânsito? Seavey conclui que, de qualquer modo, não se pode exigir do condutor principiante segundo o mesmo padrão que do condutor experiente308. Poderá sempre argumentar-se que há, pelo menos, um padrão mínimo que mesmo o condutor principiante deverá ser capaz de SEAVEY (1927) p. 27. Rabin afirma que este padrão (entendido como o padrão de um homem razoável) é “uma ficção” pois contraria o postulado de que “errar é humano” – RABIN (2003) p. 432. Mas o homem razoável é aquele que, errando, pondera, precisamente, a probabilidade de errar em confronto com a vantagem visada e com a gravidade previsível do seu (eventual) erro – em suma, decide conforme o risco e o seu interesse em agir, fazendo uma gestão razoável do risco. 307 308 178 6. A acção como opção atingir, caso contrário não devia, simplesmente, conduzir (e não é por acaso que a condução de veículos está sujeita a aprendizagem, exame e licença,) uma vez que a condução implica perigos para terceiros e não é uma actividade indispensável ao condutor (embora tenha vantagens para ele, obviamente). Diria então que o condutor, ainda que principiante, deverá ter as capacidades bastantes para satisfazer as exigências objectivas de cuidado. Mas (por força das inevitáveis variações individuais) sempre haverá principiantes menos aptos inicialmente; e se, numa rua geralmente pouco movimentada, se virem confrontados com uma situação de emergência? Ainda assim, terão de atingir o mínimo admissível; para além disso (e admitindo que o seu “mínimo” não seja suficiente, pois um principiante não adquiriu ainda os automatismos necessários para fazer face a situações mais complexas) haverá que ponderar qual a probabilidade de tal acontecer versus a utilidade da deslocação para o agente309. A ponderação sugerida permite também conciliar as particularidades individuais com um padrão objectivo de cuidado. Pois que o valor de P (probabilidade de se verificar a lesão do bem jurídico) está obviamente dependente das qualidades do agente; logo, o resultado final da ponderação dependerá também destas. No caso do condutor principiante, a conclusão vai depender de P1 [de haver trânsito intenso (inesperadamente)] e P2 [de, nesta eventualidade, o agente provocar o dano]310. Rabin, no seu comentário a Fletcher, analisa um problema semelhante a propósito do caso Roberts v. Ramsbottom: um idoso de 73 anos sofreu um ligeiro ataque cardíaco, de que não se apercebeu e, não tendo consciência de que não se encontrava em condições de conduzir, veio a provocar um acidente – RABIN (2003) p 431. Tal como no caso do condutor principiante, concluímos que a responsabilidade dependerá, também neste caso, de uma ponderação de probabilidades. Obviamente, terá de se concluir que o indivíduo não está obrigado a prevenir eventos raros e improváveis que afectem a sua capacidade de gerir os riscos. 310 Simons admite ainda que o agente possa compensar a sua inabilidade com outras precauções (aumentadas) que conduzam a um equilíbrio nessa ponderação – SIMONS (2002) p. 19. 309 179 6. A acção como opção 6.3 A ficção da negligência inconsciente Podemos concluir que, nos casos de negligência inconsciente, ao contrário do que geralmente se afirma, há um momento de ponderação da realidade e de decisão sobre a acção? Num artigo publicado em 2006 na Newsletter of the European Working Group,311, “Multicriterio Aid for Decisions”, Slovic estabelece um quadro comparativo dos sistemas analítico e experiencial do pensamento, que aqui se reproduz: Sistema 1 Sistema experiencial Afectivo: orientado pelo prazer/dor Conexões por associação Conhecimento mediado por sensações provenientes de experiências anteriores Representa a realidade através de imagens, metáforas e narrativas Processamento mais rápido: orientado para a acção imediata Válido por auto-demonstração: “experienciar é acreditar” Sistema 2 Sistema analítico Lógico: orientado pela razão Conexões por avaliação lógica Conhecimento mediado por avaliação consciente dos eventos Representa a realidade através de símbolos abstractos, palavras e números Processamento mais lento: orientado para a acção retardada Requer justificação através da lógica e da comprovação 312 311 Série 3, n.º 13, Primavera de 2006, acessível em www.inescc.pt/~ewgmcda/op.slovic.pdf. 312 System 1 System 2 Experiential System Analytic System Affective: pleasure-pain oriented Logical: reason oriented (what is sensible) Connections by association Connections by logical assessment Behavior mediated by feelings Behavior mediated by conscious from past experiences appraisal of events 180 6. A acção como opção Depois de demonstrar com alguns estudos efectuados a afirmação de que os dois sistemas são interactivos, Slovic, partindo da construção de Kahnemann segundo a qual é o sistema experiencial (Sistema 1) que controla as decisões a não ser quando modificado ou ultrapassado pelas operações do sistema analítico (Sistema 2) 313, conclui que os erros do julgamento intuitivo traduzem o fracasso de ambos os sistemas (na medida em que o Sistema 1 origina o erro e o Sistema 2 falha na detecção e correcção do mesmo). Esta interdependência – que é concordante com a minha posição sobre a negligência inconsciente, ao recusar a sua a- -racionalidade – pode ter consequências profundas a nível de política criminal, pois leva a que seja possível influenciar o comportamento dos agentes, quer actuando sobre as bases do seu Sistema 1 quer através do reforço do seu Sistema 2. Como referi, Slovic partiu das conclusões de Kahnemann; este último enunciou na sua Prize Lecture, em Dezembro de 2002, os traços essenciais da função cognitiva revelados por um estudo de décadas. Haverá duas formas de função cognitiva: a intuitiva – na qual os julgamentos e decisões são feitos de modo rápido e automático - e uma forma controlada, que é reflexiva e lenta. A intuição ocupa uma posição intermédia entre as operações automáticas da percepção e as operações deliberadas e racionais. Temos, portanto, dois sistemas operativos, o intuitivo e o racional, cujos contornos são actualmente mais ou menos consensuais entre os psicólogos, Encodes reality in concrete images, Encodes reality in abstract symbols, metaphors and narratives words, and numbers More rapid processing: oriented Slower processing: oriented toward toward immediate action delayed action Self-evidently valid: Requires justification via “experiencing is believing” logic and evidence 313 KAHNEMANN, Daniel (2003): p. 697 ss. 181 6. A acção como opção correspondendo, grosso modo, ao quadro que reproduzimos supra. O julgamento intuitivo utiliza conceitos e percepções e pode ser traduzido em palavras, sendo que este julgamento, desenvolvido no Sistema 1, é aprovado, pelo menos passivamente, pelo Sistema 2 – e aqui reside a principal inovação trazida por Kahnemann. Se os pensamentos intuitivos surgem, inicialmente, de forma espontânea, por que são alguns acessíveis à consciência e outros não? A própria percepção é selectiva, “o mestre de xadrez não vê o mesmo tabuleiro que o principiante”314. Este fenómeno alerta para o facto de que a acessibilidade do real é influenciada por factores afectivos e endógenos mas, se o indivíduo estiver motivado, pode alterar a acessibilidade, através de um acto de vontade. Segundo Kahnemann, a percepção é uma escolha percepcionamos o que escolhemos, mesmo que não tenhamos disso consciência. Esta conclusão coincide com a perspectiva de Gerry Klein, cujos estudos demonstraram que os indivíduos com larga experiência em determinada actividade, e trabalhando sob pressão, raramente têm de escolher entre várias alternativas de opção porque, na maioria dos casos, apenas uma opção lhes ocorre – as restantes são rejeitadas antes mesmo de emergirem na consciência315. O controlo exercido pelo Sistema 2 sobre o Sistema 1 é de molde a permitir a conclusão, avançada por Kahnemann, de que o Sistema 2 está envolvido em todas as acções voluntárias – incluindo aquelas que são evidentemente expressão de julgamentos intuitivos, originados no Sistema 1. Os estudos realizados nos últimos anos demonstram que a eficácia do KAHNEMANN (2003) p. 700. Trata-se do conhecido método Recognition Primed Decision Model (RPM.). Apresentado em 1989 por Gerry Klein, R. Calderwood e A. Clinton-Cirocco, e inspirado nos trabalhos precursores do primeiro, descreve o processo através do qual os decisores podem identificar uma opção correcta numa primeira abordagem, aparentemente sem reflexão e de modo intuitivo. Abordaremos o trabalho de Klein mais à frente. Sobre as origens do método, cf. ROSS et al (2004) p. 6 ss. 314 315 182 6. A acção como opção Sistema 2 é prejudicada pelo envolvimento simultâneo em outras tarefas cognitivas, pela hora do dia e pela disposição do indivíduo. Porém, o que varia é apenas o grau de controlo, sendo as “conclusões” do Sistema 1 sempre filtradas pelo Sistema 2, que nunca perde o poder de inibir a passagem à acção. Temos, assim, que as decisões, no dia-a-dia, resultam da actividade do Sistema 1, surgindo rapidamente e apresentando-se como intuitivas. Contudo, podem sempre ser modificadas ou ponderadas pelo Sistema 2 316, o que torna o indivíduo, para efeitos penais, plenamente responsável por todas as suas acções – mesmo por aquelas que, aparentemente, ele não controlou, mas que foram passíveis de controlo e alteração. Aliás, mesmo no que toca ao dolo, poderemos questionar se estará sempre presente uma reflexão (consciente) prévia. Jakobs defende que não é clara a vinculação do dolo a um grau mínimo de consciência, v.g. no caso de factos cometidos “num arrebatamento” e nas acções de curto-circuito. O problema da falta de consciência (ou co-consciência) não seria assim específico da negligência inconsciente, pois se verifica também em muitas situações de dolo317. Segundo Jakobs, pode mesmo afirmar-se que “a contrariedade ao cuidado de um comportamento é tão independente da cognoscibilidade da proibição como o dolo”318. Para Stratenwerth, mesmo a acção orientada inconscientemente é, ainda assim, orientada (segundo um processo que podia ser consciente) e deve, portanto, ser tratada como acção final e penalmente relevante319. Cf. KAHNEMANN (2003) p. 716. KÖHLER (1982) p. 172 ss. e 324. 318 JAKOBS (1997) p. 189. 319 STRATENWERTH (2000) p. 100. Defendendo a existência de uma “finalidade inconsciente” (unbewusste Finalität) e afirmando que os automatismos não constituem dificuldade para o pensamento da acção final, STRATENWERTH (1974) p. 289, 294 e passim. 316 317 183 6. A acção como opção Outro aspecto a ter em conta será a longa lista de enviesamentos que podem influenciar os julgamentos feitos pelo indivíduo. Matéria de estudo nas últimas décadas, integrando a vasta área da racionalidade limitada, estes desvios, inerentes a todo o raciocínio humano, em nada afectam a conclusão exposta supra. Kahnemann chama a atenção para as várias formas de verificar o papel do Sistema 2 no controlo das ilusões cognitivas320 e de aferir dos factores que podem influenciar a eficácia desse controlo. O importante para a questão que aqui nos ocupa é o facto de o Sistema 2 actuar do mesmo modo em todos os indivíduos e, portanto, o efeito dos enviesamentos ser geral mas evitável – a permitir um padrão de exigência acessível, com maior ou menor esforço, a qualquer indivíduo. 6.4 O processo intuitivo Regressemos agora a Gerry Klein e à Recognition Prime Decision (RPD). De acordo com o modelo operativo da RPD, chegamos à conclusão de que os indivíduos “assimilam” (no sentido de as fazerem suas) determinadas heurísticas e, a partir daí, identificam cada nova situação com uma categoria e aplicam a heurística respectiva321. Isto explica por que é tão difícil alterar padrões do comportamento de reacção perante as situações (v.g. as problemáticas) que se apresentam no quotidiano. KAHNEMAN (2002) p. 482. Este modelo é, portanto, muito diferente daquele modelo de racionalidade utilizado na inteligência artificial, embora tenha, com este, em comum o facto de as respostas aparecerem através de um processo automático. Nozick descreve o modo como um computador aprende, com os seus próprios erros, a jogar xadrez, e prevê um importante contributo de cientistas especializados nesta área para o estudo da racionalidade humana, mas considera (acertadamente) que não poderão fornecer uma descrição estrutural da racionalidade – NOZICK (1993) p. 76. Na realidade, o que se passa é que os processos de apreensão e interacção com a realidade são extremamente complexos e diversificados. Não se pode eleger nenhum deles como central (pois todos contribuem em maior ou menor grau conforme o tipo de situação) e igualmente não se pode abstrair de qualquer deles. 320 321 184 6. A acção como opção Esta abordagem – imediata, ou que aparece como imediata - decorre do que podemos designar como intuição. Se, à primeira vista, somos tentados a fazer uma avaliação negativa da intuição por ela ser “cega” e portanto (quase) totalmente fora de controlo, há que ter presente que, sem esse processo, a vida do dia-a-dia se revelaria impossível de gerir. Bechara et al estudaram indivíduos que, devido a lesões cerebrais, ficaram desprovidos de intuição, tendo concluído que eles se tornaram incapazes de prever as consequências negativas ou positivas das suas acções, com grave prejuízo da sua interacção com o mundo exterior. Segundo os autores, pode mesmo afirmar-se que, desprovido dessa ferramenta, o conhecimento directo se revela insuficiente para alcançar um comportamento adequado 322. Colocando dois grupos de pessoas – um constituído por participantes com lesões pré-frontais e outro por pessoas “normais” - perante um jogo em que tinham de efectuar jogadas mais ou menos arriscadas, verificou-se que antecipatórios as das pessoas “normais” jogadas de risco desenvolviam sinais físicos antes mesmo de saberem (conscientemente) que a jogada implicava riscos elevados323. Estes sinais eram totalmente ausentes nos participantes com lesões que, por outro lado, e não obstante serem capazes de conceptualizar a estratégia correcta, persistiam em reagir repetindo os erros. Tudo se passava como se, desprovidos da sua capacidade de abordagem intuitiva, os indivíduos lesionados fossem incapazes de gerir o conhecimento estruturado e lógico que adquiriam com a experiência. De onde os autores concluem que não só o conhecimento intuitivo precede o conhecimento consciente como o facilita, numa relação de cooperação324. BECHARA/DAMASIO H./TRANEL/DAMASIO A. (1997) p. 1293. Ibidem p.1293. 324 Ibidem p.1294. 322 323 185 6. A acção como opção O facto de esta capacidade estar inscrita na estrutura cerebral demonstra que ela constitui uma componente do processo decisório, efectivamente existente e actuante, ainda que operando fora da área da consciência. Por outro lado, no estudo que efectuou junto das corporações de bombeiros325, Klein constatou que, perante situações de alto risco, os responsáveis por vezes reagiam de acordo com o que eles designavam por “sexto sentido”, afirmando não encontrar qualquer fundamento reflectido para as decisões tomadas e que vinham a revelar-se adequadas. No entanto, depois de exaustivas entrevistas em que Klein levava o entrevistado a descrever todos os pormenores da situação em que agira, frequentemente acabava por surgir um conjunto de elementos percepcionados (mas não conscientemente processados) que explicavam como o indivíduo tinha chegado, através de operações racionais, à conclusão que lhe aparecera como imediata e intuitiva. Nas palavras de Klein, o indivíduo é capaz de ver o que está à frente dos seus olhos, mas não o que se passa atrás deles 326. Estudos posteriores confirmaram este fenómeno, quer no campo dos actos médicos quer no campo das decisões em cenário militar. 6.5 Automatismos e vontade Mas que se passa então “atrás dos olhos”? A neurociência tem já algum conhecimento sobre os processos envolvidos na atenção e a construção da realidade que se desenrola no “teatro da consciência”, para KLEIN (1999). KLEIN (1999) p. 33 : “he can see what is going on in front of his eyes but not what is going on behind them”. 325 326 186 6. A acção como opção usar a expressão de Baars327. Mas, para o presente trabalho, não nos interessa a comprovação da existência física e respectiva localização dos centros cerebrais envolvidos no elaborado processamento da percepção que antecede a tomada de consciência – embora seja reconfortante saber que aquilo que durante muito tempo foi considerado mera especulação pode hoje ser observado como um fenómeno com suporte fisiológico. O essencial é constatarmos, através de manifestações indesmentíveis, que as decisões são sempre precedidas por um processo interior à margem da consciência. Isto significa que, mesmo quando atribuímos as nossas “reacções” a um mecanismo inconsciente, uma parte do processo decisório – e uma parte fundamental – foi exactamente idêntica à que antecede as opções ditas reflectidas. Nas palavras de Baars, “todas as acções têm componentes automáticos”328. E se nem sempre a resposta “automática” é a melhor329, somos de qualquer forma responsáveis por ela, na medida em que podíamos controlá-la: como vimos, a abordagem intuitiva e imediata é sujeita a confirmação ou bloqueio antes de se traduzir em acção. Esta intercomunicação (entre consciente e inconsciente, entre reflexão e intuição) existe nos dois sentidos, embora, como é evidente, com funções diferentes. Se o sistema consciente serve de filtro às conclusões do BAARS (1997). O autor sumaria algumas das principais aquisições científicas sobre o funcionamento do cérebro humano na sua abordagem da realidade circundante. Sobre esta questão, é incontornável o contributo de DAMÁSIO, nomeadamente em O Erro de Descartes e, mais ainda, em Ao encontro de Espinosa, v.g. a partir da p. 226. Nesta obra, Damásio constrói um esquema do processo decisório muito semelhante ao que, a partir da matriz de Slovic, refiro no presente texto – DAMÁSIO (2003) p. 173 – concluindo que “a pessoa que faz uma determinada escolha pode não ter de todo a consciência desta operação secreta. Acabamos por intuir uma decisão e pô-la em prática, de forma rápida e eficiente, sem nos darmos conta das etapas intermediárias”. 328 BAARS (1997) p. 134. 329 Dawes, reconhecendo que as escolhas são frequentemente alcançadas através de processos automáticos, defende, todavia, que estas escolhas são “mais pobres” do que as que faríamos se controlássemos mais o pensamento – DAWES (1988) p. 7. Contra esta opinião há, como vimos, uma forte corrente que entende ser a intuição uma fonte indispensável do processo decisório, pelo menos em situações de stress. 327 187 6. A acção como opção inconsciente, o sistema inconsciente adapta os automatismos às conclusões conscientes – sem que estes deixem de ser automáticos. O que comprova que teremos de ser, também, responsáveis pelas nossas respostas automáticas, pois que não só podemos controlá-las no momento como reconfigurá-las previamente. Analisando precisamente um caso jurisprudencial relativo a um acidente, em que o condutor travou bruscamente na auto-estrada, durante uma tempestade, para evitar uma lebre que atravessou à sua frente, Stratenwerth considera o problema dos actos automáticos relacionados com uma violação do dever de cuidado330. Segundo Stratenwerth, se o autor podia realizar a mesma acção de um modo consciente, é possível falar-se de uma “direcção final inconsciente”; todavia, os automatismos, por não serem, em caso algum, acessíveis à consciência nem controláveis, não partilhariam deste regime. As conclusões da psicologia cognitiva vêm anular este argumento, na medida em que apontam para a possibilidade de controlar os próprios automatismos. A expressão “finalidade inconsciente” (unbewusste Finalität) parece encerrar uma contradictio in terminis, mas, como vimos, a divisão entre os planos consciente e inconsciente tem vindo a revelar-se muito menos nítida do que se pensava, o que recoloca o problema no ponto de partida331. Não é só o processamento da informação que é intuitivo, mas muitas outras actividades e mesmo a equação de valores e prioridades (igualmente no sentido de instantâneo, não racionalizado). STRATENWERTH (1974) p. 290-292. Na doutrina portuguesa, Fernanda Palma defende que a relevância dos automatismos como acção depende estreitamente do estímulo que os desencadeia: quando este for previsível pelo agente, o gesto automático apresenta-se como “elemento de um comportamento complexo” e deverá, nesses termos, responsabilizar o agente; mas, se a situação que explica o acto for de todo imprevisível para o agente, não poderá falar-se de uma acção no sentido jurídico-penal. Esta será a fronteira “entre o automatismo que é integrável numa conduta voluntária e aquele que corresponde, apenas, a um domínio do corpo sobre a vontade” – PALMA (2001) p. 59-61. 330 331 188 6. A acção como opção Recorrendo novamente ao exemplo da condução automóvel, é fácil constatar que, para além dos automatismos classicamente referidos (ligados directamente ao acto de conduzir), muitos outros se nos deparam com frequência, como por exemplo a escolha do percurso. Quando fazemos diariamente o mesmo caminho no regresso a casa, o acto de virar à direita, à esquerda, etc. é já automático, efectuado sem pensar – aliás, enquanto se pensa em outra coisa. Como todos sabemos, se nos “distrairmos” quando, excepcionalmente, nos dirigimos a outro destino, é provável que, à semelhança do habitual, nos dirijamos automaticamente para casa. Note-se também a comprovada diminuição das capacidades de reacção quando se conduz ao mesmo tempo que se fala ao telemóvel: prova de que o cérebro está ocupado com duas tarefas em simultâneo, ainda que só uma delas requeira a atenção consciente332. Muito para além destes simples actos, a psicologia tem identificado comportamentos padronizados nos indivíduos, que os interiorizam a partir de situações vividas e passam a reagir de igual modo sempre que confrontados com o mesmo contexto. Tanto o pensamento como a memória funcionam em dois níveis333 (um “consciente e deliberado” e outro “inconsciente e automático”), o chamado dual processing, cuja história podemos traçar desde William James a Daniel Kahnemann. Muitos destes processos não são nunca trazidos à superfície, perante a consciência do indivíduo. Reconhecê-los, no entanto, é mais do que Cf Myers, que descreve várias experiências demonstrativas da actividade simultânea de duas vias de conhecimento - automática e consciente - acabando por concluir que a “intuição” reflecte as constantes da história pessoal de cada indivíduo - MYERS (2002) p. 21 ss. 333 MYERS (2002) p. 4. 332 189 6. A acção como opção especulação pois eles têm sido detectados em inúmeras experiências realizadas334. Que conclusões devemos extrair no que respeita à negligência “inconsciente”? Se, subjacente a todo o comportamento, encontramos processos inconscientes e se as decisões repousam sobre uma base em que a intuição desempenha um papel essencial, teremos de admitir que a responsabilidade depende sempre, em grande medida, de opções à margem da consciência. Imaginemos a seguinte situação: A, na sequência de uma discussão, agarrou numa enxada e deu com ela uma violenta pancada na cabeça de B; B morreu. Não haverá qualquer dúvida sobre o dolo com que A agiu. E, no entanto, é legítimo duvidar de que, no meio da exaltação, A tenha, conscientemente, pensado nos elementos do facto e querido o resultado típico. Mais ainda: quer a sua percepção, quer a sua vontade emergem de uma teia complexa de recordações, automatismos, características fisiológicas (permanentes e acidentais) e todo um património de vivências. Por tudo isso deverá, na prática, A responder, ao ser responsabilizado por um homicídio doloso. Imaginemos agora uma segunda situação: C controla a circulação dos comboios através de um ecrã a que deve estar atento. No entanto, distrai-se frequentemente a enviar SMS para a namorada; por isso, não detecta uma anomalia no trajecto de uma das composições, da qual resulta um grave acidente, sendo certo que poderia tê-lo evitado se estivesse atento. O momento em que C desvia o olhar do ecrã para o concentrar no telemóvel é, no plano da sua matriz psicológica, em tudo equivalente ao momento em que A desfere o golpe com a enxada. Não se vê por que deveria o segundo Várias destas experiências são pormenorizadamente descritas em JOHNSON-LAIRD (2006) p. 60 ss. 334 190 6. A acção como opção caso suscitar hesitações em termos de responsabilidade por o agente ter agido inconscientemente – sendo que os seus actos traduzem ainda uma opção subliminar – e não há dúvidas sobre a responsabilidade no primeiro caso, em que o acto exteriorizou um processo em grande parte igualmente subliminar. A distinção entre “consciente” e “inconsciente” reporta-se a um plano do pensamento que não esgota o nosso processo mental e que não é, em qualquer dos casos, independente da restante actividade mental. Como se o nosso cérebro estivesse dividido em dois níveis, um à superfície, visível, e um outro subterrâneo, onde as operações são iniciadas e preparadas. Na verdade, grande parte do nosso pensamento (e processo decisório) desenrola-se nesse outro mundo subterrâneo. A negligência inconsciente é, assim, uma ficção, pois não corresponde a qualquer realidade inscrita na natureza do nosso pensamento. Este inclui sempre um vasto contributo do inconsciente, pelo que a distinção é artificial: não há fronteira a dividir o consciente e o inconsciente no que toca ao processo decisório. 191 7. Probabilidades 7 PROBABILIDADES H. G. Wells: “Statistical thinking will one day be as important for good citizenship as the ability to read and write.” 7.1 De Parménides a Pascal O pensamento ocidental foi, ao longo de séculos, dicotómico, baseado na oposição dos contrários e não na harmonia dos diferentes. A cisão entre o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, a carne e o espírito, teve profunda influência em todas as áreas do saber e constituiu um verdadeiro paradigma, só muito recentemente posto em causa. Ao desempenhar um papel matricial na construção deste paradigma, o pensamento de Parménides influenciou profundamente a mentalidade ocidental. Segundo Parménides – e em oposição ao pensamento de muitos dos seus contemporâneos, que precisamente contestou –, o mundo da diversidade inter-actuante e mutante (a que Heraclito se referia como unidade dos opostos335) – é apenas ilusão. Nesta medida, prenuncia já o E que, em última análise, conduziria à harmonia – note-se aqui a diferença radical entre o substrato do pensamento de Heraclito e o de Parménides, e a proximidade de Heraclito face ao pensamento oriental; o pensamento da Europa ocidental optou pela via oposta – a de 335 192 7. Probabilidades pensamento de Platão, o que levou a que autores como Elizabeth Anscombe e Simon Blackburn (não sem algum exagero, parece-me) tenham afirmado parafraseando a célebre frase de Whitehead segundo o qual a filosofia ocidental é uma série de notas de rodapé a Platão – que Platão é, por sua vez, um conjunto de notas de rodapé a Parménides. A partir de Parménides (para quem a realidade deve ser apreendida pela razão e não pelos sentidos) está consagrada a dicotomia omnipresente entre o verdadeiro e o falso, pois o que é, é e não pode não ser. O conhecimento tem de ir ao encontro de um real que é fixo, imutável e uno: a pluralidade e a mudança não passam de ilusão dos sentidos. O pensamento de Parménides - o mais dogmático de todos os grandes filósofos gregos, nas palavras de Popper336 - é radicalmente avesso à incerteza. Podemos dizer, com alguma ironia, que se situa nos antípodas do gato de Schrödinger. Para um determinismo exacerbado como este, que de algum modo varreu todo o pensamento científico durante milhares de anos, o acaso só se explica através do recurso ao anátema da ilusão. Foi preciso que a realidade se revelasse, ostensivamente, aleatória, para que a ciência aceitasse construir-se incorporando a incerteza337. Planck, Bohr, Heisenberg, entre outros, foram protagonistas de uma verdadeira revolução que, na primeira metade do século XX, abalou irremediavelmente a concepção determinista do mundo. As raízes criadas pela nova concepção implantaram-se solidamente, a ponto de se poder afirmar que “de momento, ninguém vê como o princípio da incerteza pode ser eliminado”338. Parménides - daí decorrendo profundas consequências a nível de abordagem do mundo. Para uma contraposição entre o pensamento de Parménides e o de Heraclito, cf. GRAHAM (2002). 336 POPPER (1965) p. 148. Sobre a influência nefasta de Parménides no pensamento científico, cf p. 47 e ss. 337 E mesmo aí, como sabemos, alguns, entre os melhores, não se resignaram, afirmando o império da relação de causa-efeito quase como uma profissão de fé. 338 CARNAP (1966) p. 284. 193 7. Probabilidades A mais conhecida tentativa de construir uma teoria que permitisse abordar metodicamente os processos aleatórios é a de Cardano, no século XVI, embora sejam conhecidos alguns esboços desde, pelo menos, o século X, ainda que sem qualquer desenvolvimento matemático. Escrito cerca de 1550 (é desconhecida a data exacta), o Liber de Ludo Aleae, de Cardano, constitui, para além de um manual para jogadores (Cardano foi durante toda a sua vida um apaixonado pelo jogo), um texto inovador sobre o cálculo de probabilidades. No entanto, como a obra só foi publicada em 1663, perdeu em parte o impacto que poderia ter tido no pensamento científico339. Situa-se, geralmente, o “nascimento” da probabilidade, enquanto conceito científico, nas cartas trocadas entre Pascal e Fermat, no Verão de 1654340. Antoine Gombaud, que ficou mais conhecido como Cavaleiro de Méré, procurou Pascal para lhe colocar a seguinte questão341: dado um determinado jogo que se desenrolava em várias jogadas, e tendo os jogadores feito as suas apostas, se o jogo for interrompido antes de terminadas todas as jogadas, como deve ser repartido aquilo que foi apostado? Pascal expôs o problema a Fermat e ambos debateram o modo de o resolver em sete cartas trocadas durante os meses seguintes. Discordando quanto ao método, alcançam, no entanto, exactamente a mesma solução, embora por diferentes vias: enquanto Fermat parte, para calcular a resposta, de um cálculo de probabilidades (de ganho), Pascal utiliza como base de trabalho as expectativas de cada um dos jogadores. Alguns anos mais tarde, na sua obra Aliás, é legítimo questionar se no contexto sociocultural do século XVI o pensamento probabilístico teria tido o mesmo desenvolvimento que veio a conhecer um século depois, a partir dos textos de Pascal, quando se inseriu em quadros mentais já bem diversos. 340 Desconhece-se a data da primeira e segunda cartas; a terceira é de 29 de Julho de 1654, e a sétima e última tem a data de 27 de Outubro do mesmo ano. 341 Com razão, afirma Laplace que “é notável que uma ciência que começou com jogos de azar se tenha tornado o mais importante objecto do conhecimento humano”. 339 194 7. Probabilidades De ratiociniis in ludo alea (1657), Huygens sistematizou aquilo que resultava já das cartas entre Pascal e Fermat. O marco seguinte neste percurso é a obra de Jacob Bernoulli, Ars Conjectandi, de 1713, seguindo-se os trabalhos de Daniel Bernoulli, em 1738, em resposta ao paradoxo de S. Petersburgo, que lhe fora apresentado por seu primo Nicolau. A fundamentação apresentada por Daniel Bernoulli, na solução do paradoxo, ainda hoje tem utilidade na análise de decisões em situação de incerteza. Em 1763 foi publicada a obra póstuma de Thomas Bayes An Essay Towards Solving A Problem in the Doutrine of Chances. O teorema de Bayes, reportando-se à distribuição probabilística em situações de incerteza, permite a alteração de probabilidades estabelecidas a priori, através de novas e relevantes evidências. Sendo basicamente um modo de calcular probabilidades condicionais, o teorema (e todo o pensamento subjacente) foi determinante para o desenvolvimento de uma lógica indutiva e uma abordagem subjectivista do conhecimento. O trabalho de Bayes, que na época não provocou especial impacto, havia de influenciar profundamente, já no século XX, a teoria das probabilidades. Mas durante todo o século XIX foi a perspectiva de Laplace que se impôs. Pierre Simon Laplace publicou, em 1812, a Théorie Analytique des probabilités, lançando as bases daquilo a que hoje chamamos a teoria clássica de probabilidades e que, quer na sua forma original, quer na formulação frequencista, posterior, faz uma abordagem objectivista das probabilidades. Só no século XX a vertente subjectiva da abordagem probabilística do mundo foi recuperada, primeiro por Ramsey e depois por Finetti (trabalhando em paralelo, pois o segundo desconhecia os trabalhos anteriores de Ramsey aquando da publicação, em 1937, de La prévision : ses lois logiques, ses sources subjectives). Pode afirmar-se que o conceito de 195 7. Probabilidades probabilidade subjectiva surgiu no momento em que, em todos os campos de pensamento, a incerteza se instalava como um dado incontornável: Max Planck introduzia a física quântica; o tempo e o espaço subitamente apareciam como relativos342 e Heisenberg enunciava o princípio da incerteza, recorrendo, em todo o seu trabalho, ao cálculo estatístico343. A certeza determinista foi irrevogavelmente substituída pelo cálculo de probabilidades, que se converteu na própria matéria do pensamento científico. O texto de Ramsey344 intitula-se, reveladoramente, Truth and Probability, apontando para uma relação dialéctica difícil, que estava, na época, a ser re-equacionada sobre bases completamente diferentes das utilizadas até então. Como Ramsey afirma, o espírito humano rege-se por determinadas regras e hábitos, que são utensílios com os quais aborda a realidade e lhe atribui relações lógicas345. E o que medimos é o grau de convicção do indivíduo, uma vez que o ideal de ter uma opinião verdadeira e estar certo dela não está ao alcance do ser humano346. Esta revolução, ainda que o próprio não a tivesse desejado, é, por isso, também einsteiniana. Aliás, Einstein, em 1905, desenvolveu as implicações do trabalho de Planck, demonstrando ter plena consciência da profundidade das suas consequências. 343 Ao analisar o contributo da física moderna para novos modelos de pensamento, Heisenberg identifica dois momentos cruciais para aquilo que designa como a ruptura com o enquadramento rígido do século XIX, o qual, segundo ele, tinha já revelado a sua insuficiência para explicar alguns aspectos essenciais da realidade. Esses dois momentos corresponderiam à constatação (por via da teoria da relatividade) da necessidade de alterar os conceitos de espaço e de tempo, por um lado, e por outro, a discussão sobre o próprio conceito de matéria (desencadeada pelas experiências sobre a estrutura do átomo) – HEISENBERG (1958) p. 138. 344 Escrito em 1926, incluído em The Foundations of Mathematics and other Logical Essays (1931). 345 RAMSEY (1926) p. 194: “We have therefore to consider the human mind and what is the most we can ask of it. The human mind works essentially according to general rules or habits; a process of thought not proceeding according to some rule would simply be a random sequence of ideas”. 346 Ibidem: “As has previously been remarked, the highest ideal would be always to have a true opinion and be certain of it; but this ideal is more suited to God than to man”. 342 196 7. Probabilidades 7.2 O mundo visto através da incerteza A abordagem do mundo em termos de probabilidades, em lugar da velha dicotomia entre “verdadeiro ou falso”, introduz um novo paradigma, no sentido que Thomas Kuhn atribui a este termo? Hacking recusa que a emergência da probabilidade no pensamento científico, impregnando todas as áreas347, constitua uma verdadeira revolução no sentido cunhado por Kuhn. Se aplicarmos rigorosamente os critérios enunciados por Kuhn348, teremos de concluir que o cálculo probabilístico não constituiu um novo paradigma. Mas também não é apenas um instrumento novo, cuja utilização se estendeu a todas as ciências por se adequar a novos problemas. Pois que a probabilidade se impôs também como uma forma de olhar o mundo, levando a ver o que não era perceptível antes mas sempre estivera presente. E, neste sentido, pode dizer-se que desencadeou uma revolução349. Vimos que o conceito de probabilidade, central na solução que propugno para a delimitação do dever de cuidado, e hoje em dia presente em todas as áreas de saber, é relativamente recente no pensamento científico ocidental. Tal facto terá de ser explicado com base em características da cultura europeia profundamente enraizadas, seja na nossa história seja nas bases do nosso pensamento científico e filosófico350. Inclusive no direito, como vimos, através de um crescente papel atribuído ao risco. Cabe aqui uma referência à obra de Nicolau Bernoulli De usu artis conjectandi in jure, publicada em 1709, na qual este aplica os raciocínios do seu tio Jacob às questões jurídicas. Nicolau Bernoulli recorre ao trabalho de Jacob Bernoulli, a partir dos seus textos Meditationes e Ars Conjectandi, para aplicar o método estocástico aos problemas do direito. 348 Paradigma – anomalia (emergência de descobertas científicas incomportáveis pelo paradigma) – crise – resposta à crise – novo paradigma. 349 Sobre a relação entre novas formas de olhar a realidade e o conceito de revolução, v. KUHN (1962) p. 111 e ss. 350 Só a partir do século XVII a distinção aristotélica entre o certo (demonstrável) e o provável foi posta seriamente em causa, com o emergir da consciência de que vivemos num mundo 347 197 7. Probabilidades Ian Hacking defende que foi fundamental um novo olhar sobre os sinais (a redução das provas a sinais) e a afirmação da indução como método de conhecimento351. Hume, como se sabe, é considerado o grande teorizador do método indutivo. Mas já antes dele as probabilidades subjectivas (que assentam no método indutivo) tinham sido consideradas por Jacob Bernoulli (16541705)352 e tinham encontrado as ferramentas adequadas pela mão de Thomas Bayes353. Importa seguir o percurso feito pelas duas perspectivas que terão estado, segundo alguns, na origem das principais escolas – frequencista e bayesiana – de estudo das probabilidades354. apenas – todo ele – de probabilidades. A esta revolução do pensamento não terão sido alheios os avanços da ciência e a insegurança da religião causada pela Reforma. 351 HACKING (1975) p. 20 e ss. 352 A sua obra Ars Conjectandi , embora traga contributos valiosos para a construção das probabilidades frequencistas (e não pode esquecer-se que Bernoulli é o autor da lei dos grandes números), mostra, em vários passos, que Bernoulli não era alheio à construção de probabilidades através de métodos indutivos, nem à potencialidade reveladora de sinais e ao uso que dela é feito pelo cidadão comum. 353 O teorema de Bayes, encontrado entre os seus papéis após a sua morte, foi dado a conhecer em 1763 e constitui uma solução matemática para os problemas de escolha face a probabilidades condicionais. 354 Para os (juristas) menos à vontade com estes conceitos, dir-se-á, muito sucintamente, que probabilidades frequencistas são aquelas que operam a partir de uma amostra de um número elevado de situações em que se verifica determinado evento. Ou seja, partem da ideia de que, embora não se possa determinar com certeza se um acontecimento, em concreto, vai ou não verificar-se, pode-se saber, utilizando uma larga amostra, quantas vezes (com que frequência) ele se verificará. Quanto às probabilidades bayesianas, ao invés de considerarem a probabilidade como um dado objectivo da realidade, abordam-na do ponto de vista da convicção que o indivíduo tem na ocorrência de um evento, ou seja, trata-se de uma qualidade que o sujeito atribui ao objecto (não significa que não haja motivos subjacentes a essa convicção). Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, estas duas concepções não são incompatíveis. Nem os bayesianos negam que seja possível calcular as frequências relativas de um determinado evento aleatório, nem os frequencistas negam o facto evidente de que os indivíduos têm convicções sobre a probabilidade de verificação de um dado evento. O que se desloca, entre uma concepção e outra, é o ângulo de abordagem (da incerteza). Devemos ter presente que, como dizia Stuart Mill, “the probability of an event is not a quality of the event itself”. Mesmo nos casos mais evidentes utilizados como referência pelos frequencistas, também o que cada um de nós sustenta é uma convicção. Quando, por exemplo, verificamos empiricamente que ao longo de um mês em que diariamente apanhamos o mesmo comboio, este se atrasou 15 vezes, afirmaremos que o 198 7. Probabilidades Diga-se, desde já, que não se vai aqui tomar partido na querela sobre se as duas escolas estarão hoje em dia, de algum modo, unificadas, como pretende alguma doutrina, ou se continuam a constituir perspectivas diferentes sobre o que encerra o conceito de probabilidade. Não existindo um conceito que poderíamos apelidar de “ontológico” de probabilidade, quer as probabilidades frequencistas, quer as bayesianas têm um lugar próprio na medida em que permitam retirar conclusões que funcionem. Ademais, parece-me que haverá áreas de conhecimento e problemas especialmente vocacionados para serem abordados de um ponto de vista frequencista, e outros para os quais os bayesianos encontrarão melhor resposta355. 7.3 Decisão em contexto de incerteza A questão que realmente me interessa - porque tenho como elemento central do meu estudo um conceito tão volátil como o risco - é a de explorar até que ponto as relações entre essas duas visões epistemológicas levaram, por fim, a uma visão mais complexa – e mais abrangente – do conhecimento, e, subsequentemente, da decisão perante o incerto. Como referi supra, o pensamento ocidental desenvolveu-se ao longo de milhares de anos no âmbito de um paradigma de oposição irreconciliável comboio parte atrasado 50% dos dias. Esta é a nossa expectativa, a qual, no entanto, não constitui uma propriedade inerente ao objecto do comboio e nada nos diz sobre a hora a que hoje o comboio partirá. Para Shaffer e Tversky, a abordagem bayesiana comporta duas abordagens: as preferências individuais por uma lotaria e o percurso feito até à preferência; não são perspectivas opostas e podem mesmo ser complementares, tudo depende da “linguagem” e do objecto adoptados – SHAFER/TVERSKY (1988) p. 242 ss. 355 Sobre a relação entre as duas correntes, tomando posição no sentido de que a dualidade “é apenas superficial” – mas não pelos motivos aqui expostos, antes porque reconduz todas as probabilidades a uma abordagem bayesiana – cf. JEFFREY (1992) p. 64 e passim. Numa posição diferente, considerando que a abordagem bayesiana constitui uma profunda alteração epistemológica, KAPLAN (1996) p. 181 e passim. Para Shaffer e Tversky, trata-se de “duas linguagens”. 199 7. Probabilidades entre o verdadeiro e o falso356. A dicotomia rígida que espartilhou o pensamento científico só muito recentemente cedeu perante as manifestações crescentes de um universo em que o acaso desempenha papel preponderante. Insere-se neste paradigma a oposição, a que se refere Hacking, entre o conhecimento e a opinião, como topoi inconciliáveis. Para o conhecimento, exigia-se a prova; a opinião baseava-se em sinais. O apogeu desta mentalidade antecedeu de perto a sua queda. Depois de, no Renascimento, se ter afirmado, mais do que nunca, o primado da demonstração e prova como forma de ultrapassar a mera hipótese e chegar à certeza (na convicção ingénua de que tal possa existir), o edifício científico assim construído colapsou sobre si próprio, revelando que as ciências exactas não eram, afinal, mais do que modelos processuais do real e as leis da natureza são apenas (para nós) constantes observáveis. Mais uma vez, Pascal é pioneiro. Tomando como objecto da análise a eterna discussão da prova da existência de deus, aborda-a de forma inteiramente inovadora: considera que não é possível provar que deus existe e recusa, assim, que essa seja a questão a resolver. O que importa, segundo Pascal, é saber se se deve ou não acreditar em deus. Para chegar a uma resposta, constrói o seu famoso raciocínio sobre as vantagens de acreditar na existência de deus: se uma pessoa levar uma vida dissoluta e deus existir, essa pessoa passará a eternidade no inferno, ou seja, perde tudo; por outro lado, se a pessoa levar uma vida pia e deus existir, ganha uma existência eterna no paraíso. Se deus não existir, quer o dissoluto quer o pio não terão nada a perder, pois nada se seguirá ao momento da morte (podemos acrescentar que um terá ganho a relativamente ínfima vantagem de ter agido Não que tal tenha sido sem contestação: a abordagem do mundo fundada numa cosmologia sincrética e mutante esteve sempre presente, mas constituindo uma corrente “menor”. 356 200 7. Probabilidades sem constrangimentos durante a vida e o outro terá perdido o que sacrificou para manter uma conduta santa). Admitindo agora - de acordo com a premissa de que não é possível concluir se deus existe ou não – que devemos estimar para cada uma destas hipóteses uma probabilidade de 50%, é fácil concluir que a aposta correcta é agir como se deus existisse. Estavam lançadas as bases da teoria da decisão. Simultaneamente, Pascal conseguia, pela primeira vez, o cruzamento entre métodos de prova considerados “objectivos” (a dedução matemática) e material de análise puramente subjectivo na medida em que respeita às preferências do indivíduo. Quando Savage inicia o 3.º capítulo de The Foundations of Statistics, afirmando que “pessoalmente, considero mais provável que em 1996 seja eleito um presidente republicano do que neve em Chicago em Maio de 1994. Mas mesmo esta neve tardia parece-me mais provável do que Adolf Hitler estar ainda vivo”357, desfere um golpe mortal na pretensa objectividade das estimativas probabilísticas. Podem continuar a ser usadas como instrumentos úteis, porque são (têm-se revelado) operacionais em inúmeras situações. Mas não voltarão a ser mais do que isso. Porque qualquer leitor concordará com as estimativas de Savage e no entanto… como chegamos a essa conclusão? E porque estaremos todos de acordo sobre elas? Podemos mesmo identificar uma dificuldade semântica. O termo probabilidade entrou de tal modo na linguagem corrente que parece ter um significado acessível e comum a qualquer pessoa. Não é esta a realidade, no entanto. O conceito de probabilidade e o método de estabelecer valores probabilísticos constitui matéria altamente controversa. SAVAGE (1954) p. 27: “I personally consider it more probable that a Republican president will be elected in 1996 than that it will snow in Chicago sometime in the month of May, 1994. But even this late spring snow seems to me more probable than that Adolf Hitler is still alive”. 357 201 7. Probabilidades 7.4 De que falamos quando falamos de probabilidade? Sendo elemento indispensável para a construção de uma matriz de decisão, importa apurar qual o critério utilizado pelo legislador e pelo indivíduo, ou, pelo menos, se os dois partilham dos mesmos pressupostos. Há, logo à partida, como vimos, uma primeira e fundamental divisão entre os que consideram que probabilidade é uma entidade relacional empiricamente verificável – uma propriedade - e os que a consideram uma convicção sobre a relação entre dois elementos e os respectivos valores – uma opinião358. O conhecido método “por amostragem” insere-se na primeira destas acepções: inquirida uma fracção da população sobre determinado assunto, verifica-se que, por hipótese, 80% dos inquiridos declaram ir à praia durante o mês de Agosto; se a fracção inquirida for seleccionada correctamente, e tiver uma dimensão que a torne representativa, extrapolamos que 80% da população irá à praia no mês de Agosto (calculando uma dada margem de erro). Se tivermos inquirido toda a população em análise (por exemplo, todos os habitantes de uma aldeia) a margem de erro será zero – mas, nesse caso, não estaremos já a falar de probabilidades! Mesmo neste exemplo simples, podemos encontrar duas posições: a dos que defendem que será possível fazer uma previsão probabilística sobre a população em geral, mas não sobre um elemento concreto dessa população; e a dos que entendem que a estimativa feita permite afirmar que a probabilidade de A (elemento da população não inquirido) ir à praia durante o mês de Agosto é de 80%. Se, por um lado, relegar as probabilidades para uma forma de estabelecer proporções dentro de um universo parece retirar-lhes algumas Correspondem, respectivamente, a uma concepção objectiva e probabilidade. 358 subjectiva de 202 7. Probabilidades das suas mais férteis utilizações, por outro, afirmar que a probabilidade de A ir à praia é de 80% não nos diz mais do que o contido na própria afirmação, pois não sabemos se A pertence aos remanescentes 20% que não irão. O cálculo de probabilidades é importante para tomar decisões sob risco, mas não faz desaparecer a incerteza. Para além desta forma de probabilidade objectiva – que recorre a uma análise empírica da realidade –, podemos também considerar outras que se pretendem objectivas, além das várias formulações das probabilidades subjectivas. Resnik identifica três abordagens básicas de probabilidade359: 1 - A perspectiva clássica: remontando a Laplace, resulta de uma abordagem objectiva e lógica e incide especialmente sobre situações divisíveis em hipóteses com igual probabilidade, como tirar uma carta de um baralho, lançar dados ou jogar na roleta; 2 - A perspectiva da frequência relativa: ao contrário do que sucede na perspectiva clássica, os valores da probabilidade, aqui, não são passíveis de ser encontrados por processos meramente lógicos; é, por isso, necessário recorrer à observação dos eventos reais. O exemplo descrito supra (das pessoas que vão à praia em Agosto) pertence a esta categoria. Se, por um lado, este método tem a vantagem de permitir estabelecer probabilidades para eventos reais empiricamente verificáveis (a sua utilidade projecta-se, portanto, no domínio da praxis), tem, por outro lado, sérias limitações. Uma delas foi já referida: as frequências são estabelecidas para categorias, mas, na prática, não permitem prever o comportamento de cada elemento. A outra, talvez mais grave, reside no facto de a passagem [da dimensão] da amostra para o total comportar uma margem de imprevisibilidade incontornável, RESNIK (1987) p. 61 ss.; esta divisão tripartida é comum à maior parte dos autores, embora nem sempre utilizem a mesma designação para cada uma das categorias. 359 203 7. Probabilidades nomeadamente em sequências infinitas ou indefinidas: imagine-se que, devido a factores actualmente desconhecidos, uma em cada 50 milhões de pessoas afectadas pelo HIV perdia a capacidade de dormir; com os dados de que dispomos, estimaríamos a probabilidade de tal acontecer em zero – estimativa inevitável apesar de errónea. 3 - A perspectiva subjectiva: a probabilidade consiste em convicções e julgamentos individuais. Introduzida pelos trabalhos de Ramsey360 e de Bruno de Finetti361, mas remontando a Bernoulli e Bayes, esta concepção aborda o conceito de probabilidade de forma radicalmente diferente, como analisaremos mais adiante. São ultrapassados alguns dos problemas suscitados pela abordagem objectiva, ao permitir, por exemplo, atribuir probabilidades a eventos singulares; em contrapartida, surgem outras dificuldades, nomeadamente no plano da correspondência entre as convicções pessoais e a realidade, e na construção de uma tabela comum de valores que sirva de base a um código comunicacional. Uma das principais dificuldades das probabilidades subjectivas foi, com efeito, desde o início, a ausência de uma expressão matemática para o que é, afinal, uma convicção individual (o mesmo problema de expressão quantitativa que enfrentam as utilidades subjectivas). Ramsey e de Finetti encetaram a tarefa de ultrapassar esse obstáculo. Ambos defendem que as probabilidades subjectivas podem ser inferidas da conduta das pessoas (as decisões que tomam, aquilo em que arriscam ou não, aquilo em que apostam, etc.). À semelhança do que acontece, por exemplo, com as apostas nas corridas de cavalos (se eu estou disposta a apostar 10 contra 1 na vitória do cavalo Z, isto revela o grau de convicção que eu tenho na sua vitória), Frank Ramsey : Truth and Probability (1926). Bruno de Finetti: "La prévision: ses lois logiques, ses sources subjectives", Annales de l’Institut Henri Poincaré, 7 (1937) p. 1-68. 360 361 204 7. Probabilidades simulando um sistema de apostas para a verdade de determinada afirmação é possível aceder a uma escala expressa numa linguagem comum. Para os chamados intuicionistas, como Shackle, por seu lado, a probabilidade é anterior à experiência e nem sempre as escolhas revelam as probabilidades atribuídas pelo sujeito, pois, frequentemente, outros factores, v.g. afectivos, interferem nas opções do sujeito. Num registo muito diferente, vamos encontrar Harsanyi, para quem, se todos os indivíduos tivessem a mesma informação, todos estimariam as mesmas probabilidades (subjectivas). Nesta perspectiva, as probabilidades subjectivas seriam, de um certo modo, objectivas (potencialmente) pois haveria uma relação determinista entre conhecimento e probabilidade. Considerando o mesmo problema, Anand362 defende a criação de “escalas de utilidade”, na linha do proposto por Ramsey, de modo a encontrar as probabilidades subjectivas de cada evento. Por este método, e através de um sistema de “apostas em jogo de lotaria”, é possível evitar as questões directas sobre probabilidades – para as quais dificilmente se encontra resposta –, deduzindo as convicções do indivíduo através das preferências manifestadas363. Este é um método revelador por excelência, mas sem potencialidades directamente explicativas nem conformadoras. Todavia, na medida em que evidencia um padrão nas escolhas do indivíduo, permite concluir que estas não são nunca arbitrárias. Assim, será possível encontrar os pressupostos em que assentam e, por essa via, compreendê-las (e influenciá-las). Alguns dos axiomas de Savage são particularmente relevantes para a matéria aqui em análise. Destaco o axioma n.º 5 (expected wealth independence), ANAND, Paul (1993) p. 8. Assim se contornaria também (mas não o resolvendo) um problema central a toda esta polémica, e que Carnap expõe linearmente: “The problem of probability may be regarded as the task of finding an adequate definition of the concept of probability that can provide a basis for a theory of probability.” CARNAP (1945) p. 513. 362 363 205 7. Probabilidades segundo o qual, na escolha entre duas apostas, a decisão não se baseia no montante da aposta mas na probabilidade de ganhar364. O axioma n.º 7, (continuity in probability), correspondente lógico do axioma n.º 5, reforça esta perspectiva: há um ponto em que a probabilidade é tão baixa que nenhuma alteração no payoff, por maior que seja, alterará a preferência pela respectiva acção (acontecimentos muito improváveis devem ser considerados de probabilidade zero). Shafer e Tversky consideram que, a partir da abordagem bayesiana, há duas perspectivas possíveis: as preferências individuais por uma lotaria ou o percurso feito até à preferência. Não são perspectivas opostas e podem mesmo ser consideradas complementares365. Estes mesmos autores chamam a atenção para que o cálculo de probabilidades depende não só das evidências disponíveis, mas também da forma de analisar e explorar essas evidências366. Resumindo e esquematizando, podemos concluir que, ainda que haja uma multiplicidade de posições sobre a matéria, os vários conceitos de probabilidade podem ser representados de acordo com a seguinte divisão: lógicas objectivas empíricas ou estatísticas Probabilidades subjectivas O que, transferido para a política criminal, está de acordo com a teoria (tão antiga como Beccaria) de que o importante não é a medida da pena mas a probabilidade de ela vir a ser aplicada – conforme estimada pelo infractor, acrescento. 365 SHAFER/TVERSKY (1988) p. 243. 366 Ibidem, p. 263. 364 206 7. Probabilidades 7.5 O dever de cuidado num universo bayesiano Concentremo-nos agora na probabilidade subjectiva pois que, como veremos, é de particular relevância para o cálculo do dever de cuidado. A concepção de probabilidade subjectiva é, inquestionavelmente, tributária do trabalho de Thomas Bayes, embora o teorema de Bayes não tenha exercido grande influência no cálculo de probabilidades durante quase dois séculos. Foi com a emergência do conceito de probabilidade como uma convicção (belief) e não como uma realidade a se, a partir dos trabalhos de Ramsey e de Finetti, que a obra de Thomas Bayes ganhou importância, fornecendo a base para os instrumentos matemáticos de cálculo e actualização das convicções individuais formadas a partir de “evidências”. A abordagem bayesiana comporta duas fases complementares: a probabilidade estabelecida pelo indivíduo num primeiro momento e o processo de sucessivas correcções que vão sendo introduzidas, alterando o valor inicialmente fixado367. Na perspectiva bayesiana, o julgamento probabilístico é feito através de comparações com exemplos em que são conhecidos os valores probabilísticos – ou seja, por analogia com lugares paralelos que o indivíduo vai buscar à sua experiência368. Sobre a separação entre necessaristas (para quem este processo é puramente lógico) e subjectivistas (para quem a subjectividade acompanha todo o processo, ainda que a coerência não seja dispensada) cf. RAIFFA (1968) p.283 ss. 368 Chamo a atenção para a semelhança entre este método e o processo de decisão descrito por KLEIN, de que falámos no capítulo 3. Também para a perspectiva da política criminal este é um aspecto sobremaneira importante. Se, como podemos ler em GIGERENZER, “subjects learn from experience in the same way as probabilities are revised by Bayes theorem” – GIGERENZER (1989) p. 217 - torna-se evidente que, através de alteração de dados da experiência individual se pode alterar a estimativa feita do valor de P, naqueles casos em que ela divirja grosseiramente da do legislador e dos parâmetros considerados normais num indivíduo “normalmente socializado”, para utilizar uma expressão cara a Figueiredo Dias. 367 207 7. Probabilidades Para atribuir valores probabilísticos, o indivíduo necessita de inserir as suas preferências numa escala. As probabilidades bayesianas, mesmo na sua versão mais radicalmente subjectivista, continuam a corresponder a um julgamento e requerem, portanto, uma semântica através da qual possam expressar-se. Shafer e Tversky369 consideram três semânticas passíveis de corresponder à linguagem em que este processo se desenrola: a da frequência, a da propensão e a da aposta. Na semântica da frequência, enquadra-se o facto na escala de probabilidades perguntando com que frequência, em situações similares, aquele facto corresponde a determinada realidade. Na semântica da propensão, identifica-se o facto com determinado modelo e depois pergunta-se qual a propensão do modelo para corresponder aos vários resultados possíveis. Na semântica da aposta, faz-se a comparação entre a disposição para apostar em determinado jogo e a disposição para apostar (e em que termos) numa “leitura” do facto em causa. Independentemente de qual a sintaxe utilizada, o importante a reter é que, em qualquer delas, o factor individual é determinante. A experiência passada condiciona as previsões do indivíduo, daí resultando que: 1 - nem todos os indivíduos farão o mesmo julgamento sobre as probabilidades a atribuir a certo facto ou situação (no entanto, admitindo que, na sociedade, há um património experiencial comum a todos os adultos, verificar-se-á uma aproximação entre os valores estimados por cada indivíduo); 2 - os julgamentos feitos podem vir a ser (e são-no, efectivamente) alterados à medida que o indivíduo acumula dados da experiência. 369 SHAFER e TVERSKY (1988) p. 243. 208 7. Probabilidades A ideia de probabilidades subjectivas choca frontalmente com a concepção tradicional de probabilidade como sendo um dado que se pode fixar, mais ou menos exactamente mas que, de qualquer modo, existe per se. Se pensarmos novamente nas três abordagens descritas supra, concluiremos que apenas as probabilidades lógicas têm essa qualidade de certeza extrínseca ao indivíduo, sendo a sua validade exclusivamente formal370. No entanto, também nas probabilidades frequencistas - embora se admita que, por serem calculadas por indivíduos e de acordo com critérios estabelecidos por estes, estão sujeitas a erros e distorções – se considera que há um valor real, externo. É, aliás, esse valor que se procura, apesar de, sendo a probabilidade estabelecida a partir de uma amostragem, haver sempre uma dada margem de erro no cálculo efectuado e subsistir a hipótese de os dados serem falseados pela existência de um factor desconhecido, nomeadamente quando nos situamos no plano da causa-efeito. Além de que, tendo em conta que a selecção da dimensão e da escolha da amostra e dos factores a considerar, bem como a extrapolação das conclusões, são construções humanas, o factor subjectivo deterá inevitavelmente a sua quotaparte. Admiti-lo é, no entanto, diferente de considerar que as probabilidades não são mais do que essa convicção que, de um modo ou de outro, se forma no espírito do indivíduo. O que os bayesianos vêm dizer não é que os juízos humanos são por natureza falíveis, ou que qualquer cálculo sobre probabilidades pode aproximar-se mais ou menos da realidade mas não será nunca uma certeza; os bayesianos deslocam o próprio objecto. Não alteram o processo, alteram o conceito e, por essa via, o processo. Ou seja, não se trata de diferentes Mas, mesmo estas, nada poderão dizer-nos sobre um concreto facto; mesmo que eu tenha atirado dez vezes a moeda e em todas elas tenha saído coroa, continuo sem poder ter a certeza sobre o que vai cair na 11ª vez. Mais: a probabilidade de cair cara, na 11ª vez, continua a ser de 0,5. E, sendo apenas relações lógicas, a sua existência inscreve-se no universo do pensamento. 370 209 7. Probabilidades respostas a um mesmo problema: frequencistas e bayesianos respondem a diferentes interrogações371. Enquanto os frequencistas pretendem encontrar uma probabilidade que tem um valor determinado, a probabilidade bayesiana mede o grau de convicção de cada indivíduo numa proposição372. Esta diferença de perspectivas pode ser de extrema relevância no que toca à efectividade do dever de cuidado. Uma vez construída a respectiva matriz, com os valores introduzidos pelo legislador (e voltaremos à questão de como são atribuídos esses valores), importa saber como constrói cada indivíduo a sua própria matriz, segunda a qual orienta a sua conduta e que terá de coincidir com os parâmetros normativos. Se considerarmos que as probabilidades são entidades exógenas ao observador, o problema passa pela capacidade de o indivíduo as valorar correctamente, ou seja, é uma questão cognitiva. Mas se considerarmos as probabilidades como uma convicção, independentemente da sintaxe utilizada, teremos de concluir que a coincidência ou não com os valores de P na matriz elaborada pelo legislador será uma questão epistémica. Esta particularidade explicará por que é tão difícil fazer interiorizar fronteiras para o dever de cuidado numa sociedade cada vez mais complexa e diversificada. A perspectiva bayesiana não nega, necessariamente, que haja na natureza determinadas propensões; mas entende que o valor das probabilidades mede antes o grau de plausibilidade com que, numa situação de incerteza, cada hipótese de futuro se apresenta – o que não é o mesmo que uma (eventual) propensão estatística. 372 Durante a segunda metade do século XX, a perspectiva bayesiana foi alargando o seu campo de aplicação, abrangendo progressivamente mais áreas de conhecimento; actualmente, os mais extremistas defendem que o próprio método científico está sujeito às regras a que o teorema de Bayes deu suporte. A ideia de que não há P = 1 (nada é absolutamente certo, podendo sempre surgir uma nova explicação para qualquer fenómeno) indicia que as probabilidades são apenas convicções construídas a partir das evidências. E note-se que esta incerteza radical não se alicerça apenas nas limitações inerentes ao conhecimento, mas na própria componente aleatória da natureza. Sobre o emergir e a evolução do “bayesianismo”, cf. JEFFREY (1992) p. 44-73 e 77-82. 371 210 7. Probabilidades 7.6 Desvios no cálculo das probabilidades Alguns enviesamentos bem conhecidos (e que serão desenvolvidos a propósito da racionalidade limitada) estão também presentes na avaliação das probabilidades, podendo influenciar os valores que cada indivíduo atribui a P373. Referirei apenas três casos particularmente notórios: 1 - o medo de mais tarde se arrepender da decisão tomada (expected regret) pode levar o indivíduo a inflacionar o valor de P. Este fenómeno pode relacionar-se com a tendência para atribuir valores superiores a P quando se trata de riscos voluntários (directamente resultantes do comportamento do sujeito) em comparação com os valores subjectivamente atribuídos nos casos de riscos involuntários374; 2 - para mascarar um valor elevado atribuído ao payoff, que o indivíduo não quer admitir, este pode reduzir o valor de P, alcançando assim o resultado pretendido na matriz de decisão. Estes casos não têm relevância prática para efeito de um juízo de negligência, pois o que subsiste é o comportamento de acordo com uma matriz não admitida pelo Direito, sendo indiferente neste momento (ou seja, a nível de tipicidade) se tal se deve aos valores pessoais de P, do payoff ou do outcome; 3 - alguns indivíduos tendem a ter uma atitude anormalmente optimista, comportando-se temerariamente em situações de risco, por dificuldade em estimar os valores de P375. Como referi, embora os valores de P sejam subjectivos, há uma margem de variação entre os indivíduos que não é ilimitada. Para lá dessa margem, tem de se considerar que o indivíduo Não estou a referir-me a um conceito objectivo de probabilidade, qual atributo da realidade relativamente ao qual os vários factores em seguida enunciados introduzissem distorções. Trata-se de identificar situações em que a probabilidade subjectiva, que, regra geral, aquele indivíduo estimaria, é, naquele contexto concreto, sobre ou subvalorizada. 374 Sobre esta questão, v. OSSENBRUGGEN (1994) p. 188 ss. 375 Cf. HAMOND, KEENEY e RAIFFA (1999) p. 157. 373 211 7. Probabilidades oferece perigo para bens jurídicos, por não se inserir nos padrões mínimos de risk averse (nos casos extremos em que tal corresponda já não a um modus operandi pessoal desconforme com o exigido mas uma incapacidade patológica de fixar os valores de P dentro dos limites socialmente admissíveis, podemos estar mesmo perante casos de inimputabilidade). Estes são apenas alguns dos factores que podem influenciar fortemente a apreciação das probabilidades de determinado evento, com potenciais repercussões a nível do dever de cuidado. Todavia, apesar dos enviesamentos possíveis, subsiste uma base comum e objectiva. Os próprios enviesamentos são identificáveis. Por isso, é viável construir um sistema de “serpente no túnel” em que a probabilidade (P), sendo embora subjectiva, não variará mais do que x (entre A e B). É isto que permite impor o modelo do legislador ao comportamento individual, salvaguardando o princípio da legalidade (lex certa). Por outro lado, o indivíduo só pode “calcular” P por intuição, estabelecendo comparações com os seus conhecimentos e eventuais experiências anteriores. O legislador tenta basear-se em dados concretos, e, à falta deles, em análises de caso detalhadas e objectivas: na primeira hipótese, teremos probabilidades estatísticas; na segunda (de recurso) teremos, pelo menos, um esforço para libertar a estimativa dos enviesamentos, esforço esse que o indivíduo comum não fará. É óbvio que, em qualquer das hipóteses, haverá sempre uma dose de subjectividade (mais na segunda, mas também na primeira, ao escolher as amostras e os dados relevantes). Mas há também uma tentativa, mais ou menos bem sucedida, de expurgar a subjectividade através de uma análise e ponderação diferentes das que o indivíduo faz (e aqui encontramos mais um factor de afastamento do critério do homem médio). Prova disso são os inúmeros casos – e cada vez mais frequentes – em que só depois de estudos científicos se fixam os limites do permitido. 212 7. Probabilidades Temos, portanto, que o legislador tem uma visão de conjunto e estima o valor de P com base frequentista; a estimativa do indivíduo é bayesiana e parte da sua experiência376. Mas há outra diferença importante: enquanto o legislador analisa o problema em termos gerais (P é uma frequência, portanto reporta-se a um período ilimitado ou indefinido) o indivíduo tende a analisar cada acontecimento como um todo. Veja-se o caso do uso de cinto de segurança já referido: para o legislador, viajar sem cinto de segurança aumentará o risco de, em caso de acidente, a pessoa ser projectada, sofrendo lesões que não sofreria se colocasse o cinto. A probabilidade de tal acontecer é x , não sendo possível, evidentemente, determinar ex ante quando e a quem tal acontecerá. Mas o indivíduo considera, não a probabilidade reportada ao total mas, em cada concreta viagem, a probabilidade de ter um acidente mais a probabilidade de, em caso de acidente, este ter as características necessárias para o cinto de segurança ser indispensável para lhe salvar a vida. Compreensivelmente, naquele momento em que se senta no automóvel, o indivíduo estima que essa probabilidade é extremamente reduzida e, não fora por receio de a polícia detectar a infracção, tenderia a não utilizar o cinto. Este comportamento não resulta de falta de racionalidade, como poderia parecer, mas de uma determinada perspectiva do problema, diferente da do legislador ou da companhia de seguros. Como realça Arrow, o indivíduo tem pouco conhecimento sobre os números gerais, condicionando a avaliação às suas experiências pessoais – ARROW (1988) p. 502. 376 213 7. Probabilidades 7.7 De como se formam as convicções (sobre acontecimentos futuros) Já Jacob Bernoulli referia, na Ars Conjecturandi, que qualquer camponês é capaz de fazer previsões sobre matérias do seu interesse, e se questionava sobre a construção teórica mais adequada para explicar este fenómeno evidente. Todos nós, no dia-a-dia, estimamos a probabilidade de verificação de uma multiplicidade de eventos, estimativa que temos por mais ou menos fiável. E será útil para a indagação que aqui nos ocupa referir os factores de que depende a maior ou menor fiabilidade (subjectiva) dessas estimativas. É sabido que, a partir dos seis meses de idade, a criança demonstra começar a compreender relações de causa-efeito. Isto vai permitir-lhe, a partir da extrapolação de relações anteriormente experienciadas, prever que, verificado o elemento causa, se seguirá o estado efeito. E desde Piaget que se sabe que as crianças são capazes de raciocínios probabilísticos, em termos que não diferem muito dos dos adultos377. Isto implica a capacidade de estabelecer relações e de proceder a induções. A aprendizagem humana depende desta capacidade imanente. Toda a construção do mundo, todo o conhecimento operacional tem aqui a sua base378. Quando se enuncia a premissa maior do famoso silogismo “todos os homens são mortais”, não cuidamos de saber como se chegou a essa primeira conclusão. Uma análise mais atenta, no entanto, revela que essa pretensa evidência resulta afinal da constatação de dados cuja validade é apenas PIAGET (1951 [1976]) p. 10, 13, 140 e ss. Nesta afirmação não se pretende tomar partido sobre a natureza do conhecimento nem sobre os seus limites; passa ao lado das querelas epistemológicas que ao longo de milhares de anos têm ocupado os filósofos, e que em nada afectam uma “gramática empírica” universal. 377 378 214 7. Probabilidades empírica e estatística e que são processados segundo quadros operativos partilhados por todos os seres humanos. Como dizia Jorge Luís Borges, até a morte é uma certeza meramente estatística. Sem dúvida. Esse é o máximo grau de conhecimento que podemos alcançar e com o qual são construídas todas as nossas “certezas”. A partilha de quadros comuns que leva a que a indução seja um método admissível enquanto fonte de conhecimento partilhável, é o que nos permite esperar que os valores colocados por cada indivíduo na variável P numa matriz decisória não divergirão para além de certos limites, aliás bastante estreitos. E que dizer das possíveis divergências relativamente aos valores estimados pelo legislador? Em primeiro lugar: serão estes calculados do mesmo modo? Depende. Para certas situações, o legislador poderá recorrer a um cálculo frequencista de probabilidades, baseado em dados estatísticos de que dispõe. Este será o caso quando se trate de comportamentos em contextos bem delineados, em que o grau de indefinição das condutas e do enquadramento fáctico está reduzido ao mínimo. Tome-se o exemplo da condução com álcool. É possível – e há estudos nesse sentido – determinar quais os efeitos que dada taxa de álcool no sangue tem sobre os reflexos do condutor (mesmo tendo em conta as variações individuais); é possível saber qual a probabilidade estatística de um condutor alcoolizado (abstracto) vir a provocar um acidente por influência do seu estado. Estes dados podem reflectir-se no valor de P a 215 7. Probabilidades introduzir na matriz, E constituem, portanto, uma informação que pode ser utilizada pelo legislador e à qual o cidadão não tem acesso directo379. Em outros casos, o legislador não dispõe de valores numéricos e constrói uma estimativa não muito diferente da do cidadão, mas que podemos considerar de algum modo menos dependente de factores subjectivos, uma vez que terá ao seu dispor outros elementos de informação (objectivos na origem, embora depois processados subjectivamente) que lhe proporcionam um background mais sólido. Em resumo: quem defenda que não há uma verdadeira cisão entre probabilidades bayesianas e probabilidades frequencistas, terá ainda assim de admitir que o legislador dispõe de um ponto de partida diferente do do destinatário da norma – quer porque processa mais informação, quer porque essa operação é feita com maior distanciamento pessoal. Para quem defenda uma ruptura entre as duas correntes, o legislador estima o valor de P através de um método diferente daquele utilizado pelo cidadão, nomeadamente nas situações de risco identificado e quantificado. Em qualquer dos casos (mais agudamente na segunda hipótese, mas o problema também se coloca mesmo quando se admite que o processo utilizado não diverge substancialmente) impõe-se encontrar resposta para a seguinte questão: como encontrar – se existe – um denominador comum, de forma a garantir a legitimidade da norma? Dito de outro modo: se prescindirmos da figura do homem médio, o que nos garante que o código Poderá, naturalmente, informar-se sobre esses dados, visto que eles não são secretos. Mas o seu desconhecimento não afecta o dever que sobre ele recai de evitar conduzir alcoolizado – e note-se que este dever é independente de proibições que refiram um valor numérico para a TAS. O desconhecimento desses dados estatísticos não consubstanciará um erro previsto no n.º 1 do artigo 16.º, do Código Penal, nem afectará a consciência da ilicitude a que se reporta o artigo 17.º do mesmo código. 379 216 7. Probabilidades utilizado é apreensível pela multiplicidade de indivíduos a quem o direito se dirige?380 A solução que se propugna actua em duas vertentes. Por um lado, admitindo que a estimativa das probabilidades feita por qualquer indivíduo na plena posse das suas faculdades mentais381 corresponde a um padrão de racionalidade comum. Por outro, respeitando uma margem de variação que seja compatível com as naturais flutuações entre indivíduos. Por isso, os valores inscritos na matriz com que se opera deverão admitir uma variação que traduza um equilíbrio entre o necessário por imperativos de justiça e o socialmente suportável382. Note-se que só convencionalmente o recurso ao homem médio dá solução a este problema na negligência; de facto, esta abstracção em nada contribui para a clarificação do conceito de dever de cuidado. 381 Como é evidente, poderá suceder que, em virtude de anomalia psíquica (por exemplo, uma oligofrenia), esta capacidade seja afectada; mas estas situações serão resolvidas em sede de inimputabilidade. 382 Não se tratando de valores objectivos e quantitativamente fixos, não se pode exigir que o indivíduo se conforme ao que, estando presente na mente do legislador, não é apreensível com exactidão através do preceito legal. Quando o legislador entenda não haver margem para incorporar estas flutuações, deverá fixar expressamente determinados valores ou condutas proibidos que pautem de modo inquestionável o comportamento admitido ou ilícito. 380 217 8. O algoritmo do cuidado 8 O ALGORITMO DO CUIDADO 8.1 Um modelo de gestão do risco A medida do cuidado (a diligência) consubstancia um modelo de gestão do risco que corresponde ao óptimo de racionalidade na composição dos factores em jogo. Ou seja, trata-se de uma referência objectiva, possível de construir por qualquer um e socialmente configurada e interiorizada – por isso acessível também ao agente. Porquê construir um modelo? Porque, como afirma Raiffa, se construirmos um modelo de um problema real podemos usá-lo não só para orientar as acções presentes, mas também para antecipar problemas futuros383. Ou, segundo Gass, porque os modelos permitem compreender como o mundo real funciona e ajudam a prever o comportamento humano384. RAIFFA (1968) p. 294: “If we develop a simulated model of a real problem area that evolves dynamically over time, not only can we use it to guide our present actions, but, equally important, we can follow the denouement of the problem in real time; the implication is that at any stage we can use the model, the actual choices made in the past and the pattern of information currently known to analyze what our present best choice should be and to anticipate problems that we may face in the future”. 384 GASS (1985) p. 11. 383 218 8. O algoritmo do cuidado Há inúmeras definições de modelo, diferindo não só consoante os autores mas também consoante a função a que se destinam e o modo como serão utilizados. No entanto, pode-se generalizar dizendo que, grosso modo, um modelo é uma representação do real385, na construção da qual se desprezou o acessório e se reteve apenas os traços essenciais. Pode ter uma dupla utilidade: compreender um fenómeno, e servir de objecto de experimentação (que sobre o objecto real seria impossível) através de operações de simulação. Atente-se na definição supra: o acessório e o essencial não são dados mas resultado de uma opção com vista a determinado fim. Nessa medida, sendo, por um lado, um ponto de partida para análise, um modelo é também um ponto de chegada de uma proposta de análise. Um modelo é expresso numa linguagem simbólica, que pode ser matemática, lógica, computacional, etc. Em certos casos, pode utilizar-se simplesmente a linguagem natural. Tudo depende do sistema de referência e do fim a que se destina o modelo. Estruturalmente, um modelo comporta elementos seleccionados do sistema de referência e ligações inter-relacionais. Da estrutura assim constituída fazem parte variáveis – também elas alvo de uma selecção significativa – que podem ser controláveis ou incontroláveis. Estas últimas comportam um grau de incerteza cuja amplitude oscila entre um mínimo em que se pode ficcionar que estamos perante um modelo determinista, uma vez que a aleatoriedade do mesmo é desprezível – e um ponto a partir do qual só podem ser representadas em termos estatísticos; falamos então de modelos estocásticos. Não estou aqui a circunscrever a definição aos chamados modelos icónicos; refiro representação num sentido mais lato, que abrange não só a reprodução natural do representado, como a sua representação numa categoria analogicamente, ou mesmo simbolicamente, semelhante. 385 219 8. O algoritmo do cuidado Ao problema de que aqui nos ocupamos corresponde, obrigatoriamente, um modelo estocástico, uma vez que o risco inerente à conduta é, em certa medida, uma variável incontrolável. Tratando-se de decisões tomadas no âmbito de situações incertas, alguns dos valores ponderados só podem ter expressão probabilística. A decisão “correcta” deverá ser tomada em função (também) do risco estimado. Segundo Rowe386, são os seguintes os cinco passos do processo de estimativa do risco: 1 - evento causal; 2 - resultado (outcome do evento); 3 - exposição (ao resultado); 4 - consequência; 5 - valor da consequência. O processo envolve a estimativa da probabilidade de ocorrência, nos 4 primeiros pontos (1-4), e a determinação do valor da consequência, no quinto (5). A resposta do indivíduo ao risco depende, portanto, não só das probabilidades de ocorrência da consequência, mas do valor (negativo) da mesma. Rowe realça a importância que a valoração da consequência assume, destacando que a mesma consequência, para diferentes pessoas, ou para a mesma pessoa em diferente contexto, pode ser valorada muito diversamente, levando a diferentes opções. Pode questionar-se se o valor a considerar pelo direito, para efeitos da construção de uma matriz de cuidado, deve ser um valor padrão ou o valor real que o dano constitui para a vítima. Não há uma resposta unívoca para esta questão. De facto, o valor é atribuído normativamente, mas sem desprezar as variações individuais e conjunturais. Estas, por sua vez, podem corresponder a desvios maiores ou menores relativamente ao valor padrão e 386 ROWE (1988) p. 28 ss. 220 8. O algoritmo do cuidado podem, por isso, ser mais ou menos atendíveis387, na medida em que não serão admitidos desvios considerados exagerados ou determinados por factores não valorizados pela ordem jurídica388. Temos, assim, que o valor a inscrever na matriz resulta da intercepção entre o valor padrão (coerente sistematicamente) e o valor que o bem em causa assume especificamente para a vítima, sendo que este último não pode ultrapassar a margem de variação compatível com a flexibilidade do sistema. O conceito de risco não coincide, assim, com o de probabilidade. O risco envolve, além da probabilidade de verificação de dada consequência, a estimativa da gravidade dessa consequência – e esta, por sua vez, depende da valoração (subjectiva ou social) dessa consequência. Só se fala em risco se a consequência for negativa, e do mesmo passo o risco depende não só da probabilidade do evento como também de quão negativo é esse evento. Também no cálculo das probabilidades temos de considerar parâmetros objectivos e subjectivos. A avaliação é “objectiva” – probabilidade objectiva - quando se baseia na observação e medição de um grande número de situações (não será nunca uma certeza, pois tal é impossível de obter). A avaliação é subjectiva – probabilidade subjectiva – quando se baseia em um reduzido número de experiências ou em meras conjecturas. Entre estes dois extremos, situa-se o método segundo o qual a Sobre as variações individuais e o papel que deve ser-lhes atribuído, cf. SIMONS (1999) p. 66 ss., v.g. p. 70. 388 Para melhor se compreender esta questão, considere-se, por exemplo, o disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do Código Penal: o furto é qualificado por ter sido cometido “deixando a vítima em difícil situação económica”. O legislador teve aqui em conta o peso específico que o dano teve para a vítima, ou seja, foi sensível ao facto de que o valor bruto do furto – esse, contemplado na alínea a) – pode não representar o mesmo, subjectivamente, para todas as vítimas. A mesma ordem de ideias terá pontuado na medida da pena do homicídio a pedido da vítima (artigo 134.º: até 3 anos), justificando a diferença relativamente a situações compreendidas no homicídio privilegiado (artigo 133.º: até 5 anos) e que poderiam ser consideradas coincidentes. Por último, é incontornável a desvalorização do bem jurídico produzida pelo consentimento da vítima, seja qual for o entendimento que se tenha desta figura na dogmática jurídico-penal. 387 221 8. O algoritmo do cuidado probabilidade de um evento se infere a partir de um sistema de probabilidades objectivas referentes a situações semelhantes ou que representam parcelas do modelo em análise. As pessoas baseiam as suas decisões em estimativas subjectivas do risco, de tal modo que o risco subjectivo lhes surge como se fosse a realidade. Se considerarmos o risco como o resultado da combinação da probabilidade com a consequência, e englobando esta última a respectiva valoração conforme feita pelo sujeito, a conclusão de que o risco é algo de subjectivo impõe-se como inevitável e independente do conceito de probabilidade que se adopte. Como afirma Fischoff389, “there are no universally options”, pelo que “the search for absolute acceptability is misguided”. Deste modo, os riscos definidos pelo legislador reportam-se, também eles, a um risco subjectivo. Aliás, pode mesmo considerar-se que não existe um risco objectivo. Existe, isso sim, um padrão de risco que, ao ser normativamente fixado, se torna objectivo. 8.2 Definição de um padrão de risco Como deverá este padrão ser fixado? E como garantir que é acessível à população em geral? Deverá corresponder à mediana das percepções do risco naquela sociedade, naquela época, segundo uma matriz de adequação social? Ou deverá antes corresponder ao “risco subjectivo” do legislador, segundo as valorações do direito? Entendo que o padrão de risco fixado na lei deve alicerçar-se: a) numa probabilidade que se pretende tão objectiva quanto possível; 389 FISCHOFF (1981) p.3. 222 8. O algoritmo do cuidado b) numa valoração [das possíveis consequências] a fazer pelo legislador, colocando-se este no lugar da sociedade como um todo e pontuando negativamente as consequências de acordo com o seu potencial lesivo para o bem protegido, a cuja valoração já se procedeu. Ou seja, a título de exemplo: - Uma probabilidade de 0,2 de ocorrência de uma consequência de gravidade 6 (numa escala de 1 a 10) que afectará um bem jurídico de valor 4 (1-10) definirá um risco superior a uma probabilidade de 0,2 de ocorrência de uma consequência de gravidade 4 (1-10) que afectará um bem jurídico de valor 3 (1-10). Por esta via, chega-se a uma definição do grau de risco tolerado (ou cuidado exigido) que não depende das convicções da população (ao modo de um “plebiscito” da opinião socialmente vigente, o que seria inadmissível) mas das valorações do direito. Como qualquer outra opção normativa, também esta não poderá, no entanto, afastar-se demasiado das concepções do “homem médio” sob pena de se tornar: a) imperceptível, porque a sua (inevitável) vacuidade não será preenchida por um código comum; e/ou b) ineficaz, porque não alcança o destinatário ou é sentida como injusta. E deste modo – construído o patamar que permite erigir o “safe enough” do direito como limite a respeitar por todos e qualquer um – pode-se afirmar que quem o contraria não é sensível aos valores consagrados pelo sistema jurídico, assim se consubstanciando o desvalor da acção em causa. Cada indivíduo está então obrigado a procurar a gestão óptima, e não poderá descer abaixo do limite máximo de risco tolerado. 223 8. O algoritmo do cuidado Para encontrar este limite, há que inter-relacionar todos os factores relevantes, de acordo com a respectiva ponderação e probabilidade de ocorrência. Para cada variável haverá portanto dois valores a equacionar: a) a respectiva importância (negativa ou positiva); b) a respectiva probabilidade. É importante ter presente que o (eventual) resultado é uma das variáveis em jogo, também ele sendo considerado segundo a sua gravidade (valor negativo) e a probabilidade de se verificar. Por sua vez, no valor negativo que lhe é atribuído deverão ser tidos em conta todos os elementos relevantes - repetição, duração, projecção em terceiros e/ou no futuro (gerações vindouras), etc. – tendo cada um destes factores uma probabilidade de verificação própria. É por fazer parte do “objecto” a preservar (a medida da diligência) que o desvalor do resultado afecta o desvalor da acção. Assim se compreende o que é, à primeira vista, um dos grandes enigmas da negligência a nível das categorias dogmáticas: como pode o desvalor do resultado determinar o desvalor da acção, que lhe é logicamente anterior? Se a acção é desvaliosa prima facie porque se orientou para a criação de um risco superior ao juridicamente admissível, e se esse limite juridicamente estabelecido resultou da ponderação de diversos factores interdependentes, entre os quais a gravidade do eventual resultado, torna-se óbvio que a gravidade do resultado influenciou indirectamente o desvalor da acção390. Do ponto de vista do Estado, é importante manter os comportamentos aquém de um determinado limite de risco, que mais não consubstancia do que o limite considerado socialmente tolerável. Ao não 390 Sobre esta questão, cf. capítulo 10. 224 8. O algoritmo do cuidado respeitar o cuidado devido, o indivíduo, desde logo, desrespeita uma regra de convivência jurídico-penalmente relevante. Se o resultado vier a verificar-se em consequência, será punido com a pena prevista para o crime consumado. Se o resultado, ocasionalmente, não vier a verificar-se, o tipo fica incompleto. À semelhança do que sucede nos crimes dolosos, teremos então apenas o desvalor da acção – que pode, ou não, ser punível (nos crimes dolosos, estamos perante uma tentativa – umas vezes punível, outras desconsiderada – no caso da negligência estaremos perante um crime de perigo – se o legislador entender que há merecimento para tal e o tiver previsto391). O desvalor da acção corresponderá à actuação (activa ou omissiva – e isto é relativamente indiferente) contrária a uma gestão do risco consentânea com a racionalidade imposta - porque se ponderou erradamente alguma das variáveis; ou por maldade (erro no valor) ou por incompetência (erro na probabilidade). Em qualquer dos casos, o agente, voluntariamente (e é isto que salva o princípio da culpa) agiu contra um paradigma que lhe era jurídico-penalmente imposto. A reacção estatal pode consistir na previsão de sanções, introduzindo assim uma nova variável na equação do agente (que, note-se, desde o início nunca teve como objectivo produzir o resultado danoso). O objectivo será inverter, através desta variável, o resultado da equação. Colocada a questão nestes termos, verifica-se que as fronteiras do dever de cuidado, numa qualquer sociedade, são traçadas de acordo com um projecto de eficiência. Podem, na realidade, ser mais ou menos eficientes, Os crimes de perigo, v.g. os de perigo abstracto, são, paradigmaticamente, crimes dolosos, traduzindo-se em crimes de mera actividade. No entanto, não é conceptualmente impossível um crime de perigo negligente. Defendendo que nada se opõe à existência de crimes de mera actividade negligentes, cf. TORIO (1972) p. 80. 391 225 8. O algoritmo do cuidado mas o seu objectivo é sempre o de conseguir encontrar o equilíbrio óptimo entre os custos de evitar o perigo e os custos do eventual resultado danoso se o risco se concretizar. À primeira vista, seríamos tentados a dizer que o nível óptimo de risco é zero. No entanto, esse é um nível impossível de alcançar, e não constitui um objectivo desejável quer para o Estado quer para qualquer indivíduo. Considere-se o risco provocado pelo acto de fumar. As doenças provocadas pelo tabaco causam despesas ao Estado, como é sabido. O risco de um fumador contrair determinadas patologias é muito superior ao de um não fumador, e o Estado vê-se, assim, sobrecarregado com os custos do tratamento dessas doenças, o prejuízo das faltas ao trabalho, etc. Poderíamos colocar a hipótese de o Estado, simplesmente, proibir por completo a venda e consumo de tabaco. Seria previsível que, como é uso acontecer nesses casos, passasse a existir um próspero mercado de contrabando e venda clandestina. Suponhamos então que o Estado mobilizava meios gigantescos a fim de lutar contra esse mercado, conseguindo, se não eliminá-lo, pelo menos reduzi-lo a uma escala tolerável. Além disso, o Estado investiria grandes somas em programas de tratamento dos fumadores, aplicados durante as penas de prisão a que seriam condenados. Estas medidas não seriam razoáveis do ponto de vista económico, pois, previsivelmente, os custos de toda esta operação (luta contra a importação e venda clandestinas; despesas policiais e judiciárias para identificar, julgar e aplicar sanções aos infractores; despesas com os condenados – incluindo alojamento, alimentação, vigilância e tratamento; custo para a sociedade imposto pelo isolamento improdutivo desses indivíduos) seriam muito superiores aos custos provocados pelas consequências do consumo do tabaco (despesas de saúde, absentismo, 226 8. O algoritmo do cuidado reformas antecipadas por invalidez, etc.)392. Torna-se, portanto, evidente, que neste caso é preferível para o Estado permitir aos cidadãos que fumem393. Vejamos o problema da perspectiva de um indivíduo não fumador394. Pascoal sabe que corre um risco acrescido de vir a contrair cancro do pulmão ou doenças respiratórias – por exemplo – pelo facto de respirar o fumo dos seus colegas de trabalho. Pode evitar esse risco deixando de ir trabalhar – mas obviamente não o faz, pois, ponderando a probabilidade de vir a contrair cancro e o custo (financeiro, físico e psicológico) decorrente da doença, e confrontando-a com a probabilidade (certa) de ficar sem salário e os respectivos custos (materiais, familiares e psicológicos), opta por correr o risco, embora a contra-gosto. Imaginemos agora que Pascoal trabalha numa empresa que proibiu o fumo no local de trabalho. Todavia, Pascoal almoça diariamente num pequeno restaurante próximo, onde não há zona de não-fumadores, e vê-se, portanto, remetido para a condição de fumador passivo durante uma hora por dia. Passará Pascoal a frequentar outro restaurante, para evitar esse risco? Depende. Se o outro restaurante disponível na zona for um estabelecimento mais luxuoso, em que Pascoal pague um mínimo de 25 euros por refeição, enquanto no restaurante onde costuma ir o almoço custe 6 euros, e se Pascoal ganhar 1000 euros por mês, provavelmente preferirá correr o risco de respirar fumo durante uma hora por dia a viver com 500 euros/mês para todas as despesas: E não nos esqueçamos de que o Estado aufere lucros com o consumo do tabaco, através das receitas fiscais, o que teria de ser também considerado na coluna dos custos, como “lucros cessantes”. 393 Isto, naturalmente, não significa que o Estado não possa e não deva impor regras, nomeadamente destinadas a proteger a saúde dos fumadores passivos, como, aliás, tem vindo a verificar-se crescentemente. 394 Os dados deste exemplo reportam-se a um contexto legal em que não esteja vedado o fumo em todos os lugares públicos, como ainda sucede em muitos países e se verificava em Portugal até há pouco (mais exactamente, até à entrada em vigor da Lei n.º 37/2007, de 14 de Agosto). 392 227 8. O algoritmo do cuidado - [20 (dias) x 25 = 500 euros - compare-se com 20 (dias) x 6 = 120 euros] Mas se Pascoal tiver um historial familiar de cancro do pulmão e, ele próprio, já tiver antecedentes oncológicos, encarará certamente a hipótese de: a) almoçar no restaurante mais caro, reduzindo drasticamente as suas outras despesas; b) gastar tempo e dinheiro (suponhamos: 3 euros/dia em autocarro) para se deslocar até um terceiro restaurante; c) levar um farnel de casa e almoçar no escritório. Neste caso, o que se altera é a dimensão do risco, não os parâmetros financeiros. E, como se vê, a decisão de Pascoal resulta tanto da contabilização das despesas como da probabilidade de um resultado negativo. Nem sempre os factores envolvidos são de ordem monetária. Lourenço sabe, por exemplo, que quando sai à noite para ir a um bar ou uma discoteca, se expõe ao fumo. A sua decisão de ir, ou não, dependerá: a) do interesse em sair; b) da frequência com que o faz; c) da sua susceptibilidade pessoal ao fumo (pode, por exemplo, sofrer de um enfisema, ou ser alérgico ao tabaco, o que será um factor fortemente negativo). Como vemos, tanto os indivíduos como o Estado fazem opções de acordo com uma ponderação de custo-benefício articulada com as probabilidades. E a opção não é, normalmente, orientada para o risco zero – o qual, em rigor, é geralmente apenas uma abstracção ou implica um custo demasiado elevado. Por exemplo: todos nos preocupamos com o risco de sofrer um acidente de automóvel; mas, para o evitar totalmente, teríamos não só de deixar de conduzir, como de deixar de utilizar o automóvel como meio 228 8. O algoritmo do cuidado de transporte, e ainda de passar a residir onde não houvesse automóveis, ou seja, em algum lugar isolado e sem estradas. É possível; mas duvido que alguém tome tal iniciativa apenas para evitar o risco de acidentes. Do mesmo modo, a nível colectivo, há a consciência clara de que o risco é uma presença constante, que não se pretende reduzir a zero, mesmo nos casos em que tal seja possível395. Veja-se o exemplo da poluição analisado por Rodrigues396. Por isso falo do dever do cuidado como sendo um “modelo de gestão do risco”. Trata-se tão só de definir a fronteira entre o risco permitido e o risco proibido. 8.3 Construção de uma matriz. O algoritmo do cuidado Como vimos, um modelo, ao representar uma situação real, pode ser utilizado para experimentar o efeito de eventos hipotéticos sobre essa situação. No âmbito da negligência, um modelo do dever de cuidado vai permitir calcular as repercussões da alteração dos valores de qualquer das variáveis em jogo. Este cálculo é importante para os aplicadores do direito, ao “contabilizar” com rigor todos os factores relevantes, mas pode também ser de grande utilidade para o próprio destinatário da norma. Pense-se nas Sobre esta questão, distinguindo – num sentido um pouco diferente do assumido no presente texto – entre o “safety standard” e o “feasibility standard”, cf. KEATING (2003) p. 6 ss. 396 Rodrigues utiliza o exemplo da poluição para analisar a existência de externalidades – neste caso, os custos, para agentes económicos terceiros, da poluição originada pela actividade de uma fábrica. O problema complica-se na medida em que a poluição resulta, com frequência, de actividades produtivas que geram benefícios, sendo que “para eliminar toda a poluição, teríamos de eliminar quase toda a produção” - RODRIGUES (2007) p. 43-48 e p. 50 ss. 395 229 8. O algoritmo do cuidado empresas que devem gerir uma grande quantidade de informação, de modo adequado a garantir a responsabilidade pelo produto a que estão obrigadas. O dever de cuidado apresenta-se assim como um modelo de gestão do risco, orientado para o nível mínimo admissível, a partir do qual se entra no espaço do ilícito. É de um problema de análise de risco que se trata, tendo em vista a substituição da análise meramente empírica e intuitiva por uma análise segundo princípios de objectividade e a metodologia própria desse sector de conhecimento. A análise de risco é um ramo da análise do processo decisório no qual se coloca especial ênfase no estudo do risco e dos elementos probabilísticos envolvidos397. No caso da negligência, o que se pretende é a construção de um algoritmo através do qual se encontre a resposta à questão: na situação X, foi ou não violado o dever de cuidado? Quanto maior for o grau de incerteza envolvido na situação em causa, maior terá de ser a “margem de tolerância” da resposta. Ou seja: se as variáveis em jogo forem muito oscilantes, terá de se admitir que a redução do real ao modelo se ressente da sua inerente artificialidade a ponto de não ser possível exigir do agente senão uma aproximação dos valores computados. As decisões sob incerteza são tipicamente representadas por uma matriz em que a) b) c) A 1 2 3 B 4 5 6 A, B actos alternativos em escolha Para a comparação entre análise de risco e análise de decisão, desenvolvidamente, cf. HERTZ/THOMAS (1983) p. 20 ss. 397 230 8. O algoritmo do cuidado a), b), c) estados do mundo 1,2,3,4….. consequências Face a esta construção, a escolha do indivíduo equivale a uma aposta em que ele tenta obter o máximo de vantagem (utilidade). Mas como o indivíduo não pode estar certo sobre os “estados do mundo”, tudo se passa exactamente como num jogo (uma lotaria) e o que o indivíduo visa é fazer a melhor aposta, aquela que [lhe parece] oferecer melhores perspectivas de ganho, ou, dito de outro modo, aquela que maximiza a utilidade esperada (UE). SLOVIC baseia-se na seguinte fórmula, construída a partir das noções enunciadas em 1738 por Bernoulli, para analisar a questão da utilidade398: UE(A)= n P( E )U ( X i 1 i i ) em que UE(A) é a utilidade esperada de uma acção, com consequências Xn dependendo dos eventos En, P(Ei) é a probabilidade do resultado i dessa acção e U(Xi) representa o valor subjectivo ou utilidade desse resultado. A construção de uma matriz a partir desta fórmula permite orientar as decisões no sentido de as submeter a princípios aceitáveis por qualquer pessoa racional e de maximizar a utilidade esperada. Slovic alerta para o facto de nem sempre ser fácil listar todas as alternativas e estabelecer os respectivos valores dos resultados e a sua probabilidade, de modo a poder calcular a utilidade subjectiva esperada para cada alternativa399. Na construção da matriz, impõe-se, portanto, atender a duas preocupações centrais: 398 399 SLOVIC et al (2000) p. 21. Ibidem p. 22. 231 8. O algoritmo do cuidado - um framing correcto, isto é, que contemple todas as variáveis relevantes e os respectivos payoff; - uma valoração das diferentes opções possíveis e das probabilidades estimadas, de acordo com os objectivos definidos, e compatível com as concepções socialmente aceites400. É ao longo deste processo que, através da “construção” da descrição, a matriz deixa de ser meramente descritiva, para adquirir uma dimensão normativa, ao fazer as valorações com que define um determinado modelo a que o agente tem de se conformar. Também na escolha das alternativas com que se constrói o framing se projecta o carácter normativo de toda a construção em análise. Não se pretende uma descrição exaustiva de todas as opções possíveis. Desde logo, porque não seria nunca exaustiva, estando, pelo menos, condicionada pelas limitações do autor da matriz (seja ele o Estado ou cada indivíduo). A realidade do processo decisório sempre evidenciou um largo hiato entre o que é concebido como a “racionalidade” do processo e o modo de optar real dos indivíduos. A constatação deste fenómeno, aliás, esteve na origem de prolongada – e ainda não completamente ultrapassada – polémica entre os defensores das teorias de racionalidade e maximização da utilidade e os detractores desse paradigma. Se admitirmos que os indivíduos têm em vista a máxima satisfação dos seus interesses, e que são racionais na abordagem dos problemas (abstraindo de eventuais desvios produzidos pelos enviesamentos), a opção será sempre por aquela alternativa a que corresponda o valor óptimo. 400 Sobre os métodos de valoração, remete-se para o capítulo 4. 232 8. O algoritmo do cuidado Temos então a seguinte matriz Alternativa A1 A2 Evento 1 P= C= P= C= Evento 2 P= C= P= C= Sendo P a probabilidade do evento e C a soma dos valores atribuídos à consequência de cada evento em cada alternativa, temos C = Y + Z, em que Y é o valor da vantagem obtida pelo sujeito através do seu comportamento (o payoff) e Z o valor da consequência da opção (o outcome). A utilidade esperada (UE) de cada alternativa A corresponde ao somatório do valor de PC de cada um dos Eventos (E 1, 2…n). De uma óptica dos custos, a opção óptima (O) será o valor mínimo obtido com a aplicação sucessiva da seguinte fórmula: calculando o Valor de C com401: p C n Yn Z p p 1 onde p=1,2,3, …; Y=payoff ; Z= diferentes outcome para cada opção. De uma óptica de utilidade, é possível calcular o valor da Utilidade Esperada (UE) para cada alternativa através de: n UE( Am ) Pn C n Onde Am = A1, A2,…, Am ; Pn = P1, P2,…,Pn e Cn = n 1 C1 , C2,…,Cn A opção racional será aquela em que UE(Am) alcança o seu máximo. Mas, quando se trate da decisão tomada pelo indivíduo numa situação de risco, há duas probabilidades a ter em conta, sem as quais é 401 Contabilizando a partir da perspectiva das perdas, portanto dos valores negativos. 233 8. O algoritmo do cuidado impossível completar o seu raciocínio: a de o resultado se verificar e a de ser descoberto e condenado. Em termos de política criminal, ambas as probabilidades são relevantes e, sendo manipuláveis, podem levar a resultados diversos em termos de decisão. Mas, para a matriz do dever de cuidado – pois que este é independente do sujeito, apresentando-se-lhe como uma exigência -, só interessa a probabilidade de o resultado se verificar402. Estamos perante um jogo de dois jogadores e soma zero (salvaguardados os aspectos relacionados com o interesse indirecto do infractor no bom funcionamento da sociedade, que, para este efeito, não tem relevância e não é por isso tido em conta). Tratando-se de uma matriz em que só há duas alternativas, o legislador, ao estabelecer os valores de P e da consequência possível de cada evento E, sabe qual o valor para o indivíduo do payoff em causa em cada alternativa A, consoante a opção por ele feita. Imaginemos uma linha sobre a qual se inscreve An: …__A1__A2__Am__An__... Situando o cuidado exigido (CE) em Am, todas as alternativas que se encontrem à direita de Am corresponderão a violação do dever de cuidado, e todas as que se encontrem à esquerda estarão dentro do permitido. O ponto onde se situa Am vai depender dos valores de P e de C (payoff + outcome). Por exemplo, sendo C=Y+Z, se Z=10, então, obrigatoriamente, P=0, sob pena de haver desrespeito do cuidado exigido (este seria o caso de uma O valor da sanção funciona (ou pode funcionar) como meio dissuasor do comportamento, mas não para delimitar o cuidado exigido. Para obter efeito dissuasor, o seu valor deve ser tal que, somado ao payoff, altere a UE para o agente. 402 234 8. O algoritmo do cuidado conduta imprudente que pudesse desencadear uma guerra nuclear; note-se que, como veremos adiante, a vida humana, ao contrário do que muitos serão tentados a acreditar, não tem valor 10). Obviamente, este cálculo não é efectuado ex ante mas sim a posteriori, uma vez verificado o resultado. Mas deve entender-se que, intuitivamente, o agente calculou (dentro da margem de erro tolerada por lei) o risco inerente à sua conduta, estando obrigado a delimitá-lo de acordo com as exigências do direito, ou seja, dentro dos parâmetros de uma gestão considerada adequada (lícita). O indivíduo trabalha uma matriz igual à do direito, mas que preenche com os seus próprios valores. Partindo de uma posição utilitarista, considero que ele vai tentar maximizar UE. O valor que o indivíduo atribui aos payoff é totalmente subjectivo e só a ele diz respeito; a única exigência é que o indivíduo o coloque na matriz e proceda ao cálculo para apurar Am. Como se trata de valores estimados, admite-se que estes não coincidam exactamente com os do legislador. Em todo o caso, mesmo no quadro das probabilidades subjectivas, e salvaguardadas as situações de inimputabilidade, o desvio não pode ultrapassar um certo limite (compreendido na margem de desvio tolerada), sob pena de o indivíduo dever ser considerado portador de um nível de temeridade intolerável pela sociedade. 8.4 Os custos e os benefícios, mais uma vez Regressemos por momentos à representação gráfica da Hand Rule, reproduzida no capítulo 2. 235 8. O algoritmo do cuidado Introduzi a sombreado a zona dentro da qual é permitido agir: esses serão os limites dentro dos quais o risco criado por cada indivíduo é livremente disponível. Suponhamos agora que, num dado troço de estrada, o legislador fixa como limite de velocidade 80 km/hora. Admitindo que todos os outros factores se mantêm inalterados, o risco (e gravidade) de um acidente variam na razão directa da velocidade. Se a velocidade for zero, o risco é igual a zero (se o indivíduo não circular, não provocará, em caso algum, qualquer acidente devido à sua condução – que é inexistente). Se o indivíduo circular a 30 km/hora estará dentro dos limites do permitido, se o fizer a 50 km/hora o risco de provocar um acidente poderá ser um pouco mais elevado, mas manter-se-á dentro da zona do permitido, marcada a sombreado no nosso gráfico; 80 km/hora é o limite até onde lhe são permitidas variações na gestão do risco constituído pela condução (recorde-se que convencionámos manter constantes todos os outros factores, pelo que podemos abstrair deles). Mas como fixa o legislador esse limite? Em que se baseia? 236 8. O algoritmo do cuidado O legislador estabelece o último ponto da escala de velocidades em que o custo de reduzir a velocidade (o valor retirado ao payoff) é superior ao custo de a aumentar (e, correspondentemente, aumentar a probabilidade (P) do resultado negativo). Há aqui duas questões importantes a considerar: a) Sendo o valor de P essencial para efectuar esse cálculo, como é ele estabelecido? b) Como atribui o legislador valores aos payoff? Abordaremos aqui apenas a segunda, uma vez que a primeira foi já tratada no capítulo 7. Podemos defender que o legislador não pretende (ou não lhe é legítimo) reduzir a liberdade de circular a qualquer velocidade, só podendo fazê-lo nos estreitos limites do que seja necessário para manter a segurança dos cidadãos dentro de parâmetros socialmente suportáveis. Ou podemos entender que o Estado deverá ter em conta o interesse social em que os indivíduos possam circular a uma velocidade que lhes permita chegar “em tempo útil” ao seu destino. Seja de uma perspectiva mais liberal ou mais economicista, o payoff não é indiferente. Mas a questão subsiste: como atribui o Estado valores quantitativos ao payoff? A resposta é: não atribui. No modelo de gestão de risco que consubstancia o dever de cuidado, o Estado inscreve na matriz os valores de P e de O (outcome) e daí resultam automaticamente os valores admissíveis do payoff. O valor de P é calculado segundo estimativas empíricas, em termos de probabilidades frequentistas403, como vimos no capítulo 7. O valor de O é imposto normativamente, de acordo com ponderações sistémicas. Ou seja, não admite contestação por parte dos indivíduos, mas também não é arbitrário. Não pode, por exemplo, o Isto no caso do Estado, não se passando necessariamente assim quando se trate das estimativas feitas pelo indivíduo. 403 237 8. O algoritmo do cuidado legislador atribuir o mesmo valor à lesão do bem vida que à lesão do bem propriedade privada, pois, no nosso sistema jurídico, claramente estes dois bens não se encontram em plano de igualdade. Há uma hierarquia intra-sistemática que terá de ser respeitada, encontrando correspondência na matriz. Consideremos um exemplo: - Hipólito quer circular fora de mão na auto-estrada, num troço de 9 quilómetros, para impressionar os amigos. Como todos sabemos, é proibido circular fora de mão nas auto-estradas, constituindo infracção muito grave. Esta proibição destina-se a proteger a integridade física e, em última análise, a vida de eventuais condutores com quem Hipólito possa vir a cruzar-se. Existe, efectivamente, uma dada probabilidade de surgirem outros automóveis e de o choque vir a provocar ferimentos ou a morte. Vamos supor que, à hora a que Hipólito pretende circular (já bastante tarde) essa probabilidade é de 50% (valor estimado pelo legislador, com base em dados empíricos404). Construímos então a seguinte matriz de decisão405: Alternativas Evento 1 (choque c. outro Evento 2 (~choque c. outro carro) carro) P = 0,5 P= 0,5 Alt. 1 (fora de mão) 0 (Y) + 0 (O) Y + 9 (O) Alt. 2 (~fora de mão) 0(Y) + 9 (O) 0(Y) + 9 (O) Não se ignora que esta estimativa “empírica” é, também ela, geralmente resultado de uma indução; mas tem de se admitir que, dada a sua maior distanciação, o legislador tenta encontrar alguma objectividade empírica neste cálculo – tanto quanto é possível ela existir. 405 Para uma situação em que o agente, circulando fora de mão, vem a chocar com outro automóvel, provocando a morte de uma pessoa. 404 238 8. O algoritmo do cuidado Sendo P: a probabilidade do evento Y: o payoff (no nosso exemplo, a vantagem que Hipólito obtém por circular fora de mão, desde que não se envolva num acidente) O : o outcome (um choque frontal com resultado morte, por ex.) UE: a utilidade esperada, resultante do somatório de PO e PY A decisão racional corresponderá à que obtiver um valor mais elevado para UE. Na matriz do dever de cuidado os valores de P e de R são fixados pelo legislador Numa escala de 0 a 10, atribuí o valor 9 à vida406, uma vez que é um valor fundamental no nosso direito; não lhe atribuí o valor máximo (10), pois há situações em que esse valor pode ceder perante outros, como se passa, por exemplo, em certos casos de legítima defesa. Calculando a utilidade esperada (UE) de cada alternativa, segundo o método de Bernoulli actualizado por von Neumann/Morgenstern e por Savage, temos: n Ai P Y R n i i n 1 En com i = 1,2,3,… e Pn Yi Ri E n o valor da função em cada evento n. O número de diferentes eventos determina o número de termos do somatório. Utilizo aqui um sistema simples de escala de utilidades; como vimos já, esta não é a única forma de graduar utilidades, e nem sempre será a mais indicada. 406 239 8. O algoritmo do cuidado Utilizando o exemplo acima ficaria para A1: A1 P1 (Y1,1 R1,1 ) P2 (Y1, 2 R1, 2 ) ou para A2: A2 P1 (Y2,1 R2,1 ) P2 (Y2, 2 R2, 2 ) A1 = 0 + 4,5 + 0,5 Y = A2 = 0 + 4,5 + 0 + 4,5 = 9 Resulta claro, portanto, que A2 é a opção certa, excepto se o valor de Y for superior a 9, o que é normativamente inadmissível (se A1 = A2, pelo princípio da precaução, prevalece A2). Imaginemos agora que as probabilidades são, respectivamente, de 0,3/0,7 e que o indivíduo optou efectivamente por conduzir fora de mão, tendo provocado um acidente. Alternativas Evento 1 (outro carro) Evento 2 (~outro carro) P = 0,3 P= 0,7 Alt. 1 (fora de mão) 0+0 Y+9 Alt. 2 (~fora de mão) 0+9 0+9 A1 = 0 + 0 + 0,7Y + 6,3 A2 = 0 + 2,7+ 0 + 6,3 = 9 Como disse, a partir dos valores fixados normativamente é possível calcular o valor atribuído pelo agente ao seu payoff – ou melhor, o valor mínimo que levaria a uma decisão racional de agir: A1 = P1 . 0 + P1 . 0 + P2 . Y + P2 . R A2 = P1 . 0 + P1 . R + P2 . 0 + P2 . R 240 8. O algoritmo do cuidado A1 > A2; sendo P1 = 1 - P2 Sabendo que P1 = 0,3, P2 = 0,7 e R = 9 temos P2 (Y + R)> R (P1 + P2) P2 (Y + R) > R 0,7 (Y + 9) > 9 0,7 . Y + 6,3 > 9 0,7 . Y > 9 – 6,3 0,7 . Y > 2,7 Y> 2,7 = 3,857…. 0,7 Y≥4 Ou o sujeito atribuiu o valor 4 ao seu payoff (passando o valor de A1 a ser 9,1, superior ao de A2) ou a sua opção implica que ele desvalorizou o bem vida (atribuindo-lhe um valor inferior a 9). Há ainda uma terceira hipótese, que é o sujeito não ter considerado probabilidades concordantes com as previstas pelo legislador – mas esse problema será abordado noutro ponto deste trabalho. Circular fora de mão numa auto-estrada para impressionar os amigos corresponde a um payoff que, numa escala de 0 a 10, terá para o direito um valor nulo – logo, o valor 4 é normativamente inadmissível. Devemos concluir que Hipólito, sejam quais forem os valores de P, terá sido negligente? Se tiver havido um acidente mortal, a resposta é afirmativa407, pois, quaisquer que sejam os valores de P, A2 corresponderá a uma UE superior à de A1. Os únicos valores de P que permitiriam outro resultado seriam 0% e 100%, respectivamente em A2 e A1, ou seja, uma certeza de que não havia qualquer outro carro a circular – mas, nesse caso, Estamos, como é óbvio, a abstrair das questões de causalidade e imputação, dando como assente que se encontrariam resolvidas. 407 241 8. O algoritmo do cuidado não poderia verificar-se o resultado, pelo que não se colocaria a questão do cuidado. Nem todos os casos, todavia, são tão simples. Em muitas situações, os payoff correspondem a interesses protegidos pelo direito, e o seu valor deverá ser contabilizado de acordo com o lugar ocupado na escala de utilidade. Eu diria mesmo que estes casos pertencem às formas de negligência paradigmáticas na sociedade de risco, e que, por isso, terão uma importância crescente. Consideremos o seguinte exemplo: a Empresa WW vende alimentos enlatados, respeitando todas as normas do sector. Surge a suspeita de que determinado corante utilizado pela WW causa alergia a uma reduzida percentagem das pessoas que consomem o milho azul comercializado por aquela empresa. Acontece que o milho enlatado é uma das principais fontes de receita da empresa, tendo grande sucesso no mercado, nomeadamente entre os adolescentes, precisamente devido à cor fora de vulgar. A reacção alérgica é de pouca gravidade, mas ainda assim desagradável, e prolonga-se por mais de uma semana. Os estudos efectuados não permitem estabelecer uma relação de causa-efeito, embora se verifique uma relação de coincidência. Deve a WW retirar o produto do mercado? Deve deixar de usar o corante que constitui o seu principal atractivo? Admitindo que os estudos foram inconclusivos e subsiste uma incerteza na ordem dos 50%; e atribuindo um valor de 5 ao interesse de WW (payoff) e um valor de 6 à integridade física, temos 242 8. O algoritmo do cuidado Alternativas Evento1 Evento2 O corante provoca alergia O corante ~ provoca alergia P = 0,5 P = 0,5 A1 WW vende 0+0 5+6 A2 WW ~vende 0+6 0+6 A1 = 5,5 A2 = 6 Como vemos, dado o reconhecimento do interesse de WW (não releva agora como se chegava a esse valor), com esta probabilidade, se WW continuasse a vender e, posteriormente, se confirmasse que o produto causava as lesões (alergia), WW teria violado o dever de cuidado. Seria necessário que se concluísse dos estudos realizados haver uma probabilidade inferior a 0,5 (bastava, no caso, PR = 0,4) de ser o corante a causa da alergia, para que WW pudesse continuar a vender e não fosse, em caso algum, responsabilizada por negligência. Note-se, mais uma vez, que o direito não exige certezas, admitindo a criação de um risco (neste exemplo, um risco de 0,4). Esse risco admitido depende dos valores do payoff e do bem protegido pela incriminação correspondente ao possível resultado. Analisaremos uma última situação hipotética, para tornar mais clara esta interacção408: - A empresa E, que se encontra a executar obras para a construção de um complexo desportivo, cavou uma vala com dois metros de profundidade, que se encheu com água da chuva, constituindo um potencial perigo para as crianças que eventualmente brinquem nas redondezas. A empresa E assinalou a existência da vala e colocou uma pequena vedação, que não impede efectivamente o acesso. Uma criança de seis anos, que brincava com 408 Exemplo inspirado num caso da jurisprudência, referido no Capítulo 1. 243 8. O algoritmo do cuidado um barquinho, escorregou, caiu e afogou-se. Deve a empresa E ser punida, a título de negligência? Tratando-se do bem vida, o outcome (O) deverá ter o valor de 9, como vimos. Este caso é, assim, até certo ponto, semelhante ao de Hipólito. Mas difere num ponto essencial: os custos da construção da vedação não são irrelevantes para o direito, e muito menos desprezíveis, como o é a vontade de impressionar os amigos conduzindo fora de mão409. Logo, a fronteira do dever de cuidado dependerá do valor do payoff (Y) e da probabilidade de alguma criança ter acesso àquele local (P). Não se exige que a empresa gaste uma quantia elevada para proteger fortemente uma vala cheia de água num local isolado e de difícil acesso, onde a probabilidade de uma criança sofrer um acidente seja, por exemplo, uma num milhão. Por outro lado, se o custo da protecção eficaz for uma quantia insignificante no quadro do orçamento da empresa, a tolerância relativamente à probabilidade admissível será correspondentemente menor: bastarão valores inferiores de P consideravelmente baixos para que seja exigida a construção de uma protecção adequada. Se considerarmos a matriz relativa a este caso, admitindo que o valor do payoff fosse 1 numa escala de 0 a 10, Alternativas Evento 1 Evento 2 (criança afoga-se) (não há crianças) P1 = P2= Alt. 1 (~constroi vedação) 0+0 Y+9 Alt. 2 (constrói vedação) 0+9 0+9 A1 = P1 0 + P1 0+ P2 Y + P2 9 = P2 Y + P2 9 Sobre a relação entre a valoração do bem afectado pelo comportamento indesejável e a valoração social da actividade que está na origem deste, v. DAU-SCHMIDT (1998) p. 85. 409 244 8. O algoritmo do cuidado A2 = P1 0 + P1 9+ P2 0 + P2 9= 9 (sabendo que P1 + P2 = 1) vemos que E só não estaria obrigada a construir uma vedação eficaz caso a probabilidade de não aparecer uma criança no local fosse > 0,9*. * Se o payoff variar, o resultado altera-se correspondentemente. Penso ter ficado claramente demonstrado como é possível – e será, a todos os títulos, conveniente – construir um referente objectivo para o cuidado devido por cada agente em cada situação concreta. Uma vez identificadas as variáveis em jogo e qual o respectivo valor na escala adoptada, é apenas necessário calcular a opção correcta, tendo presente, por um lado, o risco admissível e, por outro, a protecção do bem jurídico em causa. Esta ponderação corresponde à que é socialmente exigida a toda e qualquer pessoa (singular ou colectiva) na sua interacção com o mundo que a rodeia dentro dos parâmetros de segurança (não total, nem sequer máxima, mas relativa) que o direito penal impõe. Nota: Por comodidade de exposição, estamos a trabalhar com intervalos de unidade na escala de utilidade, o que interfere inevitavelmente com a gradação dos valores de P. Como vimos no capítulo 5, esta construção não é exequível, ou não é, pelo menos, adequada. No exemplo em análise, sendo o valor da vida não 9 nem 10, mas próximo de 10, a probabilidade exigida seria próxima dos 100%. Aliás, uma escala de 0 a 100 será porventura mais adequada por permitir mais exactas graduações e pela semelhança com os valores de P expressos em percentagem. Ao longo deste texto, no entanto, utilizei sempre a escala de 0 a 10, por ser mais fácil de trabalhar e não ser aqui necessária grande exactidão. Uma vez que o valor de P não pode ser fixado rigidamente, tendo de se admitir uma margem de variação individual, a utilização de uma escala “simplificada” serve os objectivos aqui visados. 245 9. Parâmetro objectivo de cuidado 9 PARÂMETRO OBJECTIVO DE CUIDADO 9.1 Tipo negligente: tipo aberto? De acordo com uma classificação de Welzel, os tipos penais dividem-se em abertos e fechados. Tipos fechados serão aqueles que, uma vez verificada a factualidade neles descrita, indiciam, sem mais, a ilicitude, sendo apenas necessário, para a confirmação desta, a análise da ausência de causas de justificação; o trabalho do aplicador do direito consistirá, portanto, numa comprovação negativa de qualquer circunstância que afaste a ilicitude desde logo indiciada. Nos tipos abertos, pelo contrário, o trabalho do aplicador terá de se desenvolver positivamente (comprovando a ilicitude), esta não emergindo imediatamente do preenchimento das circunstâncias fácticas do tipo. Dentro desta classificação, o tipo negligente, ao incorporar a violação de um cuidado que não é imediatamente apreensível, antes requerendo uma construção valorativa a partir dos factos concretos, deverá ser considerado um tipo aberto. São conhecidas as críticas feitas por vários autores à classificação elaborada por Welzel, desde as moderadas às mais extremistas – entre os que 246 9. Parâmetro objectivo de cuidado consideram não haver qualquer fundamento para a divisão estabelecida, uma vez que em todos os tipos a avaliação da ilicitude deverá ser feita ainda no âmbito da tipicidade (assim esvaziando o critério utilizado por Welzel) e, no outro extremo, os que defendem que a tarefa de completar a descrição típica se desenvolve plenamente no campo da tipicidade, sem interferir, em caso algum, com a avaliação da ilicitude, que se manteria num plano distinto. Roxin situa-se próximo de um dos extremos, pois, ainda que concorde com Welzel quanto ao facto de os tipos ditos “fechados” compreenderem, na sua descrição, mais casos do que os proibidos, bastando assim verificar se a ilicitude está excluída, entende que, por esta via, os tipos fechados em nada diferem dos tipos abertos: em ambos o juiz terá de determinar a ilicitude, comprovando que não se verifica uma realização do tipo conforme ao direito410. Por outro lado, segundo Roxin, muitos tipos abertos são tão indiciários da ilicitude como os fechados, acrescendo ainda que todos os “puros elementos da ilicitude” de que fala Welzel são elementos normativos, requerendo comprovação mediante um juízo de valor 411. Deste modo, nada de relevante separaria os tipos abertos dos tipos fechados, não se justificando uma classificação que não tem qualquer rendimento para o direito penal. Roxin contesta ainda a posição de Welzel – e esta é uma divergência fundamental - acerca do papel a atribuir ao desvalor da acção, uma vez que considera incorrecta a fronteira estabelecida por aquele autor entre tipicidade e ilicitude. De acordo com Roxin, a realização de uma acção que não consubstancie efectivamente um ilícito não pode representar o desvalor da acção jurídico-penal412. No que se refere ao tipo negligente, a posição de Roxin leva-o a concluir que a violação do dever de cuidado é um pressuposto da realização ROXIN (1970) p. 91-92. Ibidem p. 121. 412 Ibidem p.145. 410 411 247 9. Parâmetro objectivo de cuidado do tipo413, questionando como seria possível o agente violar a norma se não violasse o cuidado exigido. Ou seja, a medida do cuidado (risco permitido) seria delimitada pela proibição (do risco proibido). Segundo a lógica desta concepção, teríamos de concluir que no âmbito da negligência se verifica uma sobreposição total entre tipicidade e ilicitude, levando a uma construção circular: o cuidado seria devido enquanto a sua violação fosse ilícita. Do mesmo passo, tornar-se-ia conceptualmente impossível a existência de causas de justificação na negligência. Coerentemente, Roxin entra também em colisão com Welzel relativamente à famosa frase em que este afirma que matar uma pessoa não é o mesmo que matar uma mosca414. Se entendermos, como Welzel, que matar uma pessoa, mesmo que em legítima defesa, não é igual a matar uma mosca, o desvalor da acção ganha autonomia: sendo elemento da ilicitude, surge, no entanto, indiciado por um primeiro juízo desfavorável devido ao preenchimento da descrição típica – juízo que só será afastado pela existência de uma permissão atribuída pelo direito – construção esta que, como vimos, Roxin contesta. Ora, matar uma pessoa, ao contrário de matar uma mosca, não é efectivamente indiferente para o direito – seja em que circunstâncias for. É algo que reveste a gravidade suficiente para ser regulado (inclusive a nível penal) e só será admitido em condições muito restritas. Isto é assim porque a vida humana constitui um bem jurídico-penalmente tutelado de que, em caso algum, o direito se desinteressa. É por isso que o desvalor da acção, ainda que sendo elemento da ilicitude, só em parte a integra, pois começa desde logo por emergir da acção típica. 413 414 Ibidem p. 270. ROXIN (1970) p. 282 ss. Cf. WELZEL (1955) p. 196 ss. 248 9. Parâmetro objectivo de cuidado Transpondo esta perspectiva para o plano dos crimes por negligência, e tomando o cuidado exigido como uma realidade objectiva correspondente a um padrão de racionalidade imposto pelo direito com vista à (reputadamente necessária) protecção de bens jurídicos, teremos de concluir que desviar-se desse padrão corresponde a uma acção cujo risco é à partida considerado inadmissível – indicia, portanto, e até demonstração em contrário, um desvalor para o Direito O que não impede que, em circunstâncias excepcionais (circunstâncias relativas ao contexto fáctico, não às motivações do autor, pois essas estarão ligadas à avaliação da culpa) haja uma permissão que anule a ilicitude potencial. Se A consente em ser alvo de uma acção de B que não respeita o padrão normativo de cuidado, esse consentimento será válido nos limites que lhe são atribuídos como causa de exclusão da ilicitude. E, desse modo, a haver um resultado – por exemplo, uma lesão à integridade física de A –, a partir do ponto em que o consentimento deixa de ser válido, B será punido por ter criado um risco proibido (por desconforme com o cuidado exigido) que se materializou no resultado. Mas a proibição, tendo em vista a protecção do bem jurídico tutelado, sempre existiu em abstracto (genericamente) sendo apenas afastada pelo consentimento no caso concreto. Se acompanharmos Costa Andrade, na distinção entre consentimento e acordo, veremos que, nos casos de acordo, se pode falar de não preenchimento dos elementos do tipo (e, nesse caso, não haverá efectivamente lugar ao desvalor da acção)415. Toda a longa discussão em redor do consentimento na negligência incide sobre o problema do objecto e consequente âmbito do mesmo, não sobre a sua validade operativa416. O mesmo valerá para quem, como Augusto Silva Dias, defende que o consentimento deverá operar sempre ao nível da tipicidade e não da ilicitude – cf. S. DIAS (2010) p. 126 ss. 416 Sobre toda esta polémica, exaustivamente, cf. ANDRADE (1991) p. 265-361. 415 249 9. Parâmetro objectivo de cuidado As posições doutrinárias sobre este problema divergem e são reveladoras da posição que os respectivos defensores sustentam sobre a interligação entre acção e resultado. Para aqueles adeptos mais radicais da teoria da acção final, que não só colocam a tónica no desvalor da acção como o consideram o único elemento relevante para a ilicitude, ao consentir na acção arriscada, a vítima afasta o desvalor da mesma e, portanto, a ilicitude será inexistente, qualquer que seja o resultado. Nesta linha podemos encontrar autores como Zielinski ou Shaffstein417. Num outro extremo, autores como Burgstaller defendem que o consentimento da vítima, ao abranger a acção arriscada, não compreende uma eventual lesão dela resultante e com a qual a vítima não se conformou418. Esta posição parece-me francamente insustentável, pois não se pode assumir riscos sem configurar (e assumir) a probabilidade, maior ou menor, de verificação de um resultado não desejado. Entender de outro modo será um erro lógico e linguístico, pois o termo risco se esvaziaria de qualquer sentido útil. Só – mais uma vez – a indefinição entre risco e perigo leva a que se sustente ser possível a vítima consentir no risco acreditando que não haverá resultado. Em que consistiria então o risco? A objectivação do cuidado, com a sua redução a um paradigma de risco, clarifica esta questão. O que torna a acção desvaliosa é a sua inserção no âmbito de uma esfera de risco proibido. Ao consentir na acção, a vítima está a aceitar – a tomar como sua – a correspondente síndroma de risco que, intrinsecamente, comporta a potencialidade de desencadear o dano. Qualquer outra interpretação carece irremediavelmente de rigor. Neste ponto, os autores que subscrevem a teoria da acção têm razão. Mas a V. sobre esta teoria, ANDRADE (1991) p. 321 ss. e respectiva crítica a partir da p. 329. Cancio Meliá considera que esta teoria permite ultrapassar os limites relativamente a certos bens jurídicos, assegurando um âmbito de aplicação mais vasto ao consentimento, mas reconhece que, deste modo, se reacende a discussão sobre o objecto do consentimento – CANCIO MELIÁ (2001) p. 157. 417 418 250 9. Parâmetro objectivo de cuidado construção que fazem a partir daí insere-se num paradigma de direito penal que, sendo possível e internamente coerente, não corresponde ao direito penal vigente (e não apresenta, face a este, vantagens que compensem os inconvenientes). A relação entre acção e resultado nos crimes negligentes será abordada no capítulo seguinte. Por ora, bastará chamar a atenção para as dificuldades apresentadas por um direito penal em que os comportamentos arriscados fossem em geral punidos, sem exigência de concretização numa lesão efectiva de um bem jurídico – sendo certo que toda a interacção social comporta riscos e é impossível, como constatamos na vivência quotidiana, manter a própria conduta permanentemente dentro dos limites do risco permitido, sem que haja qualquer falha de tempos a tempos419. A punição de todas essas falhas – muitas das quais não se concretizam em qualquer resultado – só aparentemente protegeria os bens jurídicos, pois que, a curto prazo, paralisaria toda a vida social – ou, em alternativa, levaria o direito sancionatório ao total descrédito e ineficácia. No quadro de uma relação de interdependência entre acção e resultado como a que defendo, o consentimento do ofendido implica a adesão à esfera de risco e respectiva projecção no espectro de resultados imputáveis. O que significa que estarão justificados os danos provocados, desde que incluídos no âmbito dos direitos disponíveis – ou seja, se Ana pede boleia a Inácio, vendo que este, porque fortemente alcoolizado, não se encontra em condições de conduzir, e sobrevém um acidente em consequência da má condução, Inácio não será responsável se Ana sofrer ofensas à integridade física, mas responderá por homicídio negligente se Ana morrer. Como afirma Stratenwerth, ninguém pode corresponder à exigência de uma atenção permanente, “esperar o contrário é irrealista” – STRATENWERTH (2000) p. 433. 419 251 9. Parâmetro objectivo de cuidado A vítima não estende (reflexivamente) o consentimento à hipótese de ficar ferida num acidente, e muito menos à de morrer, mas ao consentir na esfera de risco que pode levar a esse resultado está a assumi-la como sua, fruto da sua opção, e não pode, portanto, rejeitar uma eventual concretização no resultado. Assume o risco, consente no perigo, terá portanto de aceitar o resultado. O único obstáculo, a partir daí, é o carácter indisponível dos bens jurídicos, que torna ineficaz o consentimento420. Os limites serão, afinal, exactamente os mesmos que se verificam nos crimes dolosos421. O mesmo paralelo pode ser estabelecido relativamente a todas as causas de justificação422. O direito de necessidade, em particular, demonstra a diferença entre a acção ab initio não desvaliosa e aquela que, correspondendo à descrição típica, indicia uma ilicitude que é depois excluída: a vítima é atingida por uma acção, à partida desvaliosa, mas, porque desse modo se evita um resultado mais grave (i.e. se protege um bem jurídico mais importante), a ilicitude é afastada. O (des)valor do resultado é afastado no cômputo final; e não se pode considerar desvaliosa uma acção que, a final, resulta protectora de bens jurídicos e foi desencadeada com esse fim (na medida em que o É necessário distinguir entre o âmbito da aplicação do consentimento, como causa de exclusão da ilicitude, e o âmbito abrangido pela adequação social. Ao primeiro pertencerão, por exemplo, os casos (recorrentes na jurisprudência e na doutrina e que aqui utilizámos como exemplo) em que a vítima consente ser transportada por um condutor que não está evidentemente em condições de conduzir. Ao segundo caso pertence o clássico exemplo do pugilismo, em que é inarredável o risco de morte dos pugilistas, não havendo lugar, nessa eventualidade, a responsabilidade penal - desde que cumpridas as regras e procedimentos usuais, a morte deve ser considerada como resultado atribuível aos riscos do jogo e não à acção do adversário. É uma situação em tudo semelhante à morte na pista de um corredor de Fórmula 1. Na medida em que o pugilismo é um desporto socialmente aceite e lícito, não há sequer lugar à colocação do problema do consentimento relativamente a lesões contidas nos riscos próprios do combate – estes serão sempre, e para todos os efeitos, riscos permitidos. 421 Fica apenas em aberto a discussão (irrelevante para o problema aqui em análise) sobre se o âmbito da justificação deve ser o mesmo ou poderá, em certos casos, ser mais abrangente na negligência, como pretende Stratenwerth - STRATENWERTH (2000) p. 427 ss. 422 Neste sentido também, Jescheck, que analisa separadamente cada uma das causas de justificação – JESCHECK (1988) p. 534 ss. 420 252 9. Parâmetro objectivo de cuidado agente tinha consciência da situação justificante). Mas esta conclusão resulta de uma ponderação que põe vários interesses em confronto, de um processo que se constitui como um plus relativamente ao conteúdo do tipo. Seguindo esta linha de raciocínio, não seremos levados a dizer que, de acordo com a construção do cuidado aqui defendida, a avaliação da ilicitude, pelo menos na negligência, tem de ser feita logo na tipicidade? Se assim fosse, deixaria de ter sentido prático a cláusula da alínea c) do n.º 2 do artigo 34.º, pois que a exclusão da ilicitude, em lugar de uma permissão excepcional, passaria a funcionar como critério delimitador da tipicidade. Pelo contrário, é evidente a importância de uma definição clara do “cuidado devido” para que o agente possa equacionar a ponderação em jogo – resultante, aliás expressamente, da norma do artigo 34.º do Código Penal. O tipo negligente poderá estar preenchido e, ainda assim, ser excluída a ilicitude do facto. Não há, como pretende Roxin, uma área “em aberto” que só possa ser preenchida com a avaliação, em simultâneo, da ilicitude; os tipos negligentes não serão, a despeito das aparências, fundamentalmente diferentes dos tipos dolosos423. Todos os tipos requerem uma actividade de integração orientada normativamente com vista à sua aplicação aos casos concretos424. O que não significa, de modo algum, que a ilicitude tenha de ser analisada a nível da tipicidade. Por englobar elementos valorativos, o tipo não deixa de ser descritivo – tanto quanto uma “descrição” pode ser apenas descritiva. Interpretar uma realidade, embora implique as valorações subjacentes aos conceitos, não é valorar essa realidade. Segundo Corcoy Bidasolo, é a conexão entre os aspectos subjectivos e objectivos do tipo que dá aos crimes dolosos a aparência de determinação, mas na realidade também nestes as variantes da conduta são inumeráveis e é o dolo que confere o significado típico – CORCOY BIDASOLO (1989) p. 216. 424 Também Jakobs afirma que não só os tipos negligentes não são tipos abertos como “nem sequer são menos determinados que os tipos dolosos” – JAKOBS (1991) p. 388. 423 253 9. Parâmetro objectivo de cuidado Sem dúvida, alguns tipos serão mais puramente descritivos e em outros o uso de termos valorativos, ou referentes a categorias normativas, exigirá uma actividade interpretativa mais complexa. Mas nenhum tipo penal é meramente descritivo. Desde logo, porque nenhuma sentença verbal é meramente descritiva, dependendo todas, na sua capacidade comunicacional, de uma leitura impregnada de factores sociais, culturais, etc. Mas também porque, para lá desse significado situado (de que não é possível abstrair, pois dele depende também a compreensão por parte do destinatário), os tipos penais comportam uma carga normativa que só se revela com segurança através do trabalho de interpretação. No caso dos tipos negligentes, no entanto, pode conceder-se que um factor distinto do que se verifica nos crimes dolosos dificulta a tarefa de aplicação. É certo que na negligência encontramos uma descrição típica que pode considerar-se paralela à dos correspondentes crimes dolosos. Se no artigo 131.ºdo Código Penal podemos ler “não matarás dolosamente”, no artigo 137.º leremos “não matarás negligentemente”. Tanto o dolo como a negligência são conceitos normativos, e os artigos 14.º e 15.º são também paralelos na sua função. A diferença reside em que o dolo, ao constituir uma ligação do indivíduo ao resultado típico, se torna mais fácil de densificar, enquanto na negligência terá de se considerar a interferência de uma outra entidade (a “síndroma de risco”). Neste ponto, penso que a construção de uma matriz de decisão como a que defendo, ao fornecer um critério de gestão do risco, ajudará a minorar a indeterminação, proporcionando clareza do comando, segurança para o destinatário e uma base objectiva para discussão e recurso das decisões judiciais. Para a negligência, não é tanto a questão da classificação dos tipos em abertos e fechados que é importante, tanto mais que esta tem sido sujeita a várias formulações, cobrindo hoje um largo espectro de variantes. O que 254 9. Parâmetro objectivo de cuidado importa é definir o quid e o modus utilizados para completar um tipo penal que, por natureza, “não diz tudo”. A figura da adequação social, desenvolvida por Welzel, tem sido convocada para esta tarefa, chegando mesmo a haver quem entenda (como sucedeu com Welzel em dada fase do seu pensamento) que a medida do cuidado corresponde à adequação social425. Segundo a construção aqui defendida, no entanto, nada mais longe da verdade. Enquanto o algoritmo do cuidado se pretende um parâmetro objectivo no mais puro sentido do termo, um modelo de racionalidade normativamente imposto, a adequação social está ligada ao critério do “homem médio”, da “normalidade do tráfico social”. Ou seja, é construída precisamente no sentido inverso, levando a duas consequências negativas: a imprecisão (incerteza do comando) e a acomodação (cedência) a práticas sociais desaconselhadas (perda de normatividade). Tem apenas, sobre o algoritmo proposto, a vantagem de ser – embora de forma difusa, devido à imprecisão referida – acessível sem dificuldade à generalidade dos indivíduos, pois mais não faz do que reflectir o que são prática e valoração usuais. Reduz, portanto, as exigências de informação e a frequência de erros sobre factores relevantes para a orientação da conduta – mas porventura com sacrifício do nível de protecção dos bens jurídicos. Esta crítica não significa que eu recuse qualquer papel à adequação social em matéria de negligência: pode, sem dúvida, ter um valor indiciário, mas sem que assuma uma função configuradora do cuidado devido. Será útil, nomeadamente, como código comum que facilita a primeira abordagem WELZEL (1961) p. 17 ss. Pode ver-se uma análise da evolução do pensamento de Welzel sobre esta matéria em CANCIO MELIÀ (1992). Sobre as várias implicações da adequação social no plano da negligência em geral e do dever de cuidado em particular, desenvolvidamente, cf. FARIA (2005) p. 936 ss.; cf. v.g. a abordagem da adequação social na sua relação com o risco permitido – p. 946-956. 425 255 9. Parâmetro objectivo de cuidado da constelação de riscos que o sujeito deve gerir426. E, obviamente, será factor a ter em consideração quando condicione as valorações do agente a ponto de interferir na própria percepção que este tem da realidade significante. In limine, a adequação social pode funcionar como causa de justificação (ou mais exactamente como exclusão da tipicidade), no âmbito dos crimes negligentes, tal como sucede nos crimes dolosos. Mas para tal deverá ser aceite (ou pelo menos tolerada) pelo sistema jurídico. Ao situar determinados comportamentos no âmbito do risco (socialmente) permitido427, a adequação social não pode, sem mais, impor essa valoração. Analisemos dois exemplos. É frequente, no futebol, os jogadores provocarem lesões aos adversários, que podem mesmo resultar de actos não permitidos pelas regras do jogo. Estes actos darão origem à marcação de penalidades desportivas (note-se, os actos, não as lesões deles resultantes). Mas, enquanto estiverem contidos na normalidade do jogo (ainda que não necessariamente de acordo com as regras), deve entender-se que não dão lugar a resultados puníveis penalmente. Não poderá, no entanto, dizer-se que se trata de risco permitido pelas regras do jogo, pois em certos casos estas não são respeitadas. E só muito forçadamente se concluirá que beneficiam do consentimento do ofendido. Já a prática (ainda) recorrente de transportar crianças nos veículos automóveis sem respeitar as condições de segurança exigidas (cintos, Welzel chama a atenção para o facto de certas acções susceptíveis de criar perigo serem de tal forma habituais que já não temos consciência da sua perigosidade – WELZEL (1954) p. 98. 427 É nesta linha de pensamento que Jakobs afirma que “o risco permitido coincide com a adequação social”, na medida em que esta define a utilidade de acções perigosas e as exigências para que estas sejam toleradas. Jakobs, aliás, acaba por estabelecer por esta via um paralelo entre a adequação social e o estado de necessidade – JAKOBS (1997) p. 173. Também Maiwald refere o paralelo entre o caminho percorrido na identificação do risco permitido e a ponderação de interesses no estado de necessidade, uma vez que a “permissão de acções perigosas” se justifica “em função da sua utilidade social” – MAIWALD (1985 [1996]) p. 18. 426 256 9. Parâmetro objectivo de cuidado cadeiras adequadas à idade e peso, etc.) não excluirá, em caso algum, a ilicitude e responsabilidade caso a criança, por esse motivo, venha a sofrer lesões da integridade física. Se no primeiro exemplo a adequação social tem eficácia, é porque o direito, atendendo aos interesses em causa, a admite. Mas não passa no crivo das valorações jurídicas, no segundo caso, pois os interesses da criança se sobrepõem. Por outras palavras, a adequação social pode fornecer critérios e indicações importantes ao legislador, bem como ao aplicador do direito. Mas se entrar em conflito com a ordem jurídica será sempre postergada. Nesses casos, é duvidoso que possa sequer funcionar como causa de exclusão da culpa, pois raramente se admitirá que o agente não conhecesse a norma contrária à prática seguida usualmente na comunidade – e a partir do momento em que a conhece está obrigado a respeitá-la, ainda que seja corrente não a acatar428. Será exacto que a norma que estipula medidas de precaução face a perigos potenciais facilmente previsíveis configura o próprio dever de cuidado, por forma a que o seu desrespeito, seguido do resultado, implique necessariamente a responsabilidade do agente? Ou é possível afirmar que em certos casos, não obstante ter desrespeitado a norma, o agente não faltou ao cuidado devido? Esta é uma outra questão, que tem sido abordada por vários autores e assume relevância sempre crescente, face à proliferação de Não estou a referir-me aos casos de confronto em que o direito se opõe a valores e comportamentos generalizadamente aceites. Regressando ao exemplo referido: mesmo que seja “normal” em certos meios transportar uma criança sem qualquer protecção, não deixa de ser responsável, a título de negligência, alguém que o faz e tem um acidente de que resultam ferimentos na criança, evitáveis se esta fosse devidamente sentada. Apesar da prática contrária à norma, o valor da vida e integridade física é prezado (algo incoerentemente) pela população em geral, e em nome dele deve ser reprimida uma prática errada e perniciosa. Sem que, de todo, isto signifique admitir um direito penal “pedagógico” que pretende incutir valores, pois não é essa a esfera de actuação do jus puniendi. 428 257 9. Parâmetro objectivo de cuidado situações de risco e de regras técnicas destinadas a regular as actividades mais complexas e perigosas429. Por um lado, pode-se argumentar que, se o resultado se verificou e é atribuível ao incumprimento da norma, não houve, da parte do agente, uma adequada protecção do bem jurídico. Nesta perspectiva, o problema situar-se-á apenas a nível da imputação objectiva, nada tendo a ver com a delimitação do risco proibido: este era proibido, à partida, por razões formais (a existência da regra técnica e seu incumprimento) e materiais (a [potencial] concretização do risco no resultado). Não basta, no entanto, a mera relação de causalidade, pois situações haverá em que o resultado fica a dever-se a um acaso, uma vez que a probabilidade (em abstracto) de aquela conduta (em concreto) produzir o resultado típico era ínfima430. Aí, responsabilizar o agente pelo resultado equivaleria a uma responsabilidade objectiva repudiada pelo direito penal431. A solução do problema decorre, assim, de toda a construção feita em redor do instituto da imputação objectiva e já não da delimitação do dever de cuidado432. As regras técnicas constituirão (ex ante) uma indicação genérica e simultaneamente terão (ex post) uma função indiciária – mas não mais. Não as respeitar, poderá constituir um perigo Entre nós, cf. COSTA (1992) p. 484 ss. e FARIA (2005) p. 943 ss. O que equivale a afirmar a incorrecção da norma técnica, pois se basearia numa avaliação não racional dos factores em jogo. A legitimação da norma técnica é estabelecida funcionalmente. 431 Para além das objecções sobejamente conhecidas a uma responsabilidade penal pelo resultado, nomeadamente no plano dos princípios, cf. numa outra perspectiva (orientada para o funcionalismo) JAKOBS (1987) p. 635 ss. Com uma posição completamente diversa, admitindo expressamente a responsabilidade objectiva em direito penal, ainda que de forma mitigada, v. PAGLIARO (1988) 401 ss. 432 O risco de responsabilidade objectiva é real, mas não tem necessariamente de ser resolvido através da inclusão do cuidado devido na culpa, como pretende TORIO LOPEZ (1984) p. 58. 429 430 258 9. Parâmetro objectivo de cuidado abstracto (punível, se tal estiver previsto), mas não conduz automaticamente à responsabilização pelo resultado verificado433. Consideremos o exemplo, sugerido por Paula Ribeiro Faria, de um condutor que, às cinco da manhã, passa o semáforo vermelho com todas as cautelas e é surpreendido por um peão embriagado que se coloca na trajectória do veículo, atropelando-o434. Pode afirmar-se que o condutor decidiu passar o semáforo mas não decidiu criar um risco inadmissível, uma vez que teve, do seu ponto de vista, os cuidados necessários para o fazer em segurança. Se, não obstante, se verificou o resultado, das duas uma: ou não há imputação objectiva, sendo que nessa hipótese poderia não ter havido violação do cuidado – e o agente não seria, como é óbvio, responsabilizado por um resultado fruto do azar – ou há, e o agente estava em erro (na avaliação que fez)435. Sendo que este erro deverá, em princípio, ser considerado censurável, por haver uma proibição da conduta. Constata-se, mais uma vez, que o dever de cuidado não é passível (conceptualmente) de ser determinado em abstracto: tem de ser avaliado em contexto436. E constata-se, igualmente, a ligação indissociável entre acção e resultado, na negligência. Corcoy Bidasolo chama a atenção, a este propósito, para o papel fundamental a desempenhar pelo fim de protecção da norma, que assumirá relevância interpretativa em dois níveis: na determinação do dever objectivo de cuidado e como critério de imputação – CORCOY BIDASOLO (1989) p. 122. 434 FARIA (2005) p. 962. 435 Note-se que, de acordo com a matriz decisória que proponho, o valor de P (probabilidade do resultado) teria de ser baixíssimo, tendo em conta a pouca importância que tinha para o agente passar o semáforo ou esperar que este mudasse para verde. 436 Também neste sentido, COSTA (1992) p. 499. e p. 495 nota 68. 433 259 9. Parâmetro objectivo de cuidado 9.2 O elemento subjectivo. Capacidades e conhecimentos individuais. É de longa data a polémica sobre a consideração das capacidades e conhecimentos individuais a nível do tipo negligente. Basicamente, podemos estabelecer a divisão entre os autores que defendem que o padrão do cuidado deve ser objectivo e os que entendem que o dever de cuidado não pode abstrair das características do agente em concreto437. Entre estes últimos, embora em maior ou menor grau todos concordem em que não se pode abstrair das capacidades do sujeito, não há unanimidade sobre que características devem ser tidas em consideração e em que termos. A favor da posição objectivista, militam entre outros os seguintes argumentos: - só um critério claro (claramente definido e delimitado) da ilicitude permite aos indivíduos orientarem a sua conduta de acordo com o direito; - a consideração autónoma dos factores objectivos, na negligência, permite (ao separar a tipicidade e a ilicitude de juízos próprios da culpa) a aplicação de medidas de segurança a um agente que, tendo praticado um facto típico e ilícito, seja inimputável438; ao aplicar um padrão subjectivo, e concluindo que o agente não era capaz de obedecer ao padrão de cuidado adequado a evitar o resultado, seria desde logo excluída a tipicidade, inviabilizando qualquer reacção penal; Numa posição ainda mais extremista, encontram-se aqueles que defendem que é preciso ter em conta a relação concreta estabelecida entre o agente e o ofendido. Sobre esta questão, cf. WITTING (2005) p. 38 ss. 438 Neste sentido, JESCHECK (1988) p. 513. Contra este argumento de Jescheck têm-se levantado muitas vozes, argumentando que as medidas de segurança se baseiam na perigosidade do indivíduo e não na prática de um facto ilícito. Assim é, mas não se pode omitir que, num sistema como o nosso (que não diverge da maior parte dos sistemas penais neste ponto) só é possível o recurso a medidas de segurança na sequência de um facto ilícito. 437 260 9. Parâmetro objectivo de cuidado - acrescendo que esta exclusão da tipicidade levaria a que quem fosse vítima de uma agressão (negligente) por parte de um agente incapaz de um cuidado superior àquele concretamente adoptado, não pudesse reagir invocando a legítima defesa; - o recurso a um padrão objectivo de cuidado evita a tentação, frequente na negligência, de punir com base na aplicação de modelos de responsabilidade pelo resultado439; - a incompletude do tipo negligente, levada ao extremo, propiciaria todo o tipo de incertezas e excessos ao perder a sua função garantista. No campo dos defensores do padrão subjectivo, invoca-se geralmente que, uma vez que o direito só pode exigir o que é possível, se torna inviável uma medida de cuidado objectivamente fixada e imposta a todos, pois esta terá sempre de depender das capacidades individuais. Jakobs invoca, a este propósito, a capacidade de motivação da norma como sua condição de funcionalidade440. Isto é correcto, mas não implica um dever de cuidado individualizado, até porque não se aplica apenas à negligência441. Na verdade, todas as normas se apresentam como gerais – sendo os problemas e limitações (permanentes ou pontuais) de cada indivíduo Ibidem. Mas não parece que este argumento utilizado por Jescheck tenha especial relevância, pois, apesar da maior indefinição, um padrão subjectivo, atento o princípio da culpa, deverá permitir igualmente evitar esta “tentação”. 440 “Ein System von Sätzen kann sich über die Motivation in der Realität auswirken” – JAKOBS (1972) p. 1. 441 Como afirma González de Murillo, a norma é um imperativo dirigido à generalidade dos seus destinatários e não condicionado pelas características pessoais de cada um deles. Discordando de Jakobs, o autor questiona também que deva atender-se à previsão concreta da possibilidade de verificação do resultado, considerando que o importante para o agente poder motivar-se é o conhecimento dos factores de risco – GONZALEZ DE MURILLO (1991) p. 183-184. Mas não tem razão neste ponto, pois também a probabilidade do resultado concreto terá de ser conhecido do agente e contabilizada para que ele possa tomar a decisão correcta. Zielinski, ao situar o parâmetro do dever de cuidado (e apesar de recorrer, à semelhança de tantos outros autores, à figura do “homem médio”), entende que o juízo se forma sobre a base de “uma prognose de perigosidade” da acção – ZIELINSKI (1973) p. 198. 439 261 9. Parâmetro objectivo de cuidado avaliados em sede de culpa. Que também é assim na negligência, fica demonstrado pela proliferação crescente de normas técnicas que limitam objectivamente e com carácter geral os comportamentos de risco. Essas normas mais não são que uma delimitação do cuidado exigido e que todos terão de respeitar. Qualquer outra consideração (ignorância, incapacidade individual) é resolvida em sede própria, sem dificuldade, deixando claro que o parâmetro do cuidado se basta com um critério objectivo, acessível a todos os cidadãos, que permita identificar o ponto a partir do qual os riscos de qualquer actividade se tornam proibidos. Ao contrário do que afirma Stratenwerth, a negligência não consiste em não excluir o risco proibido442 mas em criar o risco proibido. É na sequência deste erro que Stratenwerth surge a defender que “a questão de que conduta se exige para excluir o risco não permitido depende das capacidades individuais”, estabelecendo, de seguida, uma comparação com a omissão e comentando o exemplo de um nadador-salvador que, sabendo nadar excelentemente, vai socorrer um banhista prestes a morrer afogado e, por nadar naquele momento apenas com a destreza de um nadador médio, chega demasiadamente tarde443. Mas o exemplo não colhe, pois o nadador-salvador está em posição de garante perante o banhista e, como tal, está obrigado a usar todas as suas capacidades a fim de evitar o resultado morte, se tal for possível. É por este motivo que o dever de garante não pode dissociar-se das capacidades individuais. A diferença entre afastar riscos (na omissão) e criar riscos (na negligência) explica que, nesta última, e tendo em conta que a criação de STRATENWERTH (2000) p. 421. Apesar de com frequência estabelecer esta comparação entre negligência e omissão, Stratenwerth reconhece que entre ambas subsistem diferenças – mas para concluir que, apesar delas, a comparação tem utilidade – cf. STRATENWERTH (1985) p. 291 ss. 442 443 262 9. Parâmetro objectivo de cuidado riscos é inerente à interacção social, haja necessidade de estabelecer directrizes que permitam delimitar os riscos proibidos. Esta característica inerente à negligência é de tal modo idiossincrática que se projecta mesmo nas omissões negligentes. Consideremos a seguinte hipótese: Beatriz, de 5 anos, chega da escola a queixar-se de dores de cabeça e com os olhos inflamados. Ana, a mãe, não a leva nesse mesma noite ao médico, a fim de evitar longas horas nas Urgências, optando por ir no dia seguinte ao médico de família. Quando Ana acorda na manhã seguinte, a criança está em coma e morre pouco depois, no hospital. É-lhe diagnosticada uma encefalite, admitindo os médicos que teria sobrevivido se assistida na véspera. Quid juris? É incontestável que Ana deve fazer “tudo” para evitar o resultado morte da filha – mas não pode ir imediatamente às urgências do hospital cada vez que a criança se queixa de dores de cabeça. Não afastou o risco, não evitou o resultado. Mas foi negligente? A resposta depende da idade da criança, dos sintomas manifestados, etc. Sem dúvida, Ana estimou mal a probabilidade de Beatriz estar gravemente doente e vir a morrer – estava em erro, portanto. A partir daqui, a única questão será: o erro é-lhe censurável? Para efeitos da avaliação da negligência, dizer que o agente devia ter feito o melhor de que era capaz é algo destituído de conteúdo útil e nada esclarece. Dentro das capacidades do indivíduo concreto, pode ainda equacionar-se a hipótese de o agente possuir capacidades superiores à média e não as utilizar, levando ao resultado típico. Stratenwerth refere o condutor que atropela um peão surgido subitamente mas, sendo piloto de rally, teria a perícia suficiente para evitar o embate. Alega Stratenwerth que o agente, neste caso, não poderia invocar em sua defesa que o mesmo teria sucedido se 263 9. Parâmetro objectivo de cuidado se tratasse de um automobilista médio444. Mas podemos perguntar: porque obrigá-lo a mais? E como provar que o agente podia, naquele caso, ter feito mais? E porque não faria o agente o seu melhor, se excluirmos a hipótese de dolo? Admitindo que, por confiar nas suas especiais capacidades, o condutor adopta uma postura descontraída, pois sabe que, mesmo assim, estará à altura das emergências dentro de um padrão “normal”, porque exigiríamos mais dele? Uma vez mais se chama a atenção para que não estamos perante um dever que pessoalmente obrigue o agente em causa a evitar resultados utilizando da melhor forma todas as suas capacidades. Na omissão, se o agente tem capacidades excepcionalmente reduzidas (e por isso insuficientes, quando um homem médio teria sido capaz de evitar o resultado), desde que se esforce, mais não se lhe pode, evidentemente, exigir. Mas, no âmbito da negligência, do que se trata é de manter as acções dentro do parâmetro de risco normativamente estabelecido. Não se pode permitir que um agente pouco dotado proceda de forma manifestamente perigosa para os demais (ainda que esse seja o “seu melhor”), e não se vê por que se exigiria que o agente com especiais capacidades preserve um nível de segurança superior ao do risco considerado permitido. O mesmo não se dirá quando estejam em causa conhecimentos sobre a situação concreta, como veremos em seguida. Afirma Stratenwerth – e isto é quase um truísmo - que os deveres de cuidado só podem referir-se aos resultados previsíveis445. Aqui estarão em causa os conhecimentos do agente e não as suas capacidades em sentido estrito. Como disse, o regime aplicável aos conhecimentos (superiores e inferiores) não é o mesmo que dá resposta aos problemas de capacidade. 444 445 STRATENWERTH (1985) p. 301. STRATENWERTH (2000) p. 422. 264 9. Parâmetro objectivo de cuidado Desde logo, há que ter em conta institutos só aplicáveis aos primeiros (o erro) e institutos só aplicáveis a esta última (como por exemplo a culpa na assunção), a demonstrar que há uma diferença de natureza nas questões suscitadas. Partamos do exemplo de Stratenwerth: um automobilista sabe que há uma escola na zona e que é frequente surgirem crianças a brincar na rua. Diz Stratenwerth que, em caso de atropelamento, o automobilista não pode invocar que não teve cuidados especiais porque uma pessoa não informada sobre a existência da escola também não os teria. Isto é óbvio, mas não demonstra a inconveniência de utilizar um parâmetro objectivo para o cuidado. Vejamos: 40 km/h é, em regra, uma velocidade prudente e dentro dos limites permitidos. Naquele local, no entanto, a probabilidade de surgir subitamente uma criança e ser atropelada por um automobilista que circule a 40 km/h e não consiga parar é, por exemplo, de 60% – valor que podemos considerar demasiado elevado, aconselhando, portanto, uma velocidade máxima de, por exemplo, 30 km/h. Se Paulo circular a 40 km/h e atropelar uma criança, pode portanto afirmar-se que ia em velocidade excessiva, atendendo ao número de crianças que ali costumam brincar na rua. Mas se Paulo não sabia que havia uma escola perto, ele estava em erro, ao desconhecer um elemento indispensável para estimar correctamente a velocidade adequada naquele local. Se nada tornava evidente, com antecedência, a presença da escola e das crianças446, esse erro não é censurável e Paulo não será responsável pelos ferimentos causados. Mas se havia claros indícios de que a probabilidade de surgir uma criança a brincar na estrada era elevada e Paulo não lhes prestou atenção, o seu erro será censurável e ele terá agido negligentemente. Do mesmo modo, agiu com E essa a razão por que se colocam sinais de aviso na proximidade de escolas e locais semelhantes. 446 265 9. Parâmetro objectivo de cuidado negligência Pedro, que conhecia de antemão a existência da escola naquele local447. Não se trata de adoptar um critério individual para o cuidado a que cada sujeito está obrigado: o parâmetro de cuidado é objectivamente determinado e sempre o mesmo448. O que não impede que, por outra via, se encontre a solução correcta – com muito maior rigor e sem os inconvenientes inerentes à adopção de um padrão subjectivo. Para Figueiredo Dias, a violação do cuidado corresponde ao não cumprimento de um dever, a “exigências de comportamento” que o direito requer na situação concreta449. O autor discorda de que esta “violação do dever de cuidado” seja comum aos crimes dolosos, como alguns pretendem, pois coloca a tónica na vertente dever e não no cuidado-na-situação. Não havendo uma realidade objectivada, compreende-se que o cuidado seja indissociável do dever450, e o referente objectivo para o comportamento exigido, de que fala Figueiredo Dias, terá de resultar de um critério generalizador assente nos parâmetros do homem médio. No que concerne às capacidades (do agente) superiores ou inferiores à média, Figueiredo Dias defende que as capacidades inferiores não devem afastar a responsabilidade, a nível do tipo, enquanto as capacidades superiores à média devem ser tomadas em conta, não só a nível do tipo mas Jakobs refere o exemplo, semelhante, de um taxista conhecedor da povoação e que sabe que um cruzamento é particularmente perigoso; mas para concluir que a evitabilidade não pode determinar-se de modo objectivo – JAKOBS (1997) p. 179. 448 A tarefa de encontrar um critério objectivo para a negligência é um imperativo, como afirma Armin Kaufmann, indispensável à delimitação do próprio tipo – KAUFMANN (1974) p. 408. 449 DIAS (2007) p. 870 ss. 450 Ibidem p. 871: “ao tipo de ilícito negligente pertence um momento próprio de contrariedade ao dever”. 447 266 9. Parâmetro objectivo de cuidado também da culpa, preservando-se assim o carácter objectivo do dever de cuidado451. Retomando o conhecido exemplo do condutor principiante (que, embora detenha a necessária licença de condução, não domina ainda suficientemente a técnica, por falta de prática), Figueiredo Dias conclui que a responsabilidade deste se baseia numa “negligência na assunção”: o indivíduo devia ter evitado assumir a actividade em condições para as quais não estava efectivamente preparado. O autor reconhece que, assim, se corre o risco de estabelecer a confusão entre tipicidade e culpa (perigo recorrente neste domínio, como todos sabemos) mas entende que esta confusão é evitável se se considerar que a aceitação da actividade é já uma infracção do dever de cuidado. Penso que, deste modo, o padrão de cuidado passa a ser uma avaliação imprecisa (só objectiva porque objectivada a partir do julgador, com base no homem médio) do comportamento socialmente valorado. O próprio Figueiredo Dias acaba por reconhecer que, deste modo, não se ultrapassa completamente o problema, pois não se evita “um alargamento do objecto sobre que recai o dever de cuidado” e, por esta via, “uma antecipação do ponto temporal para a conexão do juízo de culpa negligente”452. O modelo de cuidado que proponho, encontra uma solução para este problema ao integrar as especiais características do agente na matriz de gestão do risco (v.g. através do cálculo das probabilidades de desfecho negativo), deixando os juízos sobre a cognoscibilidade das (suas) limitações para o momento da avaliação da culpa do agente. Este carácter objectivo estará, além do mais, relacionado com as leges artis (em qualquer domínio de actividade), os costumes profissionais, o comportamento social adequado, a figura padrão de um homem fiel aos valores, etc. - DIAS (2007) p. 876. 452 Ibidem, p. 880. 451 267 9. Parâmetro objectivo de cuidado Em certa medida, a questão tem sido mal colocada devido a uma perniciosa confusão, muito frequente, entre a configuração dos crimes negligentes e a dos omissivos – duas realidades, no entanto, claramente distintas. Com efeito, não é correcto exigir o cuidado “adequado” e “suficiente” para evitar o resultado, pois não é esse (evitar o resultado) o objecto imediato da norma na negligência. Privado de qualquer referente objectivo, o cuidado a que está obrigado qualquer cidadão esvaziar-se-ia de sentido enquanto tipo de ilícito, ficando a negligência remetida para um juízo de censura por o agente não se ter comportado como um indivíduo “fiel ao direito”. Na omissão, uma vez que o agente está obrigado a fazer tudo o que estiver ao seu alcance a fim de evitar o resultado, o comando é claro para cada um, que deverá usar as suas capacidades (individuais) da melhor maneira. Mas na negligência, o ponto a partir do qual o risco criado é já proibido tem de ser identificável para o destinatário da norma, pois é um dado da vida em sociedade que todos criamos riscos, a maior parte dos quais não são proibidos e não dão lugar a punição mesmo que (causalmente) se materializem em resultados lesivos para terceiros. 9.3 O cuidado “a que está obrigado e de que é capaz” Admitindo, não obstante o exposto, que o dever de cuidado compreende duas vertentes (a objectiva e a subjectiva), será que ambas se situam a nível do tipo, ou a objectiva faz parte do tipo e a subjectiva integra já a culpa? Face à redacção do artigo 15.º do Código Penal, uma questão se impõe: o que significa realmente a expressão “de que é capaz”? À primeira vista, poderia ser tentador afirmar que o “é capaz” (a vertente subjectiva, 268 9. Parâmetro objectivo de cuidado portanto) integra a culpa (melhor dizendo, aí permaneceu)453. Mas ser capaz, ou não, é diferente de exigibilidade – expressão paradigmática da culpa454. Para se considerar a (in)exigibilidade, é forçoso que o indivíduo fosse capaz de agir conforme o direito. Mais exactamente, tem de haver: i) uma possibilidade; ii) um não cumprimento; iii) uma desculpa. O que significa que a norma tem de conter exigências acessíveis (em abstracto) a todos os indivíduos a quem se dirige. Não falta, como se sabe, quem preconize, neste impasse, o recurso ao homem médio, como padrão de normalidade. Esta figura não resultará, obviamente, de um cálculo estatístico, antes traduzindo aquilo que se espera de um indivíduo fiel ao direito colocado na posição do agente. Não se pode, no entanto, tomar como referência um único e geral modelo que se converteria, na palavras de Zugaldia Espinar, numa abstracção de difícil utilização no caso concreto455. Terá, portanto, de ser um homem médio fiel ao direito com as características do agente e as capacidades e conhecimentos deste. E é aqui que começam os problemas, pois, se quisermos evitar ter tantas normas de cuidado quantos os cidadãos, teremos de eleger critérios relevantes para identificar as categorias. E, por fim, teríamos de chegar à conclusão de que, como diz Fletcher, uma “pessoa média” com todas as 453 Cf. a posição de Eduardo Correia sobre a inserção da negligência na culpa em CORREIA (1963) p. 427 ss.; e, contestando o pensamento finalista, ibidem p. 421-423. 454 Assim tem sido considerado e continua a ser critério recorrente. Cf. no entanto, a crítica que é dirigida a esta perspectiva por Fernanda Palma, para quem a superação dos “quadros lógicos da exigibilidade gerará (…) um Direito Penal mais adequado (…)” - PALMA (2005) p. 224. A Autora propõe, em alternativa, como critério regulador, o recurso a uma “ética das emoções” – ibidem p. 225 ss. 455 ZUGALDIA ESPINAR (1984) p. 329. O autor questiona, por exemplo, que se possa utilizar o critério de um homem médio cuidadoso para julgar a conduta de um investigador nuclear, se “el hombre medio de la calle normalmente no suele manipular ingenios atomicos”. 269 9. Parâmetro objectivo de cuidado características do agente e nas mesmas circunstâncias, faria certamente o mesmo que este fez.456. Já noutro ponto deste trabalho me referi aos perigos e insuficiências desta figura, que tem sido, aliás, alvo de críticas dos mais diversos quadrantes da doutrina (o que não impede que continue a ser utilizada com frequência). Considerando o cuidado como o risco não proibido e a negligência como a criação de um risco proibido, Roxin, na sequência da sua crítica à utilização da figura do homem-médio para delimitar o dever de cuidado, defende a valoração da relevância social da conduta como parâmetro do risco proibido457. Segundo Roxin, a determinação do risco proibido depende da utilidade (e aceitação) social da conduta, da magnitude do dano (potencial) e do sacrifício exigido para eliminar o risco458. Está aqui presente um embrião do algoritmo de cuidado, na medida em que se tenta relacionar interactivamente diversos factores relevantes. É ainda, no entanto, uma construção incompleta. A ausência mais evidente será a do cálculo da probabilidade de verificação do resultado. Além disso, Roxin não apresenta qualquer matriz de computação das variáveis a considerar, o que torna a sua construção inoperacional. Se perspectivarmos a negligência como uma incorrecta gestão do risco, uma errónea aplicação de uma matriz que engloba todos os elementos relevantes, esta construção dá-nos um referente objectivo para a medida de cuidado exigida a todos os destinatários da norma, independentemente das suas capacidades individuais. FLETCHER (1997) p. 182 ss. Note-se que Fletcher, embora tenha simpatia por um critério individualizado para avaliar o cuidado, acaba por concluir, na análise que faz do problema no âmbito do direito anglo-saxónico, que é legítimo esperar que as pessoas controlem os seus defeitos de carácter e que não é uma forma de injustiça obrigar as pessoas a conduzir-se de acordo com padrões socialmente aceites. 457 ROXIN (1994) p 1010; v., também, sobre esta questão BURGSTALLER (1974) p. 58 ss. 458 ROXIN (1994) p. 1011. 456 270 9. Parâmetro objectivo de cuidado Sendo o agente, por qualquer motivo, desprovido das capacidades mínimas necessárias para poder exercer determinada actividade dentro dos padrões de segurança exigidos em ordem à protecção de bens jurídicos459, deverá abster-se de a exercer, como vimos já. Se detém capacidades acima da média, e não as usou naquele caso, teremos de equacionar várias hipóteses. Consideremos o conhecido exemplo do cirurgião altamente qualificado que não usa as suas qualidades excepcionais numa dada operação460. O exemplo, como é evidente, não está completo se não se acrescentar que se verificou um resultado lesivo de, por exemplo, a saúde do paciente – e que o cirurgião podia tê-lo evitado se usasse todas as suas capacidades. Colocada a questão nestes termos, voltamos a deparar-nos com o paralelo entre dever de cuidado e dever de garante, na medida em que, por força do contrato a que está vinculado, o cirurgião tem o dever de evitar os resultados negativos da intervenção. Mas suponhamos que não se tratou de evitar resultados negativos, mas de não alcançar completamente os resultados positivos previstos e que estavam ao alcance da perícia do cirurgião. Nesse caso, se a prestação do médico esteve aquém das suas comprovadas capacidades porque estava demasiado cansado (por exemplo, estava de serviço nas urgências há varias horas e, tendo havido um grave acidente envolvendo dezenas de pessoas, tinha trabalhado de uma forma excepcionalmente intensa), teremos de concluir que o médico, no momento em que actuou, não detinha capacidades excepcionais e não pode ser prejudicado por não ter usado algo que, in casu, era inexistente. Se, diversamente, não usou totalmente as suas capacidades por distracção ou É importante ter presente que a norma não pretende garantir a completa segurança dos bens jurídicos potencialmente atingíveis, mas tão só manter a probabilidade de lesão abaixo de um valor x. 460 Sobre a polémica em torno do critério (objectivo ou subjectivo) definidor do tipo de ilícito negligente, aplicado ao exercício da medicina, v. FIDALGO (2008) p.59 ss. 459 271 9. Parâmetro objectivo de cuidado desinteresse – e a não ser que se configure uma situação de dolo eventual, o que é pouco plausível – mas actuou, ainda assim, dentro dos parâmetros exigidos na profissão e, portanto, sem ultrapassar o risco permitido, não poderá ser considerado negligente461. No caso dos conhecimentos do agente, a questão é bem mais simples de equacionar. Pois parece consensual que a ninguém se pode exigir que evite um risco que não é, pelo menos, cognoscível. Se, no entanto, os factores do risco eram cognoscíveis, mas desconhecidos pelo agente, este actuará em erro – possivelmente censurável por não ter cumprido o dever de se informar correctamente. Ao tomar como referência um modelo de risco em que o valor de P (probabilidade) é estimado por um hipotético observador omnisciente, evitam-se as armadilhas inerentes a qualquer construção com base na ficção do “homem médio”. Casos haverá em que o agente detinha toda a informação; quando detiver uma informação incorrecta ou incompleta, terá agido em erro sobre um elemento (típico) indispensável à avaliação dos riscos inerentes à sua acção – e será a censurabilidade deste erro a ditar a medida da sua responsabilidade. Deste modo, deixa de constituir um problema o caso em que o agente tem mais conhecimentos do que a generalidade das pessoas: o que se lhe exige é que avalie o contexto fáctico e conclua a partir dele, e o padrão de referência é o do observador omnisciente. Podemos, assim, concluir que a dimensão subjectiva do dever de cuidado tem um objecto e conteúdo próprios situados a nível do tipo. Ao dar este passo, no entanto, suscitamos uma outra questão, esta no âmbito do direito positivo. Se admitirmos que o “cuidado a que está obrigado”, referenciado no artigo 15.º do Código Penal, corresponde ao modelo Este exemplo, que é utilizado amiúde na doutrina, suscita ainda várias questões colaterais: como provar que a medida da perícia utilizada foi inferior àquela de que o cirurgião dispõe? Por que dano seria responsável o cirurgião que não estivesse também abrangido pelo dever de garante? etc. Naturalmente, poderá haver lugar a discussão sobre a responsabilidade contratual – mas isso fica à margem do direito penal. 461 272 9. Parâmetro objectivo de cuidado (objectivo) descrito supra, que fica para a expressão “de que é capaz” e que ainda pertença à tipicidade? Desde já, é preciso distinguir: há um “de que é capaz” geral que contempla as limitações inerentes a todo o ser humano – atenção: não se trata, mais uma vez, do homem médio – e que levam a que qualquer modelo imposto normativamente com apelo à racionalidade do processo decisório tenha de admitir uma margem de desvio incontornável, um sistema de serpente no túnel suficientemente amplo para tornar o modelo aplicável sem, no entanto, o desvirtuar. Não é, obviamente, a esse limite que me refiro. O que está em causa é um “de que é capaz” individual, a que deverá ser atribuído conteúdo útil para se poder afirmar que a construção do algoritmo aqui sugerido é compatível com o regime jurídico vigente. Jescheck distingue entre cuidado interno e cuidado externo462. O primeiro consiste na observação pelo agente das circunstâncias em que se realiza a acção e no cálculo da evolução previsível dos acontecimentos subsequentes, com vista a estimar o perigo causado e os possíveis efeitos463. O cuidado externo será o comportamento exigido face ao perigo (cognoscível), o qual, segundo Jescheck, consistirá no cuidado adequado para evitar a produção do resultado típico464 – caracterização com a qual estou totalmente em desacordo, pois aquilo a que o agente está obrigado não é a evitar o resultado, mas a manter o risco da sua conduta abaixo de um determinado limiar. Note-se que, mesmo relativamente aos pressupostos enunciados por Jescheck, se verifica uma certa incongruência: se, como afirma, “na era tecnológica uma certa dose de perigo pertence às JESCHECK (1988) p. 525 ss. Também Jakobs utiliza a designação de cuidado externo e interno (äussere und innere Sorgfalt)– JAKOBS (1972) p. 59 ss. 463 Sobre a relação entre cuidado externo e cuidado interno, cf. Uriarte Valente, que analisa numerosas decisões jurisprudenciais, evidenciando a tensão entre concepções psicológicas e normativistas e a evolução no sentido de uma progressiva objectivação do conceito de previsibilidade – URIARTE VALENTE (1962) p. 19 ss. 464– Cf. JESCHECK (1988) p. 526-527. 462 273 9. Parâmetro objectivo de cuidado circunstâncias normais da vida quotidiana” e “quanto maior o valor social da acção realizada pelo agente, mais perigos lhe é permitido correr na sua execução”, mal se compreende que o objectivo (imediato) imposto ao agente seja evitar o resultado lesivo. Ainda que não concorde com o conteúdo atribuído ao cuidado externo, considero a classificação de grande utilidade, ao distinguir dois momentos no comportamento do agente: um em que se trata de avaliar o contexto da acção projectada e outro em que a acção é exteriorizada. Entre os dois medeia o momento da opção (a decisão de agir). Com base nesta distinção, pode-se partir para uma leitura do artigo 15.º do Código Penal na qual o cuidado “a que está obrigado” corresponde à conduta considerada prudente (o safe enough) no contexto fáctico em que o agente se encontra; e o cuidado interno encontra acolhimento na expressão “de que é capaz”, que remete para a avaliação de até que ponto os elementos relevantes são acessíveis ao agente. Só no âmbito do cuidado interno as variações individuais se inscrevem no âmbito da tipicidade, e intervirão nomeadamente para efeitos de avaliação de possíveis erros sobre o tipo. O cuidado externo, deste modo, mantém-se completamente objectivo. Naturalmente, a exigência relativamente à atenção que o sujeito deverá dedicar à análise da realidade externa em que se move varia segundo vários factores, dos quais o principal será a gravidade dos perigos potenciais desencadeados pela acção465. Exemplificando: se podemos tolerar que A caminhe descontraidamente à beira-mar e, por isso, não se aperceba de uma criança que corre atrás de uma bola e choque com ela, já exigiremos que B, ao Jescheck refere como elementos condicionantes principais a proximidade do perigo e o valor do bem jurídico ameaçado, e acrescenta que o grau de atenção exigido é o de um homem consciencioso pertencente à mesma categoria do agente (gewissenhafte und besonnene Mensch des Verkehrskreises dem der Handelnde angehört ) e observando ex ante a situação – JESCHECK (1996) p. 578. 465 274 9. Parâmetro objectivo de cuidado transportar um recipiente com água a ferver, se certifique de que não vai chocar com C, de três anos, que brinca no mesmo compartimento. Mesmo exercendo a atenção adequada ao potencial de perigosidade da sua actuação, nem todos os agentes terão a mesma capacidade de se aperceber dos elementos relevantes para a construção de uma matriz de risco correcta. Mas as variações dos quadros mentais não são ilimitadas, antes estão contidas dentro de parâmetros mínimos e máximos de eficiência cognitiva. É o facto de haver um limite (geral) máximo que nos permite fixar a cognoscibilidade – e convém lembrar que sempre haverá um desfasamento entre os cálculos efectuados pelo legislador (ficcionado como omnisciente) e os efectuados pelo cidadão, cuja abordagem do real está condicionada por uma série de factores (intrínsecos e extrínsecos) de distorção; estes desvios não podem deixar de ser tidos em consideração. O facto de haver um limite mínimo segundo padrões de normalidade permitirá balizar a capacidade cognitiva, de modo a que, abaixo desse mínimo, o agente terá de ser considerado inimputável e, quando necessário, sujeito a medidas destinadas a garantir não só a segurança de terceiros como a sua própria. 275 10. Desvalor da acção na negligência 10 DESVALOR DA ACÇÃO NA NEGLIGÊNCIA “Seria absurdo proibir o Reno de transbordar” Armin Kaufmann 10.1 Relevância da acção final Como afirma Welzel466, “as normas jurídicas só podem dirigir-se a acções que tenham a capacidade de configurar finalisticamente o futuro”467. Será a partir deste pressuposto que o problema do tipo subjectivo na negligência e do desvalor da acção (aliás também um conceito característico do finalismo) será aqui analisado. Não porque eu partilhe com os finalistas a ideia de que a acção humana é inerentemente uma acção final, e menos ainda a teoria, francamente infirmada pelas evidências, de que só a acção humana é WELZEL (1951) p. 47. No caso da negligência, como veremos, a acção tem essa capacidade em termos de alteração das probabilidades, do grau de risco. 466 467 276 10. Desvalor da acção na negligência final. Mas porque um direito penal que se pretende preventivo e não meramente retributivo468 terá de colocar a acção final no seu cerne. Na realidade, as várias concepções de acção (como o causalismo, o finalismo ou a adequação social) não são mutuamente excludentes, podendo mesmo ser conjugadas. A acção é final causalmente (e some-se o causal com o final) e a adequação social constitui como que o túnel dentro do qual a serpente oscila, ou seja, marca os limites em que a conduta assume relevância para o direito penal. Cada teoria visa identificar a característica da acção humana determinante para o direito penal – o que não invalida a existência das restantes características. E sempre se dirá que, preponderante ou não, a finalidade da acção tem de ser relevante, sob risco de se cair no absurdo, uma vez que se trata de comandos dirigidos à vontade. A norma surge como um “dever” e a acção desvaliosa como violação desse dever. Pois que só é possível proibir a acção dirigida a um “resultado”469, embora o resultado possa, por razões contingentes, não chegar a produzir-se. Daqui não se conclui que o resultado seja desnecessariamente despiciendo (remetido, por exemplo, para o lugar de condição de punibilidade): a ilicitude será constituída por duas partes, simultaneamente autónomas e interdependentes470. O facto de a acção ser Como é reconhecidamente o caso do direito penal português, até por imposição constitucional – vide artigo 18.º da Constituição, reflectido depois no artigo 40º do Código Penal. 469 Ainda que o próprio resultado não seja o objectivo final da acção (tal só sucederá no dolo intencional), ele decorrerá potencialmente da conduta do agente e estará sempre presente no fundamento da proibição, legitimando-a. 470 Jescheck considera que a concepção monista não corresponde à missão atribuída ao direito penal e levaria a consequências inaceitáveis dentro dos parâmetros vigentes (graduação de penas segundo o desvalor da acção, punição generalizada da tentativa e punibilidade da negligência independentemente da verificação do resultado). A protecção dos bens jurídicos e a actuação sobre a vontade de agir dos cidadãos devem ser entendidas como tarefas que se complementam e condicionam reciprocamente – JESCHECK (1988 [1993]) p. 7. 468 277 10. Desvalor da acção na negligência desvaliosa porque reportada a um resultado não compreende o desvalor do resultado; e este último não deixou de integrar o tipo de ilícito por aí ter passado a constar também o desvalor da acção471. Como afirma Stratenwerth, a lesão do bem jurídico concreto implica também como resultado o desrespeito por esse bem jurídico (em abstracto)472. O direito penal não pode bastar-se com o desvalor da acção mas não o dispensa. O desvalor do resultado, para ser desvalioso para o direito penal, deverá ter sido produzido por uma conduta humana: conduta essa determinada por uma decisão e uma vontade. Analisando este problema detalhadamente, Zielinski afirma que “quase todas as acções no âmbito social implicam perigos para os bens jurídicos” e que, deste modo, “parece adequado impor a cada um especiais deveres de cuidado, obrigando-o a evitar os riscos das suas acções”473. Daqui conclui que, na negligência, o ilícito é a lesão do dever de cuidado e não a acção que causa o resultado e continua extraindo a conclusão de que “quem está obrigado a fazer algo, como empregar o cuidado devido, e o omite, comete um crime por omissão” e que “o crime por negligência inconsciente é, considerando a lesão do dever de cuidado como essencial, um crime por omissão”. Zielinski está equivocado em dois pontos: 1. o ilícito, na negligência, não se esgota necessariamente na lesão do dever de cuidado; 2. o crime negligente, a ser considerado um crime omissivo nos termos da construção de Zielinski, é-o de tal modo que o agente estaria sempre em posição de garante (por via do cuidado a que estava obrigado e Se considerarmos a existência de normas de valoração e de determinação, estas últimas prescrevem a conduta, derivando das primeiras, que englobam também o desvalor do resultado. 472 STRATENWERTH (1963 [1991]) p. 30 ss. 473 ZIELINSKI (1973) p. 195 ss. 471 278 10. Desvalor da acção na negligência não cumpriu) e portanto, sofre uma equiparação total a um crime por acção – pelo que não se descortina qual a relevância da classificação neste caso. Quanto ao ponto 1., o erro de Zielinski consiste em não ver que o desvalor da acção (a valoração negativa da conduta – activa ou omissiva – do agente) repousa não apenas no não cumprimento do dever de cuidado mas também no facto de esse incumprimento ter originado um risco excessivo que se projecta no resultado desvalioso. Ou seja, não é qualquer incumprimento que releva para o direito penal (per se) mas um incumprimento que, causalmente, conduz ao resultado474. Que esta preocupação com as consequências lesivas está subjacente ao dever de cuidado, é o próprio Zielinski que o admite quando afirma que “para impedir as consequências colaterais não desejadas, lesivas de bens jurídicos, de tais acções, parece adequado impor a cada um especiais deveres de cuidado”. Não se podia ser mais claro ao estabelecer o carácter funcional do dever de cuidado e identificar a abstenção da lesão de bens jurídicos como finalidade da norma. Quanto ao ponto 2., há que chamar a atenção para o seguinte: nem todos os crimes negligentes se apresentam prima facie como meras omissões que só por ficção jurídica poderão ser consideradas como acções. Muitos apresentam-se como acções em sentido próprio e, inclusive, naturalisticamente causais. No caso em que alguém, sem reparar que o filho pequeno se encontra próximo, desloca um objecto pesado para o mudar de sítio atingindo, na trajectória, a criança, ainda se poderá invocar a figura de ohne zu komponent a que se referem Armin Kaufmann e Struensee quando afirmam que não era lícito deslocar o objecto sem se certificar de que não havia ninguém no caminho. O que não significa, como é evidente, que todas as acções causais tenham relevância para a negligência. 474 279 10. Desvalor da acção na negligência Mas vejamos este outro caso: temos claramente uma omissão quando A se esquece de dar o medicamento a B, como devia, porque estava distraído a ver o seu programa preferido na televisão e não atentou nas horas; mas só por artifício diremos tratar-se de uma omissão o caso em que A, por distracção, coloca duas doses de remédio no copo de B, em vez de uma. Invocar, nesta última hipótese, a figura do ohne zu komponent será, do meu ponto de vista, recorrer a um artifício demasiado forçado e que, ao ser acrescentado à descrição naturalística, nada traz de relevante para o problema em causa. Como afirma Armin Kaufmannn, há uma diferença inegável entre acção e omissão, não valendo “opor a isso o argumento de que no terreno linguístico toda a proibição pode ser transformada numa determinação e toda a determinação numa proibição. As formulações, geralmente artificiosas, obtidas por esse processo não alteram o facto de que em certos casos um acto deve ser praticado, enquanto em outros casos determinado acto não deve ser cometido”475. A negligência é um campo especialmente propício para esta dualidade: a violação do dever de cuidado tem sempre duas faces - um non facere do adequado e um facere do perigoso – e, em cada caso, é uma ou outra que aparece como visível, o que não se reveste de particular relevância pois pode-se considerar que o próprio dever de cuidado constitui o indivíduo em posição de garante. Para Zielinski, a negligência inconsciente é sempre um crime omissivo, pois o agente estava obrigado a fazer algo (ter o cuidado, ser KAUFMANN, Armin (1976 [1954]) p. 141. Cf. também STRATENWERTH (2000) p. 106 e p. 380-381, defendendo que haverá uma acção penalmente relevante sempre que o autor tenha produzido ou aumentado o perigo que se materializou no resultado e uma omissão sempre que não tenha diminuído o perigo. Para Jakobs, a distinção entre acção e omissão é sempre clara, “dada a nitidez de ambos os conceitos”, embora “todas as acções possam ser reformuladas como omissões” mas não se possa, inversamente, reformular as omissões como acções – JAKOBS (1991) p. 940-942. 475 280 10. Desvalor da acção na negligência cuidadoso) e não o fez. Naturalmente, só está obrigado a agir quem é capaz de o fazer, o que Zielinski identifica com a limitação própria das omissões. Mas esta não é uma leitura obrigatória. Pode entender-se que o agente, ao actuar no dia-a-dia, está obrigado, a fazê-lo com o cuidado devido – a respeitar o paradigma de racionalidade que se consubstancia no algoritmo normativo do cuidado. Se não é capaz (ou se é capaz mas não quer), o que o direito lhe impõe é que se abstenha de agir (de modo descuidado). Por isso que, diferentemente de Zielinski, Armin Kaufmann entende que os crimes negligentes são crimes de acção, pois o agente estava obrigado a omitir a acção (final) contrária ao cuidado. Para Kaufmann, o ohne zu komponent é o elemento que concretiza o perigo potencial contido nas acções. Ao que Zielinski contrapõe que o ohne zu komponent não pode fazer parte integrante da acção, pois esta, à partida, insere-se numa proibição que este componente pode afastar (logo, ele é uma condição da norma). De qualquer modo, se se considerar que toda a acção é, em teoria, potencialmente portadora de riscos (directos ou colaterais), o que se exige é que, em sociedade, o indivíduo não actue sem as devidas precauções, ou seja, sem ponderar o grau de risco e o gerir de modo a não ultrapassar o limiar do proibido. Nesta acepção, o ohne zu komponent é uma espécie de elenco (exaustivo ou não) de alternativas que podiam ter sido introduzidas e teriam contido o risco dentro do limiar do aceitável. Não faz parte da acção, numa acepção estrita (como defende Zielinski), mas constitui a sua delimitação, na medida em que, pela negativa, a circunscreve. Situando-se numa posição diferente e, em certa medida, mesmo oposta, Roxin defende que o conceito final de acção não é aplicável à negligência. A “finalidade” da acção não seria, nestes casos, jurídicopenalmente relevante, pois não é compatível com a estrutura do comportamento negligente. A isto pode contrapor-se, todavia, que, em 281 10. Desvalor da acção na negligência qualquer caso, o agente quis agir para além do risco permitido, foi essa a sua opção. Ao contrário do que possa parecer, daqui não resulta a identificação da negligência com o dolo de perigo, como veremos. Para Rui Pereira, embora a “busca do dolo” na negligência possa criar alguma confusão, a negligência prescinde da figura do dolo de perigo, na medida em que se basta com a “possibilidade de prever a lesão” (uma simples consciência potencial) não havendo portanto dolo de perigo de lesão. Rui Pereira, aderindo às teses de Exner, considera que identificar o dolo de perigo com a negligência seria desvirtuar por completo esta última, que se configura como um crime de resultado. Aceita, no entanto, que há uma acentuada aproximação entre negligência consciente e dolo de perigo476. Mais uma vez se evidencia a perniciosa indiferenciação entre os conceitos de perigo e de risco. A não ser assim, tornar-se-ia claro que o “momento do dolo” na negligência tem por objecto uma esfera de risco, não um perigo para um qualquer bem jurídico. Veja-se o exemplo de Engisch citado por Rui Pereira477, do guia de um barco que prevê a hipótese de haver uma tempestade e decide ainda assim fazer a viagem. Face às diversas atitudes do sujeito perante a hipótese de verificação de uma tempestade e consequências nefastas para os passageiros, não tem de haver necessariamente uma aceitação de perigo. Se o guia confia em que não haverá tempestade, resulta evidente que não aceita o perigo, pois sem tempestade não há perigo. Se admite que possa haver tempestade, mas está confiante (subjectivamente seguro) em como evitará as consequências para os passageiros, é duvidoso que haja aceitação (dolo) de perigo, pois o perigo terá de ser configurado como tal ex ante. O que o guia aceita, ao empreender a viagem sem ter a certeza de que não haverá tempestade mas estimando PEREIRA (1995) p. 42 ss. Sobre a posição de Engisch acerca da relação entre negligência e dolo de perigo, cf. ENGISCH (1930 [1964]) p. 400 ss. 476 477 282 10. Desvalor da acção na negligência essa ocorrência como pouco provável, é o risco da mesma, que lhe aparece como diminuto e ainda dentro dos limites do risco permitido – na eventual divergência entre essa decisão e a decisão adequada segundo os parâmetros normativos de cuidado residirá uma possível negligência. Só se o guia admite como provável a ocorrência de uma tempestade e o perigo consequente para os passageiros (que não tem a certeza de poder salvar) podemos dizer que ele age com dolo de perigo – mas, nesse caso, o que se torna difícil estabelecer é a diferença relativamente ao dolo eventual de dano478. Corcoy Bidasolo entende que, na negligência, não pode haver conhecimento do perigo (se a houvesse, tratar-se-ia já de dolo) mas apenas cognoscibilidade deste479. Recusa assim a ideia de um dolo de perigo na negligência (e, dentro da separação entre risco e perigo defendida supra neste texto, isto será correcto: o que se verifica é a assunção – voluntária – do risco, admitindo que o perigo teria de implicar um risco proibido ligado à acção concreta). Por seu turno, Cuello Contreras defende que, para considerarmos que a criação do risco é elemento do tipo negligente, o tipo subjectivo deve incluir o conhecimento dos riscos que se cria com a acção (voluntária)480. Isto é por demais evidente, mas impõe-se acrescentar o seguinte: o que se exige, para além do cuidado específico em cada situação, é um comportamento prudente na condução da vida-no-mundo, a qual sempre, e só por si, implica a criação de riscos para o outro (seja ele pessoa ou coisa). E por isso, mesmo que o indivíduo, na situação específica, não conheça suficientemente os riscos que está a criar (e mesmo admitindo que, caso os conhecesse, actuaria Rui Pereira ocupa-se desta distinção, na obra citada supra, a partir da p. 57. CORCOY BIDASOLO (1989) p. 247. 480 CUELLO CONTRERAS (1990) p. 186 ss. 478 479 283 10. Desvalor da acção na negligência de outro modo), ao provocar riscos proibidos previsíveis para uma pessoa normalmente socializada e atenta, ele já está a infringir o dever de cuidado. Roxin critica a posição de Struensee, segundo o qual na negligência há uma realização consciente (final) dos factores de risco, alegando que pode suceder, por exemplo que o condutor passe o sinal vermelho porque ia tão distraído que nem sequer o viu, ou seja, nas palavras de Roxin “o sujeito realizou as circunstâncias relevantes para o risco justamente de modo não consciente”481. Mas sempre se poderá contrapor que as circunstâncias relevantes serão, neste caso, a condução desatenta. A negligência tem de ser avaliada em contexto e essa avaliação conduzir-nos-á sempre a um dado momento em que o sujeito optou (conscientemente, portanto, no sentido que adopto para a consciência, ou seja, incluindo o plano da co-consciência) segundo um determinado paradigma que não corresponde à racionalidade exigida pelo direito (penal). No exemplo em causa, há um risco (anterior) que o indivíduo conhece (ir a conduzir distraído) e que devia, precisamente, ter evitado. Não se trata de um regresso ad infinitum, pois, no modelo de gestão racional dos riscos, o indivíduo, ao conduzir, está obrigado a fazê-lo de acordo com uma gestão adequada (prudente) dos riscos inerentes à actividade, e portanto a fazê-lo com a atenção necessária, a fim de evitar passar sinais vermelhos, ou subir inadvertidamente o passeio, colidir com o carro em frente, atropelar uma criança que surgiu repentinamente, etc. etc. A actividade de condução envolve vantagens para o sujeito bem como riscos (para terceiros) inerentes à condução, e o agente está obrigado a manter-se dentro do equilíbrio que o direito considera adequado. Por fim, retomando uma polémica antiga, Roxin discorda do finalismo quando este defende que a acção é uma realidade ôntica que faz parte do tipo, considerando (certeiramente) que, se esta faz parte do tipo, 481 ROXIN (1994) p. 242. 284 10. Desvalor da acção na negligência então é uma categoria valorativa. Esta é uma crítica conseguida, mas, se invalida a construção finalista na sua formulação mais radical, não afecta os fundamentos da mesma. Ou seja, ainda que sendo forçoso admitir que a acção (final) não é, também ela, mais do que um conceito normativo, isto não invalida que ela seja tomada, precisamente nesses termos, como o [único] modelo de acção que releva para o direito penal (não por um imperativo ontológico, como o finalismo pretendeu, mas por opção normativa e respectiva configuração sistemática). Se este ponto (o carácter ontológico da acção final) é ou não algo de “essencial” para a teoria da acção final (como, a dado passo, afirma Zielinski) é questão que não tem particular interesse para a matéria agora em apreço. Ainda que defenda que a teoria da acção final se basta com uma concepção “mitigada”, admito que a questão é controversa e contém aspectos a necessitar de desenvolvimento doutrinário. Sempre se poderá dizer, no entanto, que todas as teorias evoluem, e delas permanece algo que vai somarse ao que sobra do que as precede e ao que surge de novo e as ultrapassa. Era o próprio Welzel que costumava reivindicar o “direito à incompletude” do finalismo, afirmando que “só Atena surgira perfeita e com armadura da cabeça de Zeus”. Na verdade, nem a realidade é um caos que o Direito (normativamente) ordena, nem a realidade tem um carácter ôntico que se imponha ao Direito. A realidade “existe” e é inter-relacional, e nessa medida condiciona o legislador; mas é este que, de entre o quadro que se lhe apresenta, selecciona elementos de acordo com determinada valoração. Para a questão que me proponho aqui discutir, o importante é a tese, que subscrevo, segundo a qual a acção relevante para o direito penal é a acção finalisticamente orientada, no sentido de corresponder a uma opção precedida da ponderação (não necessariamente consciente) dos factores em 285 10. Desvalor da acção na negligência jogo, feita pelo sujeito e que o coloca no âmbito do direito penal. Discutir a exacta abrangência da finalidade da acção parece-me ser (pelo menos no âmbito da discussão presente) uma tarefa estéril, sendo igualmente estéril colocar o problema da “consciência da finalidade”. Por uma questão de simplicidade de códigos, utiliza-se a designação de acção final, sem que isso implique uma adesão aos pressupostos mais radicais do finalismo. A acção contemplada pelo direito penal não tem – estaremos todos de acordo – de ser final relativamente ao resultado típico: frequentemente não o será482; na negligência, como é óbvio, não o será nunca483. Como se disse já, o determinante é a acção ser produto de uma opção (uma escolha, consciente ou não) entre várias acções possíveis. Neste ponto tem razão Jakobs quando, ao analisar os comportamentos automatizados, conclui que o relevante é que o acto seja dominável pela vontade, ou seja, que o indivíduo pudesse conduzir-se de modo diverso484. 10.2 O que torna uma acção desvaliosa? Devemos entender que o desvalor da acção resulta da vontade do indivíduo contrária ao direito? Mas a falta de consciência da ilicitude exclui a culpa, não a tipicidade ou a ilicitude; ou seja, o desvalor da acção mantém-se, Também no caso do dolo eventual não visará o resultado, como sabemos, havendo apenas uma aceitação/conformação relativamente a este. 483 Neste sentido também, e recusando o paradigma causalista, Zaffaroni afirma que “todas as acções são finais” e que a única diferença entre a acção dolosa e a acção negligente se prende com o fim visado – ZAFFARONI (1971) p. 488. 484 Segundo Jakobs, se o comportamento automatizado (mas ainda “aberto ao acesso da consciência”) pode ser eliminado através de uma motivação adequada, deve ser considerado evitável. O que não significará obrigatoriamente que tenha a qualidade de acção final. Todavia, pelo facto de ser evitável, constitui “um ponto de conexão tão válido para a valoração jurídico-penal” como qualquer outro facto a que se atribui “normalmente” essa capacidade. Jakobs conclui que não é necessário decidir sobre se estamos perante um acto final ou simplesmente um acto voluntário – JAKOBS (1997) p. 190. 482 286 10. Desvalor da acção na negligência ainda que o agente não tenha uma vontade dirigida contra o direito ou contra a norma em si. O que torna uma acção desvaliosa tem, assim, de ser algo diverso da oposição ao direito própria da culpa; o desvalor não resulta de qualquer atributo do indivíduo que age, mas da acção em si. A acção, ao transcender o carácter meramente causal, torna-se alvo de valoração – não é mais uma realidade puramente mecânica, é uma realidade com um sentido – susceptível de aprovação ou censura. O direito penal passa, então, a considerar a acção que se dirige a um fim (não a acção cega, não toda e qualquer acção que produza modificações no mundo) como a única que é passível de comandos. Só uma perspectiva finalista do direito penal é plenamente coerente com o carácter normativo deste, pois não se pode pretender impor ou proibir comportamentos se estes não forem domináveis pela vontade. O carácter ontológico da acção, como final, defendido pelos finalistas – e tão contestado – acaba assim por ser, em certa medida, exacto, no âmbito jurídico-penal. Ou seja, não é só porque o direito penal “escolheu” essa categoria de acções como seu objecto de comando, mas também porque não teria eficácia sobre qualquer outra categoria; a acção típica é, necessariamente, final no sentido de orientada voluntariamente a um objectivo. Mas porque, nesta construção, a acção é indissociável do agente – que lhe imprime o sentido - o desvalor da acção comportará então um lado externo (o potencial lesivo para o bem jurídico tutelado) e um lado interno (a atitude do indivíduo perante o contexto, que gere de modo desaprovado e perigoso). Não é apenas por criar perigo (concretizado, eventualmente) que a acção é desvaliosa, pois também em situações justificadas - ou seja, lícitas – a acção do indivíduo pode criar perigo (e até lesar o bem jurídico), tal como nos casos de condutas perigosas mas involuntárias, ou sem que haja 287 10. Desvalor da acção na negligência negligência por ter sido respeitado o cuidado devido. A acção é desvaliosa porque consubstancia uma atitude pessoal perante os padrões de comportamento que não se enquadra nos parâmetros social e jurídicopenalmente aceites. Esta é a vertente determinante, pessoal, do ilícito. A diferença relativamente à culpa consiste em que, nesta, se exige a consciência do ilícito e, no caso de dolo, a vontade de ofender o bem jurídico tutelado pelo direito (daí alguns autores, como Figueiredo Dias, se referirem ao lado “emocional” do dolo como pertencendo à culpa, enquanto expressão de inimizade face ao direito). O que fica no desvalor da é outrossim a inimizade perante um dado paradigma de comportamento face aos riscos para os bens jurídicos, paradigma esse considerado o adequado pelo direito, e que se vê afrontado pelo sentido da opção “em contexto” feita pelo agente. Não basta saber o que o agente fez, é necessário saber porque o fez, e isto antes mesmo de chegarmos ao juízo de culpa. Mas este “porque” reporta-se às motivações da acção, não do agente, ou seja, ao fim para que se orienta a acção e não às razões pessoais de aquele agente em aquele contexto – isto pertence já à culpa. É por isso que a ilicitude, depois de incluir o desvalor da acção, continuou a ser objectiva: mesmo os elementos internos são considerados objectivamente485. Welzel define o desvalor da acção como a divergência entre a direcção real da acção empreendida pelo autor e a direcção exigida pelo direito486. E considera que a tarefa de determinação da direcção exigida, bem Struensee afirma que “evidentemente” os conceitos referentes a aspectos psicológicos do agente, sendo elementos subjectivos do tipo, “têm a mesma pretensão de validade geral – objectividade – que os elementos objectivos do tipo, sem que por isso constituam parte do tipo objectivo” – STRUENSEE (1987) p. 423. Por aqui passa a diferença entre desvalor da acção (apreciação com validade geral) e culpa (apreciação individualizada). 486 WELZEL (1951) p. 57. Segundo Welzel, na direcção da acção – elemento constitutivo do seu desvalor – a representação dos fins inclui não só o fim último mas também os fins intermédios. No caso da negligência, nem será o fim último o mais relevante, mas sim a execução, o modo, ao criar o perigo para o bem jurídico – e isto, sublinha Welzel, 485 288 10. Desvalor da acção na negligência como de avaliação da conduta levada a cabo pelo autor, compete ao poder judicial - não consistindo apenas em averiguar da causalidade mas em fazer uma identificação dos elementos normativos relevantes e implicando necessariamente valorações sobre um “acto dirigido por uma vontade”487. O desvalor da acção praticada terá de ser avaliado em função de uma referência, constituída pela acção normativamente considerada correcta. Podemos então representar graficamente o conceito de desvalor de acção do seguinte modo: A B AB: Direcção exigida pelo Direito Em que a linha horizontal representa a direcção valorada positivamente pelo direito, porque não insuportavelmente atentatória da segurança de bens jurídicos, e todas as outras são possíveis direcções que comportam desvios maiores ou menores. independentemente de que o agente, ao desencadear a acção, tenha ou não pensado nesse mesmo perigo – Ibidem p. 57-60. 487 Subscrevendo a concepção finalista segundo a qual o elemento decisivo da ilicitude nos crimes negligentes não radica na produção de um resultado mas na violação do dever de cuidado, Nuñez Barbero faz uma análise da jurisprudência tendente a demonstrar que a prática dos tribunais [espanhóis] tem vindo a afastar-se de uma concepção redutoramente causal da acção, nos delitos negligentes – NUÑEZ BARBERO (1974) p. 120. 289 10. Desvalor da acção na negligência Quanto maior for o ângulo, maior o desvalor Esta representação torna claro que, no plano da negligência, só pode falar-se de acção final em relação à conduta perigosa. Não é o resultado final que está em causa (o terminus da linha representativa da acção) mas a diferença dessa linha relativamente à imposta pelo direito (imposta em atenção ao risco provocado). É a existência de um referente, por um lado, e a decisão no sentido de adoptar uma direcção diferente, por outro, que confere significância à acção na negligência, por forma a esta ser alvo de um juízo de desvalor – primeiro – e de culpa – posteriormente. O desvalor da acção na negligência não depende de qualquer juízo de censura, nem resulta da comparação com o que se presume que um (hipotético) homem médio teria feito naquelas circunstâncias. Resulta de uma desconformidade com a direcção traçada normativamente, apurada de acordo com os dados do contexto. A secular confusão entre negligência e culpa (hoje transformada na dificuldade em distinguir uma da outra) fica assim ultrapassada, na medida em que o tipo negligente adquire um conteúdo objectivado e completo (desvalor da acção + desvalor do resultado) à semelhança do que se verifica no tipo doloso. 290 10. Desvalor da acção na negligência 10.3 Tipo subjectivo: elementos psicológicos (internos) na negligência Welzel (paradoxalmente) defendeu que só a acção de um sujeito capaz de culpa é tipicamente ilícita. Será isto correcto? Um inimputável pode agir negligentemente (numa situação em que a inimputabilidade afecte a “opção” do sujeito, à semelhança do que se verifica no dolo, ou seja, em que a anomalia psíquica seja determinante para a opção face à esfera de risco criado)? Haverá ainda aqui violação do dever de cuidado? O primeiro aspecto a considerar é se a própria expressão “dever de cuidado” não é, já de si, indutora de erros e incorrecções. Se considerarmos que o “cuidado” é objectivo (uma gestão de risco eficiente à luz dos parâmetros normativamente definidos) a expressão “dever de cuidado” mistura um elemento puramente objectivo com um elemento puramente valorativo – o dever. Será preferível falar apenas – como, aliás, faz o Código Penal – de cuidado a que está obrigado, de modo a tornar claro que do que se trata, nesta fase, é de um incumprimento (objectivo) de determinados critérios de actuação em sociedade, sem que tal implique, a final, necessariamente a violação de um dever (o que comportaria, desde logo, um juízo de censura). Colocada a questão nestes termos, a resposta à questão “pode um inimputável agir negligentemente?” é claramente afirmativa. Mesmo que, por força da sua anomalia psíquica, ele valore mal as variáveis, o que resta é que geriu de modo objectivamente inadequado o complexo de riscos, criando um risco proibido que se concretizou no resultado. Tal como acontece no caso de dolo (que subsiste mesmo que determinado por uma anomalia psíquica), a negligência não é consumida pela inimputabilidade. O que se segue é a impossibilidade de atribuição do facto ao indivíduo por este não 291 10. Desvalor da acção na negligência ser capaz de avaliar a ilicitude (não tendo capacidade para ajuizar correctamente do paradigma de risco com que se deparava) ou não ter capacidade para se determinar de acordo com essa avaliação. A expressão “de que é capaz” reportada ao cumprimento do cuidado, ao introduzir uma componente subjectiva na medida do cuidado exigido, não servirá nunca para eximir, sem mais, o indivíduo de cumprir o cuidado padrão que lhe é requerido para que possa viver em sociedade. O padrão do cuidado, sendo um modelo de racionalidade imposto, dirige-se a todos os elementos de uma sociedade. Devemos, pois, concluir que, ao contrário do que afirma Welzel, a capacidade de culpa não condiciona o preenchimento do tipo de ilícito. Questão completamente diferente é a existência – também defendida por Welzel, e, antes dele, prenunciada por Engisch - de uma vertente subjectiva no tipo de ilícito. São conhecidas as dificuldades encontradas para identificar o tipo subjectivo na negligência, não faltando autores que consideram ser esta uma tarefa destinada ao fracasso ou mesmo inútil. Figueiredo Dias, com uma posição muito crítica quanto às várias tentativas de identificar o tipo subjectivo na negligência, acaba por o admitir apenas segundo uma construção pela negativa (ausência de…). Para concluir que, de facto, não há necessidade nem vantagem em identificar um tipo subjectivo de ilícito negligente: “é questão puramente teorética”.488. Mas não parece que esta afirmação seja exacta. DIAS (2007) p. 886 ss. Discordando de que possa configurar-se o tipo negligente como um “tipo subjectivo negativo”, Paredes Castañon argumenta que a ausência de dolo não pode ter outra relevância para além de negar a existência de um crime doloso, não podendo ser elemento constitutivo do crime negligente –PAREDES CASTAÑON (1999) p. 391. 488 292 10. Desvalor da acção na negligência A construção bipartida do tipo negligente – componentes objectiva e subjectiva - permite uma delimitação clara do cuidado devido, que alcança o estatuto de objecto de valoração e padrão de exigência oponível ao sujeito. Do mesmo passo, a existência de um tipo subjectivo na negligência irá condicionar o regime do erro. Struensee cita o exemplo de um ciclista que, ao deter-se num sinal vermelho, se apoia ao poste do semáforo, deteriorado na base, e o faz cair sobre o cruzamento. E conclui que o ciclista não actua negligentemente se desconhecia o estado do poste, pois “não se preenche o tipo, pela simples razão de que o sujeito desconhece os factores de risco existentes”489. Também Stratenwerth chega a uma conclusão similar, ao analisar o caso de um automobilista que atropelou mortalmente uma criança que, escondida entre os automóveis estacionados, saltou subitamente para a estrada. Não se poderá dizer que o sujeito actuou no âmbito de um risco proibido, uma vez que desconhecia os factores determinantes do risco490. Ao entender-se que também aqui, à semelhança do que acontece no dolo, relevam as representações do indivíduo, quando este configura erroneamente a realidade e, por isso, age em contrariedade com o cuidado devido, o que está em causa não é o cuidado, mas o erro do agente e a avaliação sobre a censurabilidade deste. Tratando-se de um erro sobre o tipo, exclui desde logo a possibilidade de ser valorado o comportamento do agente em relação à esfera de risco, transferindo a avaliação para o cometimento do erro. Se o erro for censurável, a negligência não será afastada, mas porque o agente actuou sem informação ou atenção numa situação passível de criar riscos que ele desprezou. STRUENSEE (1987) p. 440. Daqui conclui Struensee que o tipo subjectivo, nos crimes negligentes, implica o conhecimento, por parte do sujeito, das condições do resultado, tipicamente relevantes, que, “segundo a valoração do ordenamento jurídico”, produzem o risco não permitido – ibidem, p.443. 490 STRATENWERTH (1987) p. 61. 489 293 10. Desvalor da acção na negligência É certo que pode afirmar-se, como Roxin, que estas questões, a nível da negligência, estão destituídas de interesse prático, uma vez que neste domínio não é punível a tentativa e não está previsto um regime para o erro do tipo491. O erro sobre o tipo, na negligência, não é expressamente contemplado na lei e sempre o agente, a ser punido, o será a título negligente, pelo que o erro não introduz qualquer diferença no plano da pena aplicável. Mas, a partir do momento em que se apura um erro (sobre o tipo), o que passa a avaliar-se é a censurabilidade do erro (não a conduta típica) e daquela censurabilidade dependerá a punibilidade do agente. O objecto da avaliação (e a argumentação tendente a justificar o sentido final desta) não é o mesmo. E não é de excluir por completo uma possível relevância a nível da pena aplicável. Por fim, pode afirmar-se que com esta construção se torna também clara, a nível da negligência, a diferença entre o erro sobre o tipo e o erro sobre a ilicitude - o agente pensa que o comportamento é permitido por se inserir ainda nos limites do risco permitido – ao qual corresponde, como se sabe, um regime totalmente diferente. Com razão, afirma Cuello Contreras que esta estrutura proporciona um maior rigor e respeito pelo princípio da culpa492. A imputação subjectiva é considerada necessária desde Aristóteles e insere-se numa perspectiva teleológica--objectiva que une ética e direito. Mas pode entender-se que é necessária por dois motivos diferentes (embora estes possam coexistir): por um imperativo ético (dignidade, princípio da culpa)493 ou por uma questão de eficácia do direito penal (funcionalismo), no sentido ROXIN (1970 [1979]) p. 56. CUELLO CONTRERAS (1990) p. 189. 493 Esta é a posição de Köhler, para quem “a imputação objectiva faz parte do património cultural europeu como pressuposto do mérito e do castigo: só merece reprovação ou censura a acção voluntária” - KÖHLER (2000) p. 72. 491 492 294 10. Desvalor da acção na negligência de que é inútil emitir comandos sobre matérias que o indivíduo não domina e não pode, portanto, optar por evitar. Se, no primeiro caso, pode discutir-se o papel da imputação subjectiva – no sentido da atribuição da conduta a uma vontade (livre) – na segunda hipótese aquela torna-se um imperativo lógico: sem ela o direito penal cairia no absurdo, tornando-se num mero exercício hipotético e não num sistema normativo. Na sequência da questão ética suscitada pela imputação subjectiva, Köhler considera que na negligência inconsciente não pode haver um facto punível (criminalmente) porque esta não contém uma decisão voluntária. Concorda, assim, com a posição de Arthur Kaufmann, segundo a qual a punição da negligência inconsciente atenta contra o princípio da culpa494. Com efeito, Arthur Kaufmann defende que a negligência inconsciente não pode ser incluída nas condutas culposas, pois nela está ausente a vontade do indivíduo495. Esta posição, embora teoricamente bem construída, não é de modo algum consensual. Roxin entende que é sempre possível manter sob controlo, genericamente, os perigos inerentes à vida em sociedade, logo também a negligência inconsciente está dentro do âmbito do direito penal e da punibilidade. Assim, quando alguém “conhece as circunstâncias fundamentadoras do perigo”, a negligência radicará em não extrair daí as consequências em termos de uma possível lesão de bens jurídicos. Bastará, portanto, “a mera cognoscibilidade ou advertência das circunstâncias fundamentadoras do perigo”496. Roxin, no entanto, não fundamenta a afirmação que toma como ponto de partida (a possibilidade de manter os perigos sob controlo). E, sem comprovação de que essa possibilidade exista, teriam de prevalecer as Ibidem p. 83-85. KAUFMANN (1961) p. 156 e passim. 496 ROXIN (1994) p. 1020. 494 495 295 10. Desvalor da acção na negligência críticas de Arthur Kaufmann. Só considerando que também nos casos de negligência inconsciente houve capacidade de decisão pode encontrar-se o substrato necessário para a formulação de um juízo de culpa. A moderna psicologia cognitiva tem aqui um papel importante a desempenhar, desvendando os processos mentais que acompanham o processo decisório. Sabemos hoje que muitos dos nossos pensamentos não se desenrolam no plano da consciência, sem que por isso deixem de ser actuantes, influenciando opções que assumimos como nossas 497. Isso justifica que se impute ao indivíduo a responsabilidade por acções que, aparentemente, não resultaram de actividade reflexiva mas pelas quais ele será responsável porque consideradas, a todos os títulos, acções voluntárias. Retomemos o exemplo do ciclista analisado supra. Como referido, parece evidente que na versão inicial da história (o ciclista encosta-se a um poste deteriorado – deterioração em que ele não repara – provocando a sua queda) não se pode considerar ter havido negligência; mas imaginemos que isto se passa numa povoação em que, nos últimos dias, vários postes caíram, precisamente por se encontrarem em mau estado, e que esta situação tem sido alvo de intensa discussão pública. Se consideramos (como parece ser de considerar) que, nesta segunda versão, o ciclista foi negligente, é porque entendemos que ele tem (ainda que possa não o ter trazido à consciência) conhecimento de uma situação de risco que não lhe permite encostar-se ao poste sem tomar precauções. Não interessa se pensou nisso naquele momento – e parece óbvio que não terá pensado; ainda assim, ele sabe, o que lhe permitia (se tivesse o grau de preocupação com os bens jurídicos em causa normativamente exigido498) avaliar correctamente a situação e decidir Sobre esta matéria, cf. capítulo 5. Subscreve-se aqui totalmente a posição de Engish, para quem a censura, na negligência, incide sobre a falta de interesse em evitar o resultado típico, a falta de preocupação demonstrada ao ultrapassar os limites do risco permitido. 497 498 296 10. Desvalor da acção na negligência em conformidade499. Esta é uma situação diferente da do erro que desde logo afecta a tipicidade. Aqui, temos de concluir pela presença de um elemento subjectivo capaz de suportar um (eventual) juízo de culpa500. 10.4 Papel do resultado na negligência Na teoria do ilícito pessoal, mesmo no caso de dolo, é discutível o lugar a atribuir ao resultado. Não falta quem sustente que, ainda quando – por mero acaso – o resultado não se verifique, o ilícito fica completo com a acção501. Desta perspectiva, a tentativa seria passível de uma pena igual à do crime consumado, hipótese que, como se sabe, não é totalmente rejeitada e encontrou acolhimento em alguns ordenamentos jurídicos. A não seguir esta via, temos de admitir que a [valoração negativa expressa pela] pena compreende não só o desvalor da acção como também o desvalor do resultado (quando este se verifique). Mas dir-se-á que, deste modo, o indivíduo vê a sua situação afectada por factores que não dependem já dele. Como afirma Brady, o sujeito pode estar consciente do risco sem uma formulação explícita dessa consciência – tal como não é necessário formular explicitamente uma intenção para se agir intencionalmente. BRADY (1996) p. 187. 500 Glanville Williams sugere, como teste, que se pergunte ao agente (e penso que esta pergunta pode ser hipotética, ou seja, não tem necessariamente de ser formulada porque nada nos garante uma resposta honesta, mas pode ser colocada hipoteticamente) se ele se colocaria de boa vontade no lugar em que colocou a sua vítima. Isto permitiria clarificar que, mesmo quando, pelo menos pretensamente, o agente não configurou previamente o perigo, ele tinha presente que estava a criar uma situação de risco proibido – WILLIAMS (1988) p. 75. 501 Nunez Barbero refere, na linha de Cerezo Mir, que, ficando o resultado fora da finalidade da acção – que, na negligência, é final apenas relativamente ao risco – por não estar incluído na vontade de realização, terá de ficar também fora do tipo. NUNEZ BARBERO (1974) p. 117. 499 297 10. Desvalor da acção na negligência Estamos aqui perante o quarto momento da negligência, de que fala Binavince, e que, segundo este, deve ser visto como o principal problema dos crimes negligentes, susceptível de provocar uma “vergonhosa” responsabilidade pelo acaso. Uma vez que o sujeito não desempenha qualquer papel decisivo no que toca às circunstâncias ou causas do resultado, este surge apenas como fruto do acaso. Referindo-se às diferenças entre tipo doloso e tipo negligente, Binavince destaca a ligação entre o agente e o resultado, presente no dolo mas inexistente na negligência; o que torna a responsabilização do agente tanto mais difícil, quanto Binavince considera que o resultado terá de fazer parte do tipo de ilícito, pois entende que só se pode aplicar uma pena quando “algo aconteceu” (etwas passiert ist)502. A inclusão do resultado no tipo seria, assim, vista como uma verdadeira necessidade lógica, partindo-se do pressuposto de que a acção descuidada apenas pode ser censurada a partir do ponto de vista do resultado típico. Mas isto carece de demonstração e é contrariado pela existência crescente de crimes de perigo. A inclusão do resultado no tipo não é uma necessidade ontologicamente imposta mas uma opção normativa. Depende do equilíbrio (funcional) entre os imperativos do direito penal – sempre como ultima ratio, evidentemente – e os direitos comprimidos. Por outro lado, o padrão de risco deve ser visto como um objecto típico, alvo da opção do agente e condicionante do resultado. Deste modo, o resultado depende do agente na medida em que este actuou (e voluntariamente) criando a constelação de risco apta a produzi-lo (e que, por essa razão, ultrapassava o risco permitido). A questão tem de ser equacionada inversamente: se, não obstante a criação voluntária da esfera de risco (proibido) apta a produzir o resultado, este não se verificou, o agente fica a dever ao acaso uma redução da pena 502 BINAVINCE (1969) p. 226-228. 298 10. Desvalor da acção na negligência (atenuação essa que, no caso dos crimes negligentes e no caso dos crimes dolosos em que a tentativa não é punível levará mesmo à não aplicação de qualquer pena)503. Se pode parecer, à primeira vista, que o crime negligente é uma realidade totalmente diversa do crime doloso, e incompatível com os pressupostos dogmáticos deste, nomeadamente quando considerados sob uma óptica finalista (ou que, pelo menos, recuse uma concepção puramente causalista do direito penal), uma análise mais detalhada revela que não é isso que se verifica. Também no crime doloso o desvalor da acção é incindível da verificação do resultado – excepto nos casos de tentativa, mas estes deverão ser vistos como crimes “falhados”, de algum modo incompletos504. E também, ao actuar, o agente sabe que está a pôr em causa bens juridicamente protegidos505 A diferença, no que toca aos crimes negligentes, consiste em que, entre a acção desvaliosa e o resultado, não há um fio condutor voluntarioso, mas apenas uma relação de imputação objectiva (que não é puramente causal, e a demonstrá-lo estão as extremas dificuldades encontradas nesta área). Ou seja, enquanto o elemento da vontade, no dolo, está presente ao longo de todo o facto típico, constituindo uma relação de implicação entre a acção e o resultado, na negligência os elementos de vontade (final) e o resultado produzido estão numa relação de adição, no que ao sujeito respeita. Mas, ainda assim, não deixa de haver uma unidade, na Numa linha de raciocínio semelhante, embora não tão assertivamente, cf. WELZEL (1961) p. 21 ss. Welzel, no entanto, tende a aceitar o acaso (Zufallskomponente) - da verificação ou não do resultado – como um requisito da relevância da acção para o direito penal, o que prejudica o seguimento de um raciocínio coerente com os pressupostos de um ilícito integrado pela acção final – WELZEL (1951) p. 120. 504 Defendendo que a ilicitude do delito consumado é maior do que a do delito tentado na “proporção do maior ou menor desvalor do resultado”, Sola Reche, para quem a desaprovação da norma incide sobre a lesão do bem jurídico ou o perigo concretamente criado – SOLA RECHE (1994) p. 169. 505 Corcoy Bidasolo afirma mesmo que “la constatación de la existencia de un peligro idóneo, ex ante, para lesionar un bien jurídico será el presupuesto común a todos los delitos, ya sean de peligro o de lesión, y ya sean dolosos o imprudentes” – CORCOY BIDASOLO (1999) p. 40-41. 503 299 10. Desvalor da acção na negligência medida em que, voluntariamente, o agente se conduziu de forma arriscada (criando um risco proibido) e a sua conduta lesou o bem jurídico cuja protecção fundamentava essa proibição506. Esta construção é coerente com uma concepção do direito penal como protecção de bens jurídicos e não como instância baseada em valorações sobre a conduta dos indivíduos. As valorações são dependentes da (potencialidade de) lesão do bem jurídico que se considera indispensável preservar. E as acções são desvaliosas funcionalmente, pela sua aptidão para provocar o dano507. Se o dolo, enquanto intenção, é considerado particularmente negativo, é porque a vontade do indivíduo visa directamente o dano e se actualiza numa acção dirigida a esse fim (logo, pela sua origem, maximamente perigosa). Há, contudo, uma diferença a considerar: no dolo, proíbe-se a acção orientada (intencionalmente ou não) para o resultado típico (estão presentes aqui os dois elementos: acção e resultado típico); na negligência proíbe-se a acção que provoca a esfera de risco (proibido) mais a concretização (que já não depende do indivíduo) desse risco no resultado típico (não desejado nem aceite)508. Assim, no dolo a ligação entre o agente (que age) e o resultado Utilizando um exemplo expressivo: “um indivíduo que, mexendo inadvertidamente numa espingarda carregada, mata outro, foi involuntariamente homicida, mas voluntariamente negligente” – GUIMARÃES (1930) p. 12. 507 Mir Pig afirma que, se não se pode proibir movimentos externos a não ser quando activados por uma actividade consciente, o objecto da proibição não pode compreender as consequências típicas não abrangidas pela vontade consciente. No entanto, mais adiante, refere que a lesão do bem jurídico é o que, na realidade, o direito penal visa evitar e, para conseguir tal objectivo, às normas só é legítimo proibir aquilo que pode levar à lesão dos ditos bens jurídicos: a conduta perigosa submetida ao controlo voluntário e consciente do sujeito – MIR PUIG (1988) p. 667-672. A ligação assim estabelecida denota claramente a ligação funcional entre as duas realidades – ainda que o autor não extraia daí conclusões tão abrangentes quanto as que defendo. 508 Não tem, assim, razão Pioletti quando pretende que aceitar a ideia de uma “síndroma do risco” transformaria todos os crimes negligentes em crimes de dolo eventual: o objecto imediato da acção voluntária é claramente distinto, por um lado, e por outro a separação entre negligência e dolo eventual depende – em qualquer das teorias utilizadas – de factores que não se prendem com o objecto da acção – PIOLETTI (1990) p 77 ss. Considerando que, 506 300 10. Desvalor da acção na negligência (provocado) é que o agente quis aquele resultado509. Na negligência, o que liga o agente ao resultado? Não poderá ser a mera ligação causal entre a acção e o resultado, se se pretende que o resultado integre a ilicitude: ele apareceria, neste caso, apenas como condição de punibilidade, à margem da proibição. O resultado só fará parte do tipo de ilícito se se considerar que a norma visa, em última análise, evitar resultados e, por isso, proíbe as acções510 que, potencialmente (e não se trata aqui de um juízo de mera causalidade) os produzem511. Uma vez que o resultado na negligência é a concretização do risco criado, a sua (possível) verificação estava já, de forma precisamente, a “síndroma de risco” constitui o objecto da finalidade da acção, Stratenwerth retira daí a conclusão de que dolo e negligência têm em comum o facto de a ilicitude se reportar a uma finalidade desaprovada, logo, partilham de uma estrutura homogénea – STRATENWERTH (1987) p. 62. Numa posição radicalmente diferente, cf. Greco, para quem o único elemento relevante na definição do dolo é o conhecimento (por parte do agente) “que lhe confere o domínio sobre aquilo que está realizando”, de tal modo que “a produção do resultado possa ser considerada algo que o autor domina”; chega-se, por esta via, a uma concepção de dolo puramente cognitivo – GRECO (2010) p.902. 509 Abstrai-se aqui das particularidades do dolo eventual, e por duas razões: primeiro, porque, a manter-se a sua integração no regime do dolo, se pode reformular a afirmação dizendo que o agente quis ou, pelo menos, aceitou (ou se conformou) com aquele resultado; segundo, porque sempre se poderá equacionar a hipótese de o excluir do regime do dolo (integrando-o na negligência ou numa terceira categoria, como, por exemplo, na recklessness do direito anglo-saxónico). Sobre a hipótese de aproximação entre o direito continental e o direito anglo-saxónico nesta matéria, cf. CURI (1998) p. 975 ss. Analisando criticamente a introdução de uma terceira categoria entre o dolo e a negligência no direito italiano, CANESTRARI (1999), p. 279 ss. Taylor analisa comparativamente as duas figuras sob a perspectiva de unificação dos regimes – TAYLOR (2004) p. 99 ss. Evidenciando as especificidades do conceito de recklessness e contrapondo-as ao pensamento continental, FLETCHER (1978) p. 442 ss. Embora esta questão tenha grande interesse prático (e teórico, ao questionar a abordagem da intenção por parte do regime jurídico-penal) não se justifica que nos alonguemos aqui sobre ela. Sempre se dirá, no entanto, que cada um dos regimes tem uma unidade interna própria que obrigará a alterações de fundo se se pretender introduzir novas categorias que dele não participam. 510 Como afirma Kaufmann, o conteúdo da proibição só pode consistir numa acção finalista; proibir resultados equivaleria a exigir a orientação da vontade no sentido de evitar a verificação desse resultado – KAUFMANN, Armin (1976 [1954]) p. 144. 511 Equacionando a questão precisamente pela ordem oposta, ao considerar que o ilícito dos crimes negligentes deve perspectivar-se a partir da circunstância de que a conduta foi descuidada e, por isso, não impediu o resultado típico, GÖSSEL (1983) p. 225. Gossel, no entanto, conclui igualmente que o resultado integra o tipo objectivo, quer nos crimes dolosos quer nos negligentes. 301 10. Desvalor da acção na negligência implícita, contida na acção criadora do risco proibido. Neste ponto têm razão os autores, como Stratenwerth, que afirmam que a norma penal, como norma de valoração, engloba mais do que a proibição (de acções finais). Também Jakobs defende que a ilicitude requer “o desvalor de intenção e o desvalor de objectivação”, aparecendo a acção como a “produção evitável” de algo512. No caso dos crimes negligentes, e reforçando esta ideia, afasta mesmo a intervenção do acaso como elemento relevante, pois o risco criado era cognoscível e, portanto, o resultado evitável513. Já Welzel, ao responder às críticas que apontavam ao finalismo a incapacidade de integrar nos seus pressupostos os crimes negligentes, afirmava que não há qualquer incompatibilidade na medida em que, nestes, uma acção só é típica se “a sua direcção real não corresponde ao cuidado necessário e, em consequência, produziu um resultado típico”514. Não estão correctos aqueles que, como Gonzallez de Murillo, defendem que na negligência – e, nomeadamente, se se partir de uma concepção de ilícito pessoal – existe uma dificuldade a nível da integração do resultado que acaba por o remeter para o lugar de condição de punibilidade515. Desde logo, porque, a ser assim, não se vê por que se exigiria que o resultado fosse consequência da não observância do cuidado devido516. JAKOBS (1991) p. 205. Ibidem p. 395. 514 WELZEL (1968) p. 228. 515 GONZALEZ DE MURILLO (1991) p. 249 ss. Numa posição diametralmente oposta, Herzog critica a “flexibilização” do direito penal do risco, defendendo que não se pode abdicar do ilícito do resultado – HERZOG (1993) p. 326. 516 Este argumento tem sido utilizado por diversos autores desde Welzel. Cerezo Mir vai mais longe, considerando mesmo que, não só o argumento justifica a inclusão do resultado no tipo como demonstra que este só então fica completo – CEREZO MIR (1982) p. 502-504. A isto pode ainda acrescentar-se a observação de que o agente é punido em conformidade com o resultado, não com o incumprimento do dever de cuidado. Se o resultado fosse apenas condição de punibilidade, não seria legítimo fazer depender do resultado típico produzido a medida abstracta da pena. 512 513 302 10. Desvalor da acção na negligência Como já foi referido, a norma de valoração pode incluir mais do que o objecto da proibição: na realidade, ela compreende dois desvalores – o da acção e o do resultado, que funcionaliza o da acção. Acção desvaliosa e resultado formam um todo. Tem razão Struensee quando afirma, apoiando Rudolphi, que, apesar de o desvalor da acção e o desvalor do facto serem entidades valorativas diversas, “existe entre elas uma relação de dependência” uma vez que o (des)valor da acção só existe na medida em que a pessoa persegue com ela a realização de um facto (des)valioso517. Para o desvalor da acção, o que conta é a sua capacidade de produzir o resultado, apreciada ex ante. Se essa capacidade se transmuta em poder (o que só pode ser comprovado ex post) é algo que nada acrescenta à acção, em si, nem aumenta o seu desvalor518. Mas a “capacidade de resultado” (a Erfolgsfähigkeit de que fala Zielinski) é, por natureza, indissociável do resultado e só releva porque este é desvalioso para o direito. Numa concepção do dever de cuidado como a que defendo – construída a partir de uma matriz de gestão de risco segundo parâmetros normativos – esta ligação torna-se ainda mais evidente. Suponhamos que Abel regressa, na sua motorizada, do médico, que lhe diagnosticou uma gripe severa e o mandou ir rapidamente para casa e lá permanecer tomando a medicação receitada. Abel chega à farmácia às 18.59 e não tem onde deixar a motorizada a não ser no fundo da rua. Começou a chover intensamente. Abel resolve deixar o veículo encostado, no estreito passeio em frente da porta da farmácia, enquanto vai comprar os STRUENSEE (1987) p. 427. Tal como afirma Welzel, o desvalor da acção não pode aumentar pela conjugação com o desvalor do resultado, nem diminui pela ausência deste. Para Welzel, o desvalor do resultado surge como um elemento adicional do desvalor da acção, este último integrado no tipo mas não contido no desvalor do resultado. No entanto, na sua perspectiva, o resultado não é a parte essencial do crime negligente - WELZEL (1951) p. 120. 517 518 303 10. Desvalor da acção na negligência medicamentos. Que não deve fazê-lo, está fora de questão, desde logo porque sabemos que tal é proibido, constituindo uma contra-ordenação. Mas pode ser punido por algum crime negligente? Como é óbvio, se Abel sair minutos depois sem que nada tenha acontecido, a única infracção presente é a contra-ordenacional. Mas se Zacarias, que saiu da farmácia momentos depois de Abel ter entrado, tropeçar na motorizada, desequilibrando-se e, ao tentar apoiar-se, fizer um ligeiro arranhão num braço? Pode Abel ser responsabilizado pelo crime de ofensas à integridade física negligentes? E se Zacarias tiver caído ao tropeçar e partir uma perna? Se atribuirmos à vantagem de Abel em conseguir comprar o medicamento de que precisa, sem ter de se deslocar a uma farmácia de serviço, o valor quantitativo de 1 (numa escala de 0 a 10) e à lesão ligeira da integridade física o valor de 2, e estimando a probabilidade de não haver qualquer acidente durante os minutos em que Abel permanece na farmácia em 0,6 teremos: Ninguém se magoou Arranhão num braço P = 0,6 P = 0,4 A1 (deixa a mota) 1+2 0+0 A2 (não deixa a mota) 0+2 0+2 Sendo A1 = 0,6 (4) + 0,4 (0) = 2,4 e A2 = 0,6 (2) + 0,4 (2) = 2 Chegaríamos, assim, à conclusão de que o risco de alguém se arranhar ligeiramente em consequência do deficiente estacionamento, e 304 10. Desvalor da acção na negligência tendo em conta o interesse que originou a infracção519 foi um risco racionalmente adequado – uma aposta certa - e teríamos concluir que não houve negligência da parte de Abel relativamente ao ligeiro arranhão provocado em Zacarias – como o demonstram os números supra, na medida em que A1 > A2520. Vejamos agora como tudo se passa, relativamente à hipótese de Zacarias partir uma perna (atribuindo a este resultado o valor de 4): Ninguém se magoou Arranhão num braço P = 0,6 P = 0,4 A1 (deixa a mota) 2+4 0+0 A2 (não deixa a mota) 0+4 0+4 Sendo A1 = 0,6 (6) + 0,4 (0) = 3,6 e A2 = 0,6 (2) + 0,4 (2) = 4 logo A2 > A1 Como se constata, a conclusão seria oposta à do caso anterior e, nesta eventualidade, Abel devia ser considerado responsável por negligência, pois a opção certa, in casu, teria sido não estacionar a motorizada em frente da farmácia. Está-se a abstrair das variações do valor de P (probabilidade do evento), englobando as probabilidades de cada evento num valor indiferenciado, relativo a P, de se verificar um acidente, qualquer que ele Interesse esse atendível a dois títulos, o individual e o social, uma vez que a sociedade tem vantagem em que os indivíduos se mantenham saudáveis. 520 Esta conclusão, que delimita o risco proibido, coincide, como é evidente neste caso, com um critério de adequação social, bem como um (sempre incerto) princípio bagatelar. Mas nem sempre assim será. A adequação social tem, neste domínio, uma sede própria, como já foi referido. 519 305 10. Desvalor da acção na negligência seja. Evidentemente, a probabilidade de alguém tropeçar na motorizada e partir uma perna é muito inferior à de alguém tropeçar e simplesmente se arranhar ou mesmo fazer apenas um ligeiro hematoma. Esta variação acentuaria a divergência das conclusões, não alterando o seu sentido, pelo que podemos abstrair dela a fim de simplificar o nosso exemplo. Abel, naturalmente, não sabe ex ante se vai ou não verificar-se qualquer acidente durante aqueles minutos, e presumimos que confia que não – mas corre um risco e, na medida em que ultrapasse o padrão normativo, será responsável pelos resultados da sua concretização. Como se disse, a estimativa dos riscos terá de ser feita ex ante, mas a avaliação global (transposta para os quadros acima elaborados) só pode ser concretizada ex post. Na decisão de Abel está uma aposta, que passa pela avaliação de uma probabilidade: a de se verificar um acidente que provoque lesões superiores às admissíveis no contexto de valorações presente. Porque o legislador não quis integrar essa aposta na esfera do permitido (querendo evitar a possibilidade de “Zacarias” (alguém) partir uma perna, ou de ter de se desviar para a faixa de rodagem e ser atropelado, etc.) proibiu-a liminarmente ao sancionar o estacionamento em cima do passeio. Mas essa, como vimos, é uma proibição diferente521. Como diferente será a avaliação de uma eventual desculpa ou diminuição da culpa de Abel relativamente ao crime de ofensas à integridade física negligentes. Recorrendo a um exemplo um pouco diferente: a empresa farmacêutica B dispõe de uma vacina para a Gripe A, já testada segundo os procedimentos habituais, mas antes de a comercializar surge a hipótese de ela vir a causar urticária e os testes que poderiam descartar essa hipótese atrasariam a disponibilização da vacina em cerca de seis meses. Ponderando Considerar que, por ter estacionado em transgressão, Abel seria ipso facto responsável por todas as consequências que viessem a verificar-se, seria aplicar grosseiramente um conceito de acção causal, à margem de qualquer consideração normativa. 521 306 10. Desvalor da acção na negligência o interesse em fornecer rapidamente a vacina (interesse para os utentes mas não só, também para a empresa), a probabilidade (baixa) de ela vir a causar esse efeito secundário e a gravidade (diminuta) do mesmo, a empresa B opta por disponibilizar de imediato o produto – o que me parece ser a opção certa. Se, efectivamente, um grande número de pessoas que tomam a vacina vier a desenvolver reacções cutâneas desagradáveis, coerentemente com a conclusão ex ante de que a empresa tomou a decisão correcta, teremos de entender que não lhe cabe qualquer responsabilidade penal por negligência. Suponhamos, em alternativa, que se coloca uma hipótese de a vacina causar não só urticária mas também cegueira em algumas das pessoas a quem seja administrada. Nesse caso, parece evidente que a empresa B devia ter procedido a testes adicionais, apesar de eles atrasarem em vários meses todo o processo. E, se não os fez e várias pessoas perderem a visão, a empresa deve ser responsabilizada penalmente. Quid juris se, neste segundo caso, a empresa decidir arriscar e, por a vacina ter provocado efectivamente urticária em muitas pessoas, a retirar antes que viesse a provocar cegueira a alguém (o que podia ou não vir a suceder - é irrelevante para o problema)? A decisão – a aposta – foi errada e denotou falta de cuidado e a criação de um risco inadmissível, é certo. Mas não advém daí uma responsabilidade penal (nos mesmo termos em que a empresa por nada responderia se não tivesse havido qualquer efeito desagradável). Porque, precisamente, na negligência o indivíduo não é punido por não ter tido cuidado, sem mais: é punido a) pela lesão do bem jurídico b) em concretização de um risco c) proibido. Para efeitos de juízo de negligência, a questão relevante é o conteúdo da aposta. Note-se o efeito das variações do valor do resultado522. Se não se Chamando a atenção para esta interdependência, Corcoy Bidasolo afirma, subscrevendo a posição de Horn, que “la gravedad del peligro aumenta según la mayor o menor importancia de los bienes jurídicos amenazados, en el sentido de que una pequeña 522 307 10. Desvalor da acção na negligência verificar qualquer dano, este valor será igual a zero e, necessariamente, teremos sempre de concluir pela ausência de negligência. Se o dano for de valor diminuto, provavelmente chegaremos a um valor final que ainda permite concluir pela ausência de negligência (o risco estará ainda dentro dos limites do permitido). A partir de um certo valor (quantitativamente expresso) a influência deste sobre o valor final vai determinar um prognóstico de negligência523. Na negligência, o desvalor da acção e o desvalor do resultado estão assim inextrincavelmente ligados e dependentes. A esfera de risco é sempre relativa a um determinado bem jurídico, pois que o agente não é punido por uma violação abstracta de um igualmente abstracto cuidado524. Não é possível concluir pela violação do cuidado que deveria ter sido adoptado com vista a evitar uma morte, se ninguém morreu. No âmbito dos crimes de perigo, o legislador pode tipificar meras condutas, exigindo – ou nem sequer probabilidad de lesión de un bien jurídico básico constituye un riesgo penalmente relevante, mientras que esa misma probabilidad frente a otro bien jurídico puede considerarse riesgo permitido”. A autora defende, assim, que o âmbito do risco permitido depende do bem jurídico protegido, pelo que o valor do bem jurídico terá de ser tido em conta ao fixar-se o ilícito – posição que acompanho, embora a partir de uma construção diversa, pois centrada no objecto de escolha do sujeito e na racionalidade do mesmo. Cf. CORCOY BIDASOLO (1989) p. 208. 523 Este valor não tem de ser superior ao valor atribuído ao interesse do indivíduo em agir como agiu, pois, como resulta evidente, o valor de P exerce também uma influência determinante. Concordo integralmente com Paredes Castañon quando este defende a necessidade de introduzir na actividade jurídica técnicas de análise de risco, aliás já aplicadas com êxito em outras áreas, e que proporcionarão não só a compreensão dos limites do risco permitido como uma maior eficácia a nível de política criminal – PAREDES CASTAÑON (1999) p. 426 ss. 524 A construção do ilícito negligente que aqui defendo leva a uma resposta clara sobre a polémica em torno do concurso efectivo ideal no caso de pluralidade de resultados. Se o agente não é punido apenas pela violação do cuidado exigido, e não sendo o resultado uma mera condição de punibilidade, torna-se evidente que ao agente serão imputados tantos resultados quantos os que se verificaram em consequência (normativa, não causal) da sua acção descuidada (ou seja, do risco proibido criado). O instituto do cúmulo jurídico permitirá depois graduar a pena adequada ao caso concreto. Esta questão, que tem sido alvo de intensa discussão, foi já analisada e comentada a propósito de alguns casos reais julgados em tribunais portugueses - v., por ex,. CAEIRO/SANTOS (1996), BRAVO (1997) e MESQUITA (1998). 308 10. Desvalor da acção na negligência exigindo – a comprovação do perigo. Mas o ilícito negligente só fica completo com o desvalor do resultado. Ainda que se possa pretender que a compreensão da estrutura dos crimes negligentes implica o reconhecimento de que o elemento essencial, nestes, não é a causação do resultado (material) mas a infracção do cuidado requerido nas relações sociais525, sabemos que a opção do direito penal tem sido no sentido de não dissociar a infracção de cuidado da verificação do resultado correspondente. E isto não será sem um motivo, pois criminalizar todo e qualquer comportamento descuidado seria paralisar a vida social. A criação de crimes de perigo deve ficar reservada para situações excepcionais, em que, quer pela elevada potencialidade de perigo, quer pela insuportabilidade do eventual dano, não se possa esperar para agir a posteriori. 525 Cf. NUNEZ BARBERO (1976) p. 36, aderindo aqui às teses finalistas. 309 11. Conclusões 11 CONCLUSÕES 1. Pese embora a dificuldade que o finalismo encontrou para enquadrar a negligência dentro dos seus quadros de pensamento, o conceito de desvalor de acção é determinante para o correcto entendimento da estrutura do crime negligente. 2. Residindo o desvalor da acção no crime negligente na ultrapassagem voluntária de um parâmetro de risco normativamente definido, impõe-se compreender os mecanismos que comandam a decisão dos indivíduos perante alternativas que envolvem um elevado grau de risco. O recurso a métodos próprios da análise económica, bem como o estudo do processo de decisão, permitem compreender os vectores que determinam as opções – e, assim, aferir o seu (des)valor e, num outro plano, orientar a política criminal no sentido da máxima eficácia. 3. A análise económica do direito fornece um modelo de raciocínio que corresponde a um padrão universal. A racionalidade das decisões consubstancia-se numa contabilização de “utilidades”, procurando 310 11. Conclusões o indivíduo obter o máximo de satisfação. Este modelo é descritivo, não normativo. A fractura entre o descritivo e o normativo não pode nunca ser de molde a tornar o normativo inoperacional, sendo imperioso respeitar, nesta relação, um equilíbrio sustentável. 4. Toda a conduta humana é reconduzível a uma opção e, como tal, susceptível de valoração normativa. Deste modo, o não cumprimento do cuidado devido – a criação de um risco proibido – quer no dolo, quer na negligência (incluindo a negligência inconsciente) – consubstancia uma violação dos ditames do direito, passível de aplicação de sanções penais. 5. O muito controvertido problema da negligência inconsciente é, na realidade, um falso problema. Entre as decisões tomadas reflexivamente e aquelas que passam à margem de um processo reflexivo consciente, não há, sabe-se hoje, uma diferença radical. Em todas elas está implicado um complexo sistema de respostas intuitivas e controlos, e o processo decisório é sempre afectado por estes dois níveis de pensamento. Não se confirmando o pressuposto empírico em que assenta a separação tradicional das duas categorias, a negligência inconsciente não deve ser encarada como uma categoria autónoma inscrita na pretensa natureza do pensamento. 6. Todos os indivíduos (com excepção de alguns inimputáveis) partilham um padrão de racionalidade. É assim possível estabelecer referências partilhadas entre as exigências do direito e os quadros decisórios dos destinatários da norma, bastando consagrar uma margem de variação que não afecta sobremodo as valorações juridicamente impostas. A construção normativa pode integrar a vertente subjectiva sem deixar de estabelecer, objectivamente, padrões e limites. 311 11. Conclusões 7. Dentro desta perspectiva, o dever de cuidado apresenta-se como um “modelo de gestão do risco”, acessível a qualquer um e que define a fronteira a partir da qual o risco atinge valores considerados socialmente inadmissíveis. 8. Ao contrário do que certos autores parecem entender, não há lugar a qualquer confusão entre a negligência e os crimes comissivos por omissão. Enquanto na omissão relevam as qualidades individuais (inferiores ou superiores), pois o indivíduo tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar o resultado, na negligência, pelo contrário, do que se trata é de não ultrapassar um determinado grau do risco causado na interacção entre os indivíduos. O comportamento negligente apresenta-se, assim, inequivocamente, como uma acção criadora de riscos que excedem o limite imposto (pela racionalidade transposta para a norma). 9. Considerando que toda a acção é, em maior ou menor grau, criadora de riscos, o que se pretende é que o indivíduo, em sociedade, pondere os riscos inerentes à sua conduta e proceda de modo a não ultrapassar o limiar do proibido. Para este cálculo relevam a gravidade da lesão produzida, a importância do interesse prosseguido e a probabilidade de lesão. Apesar de, na estimativa destes factores, se verificarem notórias variações individuais, estas não atingem nunca uma dimensão susceptível de inviabilizar a imposição de um modelo acessível a todos os indivíduos. 10. Nos crimes por negligência, o resultado integra a tipicidade. O próprio cuidado é, aliás, impossível de determinar sem ponderação do resultado a que se reporta. Entender o contrário – além de incompatível com o regime de imputação e de medida legal da pena – seria transformar os 312 11. Conclusões crimes negligentes em algo que poderia designar-se como “crimes de perigo concretizado”. Este aumento exponencial do lugar atribuído ao perigo pelo direito penal levaria a um sistema incompatível com a vida em sociedade em geral e, muito em particular, com as actividades próprias de uma sociedade de risco como aquela em que vivemos. 313 Bibliografia citada BIBLIOGRAFIA CITADA ADAM, Barbara e van LOON, Joost 2000 “Repositioning risk: the challenge for social theory”, The risk society and beyond: critical issues for social theory, Sage Publications, London (2000) p. 1-32 ADAMS, John 1995 Risk, Routledge, Londres (2007) ALEXANDER, L.; FERZAN, K. K. 2010 “Response to Critics”, Law and Philosophy, 29 (2010) p. 483-504 ALEXANDER, L.; FERZAN, K. K. (c/MORSE, Stephen) 2009 Crime and Culpability, Cambridge University Press, N. York (2009) ALMEIDA, Carlota Pizarro 2000 Modelos de Inimputabilidade – da Teoria à Prática, Almedina, Coimbra (2000) ANAND, Paul 1993 Foundations of Rational Choice Under Risk, Clarendon Press, Oxford (1993) ANDRADE, Manuel da Costa 1991 Consentimento e Acordo em Direito Penal, Coimbra Editora (1991) ARAUJO, Fernando 2007 Teoria Económica do Contrato, Almedina, Coimbra (2007) ARROW, Keneth J. 1988 “Behavior Ander uncertainty and its implications for policy”, Decision making – Descriptive, normative and prescriptive interactions, Cambridge University Press, N. Iorque (1995) p. 497-507 314 Bibliografia citada BAARS, Bernard J. 1997 In the theatre of consciousness – The workspace of the mind, Oxford University Press, N. York (2001) BANDES, Susan 2010 “Is it immoral to punish the heedless and clueless”, Law and Philosophy, 29 (2010) p. 433-453 BARBERO, Ruperto Nuñez 1974 “La estructuración jurídica del delito culposo, problema actual de la dogmática”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXVII, fasc. I (1974) p. 61- 120 BARON, Jonathan 1993 “Heuristics and biases in equity judgements: a utilitarian approach”, Psychological perspectives on justice – Theory and applications, Cambridge University Press, N. York (1993) 2000 Thinking and Deciding, 3ª edição, Cambridge University Press, N. York (2000) BECCARIA, Cesare 1776 Dos delitos e das penas, ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (1998) BECHARA A, DAMASIO H., TRANEL D., DAMASIO A.R. 1997 “Deciding advantageously before knowing the advantageous strategy” Science, vol. 275. n. 5304 (1997) p. 1293 - 1295 BECK, Ulrich 1986 La sociedad del riesgo – hacia una nueva modernidad, tradução de Risikogesellschaft. Auf them Weg in eine andere Moderne (1986) por Jorge Navarro, Daniel Jiménez e Maria Rosa Borrás, ed. Ediciones Paidós Iberica SA, Barcelona (1998) 1988 Ecological Politics in an Age of Risk, Polity Press, Cambridge, UK (1995) 1993 “La modernidad reflexiva”, Las consecuencias perversas de la modernidad, ed. Anthropos, Barcelona (1996) p. 201-265. Tradução de Die Erfindung des Politischen p. 35-98. 1995 “From industrial society to the risk society: questions of survival, social structure and ecological enlightenment”, The Sociology of the Environment, vol. III, ed. Aldershot, UK (1995) 1998 “Politics of risk society”, The politics of risk society, Polity Press, Cambridge, UK (1998) p. 9-22 315 Bibliografia citada BECKER, Gary S. 1962 “Irrational Behavior and Economic Theory”, The Journal of Political Economy, Vol. 70 n. 1, p. 1-13 1968 “Crime and punishment: an economic approach”, The Journal of Political Economy, Vol. 76, n. 2 (1968), p. 169-217 1976 The Economic Approach to Human Behaviour, Chicago University Press (1978) 1992 The economic way of looking at life, Nobel Lecture (9 Dezembro 1992) BELL, David; RAIFFA, Howard 1988 “Risky choice revisited”, Decision making – Descriptive, normative and prescriptive interactions, Cambridge University Press, N. Irorque (1995) p. 99112 BELL, D.; RAIFFA, H.; TVERSKY, A. 1988 “Descriptive, normative and prescriptive interactions”, Decision making – Descriptive, normative and prescriptive interactions, Cambridge University Press, N. Irorque (1995) p. 99-112 BENTHAM, Jeremy 1780 An introduction to the principles of morals and legislation, Clarendon Press, Oxford (1996) BINAVINCE, Emilio S. 1969 Die vier Momente der Fahrlässigkeits delikte, ed. Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld (1969) BOYD, Robert; RICHERSON, Meter 2001 “Norms and bounded rationality”, “Rethinking rationality”, Bounded Rationality: the adaptive toolbox”, The MIT Press, Massachusetts (2001) p. 281296 BRADY, James B. 1996 “Recklessness”, Law and Philosophy, Dordrecht, v. 15, n. 2 (1996) p. 183-200 BRAVO, Jorge dos Reis 1997 “Negligência, unidade de conduta e pluralidade de eventos”, Revista do Ministério Público, ano 18.º, n.º 71 (1997) p. 97-122 316 Bibliografia citada BREYER, Stephen 1993 Breaking the vicious circle: toward effective risk regulation, Harvard University Press, Londres (1993) BURGSTALLER, Manfred 1974 Der Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht, Manzsche v., Viena (1974) CAEIRO, Pedro e SANTOS, Cláudia 1996 “Negligência inconsciente e pluralidade de eventos: tipo de ilícito negligente – unidade criminosa e concurso de crimes – princípio da culpa”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal ano 6 (1996) p. 127-142 CAMERER, Colin 2000 “Prospect Theory in the wild”, Choices, Values and Frames, Cambridge University Press, N. York (2000) CANCIO MELIÀ, Manuel 1992 “La teoria de la adecuación social en Welzel”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLVI, fasc. II (1992) p. 697-729 2001 Conducta de la víctima e imputación objetiva en derecho penal – estudio sobre los ambitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, ed. J. M. Bosch, Barcelona, 2.º edição (2001) CANESTRARI, Stefano 1999 Dolo eventuale e colpa consciente – Al confini tra dolo e colpa nella structura delle tipologie delittuose, Giuffrè ed., Milão (1999) CARNAP, Rudolf 1966 An introduction to the philosophy of science, Dover Publications, Nova York (1995) CARVALHO, Américo Taipa de 2008 Direito Penal. Parte Geral, 2ª edição, Coimbra Editora, Coimbra (2008) CASTALDO, Andrea 1997 “La concreción del riesgo jurídicamente relevante”, Política Criminal y Nuevo Derecho Penal: libro homage a Claus Roxin, Bosch Editor, Barcelona (1997) p. 233-242 317 Bibliografia citada CEREZO MIR, José 1982 “El tipo de lo injusto de los delitos de acción culposos”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXXVI, fasc. III (1983) p. 471-504 COASE, Ronald 1960 “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, vol. 3 (Outubro 1960) p. 1-44 COHEN, Jacob 1969 Statistical Power Analisys in the Behavioral Sciences, Academic Press, N. York (1969) COLEMAN, Jules L. 1985 “Crime, kickers and transaction structures”, Criminal Justice (NOMOS XXVII), N.Y. University Press, Nova York (1985) p. 313-328 CORCOY BIDASOLO, Mirentxu 1989 El delito imprudente:critérios de imputación del resultado, ed. PPU, Barcelona (1989) 1999 Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales, tirant lo blanch, Valência (1999) CORREIA, Eduardo 1961 “Les problemes poses, en droit pénal moderne, par le développement des infractions non intentionnelles (par faute)”, Boletim do Ministério da Justiça,p. 109 (1961) 1963 Direito Criminal, Almedina, Coimbra (1997) COSTA, José de Faria 1992 O perigo em direito penal (contributo para a sua fundamentação e compreensão dogmáticas), ed. Coimbra editora, Coimbra (1992) CUELLO CONTRERAS, Joaquín 1990 Culpabilidad e imprudencia: de la imprudencia como forma de culpabilidad a la imprudencia como tipo de delito, ed. Ministerio de Justicia, Madrid (1990) CURI, Francesca 1998 “L‟istituto della recklessness nel sistema penale inglese”, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, nuova série, anno XLI, fasc. 3 (1998) p. 975-1009 318 Bibliografia citada DAMÁSIO, António R. 1994 O Erro de Descartes, Publicações Europa-América, Mem Martins (1995) 2003 Ao Encontro de Espinosa, Publicações Europa-América, Mem Martins (2003) 2010 O Livro da Consciência – A construção do cérebro consciente, Círculo de Leitores, Lisboa (2010) DAU-SCHMIDT, Keneth 1998 The new Palgrave dictionary of economics and the law, vol. I, Macmilan, Londres (1998) DAWES, Robyn M. 1988 Rational Choice in an uncertain world, Harcourt Brace Jovanovich, Florida (1988) DIAS, Augusto Silva 2008 “Delicta in se" e “Delicta mere prohibita”. Uma Análise das Discontinuidades do Ilícito Penal Moderno à Luz da Reconstrução de uma Distinção Clássica, Coimbra Editora, Coimbra (2008) 2010 “Reconhecimento e coisificação nas sociedades contemporâneas. Uma reflexão sobre os limites da intervenção penal do Estado”, Liber Amicorum de José de Sousa e Brito, Almedina, Coimbra (2010) DIAS, Jorge Figueiredo 1976 Liberdade, Culpa, Direito Penal, Coimbra Editora, 3ª edição (1995) 2001 Temas básicos da doutrina penal, ed. Coimbra Editora, Coimbra (2001) 2001a “O direito penal entre a sociedade industrial e a sociedade do risco”, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, ed. Coimbra Editora (2001) p. 583-613 2007 Direito Penal. Parte Geral, Tomo I, Coimbra Editora, 2ª edição (2007) DURANT, John 1998 “Once the men in white coats held the promise of a better future”, The politics of risk society, Polity Press, Cambridge, UK (1998) p. 70-75 DUTTGE, Gunnar 2001 Zur Bestimmtheit des Handlungsunwerts von Fahrlässigkeitsdelikten, Mohr Siebeck, Tübingen (2001) 319 Bibliografia citada EINHORN, Hillel; HOGARTH, Robin 1988 “Behavioral decision theory: processes of judgement and choice”, Decision making – Descriptive, normative and prescriptive interactions, Cambridge University Press, N. Irorque (1995) p. 113-146 ENGISCH, Karl 1930 Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Srafrecht, ed. Otto Liebmann, Berlim (1964) EPSTEIN, Seymour 1994 “Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious”, American Psychologist (1994) p. 709-724 FARIA, Paula Ribeiro de 2005 A Adequação Social da Conduta no Direito Penal ou O valor dos sentidos sociais na interpretação da lei penal , Publicações Universidade Católica, Porto (2005) 2008 “Sobre a individualização da medida de cuidado no âmbito do ilícito negligente”, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, Coimbra editora, Coimbra (2008) p. 701-736 2009 “O risco penalmente relevante – uma tarefa de interpretação da norma penal”, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra editora, Coimbra (2009) vol. II p. 371-415 FEIJÓO, Bernardo 2001 Resultado lesivo e imprudencia – estudio sobre los limites de la responsabilidad penal por imprudência y el critério del “fin de protección de la norma de cuidado”, ed. J. M. Bosch, Barcelona (2001) FIDALGO, Sónia 2008 Responsabilidade Penal por Negligência no Exercício da Medicina em Equipa, Coimbra Editora (2008) FINETTI, Bruno de 1937 “La prevision: ses lois logiques, ses sources subjectives”, Annales de l’Institut Henri Poincaré, 7 n. 1 (1937) p. 1-68 FISCHOFF, Baruch 1982 “Debiasing”, Judgement Under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge University Press, N. York (1982) p. 423-444 320 Bibliografia citada 2000 “How safe is safe enough? A psychometric study of attitudes toward technological risks and benefits”, The Perception of Risk, org. Paul Slovic, ed. Earthscan Publications, Londres (2000) FISHOFF, B.; LICHTENSTEIN, S.; SLOVIC, P.; STEPHEN, D.; KEENEY, R. 1981 Acceptable risk, Cambridge University Press, NovaYork , 6ª reimp. (1993) FLETCHER, George P. 1978 Rethinking Criminal Law, ed. Oxford University Press, Nova Cork (2000) 1985 “The right and the reasonable”, Harvard Law Review, vol. 98 n. 5, p. 949-982 1997 Conceptos básicos de derecho penal, tradução e notas de Francisco Muñoz Conde, ed. Tirant lo blanch, Valência (1997) 2002 “The fault of not knowing”, Theoretical Inquires in Law, vol. 3, n. 2 (2002) FRANC, Michel 2003 “Traitement juridique du risque et príncipe de précaution”, Droit Administratif – L’actualité Juridique, a.59, n. 8 (2003) p. 360-365 FRANCO, António de Sousa 1992 “Análise económica do direito: exercício ensinamento?”, Sub Judice n. 2 (1992) intelectual ou fonte de FRIEDMAN, David 1987 “Direito e ciência económica”, Sub Judice n. 2 (1992) p. 31-38 1997 Hidden Order: The Economics of Everyday Life, HarperCollins Publishers, N. York (1997) 2000 Law’s Order – What economics has to do with law and why it matters, Princeton University Press, N. Jersey (2000) GASS, Saul I. 1985 Decision making, models and algorithms, John Wiley & Sons, N. York (1985) GIDDENS, Anthony 1991 Modernity and Self-Identity, Polity Press, Londres (1991) 1999 O mundo na era da globalização, ed. Presença, Lisboa (2000) GIGERENZER, BERD 2001 “Rethinking rationality”, Bounded Rationality: the adaptive toolbox”, The MIT Press, Massachusetts (2001) p. 37-50 321 Bibliografia citada 2002 Adaptative thinking: rationality in the real world, Oxford University Press, N. York (2002 GIGERENZER, BERD; SELTEN, Reinhard 2001 Bounded Rationality: the adaptive toolbox”, The MIT Press, Massachusetts (2001) GIGERENZER, BERD et al 1989 The Empire of Chance: how probability changed science and everyday life, Cambridge University Press, N. York (1997) GIMBERNAT ORDEIG, Enrique 1994 “Causalidad, omisión e imprudência”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLVII, Fasc. III (1994) p. 5-60 GONZALEZ DE MURILLO, José Luís Serrano 1991 Teoria del delito imprudente: doctrina general general y regulación legal, ed. Ministério de Justicia, Madrid (1991) GÖSSEL, Karl Heinz 1978 “Norm und fahrlässigges Verbrechen”, Festschrift für Hans Jurgen Bruns, Carl Heymans Verlag, Colónia (1978) p. 43-58 1983 “Velhos e novos caminhos da doutrina da negligência”, tradução de A. M. Almeida Costa, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, vol. LIX (1983) p. 213-239 GRAHAM, D. W. 2002 "Heraclitus and Parmenides.", Presocratic Philosophy: Essays in Honour of Alexander Mourelatos, Aldershot, Ashgate, p. 27-44 GRAY, John 1998 “Nature bites back”, The politics of risk society, Polity Press, Cambridge, UK (1998) p. 43-46 GRECO, Luís 2010 “Dolo sem Vontade”, Liber Amicorum de José de Sousa e Brito, Almedina, Coimbra (2010) GROVE-WHITE, Robin 1998 “Risk society, politics and BSE”, The politics of risk society, Polity Press, Cambridge, UK (1998) p. 50-53 322 Bibliografia citada GUIMARÃES, Elina 1930 Dos crimes culposos, ed. Tipografia da Penitenciária, Lisboa (1930) GUTHRIE, Chris (2003) “Prospect theory, risk preference and the law”, Northwestern University Law Review (2003) p. 1115 HACKING, Ian 1975 The emergence of Probability. A philosophical study of early ideas about probability induction and statistical inference, Cambridge University Press (2006) HALL, Jerome 1963 “Negligent behaviour should be excluded from penal liability”, Columbia Law Review, vol. 63 (1963) p. 632-644 HAMMOND, J., KEENEY e RAIFFA, H. 1999 Smart Choices. A practical guide to making better decisions, Harvard Business School Press, Boston (1999) HARSANYI, John C. 1982 “Morality and the theory of rational behaviour”, Utilitarianism and Beyond, Cambridge University Press (1982) HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. 1995 La responsabilidad por el producto en derecho penal, ed. Tirant lo blanch, Valencia (1995) HASTIE, Reid; DAWES, Robyn 2001 Rational Choice in an Uncertain World, Sage Publications, Londres (2001) HEISENBERG, Werner 1958 Physics and Philosophy, Penguin Classics (2000) HERTZ, David; THOMAS, Howard 1983 Risk Analysis and its Applications, John Wiley and Sons, Nova York, reimp. (1984) HERZBERG, Rolf 1987 “ Die Sorgfaltswidrigkeit im Aufbau der fahrlässigen und der Vorsätzlichen Straftat”, Juristen Zeitung (1987) p. 536-541 323 Bibliografia citada HERZOG, Felix 1993 “Limites al control penal de los riesgos sociales (una perspectiva crítica ante el derecho penal en peligro)”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLVI, fasc. I (1993) p. 317-327 HIRSCH, Hans Joachim 1982 “Der Streit um Handlungs und Unrechtslehre” ZStW, 94 (1982) p. 239-278 HÖRNLE, Tatjana 2008 “Social expectationsin the criminal law: the reasonable person in a comparative perspective”, New Criminal Law Review, 11 (2008) p. 1-32 HORWARTH, David 2006 “Many duties of care – or a duty of care? Notes from the underground”, Oxford Jornal of Legal Studies, vol. 26 n. 3 (2006) p. 449-472 IRWIN, Alan; ALLAN, Stuart; WELSH, Ian 2000 “Nuclear risks: three problematics”, The risk society and beyond: critical issues for social theory, Sage Publications, London (2000) p. 78-104 ISENBERG, Daniel 1988 “How senior managers think”, Decision making – Descriptive, normative and prescriptive interactions, Cambridge University Press, N. Irorque (1995) p. 525-539 JAKOBS, Günther 1972 Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt, Walter de Gruyter, Berlim (1972) 1987 “Sobre la función de la parte subjetiva del delito en derecho penal”, tradução de Joaquin Cuello Contreras, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLII, fasc. 2 (1989) p. 633-652 1991 Derecho Penal-Parte General: Fundamentos y teoria de la imputación, 2.ª edição (revista), tradução de Joaquin Cuello Contreras e J.L. Serrano Gonzalez de Murillo, ed. Marcial Pons, Madrid (1997) 1997 Estudios de derecho penal, tradução e introdução de E. Peñaranda Ramos, C. J. Suárez González e M. Cancio Meliá, ed. Civitas, Madrid (1997) JEFFREY, Richard 1992 Probability and the art of judgement, Cambridge University Press, N. York (1992) 324 Bibliografia citada JESCHECK, Hans Heinrich 1988 Tratado de Derecho Penal, 4.ª edição (revista e ampliada), tradução de José Luís Manzanares Samaniego, ed. Comares, Granada (1993) JESCHECK, H.H.; WEIGEND, T. 1996 Lehrbuch des Strafrechts – Allgemeiner Teil, 5ª edição, Duncker & Humblot, Berlim (1996) JOHSON, Eric 2010 “Is the idea of objective probability incoherent?”, Law and Philosophy, 29 (2010) p. 419-432 JOLLS, C.; SUNSTEIN, C.; THALER, R. 1998 “A behavioural approach to law and economics”, Stanford Law Review, 50, p. 1471-1550 (1998) JOHNSON-LAIRD, Philip 2006 How we reason, Oxford University Press, N. York (2006) KAHNEMAN, Daniel 2002 “Maps of bounded rationality: a perspective on intuitive judgement and choice”, Prize Lecture, 8 de Dezembro de 2002 – disponível em http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf 2003 “A perspective on judgement and choice”, American Psychologist, vol. 58, n. 9 p. 697- 720 KAHNEMAN, D.; KNETSCH, J.; THALER, R. 1991 “The endowment effect, loss aversion and status quo bias”, The Journal of Economic Perspectives, vol. 5 n. 1, p.193-206 KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos 1979 "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk", Econometrica, XLVII (1979), p. 263-291 1979 “Intuitive prediction: biases and corrective procedures”, Judgement Under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge University Press, N. York (1982) p. 414-421 KAHNEMAN, D.; SLOVIC, P.; TVERSKY, A. 1982 Judgement Under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge University Press, N. York (1982) 325 Bibliografia citada KAHNEMAN, D. ; WAKKER, P.; SARIN, Rakesh 1997 “Back to Bentham? Explorations of experienced utility”, Quarterly Journal of Economics, vol. 112 (1997) p. 375-406 KAPLAN, Mark 1996 Decision Theory as Philosophy, Cambridge University Press, N. York (1996) KAUFMANN, Armin 1954 Teoria da Norma Jurídica, Editora Rio, Rio de Janeiro (1976) 1974 “Zum Stande der Lehre vom personalen Unrecht”, Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag, Walter de Gruyter, Berlim (1974) KAUFMANN, Arthur 1961 Das Schuldprinzip: eine strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung, Carl Winter, Heidelberg (1961) KEATING, Gregory 2003 “Irreparable injury and extraordinary precaution: the safety and feasibility norms in american accident law”, Theoretical Inquiries of Law (2003) KEENEY, Ralph; RAIFFA, Howard 1976 Decisions with multiple objectives: preferences and value tradeoffs, John Wiley, N. York (1976) KINDHÄUSER, Urs 1996 Derecho Penal de la Culpabilidad y Conducta Peligrosa, Universidad Externado de Colombia, Bogota (1996) KISS, Alexadre 1991 «Droit et Risque», Archives de philosophie du droit, t.36 (1991), p.49-53 KLEIN, Gary 1999 Sources of Power. How People Make Decisions, The MIT Press, Cambridge (1999) KLEVORICK, Alvin 1985 “On the economic theory of crime”, Criminal Justice (NOMOS XXVII), N.Y. University Press, Nova York (1985) p. 289-309 KNIGHT, Frank 1921 Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner and Marx; Houghton Mifflin, Boston 1921, edição on line disponível em http://oll.libertyfund.org. 326 Bibliografia citada KÖHLER, Michael 1982 Die bewusste Fahrlässigkeit – eine strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung, ed. Carl Winter – Universitätsverlag, Heidelberg (1982) 2000 “La imputación subjetiva: estado de la cuestión”, Sobre el estado de la teoria del delito (seminario en la Universitat Pompeu Fabra), ed. Civitas, Madrid (2000) p. 71-90 KORNHAUSER, Lewis 1985 “A análise económica do directo”, Sub Judice n. 2 (1992) p. 43-50 1998 “Wealth maximization”, The new Palgrave dictionary of economics and the law, vol. I, Macmilan, Londres (1998) p. 660-668 KUHN, Thomas 1962 The structure of scientific revolutions, The University of Chicago Press, Chicago, 3ª edição LEIPOLD, Andrew 2010 “A case for criminal negligence”, Law and Philosophy, 29 (2010) p. 455-468 LINNEROOTH-BAYER, Joanne 1996 “Does society mismanage risk?”, Wise Choices – Decisions, Games and Negociations, Harvard Business School Press, Boston (1996) p. 133-151 LITMAN, H. 1986 “Considerations of choice of law in the doctrine of F.N.C.”, California Law Review (1986) p. 565-601 LITTLE, Gavin 2001 “BSE and the Regulation of Risk”, The Modern Law Review, v. 64, n. 5 (2001) p. 730-756 LOUREIRO, João 2001 “Da sociedade técnica de massas à sociedade de risco: prevenção, precaução e tecnociência”, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, ed. Coimbra editora (2001) p. 797-891 LUHMANN, Niklas 1991 Risk: a Sociological Theory, Walter de Gruyter, Berlin-New York (1993) 1996 “La modernidad contingente”, Las consecuencias perversas de la modernidad, ed. Anthropos, Barcelona (1996) 327 Bibliografia citada MAIWALD, Manfred 1985 De la capacidad de rendimiento del concepto de riesgo permitido para la sistemática del derecho penal, tradução de M. Sancinetti de“Zur Leistungsfähigkeit des Begriffs erlaubtes Risiko für dir Strafrechtssystematik”, Universidade Externado de Colombia (1996) MAQUEDA ABREU, María Luisa 1995 “La relación dolo de perigo – dolo (eventual) de lesión. A propósito de la STS de 23 de Abril de 1992 sobre el aceite de colza”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, TomoXLVIII, fasc. II (1995) p. 419-440 MARINUCCI, Giorgio 1998 El delito como “acción”- crítica de un dogma, tradução de José Eduardo SáinzCantero Caparrós, ed. Marcial Pons, Madrid (1998) MENDES, Paulo de Sousa 2000 Vale a pena o direito penal do ambiente?, AAFDL, Lisboa (2000) MERCADO PACHECO, Pedro 1994 El analisis económico del derecho: una reconstruccion teórica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid (1994) MESQUITA, Paulo Dá 1998 “Processo Hemodiálise de Évora: pluralidade de ofendidos em resultado da violação de um dever de cuidado – unidade ou pluralidade de infracções”, Revista do Ministério Público, ano 19.º, n.º 76 (1998) p. 101-178 MILITELLO, Vincenzo 1988 Rischio e Responsabilità Penale, Giuffrè ed., Milão (1988) 1995 “La responsabilidad juridico-penal de la empresa y de sus órganos en Italia”, Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal, ed. J. M. Bosch, Barcelona (1995) p. 409-424 MIR PUIG, Santiago 1983 “La perspectiva ex ante en derecho penal”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXXVI, fasc. I (1983) p. 5-22 1988 “Sobre lo objetivo y lo subjetivo en el injusto”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLI, fasc. 3 (1988) p. 661-683 2002 Derecho Penal. Parte General, Editorial Reppertor, Barcelona, 6ª edição (2002) 328 Bibliografia citada MYERS, David G. 2002 Intuition: its powers and perils, Yale University Press, Londres (2004) NEUMANN, J.; MORGENSTERN, O. 1944 Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, N. Jersey (1990) NOLL, R.; KRIER, J. 1990 “Some implications of cognitive psychology for risk regulation”, Journal of Legal Studies vol. XIX (1990) p. 747-779 NOZICK, Robert 1993 The nature of rationality, 3ª ed., Princeton University Press, N. Jersey (1995) NUÑEZ BARBERO, Ruperto 1974 «La estructuración jurídica del delito culposo, problema actual de la dogmática», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXVII, fasc. 1 (1974) p. 61-120 OSSENBRUGGEN, Paul J. 1994 Fundamental principles of systems analysis and decision-making, John Wiley & Sons, N. York (1994) PAGLIARO, António 1988 “Colpevolezza e responsabilità objetiva: aspetti di politica criminale e di elaborazione dogmatica”, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, nuova série, anno XXXI, fasc. 2 (1988) p. 387-408 PALMA, Maria Fernanda 2001 Direito Penal – Parte Geral II vol. (fascículos), AAFDL, Lisboa (2001) 2005 O princípio da desculpa em directo penal, Almedina, Coimbra (2005) PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel 1999 “El limite entre imprudencia y riesgo permitido en derecho penal: es possible determinarlo con criterios utilitarios?”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLIX, fasc. 3 (1999) p. 909-957 PARISI, Francesco 2000 “Introduction: the legacy of Richard Posner and the methodology of law and economics”, The economic structure of the law, vol. 1, ed. Edward Elgar, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA (2000) p. VIII - XXXIV 329 Bibliografia citada 2005 The Law and Economics of Irrational Behavior, Stanford University Press, California (2005) PEREIRA, Rui Carlos 1995 O dolo de perigo, ed. LEX, Lisboa (1995) PEREZ DEL VALLE, Carlos 1996 “Sociedad de riesgos y reforma penal”, Poder Judicial, Madrid, n. 43-44 (1996) p. 61-84 1999 “La causalidad: una solución procesal para un problema dogmático”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLIX, fasc. 3 (1999) p. 9791004 PIAGET, J.; INHELDER, B. 1951 La genèse de l’idée de hasard chez l’enfant, PUF (1974) PIOLETTI, Ugo 1990 Contributo allo studio del delitto colposo, CEDAM, Pádua (1990) PLATZGUMMER, Winfried 1964 Die Bewussteinsform des Vorsatzes, Springer Verlag, Viena (1964) PLOUS, Scott 1993 The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill (1993) POPPER, Karl 1965 The world of Parménides: essays on the presocratic enlightenment, Routledge (2001) POSNER, Richard 1972 “A Theory of Negligence”, Journal of Legal Studies, 29 (1972) p. 29-96 1979 “Utilitarianism, Economics and Legal Theory”, Journal of Legal Studies (1979) p. 103-140 1986 Economic analysis of law, 3.ª edição, ed. Litle, Brown and Company, Boston and Toronto (1986) 2000 Law and Social Norms, Harvard University Press, Cambridge (2000) 2003 Economic analysis of law, 6.ª edição, ed. ASPEN, Nova York (2003) 330 Bibliografia citada POWELL, Douglas 2001 “Mad cow disease and the stigmatization of british beef”, Risk, Media and Stigma – Understanding public challenges to modern science and technology”, ed. Earthscan, London (2001) PRITTWITZ, Cornelius 1993 Strafrecht und risiko: untersuchungen zur krise von srafrecht und kriminalpolitik in der risikogesellschaft, ed. Vittorio Klostermann, Frankfurt (1993) RABIN, Robert (2003) “The fault of not knowing: a coment”, Theoretical Inquires in Law, vol. 4 p. 427-436 RAIFFA, Howard 1968 Decision Analysis, Random House, N. York (1968) RAMSEY, Frank 1926 F.P. Ramsey (1926) "Truth and Probability", in Ramsey, 1931, The Foundations of Mathematics and other Logical Essays, Ch. VII, p.156-198, edited by R. Braithwaite, London: Kegan, Paul, Trench, Trubner & Co., New York: Harcourt, Brace and Company READ, Daniel 2004 Utility theory from Jeremy Bentham to Daniel Kahneman, The London School of Economics and Political Science, Londres (2004) RECHE, Esteban Sola 1994 “La peligrosidad de la conducta como fundamento de lo injusto penal”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLVII, fasc. I (1994) p. 167185 RESNIK, Michael 1987 Choices: an introduction to decision theory, University of Minnesota Press, Minneapolis (1987) RODRIGUES, Vasco 2007 Análise Económica do Direito, Almedina, Coimbra (2007) 331 Bibliografia citada RODRIGUEZ MONTAÑES, Teresa 1996 “Problemas de responsabilidad penal por comercialización de productos adulterados: algunas observaciones acerca del caso de la colza”, Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto, ed. J. M. Bosch, Barcelona (1996) p. 263-287 ROMEO CASABONA, Carlos 2005 Conducta Peligrosa e Imprudencia en la Sociedad de Riesgo, Comares, Granada (2005) ROSS, Karol et al 2004 “The Recognition-Primed decisión Model”, Military Review, Julho-Agosto (2004) ROWE, William D. 1988 An Anatomy of Risk, Robert Krieger Pub. Comp., Florida (1988) ROXIN, Claus 1970 Teoria del tipo penal: tipos abiertos y elementos del deber jurídico, versão castelhana de Enrique Bacigalupo, ed. Depalma, Buenos Aires (1979) 1994 Derecho Penal – Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito, tradução da 2.ª edição alemã de D. M. Luzón Peña, M. Diaz y Garcia Conlledo e J. Vicente Remesal, ed. CIVITAS, Madrid (1997) SAMUELSON, W.; ZECKHAUSER, R. 1988 “Status quo bias in decision making”, Journal of Risk and Incertainty, vol. 1 n. 1, p. 7-59 SAVAGE, Leonard 1954 The Foundations of Statistics, 2ª ed., Dover Publications, N. York (1972) SCHMIDHÄUSER, Eberhard 1975 “Fahrlässige Straftat ohne Sorgfaltspflichtverletzung”, Festschrift für Friedrich Schaffstein, Verlag Otto Schwartz, Göttingen, p.129-158 SCHÜNEMANN, Bernd 1975 “Neue Horizon der Fahrlässigkeitsdogmatik”, Festschrift für Friedrich Schaffstein, Verlag Otto Schwartz, Göttingen, p. 159-176 332 Bibliografia citada SCHULHOFER, Stephen 1985 “Is there an economic theory of crime?”, Criminal Justice (NOMOS XXVII), N.Y. University Press, Nova Iorque (1985) p. 329-344 SEAVEY, Warren 1927 “Negligence – Subjective or objective?”, Harvard Law Review n. 41 (1927) SELTEN, Reinhard 2001 “What is bounded rationality?”, “Rethinking rationality”, Bounded Rationality: the adaptive toolbox”, The MIT Press, Massachusetts (2001) p. 13-36 SHAFER, Glenn 1988 “Savage revisited”, Decision making – Descriptive, normative and prescriptive interactions, Cambridge University Press, N. Iorque (1995) p. 193-234 SHAFER, Glenn; TVERSKY, Amos 1988 “Languages and designs for probability judgement”, Decision making – Descriptive, normative and prescriptive interactions, Cambridge University Press, N. Iorque (1995) p. 237-265 SHAVELL, Steven 1987 Economic analysis of accident law, Harvard University Press, Londres (1987) 1997 “Criminal law and the optimal use of nonmonetary sanctions as a deterrent”, Law and Economics vol.II, Edward Elgar Publishing (1997) p. 617-647 2004 Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press, Londres (1987) SILVA, Manuel Jorge Botelho da 1997 “Análise económica da negligência penal: opúsculo sobre o proémio do artigo 15.º do Código Penal e a fórmula de Learned Hand: breve contributo para o entendimento da fronteira da negligência com a acção cuidada e da inadequação das categorias da teoria geral da infracção criminal aos tipos negligentes”, Revista Jurídica, Lisboa, nova série n.º 21 (1997) p. 247-262 SILVA SANCHEZ, Jesús María 1999 La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Cuadernos Civitas, Madrid (1999) 333 Bibliografia citada SIMON, Herbert 1956 “Racional choice and the structure of environments”, Psychological Review, vol. 63 n. 2 p. 129-138 1988 “Rationality as process and as product of thought”, Decision making – Descriptive, normative and prescriptive interactions, Cambridge University Press, N. Irorque (1995) p. 58-77 SIMONS, Kenneth W. 1999 “Negligence”, Social philosophy & policy, Cambridge, vol. 18, n.º 2 (1999) p. 52-93 2002 “Dimensions of negligence in criminal and tort law”, Theoretical Inquires in Law, vol. 3, n. 2 (2002) p. 1-49 SLOVIC, Paul 2000 The Perception of Risk, org. Paul Slovic, ed. Earthscan Publications, Londres (2000) SLOVIC, P.; FISCHOFF, B.; LICHTENSTEIN, S. 1982 “Facts versus fears: understanding perceived risk”, Judgement Under uncertainty, Cambridge University Press, N. York (1982) SLOVIC, P.; KUNREUTHER, H.; WHITE, G. 2000 “Decision processes, rationality and adjustment to natural hazards”, The Perception of Risk, org. Paul Slovic, Earthscan Publications, Londres (2000) SMITH, Adam 1759 The Theory of Moral Sentiments, Dover Publications (2006) 1776 The Wealth of Nations: Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Hackett Publishing Co., Cambridge (1993) SOLA RECHE, Esteban 1994 “La peligrosidad de la conducta como fundamento de lo injusto penal”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLVII, fasc. I (1994) p. 167185 STAUCH, Marc 2001 “Risk and remoteness of damage in negligence”, The modern law review, Oxford, v. 64 n. 2 (2001) p. 191-214 334 Bibliografia citada STRATENWERTH, Günther 1963 Acción y Resultado en Derecho Penal, ed. Hammurabi, Buenos Aires (1991) 1974 “Unbewusste Finalität?”, Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag, Duncker & Humblot, Berlim (1985) p. 289-305 1985 “Zur Individualisierung des Sorgfaltsmasstabes beim Fahrlässigkeit”, Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag, Duncker & Humblot, Berlim (1985) p. 285-302 2000 Derecho Penal – Parte General - El hecho punible, trad. de Cancio Melià e M. Sancinetti a partir da 4.ª edição alemã, Thomson – Civitas, Navarra (2005) STROWEL, Alain 1992 “Utilitarisme et approche économique dans la théorie du droit", Archives de philosophie du droit, Paris, Tomo 37 (1992) p. 143-171 STRUENSEE, Eberhard 1987 “Der subjective Tatbestand des fahrlässigen Delikts”, Juristen Zeitung 42 (1987) p. 423-450 1987a “Objectives Risiko und subjectiver Tatbestand”, Juristen Zeitung (1987) p. 541-543 SUNSTEIN, Cass 2002 Risk and Reason: Safety, Law and the Environment, Cambridge University Press (2002) TAVARES, Juarez 2009 Teoria do Crime Culposo, 3.ª edição, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro (2009) TAYLOR, Greg 2004 “Concepts of intention in german criminal law”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 24 n. 1 (2004) p. 99-127 TERRY, Henry 1915 “Negligence,” Harvard Law Review 29 (1915) p. 40-54 THALER, Richard 1980 “Toward a positive theory of consumer choice”, Toward a positive theory of consumer choice, vol.1 n. 1, p. 39-60 TINDALE, Stephen 1998 “Procrastination, precaution and the global gamble”, The politics of risk society, Polity Press, Cambridge, UK (1998) p. 54-69 335 Bibliografia citada TORIO, Angel 1972 “Sobre los limites de la ejecución por imprudencia”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXV, fasc. I (1972) p. 53-88 TORIO LOPEZ, Angel 1984 “El deber objetivo de cuidado en los delitos culposos”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXVII, fasc. 1 (1984) p. 25-59 TVERSKY, Amos 1996 “Contrasting rational and psychological principles of choice”, Wise Choices – Decisions, Games and Negociations, Harvard Business School Press, Boston (1996) p. 5-21 TVERSKY, Amos; Kahnemann, Daniel 1988 “Racional choice and the framing of decisions”, Decision making – Descriptive, normative and prescriptive interactions, Cambridge University Press, N. Irorque (1995) p. 167-192 URIARTE VALIENTE, Luis 1962 “Estudio jurisprudencial de la imprudencia punible y sus classes”, Boletín de información, Madrid, a.58 (1962) p.1209-1238 VISCUSI, W. Kip 1998 “Valuing life and risks to life”, The new Palgrave dictionary of economics and the law, vol. I, Macmilan, Londres (1998) p. 660-668 WELZEL, Hans 1954 Das Deutsche Strafrecht, 4ª edição, Walter de Gruyter, Berlim (1954) 1955 “Die Regelung von Vorsatz und Irrtum im Strafrecht als legislatorisches problem”, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, v. 67 (1955) p. 196228 1961 Fahrlässigkeit und Verkehrsdelikte. Zur Dogmatik der fahrlässigen Delikte, Karlsruhe (1961) 1964 El nuevo sistema del derecho penal, una introducción a la doctrina de la acción finalista, tradução e notas de José Cerezo Mir, ed. B e F Ltda., Buenos Aires (1964) 1968 “La doctrina de la acción finalista, hoy”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXI, fasc. II (1968) p. 221-229 1969 Das deutsche Strafrecht, 4.ª edição, Walter de Gruyter, Berlim (1954) 336 Bibliografia citada WESTEN, Peter 2008 “Individualizing the Reasonable Person in Criminal Law”, Criminal Law and Philosophy, 2 (2008) p. 137–162 2008a “Impossibility attempts: a speculative thesis”, Ohio State Journal of Criminal Law 5 (2008) p. 523-565 2010 “Resulting harms and objective risks as constraints on punishment”, Law and Philosophy, 29 (2010) p. 401-418 WHITE, Alan R. (1991) Misleading Cases, Clarendon Press, Oxford (1991) WILLIAMS, Glannville 1988 “The unresolved problem of recklessness”, Legal Studies, Aberystwith, vol. 8, n.º 1 (Março 1988) p. 74-91 WITTING, Christian 2005 “Duty of care: an analytical approach”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 25 n. 1 (2005) p. 33-63 WOOLLACOTT, Martin 1998 “Risky business, safety”, The politics of risk society, Polity Press, Cambridge, UK (1998) p. 47-49 WRIGHT, Richard 2002 “Justice and reasonable re in negligente law”, The American Journal of Jurisprudence, vol. 47 (2002) p. 143-195 ZAFFARONI, E. Raul 1971 “Síntesis de algunas implicaciones del concepto finalista de la conducta en la teoria general del delito”, Criminalia, México, ano 37, n.º 10 (1971) p. 484-494 1998 Manual de Derecho Penal – Parte General, 6ª edição, Sociedad Anonima Editora, Buenos Aires (2002) ZAMORA CABOT, Francisco Javier 1990 “Accidentes en masa y forum non conveniens: el caso Bhopal”, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, a. XXVI, n. 4 (1990) p. 821-852 ZIELINSKI, Diethart 1973 Disvalor de acción y disvalor de resultado en el concepto de ilícito, Editorial Hammurabi, Buenos Aires (1990) 337 Bibliografia citada ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel 1984 “La infracción del deber individual de cuidado en el sistema del delito culposo”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXXVII, fasc. II (1984) p. 321-332 338
Download