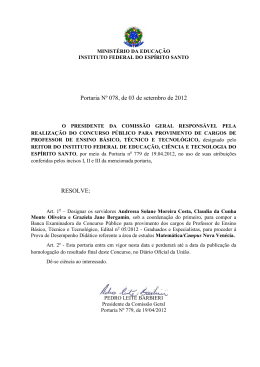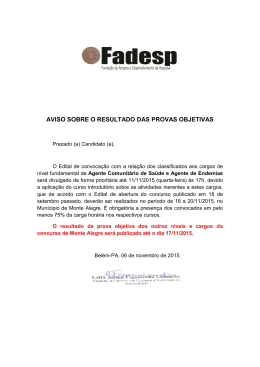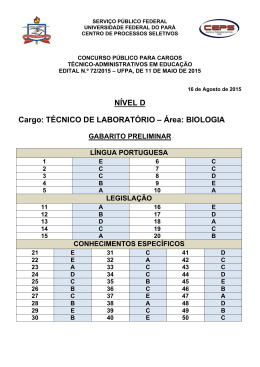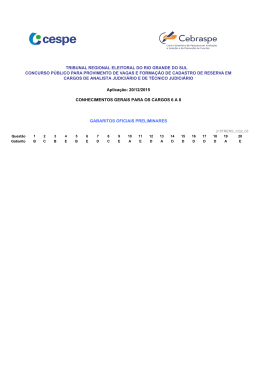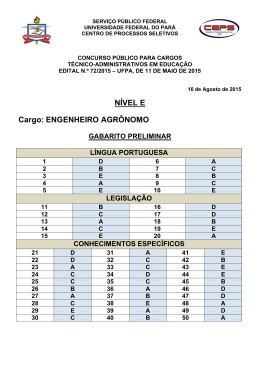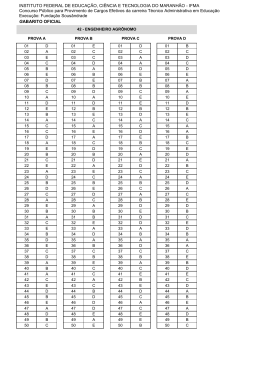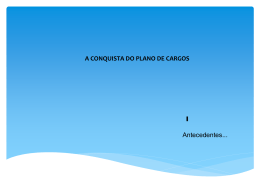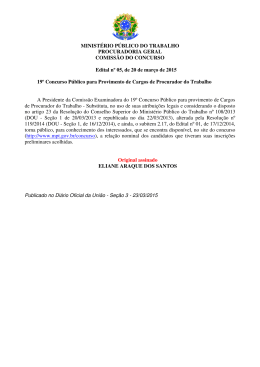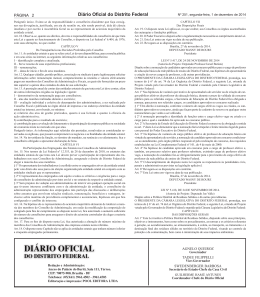DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA1 A organização da Administração Pública está expressa na Constituição entre os artigos 37 à 42. O constituinte reservou, pela primeira vez, um capítulo específico para tratar da matéria. Assim, nesse capítulo, o que nos interessa é o estudo da Administração Pública dentro da Constituição. A doutrina trás duas acepções da expressão Administração Pública: o sentido material e o sentido formal. No sentido material, também chamado de objetivo ou funcional a administração pública (grafada em letra minúscula) é a própria atividade administrativa exercida pelo Estado, por seus órgãos e agentes. A Administração Pública formal (grafada em maiúscula), também chamada de subjetiva ou orgânica, é o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas em prol do interesse público. O agente público é o gênero que abrange os agentes políticos, os servidores públicos, os militares e terceiros em colaboração com a Administração.2 A Administração Pública é composta por órgãos públicos e entram sempre no conceito formal ou subjetivo. Mas o que são órgãos? Conjunto de repartições de forma a desconcentrar a atividade administrativa. O órgão não possui personalidade. É uma divisão interna da administração, criado por lei e sem patrimônio público. O órgão público faz parte da desconcentração pública e faz parte da Administração Direta. No Brasil somente é Administração Pública os órgãos e entes integrantes da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta como autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista3 e consórcios públicos com 1 Advogado Especialista em Direito Público, Mestrando em Direito, Planejamento e Sustentabilidade (ESDHC), Pós-Graduado lato sensu em História e Culturas Políticas (UFMG), Pós-Graduado em Direito Processual Civil (CEAJUFE) e Pós-Graduado em Direito Público (CEAJUFE). Bacharel em Direito e Licenciado em História (UFMG), membro da Comissão de Estudos de Direito Constitucional da OAB, pesquisador-bolsista do projeto de pesquisa em Meio Ambiente Urbano: harmonia entre o plano diretor municipal e a agenda 21 ambiental. Professor de História Geral e do Brasil, Professor de Atualidades, Professor Universitário e Professor de Direito Constitucional do curso Pleno e Monitor de Direito Constitucional do Pro Labore. 2 Artigo 2° da Lei 8.429/92: Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 3 Verificar artigo 4° do Decreto Lei 200/67. personalidade jurídica de direito público.4 Esses entes possuem personalidade jurídica própria, autonomia, patrimônio etc. A Administração direta e indireta precisa de licitar para a realização de compras, obras ou serviços. A licitação é um procedimento realizado pelos entes governamentais para convocar interessados em fornecer bens ou serviços. A licitação está expressa na Constituição no artigo 5°, inciso XXI nas seguintes palavras: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A União é competente para legislar sobre normas gerais5, e os demais entes legislam sobre normas específicas. As leis 8.666/93 e 10.520/02 regulamentam a licitação. A Administração Direta e Indireta é regida por vários princípios que serão expostos a seguir. 1. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Os princípios da Administração Pública abordados aqui são apenas aqueles expressos no artigo 37, caput, da Constituição de 1988. Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são meramente exemplificativos e aplicam as quatro esferas de governo da estrutura direta e indireta. Assim, a Administração, seja direta ou indireta terá que cumprir os princípios da Administração Pública com o objetivo de atender a finalidade pública. Na administração direta encontramos os órgãos que não se confundem com as pessoas jurídicas. Os órgãos não são sujeitos de direitos e obrigações. Os órgãos não tem personalidade jurídica e nem capacidade processual para figurar no polo ativo e nem passivo da relação jurídica, salvo raras exceções. Entre os órgãos convém elaborar um quadro dividido por poderes e entes federativos para facilitar a visualização. 4 Os Consórcios Públicos com personalidade jurídica de direito público fazem parte da administração indireta conforme alude o artigo 6°, §1° da Lei 11.107/05. 5 Artigo 22, inciso XXVII da Constituição. Poder Legislativo Órgãos federais Poder Executivo Congresso Nacional, Presidência Poder Judiciário da STF, CNJ, STJ, Senado Federal, República, AGU, STM, TST, TSE, Câmara dos Defensoria da Juízes Federais, etc. Deputados, etc. União, Receita Federal, Polícia Federal, etc. Órgãos estaduais Assembleias Governadoria, Tribunais de Justiça Legislativas, Secretarias e Juízes Estaduais. Diretoria estaduais, Administrativa, etc. Polícias AGE, Civil e Militar, Defensoria Pública, etc. Órgãos municipais Câmara Municipal, Prefeitura, Diretoria Secretarias Administrativa, etc. municipais, Procuradorias, etc. Os Ministérios Públicos e os Tribunais de Contas também são órgãos. Em quais poderes eles se alocam? A doutrina é divergente, mas a tendência hoje é colocar os Ministérios Públicos como integrantes do Poder Executivo e os Tribunais de Constas, o Poder Legislativo. 1.1. Princípio da Legalidade O princípio da legalidade, segundo a famosa frase de Hely Lopes Meirelles, significa que o administrador público só pode fazer o que a lei permitir. A legalidade no serviço público se contrapõe a legalidade prevista no artigo 5º, inciso II, pois na iniciativa privada está implícito o princípio da liberdade de ação e da autonomia da vontade. O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração.6 6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P.18 Do princípio da legalidade decorre a noção de que a Administração só pode ser exercida conforme a lei. Somente é legítima a atividade do administrador público se estiver condizente com o disposto em lei.7 Esse princípio impõe a Administração o estrito cumprimento da lei, a exceção do artigo 84, VI8 da Constituição. Pelo citado princípio se o ato administrativo ferir a lei ele será ilegal e o Judiciário poderá anulá-lo. Se o ato inovar e não existir lei anterior também será ilegal.Segundo o entendimento sumulado9 e com espeque na legalidade somente através de lei se pode sujeitar a teste psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. A Constituição trouxe vários exemplos da aplicação direta do princípio da legalidade. Entre os exemplos cita-se: artigo 37, I assegura que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; artigo 37, II, afirma que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então percebe-se que a exigência de lei é ampla e está presente em vários dispositivos da nossa Carta. A doutrina moderna tem abandonado a concepção de legalidade estrita em detrimento do princípio da juridicidade ou bloco de legalidade, no qual admite a aplicação dos princípios consagrados no ordenamento constitucional, sem a estrita legalidade, e viabilizando uma noção sistêmica de ordem jurídica. 1.2. Princípio da Impessoalidade O princípio da impessoalidade assegura que a Administração Pública deve ser imparcial, ou seja, deve buscar o interesse da coletividade, pois o administrador não lida com o que é seu, mas com a coisa pública (res publica). O princípio objetiva a 7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011 p.18 8 O art. 84, VI da Constituição assegura ser competência privativa do Presidente da República dispor mediante decreto autônomo sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. 9 Súmula 686 do Supremo Tribunal Federal. igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica.10 Maria Sylvia Zanella di Pietro afirma que o princípio da impessoalidade assemelha ao princípio da publicidade, expresso no artigo 37, §1º, da Constituição, segundo o qual a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deve ser voltada para fins educativos, informativos ou de orientação social e sempre deve ser impessoal, nunca voltado para a promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. O concurso público é uma das melhores formas de aplicação da impessoalidade, pois torna-se agente público com a aprovação no concurso público pelo caráter meritório e impessoal. O pagamento dos precatórios, conforme artigo 100 da Constituição, também ajusta-se perfeitamente ao princípio da impessoalidade. 1.3. Princípio da Moralidade A moralidade pública é o que a sociedade espera do administrador probo, correto, íntegro. O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta.11 É um comportamento pautado na lei e nos bons costumes, nas regras da Administração, nos ideais de justiça, de equidade e de honestidade. A transgressão da moralidade pode ensejar em improbidade administrativa, conforme incidência do artigo 37, §4º, da Constituição e regulamentado pela Lei 8.429 de 1992. A improbidade, em regra, exigese dolo, mas pode ser punida também em caso de culpa se houver lesão ao erário (artigo 10).12 O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de coibir a imoralidade, editou a súmula vinculante número treze (13) que veda a prática do nepotismo. A súmula diz que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na 10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011 p.19 11 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011 p.19 12 A Constituição no artigo 37, § 5° assegura que a lesão ao erário é imprescritível. administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. É importante lembrar que a nomeação de parentes para cargos políticos não configura nepotismo, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na Reclamação 6650 MC-AgR / PR. 13 1.4. Princípio da Publicidade O princípio da publicidade14 está ínsito a ideia de transparência para que a sociedade possa tomar conhecimento dos atos praticados pela Administração. A publicidade dá-se de forma escrita e transparente, sem privilegiar o administrador. Os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados.15 A regra é que os atos são públicos, mas em algumas situações o acesso às informações pode ser restrito devendo assegurar o sigilo imprescindível à segurança do Estado e da sociedade, conforme aduz o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição.16 1.5. Princípio da Eficiência O princípio da eficiência impõe o dever ao administrador, ao agente público de agir com perfeição, presteza. Eficiência consiste em chegar ao melhor resultado com o menor custo, ou menor tempo. O citado princípio surgiu com a emenda constitucional 19 de 1998, incluído pela reforma da Administração que trouxe a ideia de valores de gestão da Administração Gerencial. Segundo esse modelo a Administração pública deve gerar resultados, lucros, rendas. Essa mesma emenda acrescentou ao artigo 37 o § 8º que versa sobre a autonomia gerencial, orçamentária e financeira da Administração. 13 Agravo regimental em medida cautelar em reclamação. Nomeação de irmão de governador de estado. Cargo de secretário de estado. Nepotismo. Súmula vinculante nº 13. Inaplicabilidade ao caso. Cargo de natureza política. Agente político. Entendimento firmado no julgamento do recurso extraordinário 579.951/rn. Ocorrência da fumaça do bom direito. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 14 Ver artigo 93, incisos IX e X da Constituição. 15 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011 p.23 16 A Constituição no artigo 5°, inciso LX afirma que a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 2. AGENTES PÚBLICOS NA CONSTITUIÇÃO O agente público é todo aquele que possui uma vinculação profissional com o Estado, mesmo que em caráter temporário ou sem remuneração. E todo aquele que possui vínculo com a Administração é chamado de agente público. A expressão agente público é gênero que envolve várias espécies: agentes políticos, servidores públicos, militares e terceiros em colaboração com a Administração Pública. A Administração possui pessoas jurídicas, mas principalmente pessoas físicas. Os Juízes e membros do Ministério Público são agentes políticos ou servidores públicos? Uma primeira corrente afirma que os agentes políticos são aqueles que atuam conforme a Constituição. Suas competências e atribuições estão expressas na Constituição. Essa primeira corrente é defendida por Helly Lopes Meireles. Assim, além dos parlamentares, Presidente da República, Governadores, Prefeitos, Ministros e Secretários estão os juízes e promotores. Uma segunda corrente defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e José dos Santos Carvalho Filho afirma que agentes políticos são apenas aqueles que possuem mandatos fixos. Assim, os juízes e membros do MP são servidores e não agentes políticos. Os colabores da Administração são terceiros, particulares, que, em determinado momento, participam do governo. Podem ser citados como exemplos os mesários em época de eleição, os jurados e os voluntários. 2.1. Concurso Público A Constituição assegura que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. A forma de ingresso em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O acesso ao serviço público visando atender aos princípios da eficiência, da impessoalidade, da moralidade são preenchidos através de concurso público, mas isso nem sempre foi assim. Já houve época em que os cargos e empregos eram preenchidos por relação de afinidade ou parentesco. O concurso público tem validade de até dois (2) anos, prorrogável por uma vez por igual período. A aprovação de candidato em concurso público dentro do número de vagas fixado no edital cria para o candidato direito subjetivo à nomeação, como afirmou o Supremo tribunal Federal no RE. 598.099.17 O Superior Tribunal de Justiça também tem entende que o candidato aprovado em concurso público, desde que dentro das vagas previstas no edital, exceto as de cadastro de reserva, tem direito líquido e certo à nomeação, conforme Recurso em Mandado de Segurança 26447/MS de relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima18 O concurso público exige muito tempo de preparação. Assim as banca examinadoras devem obedecer ao programa disposto no edital. Caso contrário, caso ocorra questão fora do edital, ela é passível de anulação. Dessarte é bom trazer a baila o RE 434.708 de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence assegura que as perguntas e respostas do concursos públicos devem verificar no edital que é a lei dos concursos. Por outro lado é possível a modificação do edital quando houver necessidades que surjam durante o certame. Os temporários são aqueles contratados para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, conforme artigo 37, inciso IX da Constituição e regulamentado pela lei 8.745/93. A súmula vinculante de número treze (13) do Supremo Tribunal Federal aduz que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 17 RE 598.099: Direito à nomeação. Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. 18 RMS 26447 / MS Direito Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito subjetivo à nomeação. Existência. Precedentes do superior tribunal de justiça. Recurso provido. recíprocas, viola a Constituição Federal. A nomeação de parentes para cargos políticos NÃO configura nepotismo. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o preceito de repúdio ao nepotismo, excepcionalizou os cargos políticos como se visualiza nos termos da Reclamação 665019 O Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2138 de relatoria do Ministro Nelson Jobin, julgada em 2007, entendeu que a Lei 8.429/92 não se aplica aos agentes políticos. 2.2. Regime Jurídico Único O regime jurídico único é adotado no nosso ordenamento, conforme medida cautelar na ADI 2135, julgado em 2004.20 O regime jurídico único foi criado com o texto originário em 1988. Em 1998, através da emenda constitucional 19, foi extinto o regime jurídico único onde os agentes públicos passaram a escolher a forma de regime. Entretanto essa emenda constitucional padece de um vício formal por não ter retornado a Casa iniciadora após sofrer alteração. Assim o Supremo Tribunal Federal acabou declarando a inconstitucionalidade, por medida cautelar, do citado do artigo 39 alterado pela citada emenda. Desta feita retornou ao texto anterior do dispositivo que assim dispõe: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas 2.3. Direito de Greve A Constituição assegura aos servidores o direito de greve. A Constituição Federal conferiu, legitimidade jurídica à greve na Administração Pública, dela apenas excluindo, por razões de evidente interesse público, os militares das Forças Armadas e os integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, aos quais se proibiu, terminantemente, o exercício desse direito de ação coletiva, conforme artigo 19 Reclamação 6650-MC-AgR/PR–Julgamento em 16/10/2008: agravo regimental em medida cautelar em reclamação. Nomeação de irmão de governador de estado. Cargo de secretário de estado. Nepotismo. Súmula vinculante nº 13. Inaplicabilidade ao caso. Cargo de natureza política. Agente político. Entendimento firmado no julgamento do recurso extraordinário 579.951/rn. Ocorrência da fumaça do bom direito. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. (...) 20 Aconselho aos candidatos ao exame da OAB consultar a ADI 2135 142, §3°, inciso IV. O artigo 37, inciso VII aduz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Mas qual lei? Esse é um caso de norma de eficácia limitada que depende de regulamentação para produzir efeitos. E até hoje o Congresso Nacional não regulamentou o citado dispositivo. O Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Injunção 670, 708 e 71221 decidiu pela aplicação da lei de greve da iniciativa privada aos servidores públicos. Para os ministros Eros Grau, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence, Carlos Ayres Britto, Cármen Lúcia e Cezar Peluso, o Judiciário pode apontar as regras a ser seguidas nos casos em que um direito constitucional não é exercido por conta da omissão legislativa. 2.4. Teto Remuneratório A emenda constitucional 41 de 2003 alterou o artigo 37, inciso XI da Constituição criando o teto remuneratório. O citado dispositivo assegura que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.22 O teto remuneratório aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento 21 MI 712. O Ministro Celso de Mello no seu voto afirma que o atraso para regulamentar um direito constitucional traduz incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição Federal. 22 O Supremo Tribunal Federal concedeu liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3854. Os ministros decidiram que o teto remuneratório a ser aplicado aos magistrados estaduais e federais corresponde ao valor do subsídio dos membros do Supremo Tribunal Federal. de despesas de pessoal ou de custeio em geral.23Se não receber recursos públicos, consequentemente não obedecerá ao teto. 2.5. Vedação de Acumulação de Cargos, Empregos e Funções A vedação à acumulação de cargos, empregos e funções é expressa no texto Constitucional no artigo 37, inciso XVI que afirma ser vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários: a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. O Vereador, havendo compatibilidade de horários, poderá perceber as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 2.6. Estabilidade Estabilidade é a garantia atribuída ao servidor que lhe assegura a permanência no serviço, preenchidos os requisitos previstos na Constituição. A estabilidade está disciplinada no artigo 41 da Constituição e trata-se de instituto aplicável aos servidores estatutários ocupantes de cargos efetivos. Assim a estabilidade não alcança o ocupante de emprego público ou função pública. Candidato, preste atenção nisso! Os ocupantes de emprego ou função pública não adquirem a estabilidade. Qual a diferença entre a estabilidade e a efetividade? A estabilidade é a garantia do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após a aprovação no estágio probatório. A efetividade, por sua vez, é a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos com o objetivo de distingui-lo dos ocupantes de cargos em comissão. O ocupante de cargo público somente alcança a estabilidade se preencher os seguintes requisitos: a) for aprovado em concurso público; b) for nomeado para o cargo público efetivo; 23 Ver artigo 37, §9° da Constituição Federal. c) cumprir os três (3) anos de efetivo exercício; d) e obter aprovação na avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Essa comissão analisa normalmente os seguintes termos: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e a responsabilidade. Esses são, de forma geral, os requisitos para adquirir a estabilidade. Entretanto existe algumas particularidade que talvez até fugiria das provas preambulares da Fundação Getúlio Vargas, mas que precisam ser colocados. Todo estável foi mesmo aprovado no concurso público? E todo estável é mesmo ocupante de cargo efetivo? A resposta para ambas as perguntas é não. E a resposta está no artigo dezenove (19) do ADCT que assim aduz: Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no Art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Esse é um clássico caso de servidor que hoje é estável e não foi aprovado em concurso público e nem é ocupante de cargo efetivo, desde que esteja no serviço público antes de 05 de outubro de 1983. Assim, nem todo estável é efetivo e nem todo efetivo é estável. O estável pode não ser efetivo porque foi beneficiado pelo citado artigo editado pelo poder constituinte originário. E nem todo efetivo é estável porque pode ainda estar no estágio probatório. A vitaliciedade é a garantia atribuída à determinados agentes públicos expressamente pela Constituição Federal, que lhes assegura a permanência no cargo, preenchido certo requisito. A Constituição prevê essa garantia aos membros do Poder Judiciário, aos membros do Ministério Público e aos membros do Tribunal de Contas. Mas qual a diferença entre a estabilidade e a vitaliciedade. A diferença está na perda do cargo. O servidor vitalício somente perde o cargo após a sentença judicial transitada em julgado. Por outro lado o estável pode perder o cargo em quatro (4) hipóteses: sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, reprovação na avaliação periódica de desempenho24 e corte nos gastos públicos.25 E o que a vitaliciedade e a efetividade têm em comum? Afinal somente faz sentido diferençar aquilo que possui algo em comum. O que eles possuem em comum é o direito de 24 Ver artigo 41, §1°, incisos I, II e III da Constituição. Artigo 169, § 4º da CF: Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal 25 continuar inserido no respectivo quadro funcional após preencher os requisitos previstos na Constituição. A banca examinadora da prova da Magistratura de Minas Gerais fez a seguinte pergunta na prova subjetiva: a estabilidade no serviço público exige sempre o cumprimento de três (3) de exercício efetivo? A resposta é não. Em regra exige três (3) anos de efetivo exercício, mas nem sempre. Os magistrados (artigo 95, I) e membros do Ministério Público (artigo 128, §5°, I, a) gozam da vitaliciedade (estabilidade) após o exercício do cargo por dois (2) anos. Por outro lado os Ministros de tribunais superiores e os desembargadores dos tribunais de justiça, oriundos da advocacia pelo quinto constitucional (artigo 94), adquirem a vitaliciedade no momento da posse. 2.7. Perda do Cargo O servidor tornará estável, como regra, após o exercício de cargo efetivo por três (3) anos. Mas quando o servidor estável poderá perder o cargo? São cinco (5) hipóteses que estão previstas no artigo 41, §1° e no artigo 169, §3° da Constituição: a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa; d) redução de gastos públicos (artigo 169, §§3° e4°). 2.8. Improbidade Administrativa A Constituição assegura que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A Lei 8.429/92 regulamentou os atos de improbidade administrativa. É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal decidiu na Reclamação 2.138 que os agentes políticos não respondem por improbidade administrativa com base no art. 37, § 4º, da CR/88, regulado pela Lei 8.429/92, por serem regidos por normas especiais de responsabilidade, inscritas no art. 102, I, 'c', da Constituição da República de 1988 e regulados pela Lei 1.079/50. Segundo o entendimento da Suprema Corte a lei 8.429/92 não se aplica aos agentes políticos que estejam sujeitos ao regime de crime de responsabilidade. Os ex-ocupantes de cargos públicos tem prerrogativas de função? O Presidente Fernando Henrinque Cardoso, ao encerrar o mandato, bem que tentou implementar o foro por prerrogativa de função. Na calada na noite, em 24 de dezembro de 2002, foi acrescido os parágrafos 1° e 2° ao artigo 84 do Código de Processo Penal. Os citados parágrafos diziam que as ações de improbidade da Lei 8,429/92 deveriam ser julgadas com foro privilegiado mesmo se iniciadas após a cessação do exercício da função. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.797, entendeu inconstitucionalidade dos dispositivos porque somente uma emenda pode ampliar os casos de prerrogativas. Portanto, os ex-agentes públicos, qualquer que seja o cargo ocupado, não possuem foro privilegiado. A Constituição no artigo 39, §3°, concede aos servidores ocupantes de cargos públicos os seguintes direitos: a) salário mínio; b) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo; c) décimo terceiro; d) remuneração do trabalho noturno superior ao diurno; e) salário família; f) duração do trabalho não superior a oito (8) horas e quarenta e quatro (44) horas semanais; g) repouso semanal remunerado; h) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a cinquenta (50) por cento à hora normal; i) férias anuais remuneradas com pelo menos um terço (1/3) a mais que a remuneração normal; j) licença à gestante de cento e oitenta (180) dias; k) licença paternidade; l) proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos; m) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; n) proibição da diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 2.9. Regime Geral de Previdência Social O Regime Geral de Previdência Social aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. A previdência tem caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. A previdência passou por pelo menos duas grandes reformas nos últimos anos: emendas constitucionais 19/98 e 41/03. Essas emendas visaram assegurar um relativo equilíbrio financeiro ao sistema. A primeira emenda criou o limite mínimo de idade para a concessão de aposentadoria e um tempo mínimo de efetivo serviço no cargo e no serviço público. Já a segunda emenda colocou fim a aposentadoria integral aos que ingressarem no serviço público após a emenda e instituiu a cobrança dos inativos. 1. Cobrança dos inativos A cobrança dos inativos incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Os servidores ocupantes de cargo efetivo possuem como teto o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal26. Portanto a aposentadoria nesse regime não poderá nunca ser inferior a um salário mínimo e nem superior aos vencimento enquanto na ativa. Hoje o teto no regime geral é de R$ 3.918,20. A cobrança dos inativos será apenas ao excedente ao teto. 3. RESPONSABILIDADE CIVIL A responsabilidade civil objetiva surgiu na Constituição de 1946 e está hoje consagrado na Constituição Federal de 1988 no artigo 37, § 6°. A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar economicamente os danos causados a terceiros, sejam no âmbito patrimonial ou moral. Assim, em razão de um dano patrimonial ou 26 moral é possível o Estado ser responsabilizado e, consequentemente, deverá pagar uma indenização capaz de compensar os prejuízos causados. É importante anotar que não só os atos ilícitos, como também os atos lícitos dos agentes públicos são capazes de gerar a responsabilidade extracontratual do Estado. O citado dispositivo acima afirma que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público são responsáveis pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O dispositivo consagrou a responsabilidade civil objetiva pelos danos causados a particulares em decorrência da ação de seus agentes. A essa responsabilidade dá-se o nome de teoria do risco administrativo. Na responsabilidade objetiva basta demonstrar o dano e o nexo de causalidade. Não é necessário que a vítima demonstre dolo ou culpa do agente. Se o Estado provar culpa recíproca poderá ocorrer a atenuação proporcional de sua responsabilidade. A responsabilidade objetiva abrange a administração direta e alguns entes da administração indireta como autarquias, fundações públicas. As empresas públicas e sociedades de economia mista somente respondem objetivamente se prestadoras de serviços públicos. Caso seja exploradoras de atividade econômica a responsabilidade será subjetiva, pois a Constituição é clara ao dizer que a responsabilidade é objetiva para as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Assim, por uma questão de exclusão, se exploradora de atividade econômica a responsabilidade terá que ser subjetiva. A responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo admite excludentes de responsabilidade desde que exista caso fortuito ou força maior ou mesmo que exista culpa exclusiva da vítima. Alguns autores defendem que a força maior decorre de fenômenos da natureza, enquanto o caso fortuito seria decorrente da atuação humana. Por outro lado, há quem defenda justamente o contrário. Logo, diante de uma divergência doutrinária, importante buscarmos o posicionamento da jurisprudência. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal não faz distinção entre caso fortuito e força maior, considerando ambas as causas como excludentes de responsabilidade do Estado. Com o objetivo de antever uma possível questionamento no exame da Ordem imagine o seguinte: um terremoto que destrói sua casa. O Estado não poderá ser responsabilizado, pois o fato não ocorreu em razão de uma conduta da Administração, mas sim de um fato alheio e imprevisível. Agora imagine outra situação: ocorre um assalto no ônibus em que um passageiro é morto. Exclui a responsabilidade do Estado ou da empresa concessionária do serviço público? Pois a ação do assaltante não tem nenhuma conexão com o serviço de transporte, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 142.186. Agora para completar o ciclo de excludentes de responsabilidade imagine um caso de culpa Exclusiva da Vítima ou de Terceiro. Imagine que uma pessoa querendo suicidar-se, se atira na linha do metrô. Nesse caso, a família da vítima não poderá responsabilizar o Estado, uma vez que a morte só ocorreu por culpa exclusiva da pessoa que se suicidou. Quando a vítima do evento danoso for a única responsável pela sua causa, o Estado não poderá ser responsabilizado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e parte majoritária da doutrina firmaram no sentido de que a responsabilidade do Estado em caso de omissão é subjetiva conforme se pode verificar no RE 409.203, 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal e no RE 179.147 de relatoria do Ministro Carlos Velloso. Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que “quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva.” 27 José dos Santos Carvalho Filho relata que "nas condutas omissivas, incidirá a responsabilidade subjetiva” 28 e Maria Sylvia Zanella Di Pietro no mesmo sentido enfoca que "no caso de omissão, é subjetiva, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público ou da culpa anônima do serviço público." 29 Com o objetivo de esclarecer e mesmo pensando ser uma possível questão de prova segue um exemplo. Vamos imaginar que fortes chuvas causaram enchentes e um particular teve sua casa alagada. Isso é apenas um exemplo porque nunca acontece. Nesse caso, não bastará a comprovação do dano sofrido pela inundação, sendo imprescindível demonstrar também o dolo ou a culpa do Estado em não limpar os bueiros (omissão) para facilitar o escoamento das águas, evitando-se, assim, os prejuízos causados pelas enchentes. O Estado terá direito de ação de regresso contra o agente público causador do dano. Mas nesse caso o Estado terá que provar que o agente atuou com 27 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008. p.1003. 28 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 518 29 DI PIETRO, Maria Zylvia Zanella. Direito Administrativo. 22ª edição. São Paulo: Atlas, 2009. p.650 dolo ou culpa, isto é, o agente poderá responder ao Estado com responsabilidade subjetiva. A Responsabilidade nas relações extracontratuais é objetiva, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 591.874.30 A responsabilidade dos agentes públicos pode abranger danos causados pelo usuário do serviço público e por terceiro não usuário. 4. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NA CONSTITUIÇÃO A Administração Indireta, conforme o decreto-lei 200/1967, é composta de Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. A Lei 11.107/05, no artigo 6°, §1°, trouxe uma outra espécie: o consórcio público com personalidade jurídica de direito público. A Constituição assegura que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.31 Essa fundação descrita na Constituição é de direito privado, afirma a doutrina. Assim, para criar autarquias e fundações públicas de direito público exige-se lei específica para a criação e extinção. E para criar fundações privadas, empresas públicas e sociedades de economia mista, basta a autorização por lei. Depois de autorizadas por lei ela deve ser levada a registro. As autarquias e fundações públicas de direito público são dotadas de autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial. São imunes a impostos, conforme artigo 150, §2° da Constituição. Os bens são públicos, realizam licitação, possuem prazos privilegiados para contestar32, recorrer e reconvir. O regime de servidores é estatutário, realizam licitação para contratação e respondem objetivamente pelos danos 30 RE 591.874. Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI À míngua de prova de que o acidente envolvendo ciclista e ônibus de empresa de transporte coletivo, com morte do ciclista, deu-se por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, a empresa responderá objetivamente pelo dano, seja por se tratar de concessionária de serviço público, seja em virtude do risco inerente à sua atividade. Inexistindo prova de que a vítima fatal de acidente de trânsito desenvolvia atividade remunerada, tem-se por improcedente o pedido de pensão alimentícia formulado pela companheira e pela filha. 31 32 Artigo 37, inciso XIX da Constituição. Artigo 188, CPC. causados a terceiros.33 Entre os exemplos de autarquias mais conhecidas estão: INSS, IBAMA, BACEN, SUDAM, SUDENE, BANCO CENTRAL, IMETRO e todas as universidades públicas e as agências reguladoras como ANAC, ANCINE, ANATEL, ANEEL, ANVISA etc. Entre os exemplos mais comuns de fundações públicas de direito público estão: FUNAI, FUNASA, IBGE e FUNARTE. As empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado. Para a criação e extinção exige-se a autorização por lei. As empresas públicas e sociedades de economia mista podem ser prestadoras de serviço público ou exploradora de atividade econômica. Se prestam serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, possuem imunidade tributária, licitam obrigatoriamente para contratar e seus bens são públicos. Por outro lado se as empresas públicas e sociedade de economia mista são exploradoras de atividade econômica os bens são privados, a responsabilidade é objetiva, não possuem imunidade tributária e licitam, exceto na atividade fim. Entre os exemplos de empresas públicas mais conhecidas estão: Correios, CEF, Infraero e BNDES. Por outro lado, os exemplos de sociedade de economia mista mais citados estão: Banco do Brasil, Petrobrás, Eletrobrás e Furnas. 33 Artigo 37, §6° da Constituição.
Download