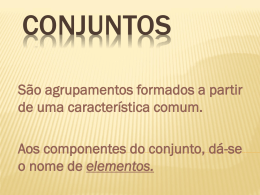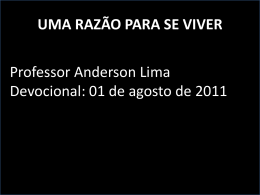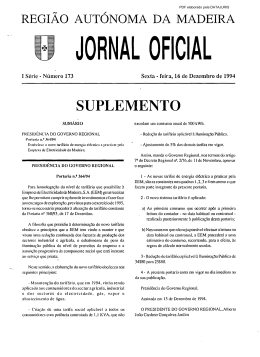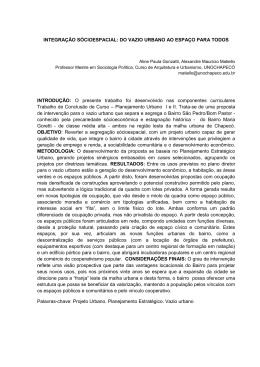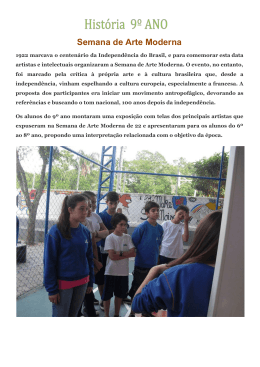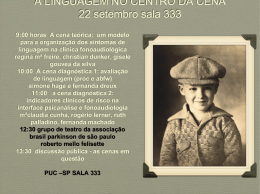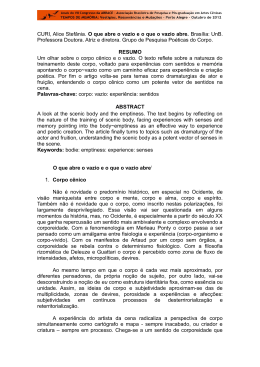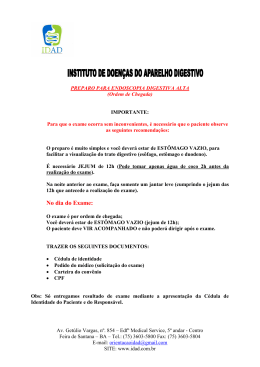CORPO E SUPORTE AO VAZIO CONTEMPORÂNEO1 LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA DALÓ2 No mês de maio de 2009 foi realizado no SESC-Pinheiros, pelo Grupo Cena 11 de Dança, de Florianópolis, um experimento artístico intitulado “Sim Ações Integradas de Consentimento para Ocupação e Resistência – Ação # 2 – Platéia Teste”. Tratava-se de uma proposta na qual o público, sobre o palco, deveria interagir com a apresentação e, ao fim, expor suas impressões para os artistas. Nada era sabido previamente quanto ao que aconteceria. Não sabíamos o que seria apresentado, nem o Grupo sabia o que viria do público, a quem foi dada total liberdade. Os bailarinos entraram em cena de cabeça baixa, de modo que não se viam seus rostos. Davam passos lentos e pesados, fazendo, de mãos dadas, uma espécie de arrastão nas pessoas que, bem aos poucos, se espremiam contra a parede ou escapavam pelos vãos encontrados entre os artistas. O clima desse início durou toda a apresentaçãoexperimento, repleta de movimentos inertes, automáticos, repetitivos e sem interação com o público. Mesclo aqui meu ponto de vista dessa experiência com as impressões dadas ao fim da apresentação por quem ali estava: sentimentos de vazio e morte davam lugar à raiva ou compaixão pelos artistas (ou “personagens”), que chegavam a cair inertes no chão, às vezes de frente, como árvore que tomba sem resistência. Uns raros momentos assim impactantes quebravam a monotonia reinante, como se um susto viesse em resposta à pergunta que pairava insistente: onde está a vida? Desejos de fazer algo estapafúrdio que rompesse tal morbidez foram despertados, embora ninguém os tenha posto em ação. Tímidas tentativas de interação não foram correspondidas pelos artistas, que seguiam em isolamento. Era como andar na cidade: metrópole cheia de gente só, mergulhada no mesmo. Parecia estar diante de algo morto, mas ao mesmo tempo se estava diante de uma provocação… Os rostos dos bailarinos, quando se deram a ver, propunham uma ambiguidade: rostos vivos, mas sem expressão. Mortos-vivos? Vivosmortos? Desejo e receio de tocar, segurar, romper, violar, cuidar, abraçar, dançar. Essas são algumas imagens construídas pelo público do experimento do qual participei. Outro aconteceu na mesma noite, logo em seguida – com proposta idêntica, 1 O presente texto é um recorte de um dos capítulos da dissertação de mestrado “A escrita dos estadoslimite como um recurso de ampliação da escuta psicanalítica”, defendida em 2012 no IPUSP. 2 Psicólogo e mestre em psicologia pela USP, membro da Gesto Psicanálise. tendo mudado somente o público – e me foi relatado por uma participante impactada: diante da liberdade da proposta, um pequeno grupo que integrava esse segundo público reagiu com violência desde o início do experimento, agredindo os bailarinos, imobilizando-os. Algumas dessas pessoas se penduravam em seus braços com tal violência que poderiam tê-los quebrado. Os corpos dos artistas em risco, mas a proposta seguiu até o fim. Havia assistido há alguns anos, em 2004, a uma apresentação desse mesmo grupo (Cena 11), onde já me pareceram que os limites entre público e bailarinos eram ali testados, embora se guardasse a distância palco-platéia3. Um bailarino interagia brevemente com outro até ser deixado só. Então, despencava de frente, inerte. Diversos corpos abandonados, como se perdessem a vida de repente, ou como se fossem lançados ao vazio, despencavam em silêncio até o estampido bruto do encontro com o chão. Cada cena, que culminava em um som impactante, remexia o vazio que jaz nos confins dos espectadores, que reagiam a ela das formas mais diversas e particulares. Nessa apresentação de 2004, era entre os bailarinos que se encenavam manipulações dos corpos seguidos de seus descartes; o nome da peça e sua proposta faziam referência aos experimentos skinnerianos, abrindo a cena a um campo onde já não está em pauta a intersubjetividade, mas a relação entre um sujeito que manipula e um objeto a ser explorado. Já na apresentação-experimento de 2009, éramos nós (o público) a nos confrontarmos com os sentimentos que vêm à tona diante da transformação do outro em objeto a manipular – a proposta incluía, inclusive, o consentimento para isso –, ao mesmo tempo em que era nítido sermos nós – a “plateia teste” – os que estávamos sendo experimentados. Embaralhavam-se de tal maneira os lugares de sujeito e de objeto, que, em certa medida, já não encontrávamos mais nem um nem outro. Podemos considerar que a cena artística de vanguarda antecipa o movimento de simbolização que urge em seu tempo. A palavra francesa avant-guarde originalmente nomeia o batalhão do exército que abre caminho; mas, como abrir caminho no vazio, dar-lhe expressão? No contexto da arte contemporânea, pode-se dizer que a arte tem materializado o vazio vivido no cotidiano, apresentando-o ao espectador sem muitos retoques, aprofundando o sentimento de perda de ilusões, e deixando em aberto, 3 A coreografia então apresentada chamava-se “SKR-Procedimento 1”; algumas cenas em forma de trailer podem ser vistas pelo YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qIA0eJ86sF4. no campo da recepção estética, o caminho para a elaboração subjetiva. (FRAYZE-PEREIRA, 2008, p. 134) Assim materializado e radicalmente exposto, o vazio ganha corpo. E um corpo em cena, em exposição, ainda que esteja a expressar a inexpressão, pulsa, demanda trabalho do olhar. A violência vivida no experimento artístico acima descrito fez-me relembrar uma situação ocorrida na 28ª Bienal de São Paulo, um ano antes, em 2008. Essa exposição impunha uma experiência com o vazio, em função da proposta de se manter um pavilhão inteiro, enorme, desocupado. Ficou conhecida, aliás, como “Bienal do Vazio”, ainda que o título da mostra fosse “Em Vivo Contato”. Um dia, de súbito, esse espaço vazio foi completamente pichado. Para muitos, uma violência, um limite transpassado, espaço arrasado. Para outros, mais uma forma de expressar-se de acordo com a proposta de se estar “em vivo contato”, tão autêntica quanto as demais. Mas destaco aqui o fato de que a reação institucional da Bienal foi a de tratar o acontecido como uma questão policial, perdendo talvez uma oportunidade de se implicar com a radicalidade de sua própria proposta artística. Nos dois contextos artísticos aqui tratados, o que vemos repetir-se de modos diversos é a violência do apagamento: seja quando um grupo interrompe os movimentos dos bailarinos, seja quando os pichadores impregnam de tinta as paredes vazias, seja a força de contenção policial, ou até mesmo o trabalho das faxineiras a esfregar litros de produtos de limpeza, ao fim do dia, para apagar os rastros daquela situação. Tais repetições suscitam questões, e para nos aproximarmos psicanaliticamente delas, a meu ver, podemos tomar o conceito de pulsão de morte entranhado no de sublimação. Em “O Eu e o Id”, Freud (1923/2011) propõe a ideia de que um caminho talvez geral da sublimação seja o de transformação da libido sexual objetal em libido narcísica, quando o Eu se oferece como objeto de amor ao Id. Uma relação ideal Eu-Id, impelida pelos imperativos do Super-eu, poderíamos estritamente comparar ao desfecho do mito de Narciso, ao fundir-se no lago de sua própria imagem. Freud propõe que a identificação com um ideal “tem o caráter de uma dessexualização, ou mesmo sublimação” (p.69), o que leva a uma disjunção das pulsões que antes se encontravam amalgamadas. “O componente erótico não tem mais força, após a sublimação, de vincular toda a destrutividade a ele combinada, e esta é liberada como pendor à agressão e à destruição.” (p. 68-69) Seria possível pegarmos impulso nessas ideias para buscar encontrar esse processo sublimatório mortífero nas expressões artísticas contemporâneas, que seriam então expressões das pulsões de morte desintrincadas de Eros e dos processos de ligação que efetua. No entanto, penso que no campo das artes, de um modo especial, a “aplicação” da teoria psicanalítica como um discurso unilateral é estéreo. Ao contrário, aliás, a complexidade desse campo convoca o pensamento clínico e faz a teoria psicanalítica trabalhar. Ainda que mobilizem experiências que associamos às pulsões de morte, devemos ter em conta que as manifestações dos artistas contemporâneos demandam elaboração prévia, investimento libidinal, processos de ligação que justamente darão suporte para que se deem os processos de desligamento e manifestações do vazio junto ao público. Pode-se dizer, nesse sentido, que se trata do processo de composição de um corpo onde se dará um segundo processo, pelo qual o que entra “em cena é justamente a relação primordial do homem com tudo aquilo que nega a sua existência” (FRAYZEPEREIRA, 2011, p. 159), curtos-circuitos nos quais reconhecemos os efeitos das pulsões de morte. É por meio desse suporte que se escancara a crise do sujeito e da cultura contemporâneos. De modo análogo, em um processo de análise, o campo transferencial é o suporte que revela um sujeito em crise. Em um mundo onde o Outro é aluído, o esforço estético – descendo às fundações do edifício simbólico – consiste em retraçar as fronteiras frágeis do ser falante, ao mais próximo de seu alvorecer, dessa “origem” sem fundo que é o recalque dito originário (KRISTEVA, 1980, p. 25, tradução nossa). Em direção às “fundações do edifício simbólico”, parece ser este o caminho aberto pelos artistas que avançam a guarda: o lugar simbólico “arte” se constitui como um corpo onde o que não tem nome pode surgir e, quiçá, ser nomeado, nascer como símbolo. O processo de constituição da obra acontece no artista, em seu domínio particular; mas nesse segundo processo, quando emerge o que não tem nome, todos os participantes do ato artístico estão implicados. Quer dizer, no momento de expressão do vazio, no tempo da realização artística profundamente vinculada à sua recepção estética, obra, artista e público encontram-se no mesmo barco. O que surge aí é frequentemente abjeto – nem sujeito, nem objeto –, beira o indigerível ao mesmo tempo em que atrai. Segundo Julia Kristeva (1980), o abjeto é algo rejeitado do qual não nos separamos. Paradoxalmente, tão alheio e íntimo ao sujeito, exerce sobre ele forças de atração e repulsão, problematizando radicalmente a identidade, esfumaçando as fronteiras do Eu, colocando-o em xeque: Um peso de sem-sentido que não tem nada de insignificante e que me espreme. À borda da inexistência e da alucinação, de uma realidade que, se a reconheço, me aniquila. O abjeto e a abjeção são, aí, meus anteparos. Origens de minha cultura. (KRISTEVA, 1980, p. 10, tradução nossa) Análogos, nesse sentido de anteparos, ao sinal de angústia (Freud, 1926/1981), são o abjeto e a abjeção sinais do encontro do sujeito com seus próprios limites, com o limiar do humano. Quer dizer, trata-se de um conceito daquilo que se localiza à beira do irrepresentável, mas cuja representabilidade é latente, pois o sujeito é, concomitantemente, atraído e repelido pelo abjeto; daí o curto-circuito; e daí a urgência de ligar psiquicamente esse campo esfumaçado. O público de arte contemporânea, ao viver experiências urgentes de simbolização, é impelido a essa beira. E o corpo-suporte dessa experiência, tal como acontece em um processo analítico, tanto pode servir de base para o nascimento de traços simbólicos quanto pode, ao revés, ser alvo de ataques (as duas situações aqui abordadas são exemplos disso). Contudo, talvez se possa destacar uma diferença entre essas “situação-limite” no campo das artes e no campo psicanalítico. Em ambos, o corpo que se oferece serve de sustentação para que surja uma experiência estética estranho-íntima, que pode vir a ser ou não elaborada; mas, no segundo, o trabalho de pensar e ligar psiquicamente essa experiência disruptiva que se instaura é, claramente, o objetivo. Nesse sentido – agora entrelaçando os campos –, o pensamento clínico psicanalítico pode contribuir quanto à perlaboração daquilo que a arte contemporânea provoca, na medida em que a arte deve ser reconhecida como um âmbito privilegiadamente capaz dessa provocação (embora não necessariamente obrigado a lidar com o que resulta da provocação). Quer dizer, se “o vazio vivido no cotidiano” (FRAYZE-PEREIRA, 2008, p. 134) encontra no âmbito artístico um meio privilegiado de ganhar corpo, figurar-se, “deixando em aberto, no campo da recepção estética, o caminho para a elaboração subjetiva” (p. 134), também devemos admitir que tal elaboração pode vir a não acontecer no momento da experiência artística; o caminho, então, pode se manter aberto e essa experiência ser elaborada a posteriori, mas também essa trilha pode se fechar no tempo da própria experiência estética. A angústia que o vazio provoca pode apenas revelar o fracasso do símbolo diante da repetição. De todo modo, não haveria elaboração possível até que um terreno esvaziado ganhasse corpo, seja durante um processo psicanalítico – no tempo estranho-íntimo da relação transferencial –, seja em uma obra de arte. No contexto da ação organizada pelos pichadores, ainda que o lugar deles fosse ambíguo – artistas, público ou performance? Invasores ou participantes lícitos?4 –, podemos questionar se a “destruição da destruição” não leva novamente a um curto-circuito que retira de campo a disposição para indagar, onde se arrisca esquecer o ato e, mais-além, seu próprio esquecimento. Penso que debruçar-se sobre essa destruição seja um modo de a escuta psicanalítica exercer seu papel antagonista em relação ao esquecimento, às pulsões de desligamento. O psicanalista se encontra, evidentemente, inserido e implicado nesse contexto cultural permeado pelo vazio e pela angústia, então é possível considerá-lo em uma posição análoga à do artista no que concerne à função política de “pensar o impensável”, pôr em suspensão o tempo cotidiano do esquecimento e abrir frentes de perlaboração em relação àquilo que pulsa nas entrelinhas de nosso tempo, sob formas de desligamento e esvaziamento das fontes da vida na contemporaneidade. Superado quiçá o tempo em que o analista explicava a arte por meio de suas teorias 5 – frequentemente amputando a potência de ambas –, talvez possamos delinear agora uma frutífera e contemporânea interlocução entre arte e psicanálise: Se o artista dá corpo ao vazio, uma repetição pode suceder no tempo do contato difuso com a obra, tal como vimos, por meio do esvaziamento do corpo-suporte, que fica então desconectado de sua potência pensante. Como o que se passa nas situaçõeslimite na clínica, o tempo da experiência já não dá conta de ligá-la psiquicamente, sendo necessário outro momento para isso. O analista, então, implicado nesse estado-limite suscitado pela experiência artística, pode avançar a guarda aí imposta e abrir um campo capaz de deixar surgir para então escutar a indigência de nosso tempo e seus mecanismos de apagamento dessa escuta. O trabalho do analista pode ser, nesse sentido, um modo de recobrar o caminho de elaboração aberto e interrompido no tempo da recepção estética. 4 A edição seguinte da Bienal de São Paulo buscou integrar o mesmo grupo à exposição oficial. A psicanálise aplicada à arte, a que Green (1994) considera “uma das doenças infantis da psicanálise” (p. 14). 5 BIBLIOGRAFIA FRAYZE-PEREIRA, J. Sobre a Perda da Simbolização: Arte e Inveja na Era do Vazio. In: LOPES, A.; PESSOA, F. (Orgs.). Arte em Tempo Indigente. Vila Velha/ES: Museu Vale, 2008. p. 124-145. ______. Arte e Inveja: relações entre amor e ódio, clínica e política na era do vazio. Ide, São Paulo, v. 34, n. 52, p. 157-171, ago. 2011. FREUD, S. (1926). Inhibición, Síntoma y Angustia. Tradução de Luis Lopez-Ballesteros y de Torres. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981. (Obras Completas, tomo 3). GREEN, A. Revelações do inacabado. Tradução de Cleone Augusto Rodrigues. Rio de Janeiro: Imago, 1994. 126 p. KRISTEVA, J. Pouvoirs de l’horreur: essai sur abjection. Paris: Éditions Du Seuil, 1980. 247 p.
Download