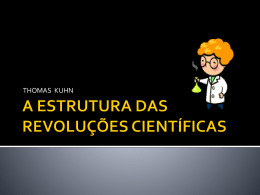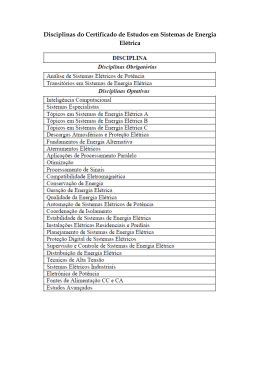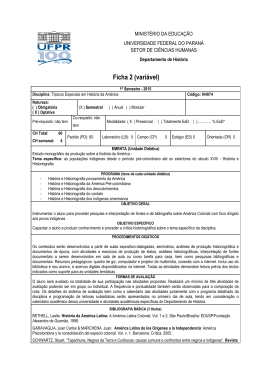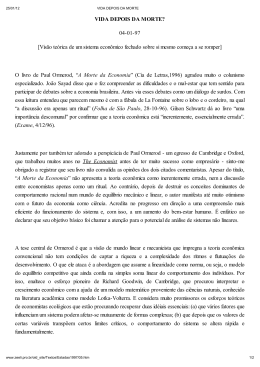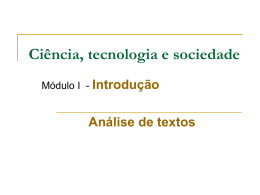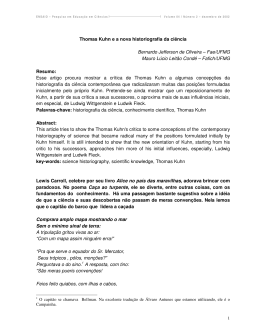1 Como tornar o "Conhecimento Científico" objeto legítimo da História? How to turn the “Scientific Knowledge” into a legitimate object to History? Gabriel da Costa Ávila Mestre e Doutorando em História pela UFMG Membro do Scientia – Grupo de Teoria e História da Ciência da FAFICH/UFMG Resumo: Nesta comunicação, pretendo examinar a recente produção no campo da História da Ciência. Por “recente”, entendo a produção desenvolvida a partir dos anos 1960, em especial após a publicação, em 1962, da obra seminal de Thomas Kuhn, A estrutura das revoluções científicas. Esta análise se articula em torno de uma questão que tem sido pano de fundo da História da Ciência desde então, a saber: o discurso histórico é capaz de se apropriar do conhecimento científico? Os historiadores são capazes de conferir historicidade ao conteúdo cognitivo das ciências? A objetividade, a verdade, a relação entre experimentos e teorias, os fatos científicos, podem ser satisfatoriamente explicados através de um escrutínio histórico? Tradicionalmente, esses temas estavam circunscritos exclusivamente ao domínio da filosofia. Só munidos das ferramentas próprias dessa disciplina era possível analisá-los. No entanto, esses domínios foram rearranjados e a filosofia teve que ceder espaço – um pouco à contragosto – a outras disciplinas tais como a história, a sociologia ou a antropologia. É a história dessa reorganização disciplinar que me interessa vasculhar, mapeando esse território que sofreu tantas mudanças nas últimas décadas. Dedicarei especial atenção ao lugar ocupado pela História da Ciência nessa nova configuração. Palavras-chave: História da Ciência, Historiografia, Conhecimento Científico. Abstract: In this presentation, I shall examine the recent production in the History of Science. By “recent”, I understand the production developed since the 1960’s, especially after the publication, in 1962, of Thomas Kuhn’s seminal work, The structure of scientific revolutions. This analysis starts with a question that is very important to the studies in the History of Science since then: is the historical discourse capable of giving a proper treatment to the scientific knowledge? Are the historians capable of granting historicity to the cognitive content of science? Objectivity, truth, the relation between experiment and theories, and the scientific facts can be well explained by an historical scrutiny? Traditionally, these themes were exclusive to the Philosophy dominium. Only with the tools and dexterity of this discipline it was possible to analyze them. However, other disciplines – as History, Sociology, or Anthropology – advanced in the “philosophical dominium”. The history of this disciplinary reorganization in the last few decades is what I wish to trace, dedicating especial attention to the place occupied by the History of Science in this new configuration. Key-words: History of Science, Historiography, Scientific Knowledge Este trabalho se articula em torno de uma questão que tem sido pano de fundo da história das ciências desde a segunda metade do século XX, a saber: o discurso histórico é capaz de se apropriar do conhecimento científico? A objetividade, a verdade, a relação entre experimentos e teorias, os fatos científicos, podem ser satisfatoriamente explicados através de um escrutínio histórico? Os historiadores são capazes de conferir historicidade ao conteúdo cognitivo das ciências? Essas interrogações, certamente densas e complexas, têm mobilizado, não sem uma 2 dose de apreensão e talvez angústia, um grande volume da produção recente da historiografia das ciências. Tradicionalmente, os temas apontados acima estavam circunscritos exclusivamente ao domínio da filosofia. Só munidos das ferramentas próprias dessa disciplina era possível analisálos. No entanto, esses domínios foram rearranjados e a filosofia teve que ceder espaço – um pouco à contragosto – a outras disciplinas tais como a história, a sociologia ou a antropologia. Quero apontar aqui alguns aspectos da história dessa reorganização disciplinar, mapeando esse território que sofreu tantas mudanças nas últimas décadas. Dedicarei especial atenção ao lugar ocupado pela história nessa nova configuração. Insisto nessa metáfora espacial pensando as disciplinas enquanto territórios de saber. E esses territórios são povoados pelos praticantes de tal disciplina. A história dos rearranjos disciplinares não deve prescindir do exame das trajetórias e das ações das comunidades que habitam os domínios disciplinares que se pretende analisar, sob pena de incorrer em um tipo de explicação “etérea”, “desencarnada”, “transcendente”, que considera apenas os fluxos de idéias, conceitos e teorias sem levar em conta as dimensões materiais, imanentes e humanas. As fronteiras se enrijecem ou flexibilizam, se expandem ou se retraem, caminham em uma ou outra direção, de acordo com a ação dos habitantes desses espaços, que são também modificados no contato com praticantes de outras disciplinas. Quando me refiro à história, ao discurso histórico, à filosofia, à sociologia, à antropologia, não estou me referindo a domínios sem sujeito. Com efeito, essa é uma metonímia que subentende sempre as ações coletivas de pesquisadores de alguma área, as práticas de uma dada comunidade formada de homens e mulheres. Acredito, ainda, que essa metáfora não seria bem aproveitada se não fosse possível localizar algumas zonas de troca entre esses territórios1. Nessas zonas de troca, onde as cercas que delimitam as disciplinas estariam abertas, seria possível um intercâmbio de pesquisadores que levariam consigo técnicas, conceitos, formas de abordagem e até de questões, que podem ser depois levadas para o interior dos domínios disciplinares. O fluxo entre os territórios é frequente, embora não de forma constante ou homogênea. Nessa zona de troca que se constitui em torno das leituras das ciências,que produtos teriam sido importados pela história e quais ela exportou? Meu ponto de partida aqui é a publicação do livro seminal de Thomas Kuhn, A estrutura das revoluções científicas, em 1962. Nessa obra, podemos perceber com bastante clareza uma tentativa de compreender a dinâmica da ciência a partir de uma perspectiva histórica. É notável, 1 Pego essa expressão (zonas de troca) de empréstimo a Peter Galison(1999), embora faça dela uso livre em relação à proposta do autor. 3 e com certeza não é incidental, que o título da introdução do livro seja, justamente, “Um papel para a história”. Nesse texto, Kuhn expressa sua preocupação em “tornar explícitas algumas das implicações dessa nova historiografia” (KUHN, 2001, p. 22). Por “nova historiografia” entendamos algumas difusas contribuições das décadas de 1930, 1940 e 1950, principalmente as de Alexandre Koyré ou LudwikFleck, autores que se posicionavam em franco desacordo à corrente dominante na filosofia da ciência da primeira metade do século XX, o positivismo lógico do Círculo de Viena. Contudo, as implicações às quais Kuhn se refere são basicamente implicações filosóficas tradicionais, ou, ao menos, assim se apresentaram à época. Ainda assim, Kuhn parecia ter bastante claro que estava avançando com o discurso histórico a lugares que lhes eram anteriormente proibidos. Nesse sentido, o autor se pergunta (ou melhor, põe a pergunta na boca de um leitor imaginário) se “um estudo histórico poderá produzir o tipo de transformação conceitual que é visado aqui” (Ibid., p. 27). E prossegue, com um tipo de construção narrativa que não demonstra muita firmeza. O que é bastante plausível, se lembrarmos que Kuhn tinha noção de que estava forçando os limites da explicação histórica. Deixarei com que ele fale. Dizemos muito frequentemente que a História é uma disciplina puramente descritiva. Contudo, as teses sugeridas acima são frequentemente interpretativas e, algumas vezes, normativas. Além disso, muitas das minhas generalizações dizem respeito à sociologia ou à psicologia social dos cientistas. Ainda assim, algumas das minhas conclusões pertencem tradicionalmente à Lógica ou à Epistemologia (Ibid., p. 27-28). As investidas de Thomas Kuhn – tímidas, porém consistentes – arrepiaram caminho. Desde então, a história das ciências passou por uma vigorosa expansão. Muitos dos autores responsáveis pela nova configuração do campo da história das ciências operavam, em grande medida, a partir de A estrutura das revoluções científicas. Os herdeiros de Kuhn, contra os quais o autor iria se insurgir ao refletir sobre seu próprio trabalho, reformulando sua perspectiva em pontos fundamentais, radicalizaram os ensinamentos do mestre. A atitude titubeante de Thomas Kuhn ao abordar determinados temas, bem como sua postura em face da repercussão da sua obra pode ser mais bem compreendida se nos debruçarmos mais detidamente nos caminhos percorridos pelo autor. Tendo recebido sólida formação em física, Kuhn abandona os nobres domínios dessa disciplina para vagar entre as plagas da sociologia, da psicologia e sobretudo da história e da filosofia, carregando sempre consigo as preocupações com a natureza das ciências. Assim, Kuhn ajudava a constituir o que viria a ser a rica zona de troca que reuniria praticantes de várias disciplinas com interesse no conhecimento científico. Em vista dessa trajetória peculiar para a sua época, percebo Thomas Kuhn como um “autor de fronteira”, à margem de rígidas rotulações 4 disciplinares2. Estava também “na fronteira” em outro sentido, menos afeito à metáfora que tenho utilizado, isto é, Kuhn situava-se na inflexão entre tipos de abordagem que possuíam, sob muitos aspectos, orientações antagônicas. Um mapa da distribuição disciplinar na primeira metade do século XX mostraria – como já comentei – que a filosofia possuía o domínio quase que exclusivo da explicação a respeito da natureza do conhecimento científico. Se acompanharmos a reorganização gradual em torno das ciências, podemos perceber como esse desenho se altera e como outros domínios disciplinares se aproximam desse objeto. Grosso modo, podemos dizer que as abordagens anteriores a apresentada em A estrutura das revoluções científicas estavam dominadas por interpretações que se valem do que Alan Chalmers chamou de estratégia positivista. Segundo esse autor, a expressão se refere ao “objetivo de defender a ciência por meio do recurso a uma explicação universal e não-histórica dos seus métodos e padrões” (CHALMERS, 1994, p.15), limitando explicitamente as possibilidades de análise do conhecimento científico ao terreno da filosofia. Assim, os positivistas (e seus herdeiros) desenvolveram uma série de procedimentos através dos quais pretendiam demonstrar que a ciência era um empreendimento guiado por rígidos padrões metodológicos cujo exame revelaria uma forma lógica universal de tratar os problemas da natureza e explicar a realidade e que isso a dotava de uma capacidade superior de relacionar linguagem e mundo. Diante disso, cabia à história e à sociologia, disciplinas responsáveis por estudar o “contexto”, um papel secundário. A filosofia, disciplina do “conteúdo”, seria a única equipada das ferramentas e da destreza suficientes para operar no interior da produção científica. Depois que a filosofia expusesse tudo o que de importante havia para saber acerca do funcionamento da ciência, as disciplinas secundárias se encarregariam de estudar o que estava “em volta” ou “do lado de fora” da ciência. A historiografia da primeira metade do século aceitou esse papel sem constrangimento algum, reproduzindo o que foi apregoado pelos filósofos. Nem o internalismo nem o externalismo – duas das mais fortes correntes da historiografia das ciências entre as décadas de 1930 e 1960 – foram capazes de conferir historicidade às ciências, apropriá-las ao discurso histórico. Com efeito, a disputa entre esses dois grupos, internalistas e externalistas, se dava pela prioridade da ocupação de um espaço epistêmico muito reduzido e afastado das preocupações efetivamente fundamentais. Uma vez 2 Não era incomum que os cientistas, ao fim de sua carreira, se dedicassem à escrever biografias, memorialística e temas de história ou filosofia da disciplina em questão. No entanto, Kuhn está inserido em um circuito de profissionalização da história das ciências nos Estados Unidos. Nesse sentido, ele estava no lugar certo e na hora certa, uma vez que, após a Segunda Guerra Mundial, a Universidade de Harvard foi o centro irradiador dessa iniciativa. E a principal figura na articulação dessa trama, presidente de Harvard entre 1933 e 1953, James Conant foi responsável direto por aproximar Kuhn da história das ciências. Cf. Fuller, 2000. 5 que apenas a filosofia poderia alcançar o que verdadeiramente importante havia para se saber sobre as ciências, restava decidir entre fazer uma história do percurso das ideias científicas (perspectiva internalista) totalmente apartada de uma história das relações institucionais, financiamentos, filiações políticas ou extração social (perspectiva externalista) (MAIA, No prelo; SHAPIN, 1992; STENGERS, 2002, p. 51 et seq.). É intrigante que esses dois grupos tenham travado tão amarga disputa na primeira metade do século, a “querela internalismo versus externalismo”, quando possuíam muito mais pontos em comum – em relação à autonomia do conhecimento científico, ao papel “ornamental” da história das ciências – do que discordâncias, que residiam basicamente em função da ênfase dada a um ou outro aspecto. Depois da publicação do bestseller de Kuhn, no entanto, as possibilidades de abordagem sobre a ciência se multiplicaram enormemente. A ciência e suas múltiplas questões deixaram de ser monopolizadaspela filosofia, podendo ser analisadas a partir de diferentes perspectivas, tensionadas por variadas abordagens, inquiridas sobre problemas inéditos ou negligenciados, observada por ângulos inusitados, articuladas e manipuladas por distintas ferramentas. Esse movimento não pode, obviamente, ser imputado apenas à fortuna crítica da leitura de Thomas Kuhn. O redimensionamento do objeto e sua apropriação pela história, sociologia ou antropologia é tributário de um movimento mais amplo que diz respeito tanto à capacidade que as ciências humanas encontraram de se renovar quanto à crescente necessidade de se compreender melhor a ciência enquanto um fenômeno que produzia impactos cada vez mais relevantes e penetrava profundamente na sociedade, um processo do qual o próprio Kuhn é fruto. A história da ciência no século XX – em especial após a Segunda Guerra Mundial – foi em grande medida responsável pela multiplicação dessas abordagens. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ciência se tornou cada vez mais próxima dos interesses bélicos. A terrível imagem do cogumelo atômico explodindo sobre Hiroshima não pode ser pensada sem lembrarmos a colaboração de físicos e engenheiros. O envolvimento dos cientistas com o esforço de guerra e a percepção dos horrores dos quais a ciência é capaz foram um duro golpe no imaginário de muitos que depositavam as esperanças na ciência como redentora dos homens – algo que estava presente, por exemplo, no otimismo epistemológico dos empiristas lógicos. E é essa estranha sensação de desconforto em relação a produtos culturais do qual nos tornamos totalmente dependentes, ciência e tecnologia, que parece animar grande parte dos novos esforços de aproximação, sobretudo até os anos 1960. Havia a necessidade de renovar a imagem da ciência, abalada.As diferentes leituras da ciência, portanto, são demandas do pósguerra. Como resumiu EricHobsbawm (2000, p. 504): “[n]enhum período da história foi mais 6 penetrado pelas ciências naturais nem mais dependente delas do que o século XX. Contudo, nenhum período, desde a retratação de Galileu, se sentiu menos à vontade com elas”. Diante disso, as tentativas de submeter as ciências a exames provenientes das mais diferentes espécies pareciam imprescindíveis. O que não pode ser encarado exclusivamente como uma demanda da mesma espécie, porém, são as formas como a ciência foi explicada. Essa nova atitude diante da ciência nos ajuda a entender o porquê, mas não esclarece o como. Num âmbito mais vasto, podemos perceber a incorporação de novos objetose temáticas aos territórios das ciências humanas, especialmente sob a influência do estruturalismo. Esta corrente teórica, que exerceu avassaladora influência na produção intelectual de meados do século, constituiu uma excepcional zona de troca ao seu redor, na qual transitaram alguns dos mais prestigiados pensadores da época (DOSSE, 1993; Idem, 1994). O estruturalismo inseriu na agenda de pesquisa de várias disciplinas temas que eram, do ponto de vista dos praticantes tradicionais, absolutamente sem importância. Aspectos negligenciados ou marginalizados da cultura, que foram paulatinamente deslocados para o centro das atenções. Segundo argumenta François Dosse (1993, p.13), “o estruturalismo corresponde, sem dúvida, a um momento da história ocidental enquanto expressão de uma certa dose de auto-aversão, de rejeição da cultura ocidental tradicional, de apetite de modernismo em busca de novos valores”. O exótico, o marginal, o anormal, o inconsciente, o recalcado, a sexualidade, a loucura, os mitos e outros temas emergem como objetos possíveis. A paisagem intelectual é drasticamente alterada. Do ponto de vista das aquisições temáticas, elas passam pelo milagre e a impossibilidade da descrença, a loucura, a sexualidade, os contos de fada, as brincadeiras populares, a leitura, a infância, a morte, o corpo, as cosmogonias populares do início da era moderna, os odores. Praticamente tudo pode ser historicamente tratado. O território da história foi ampliado sobremaneira, não há dúvidas. No entanto, esses mesmos historiadores profissionais que tanto valorizaram temas que eram tradicionalmente tidos como marginais, passaram ao largo das ciências, abdicaram explicitamente da tarefa de historicizá-las efetivamente por aceitarem, implicitamente, a interdição imposta pela estratégia positivista. Os autores que superaram esse impasse e tentaram uma abordagem histórica do conhecimento científico, fizeram geralmente por trajetórias inusitadas e relativamente isoladas durante muito tempo. A profissionalização da história das ciências se deu na interface com disciplinas que já estavam mais habituadas a tratar desse objeto, numa zona de troca que a grande parte dos historiadores não transitou e nem sequer tomou conhecimento. Por isso, é insuficiente tratar da expansão dos territórios da história em direção ao conhecimento científico apenas na dimensão panorâmica da renovação da historiografia. A renovação foi necessária, 7 mas, repito, não foi suficiente. A nova configuração da historiografia das ciências dependeu também, em grande medida, dos diálogos estabelecidos entre os historiadores e os pesquisadores advindos de outras comunidades que também se deparavam com questões semelhantes a aquelas encontradas pelos historiadores. Essa questão – dos modos singularesde apropriação da ciência na segunda metade do século XX por uma diversidade de campos do conhecimento – só pode ser adequadamenterespondida se nos aproximamos da produção sobre a ciência tentando perceber as relações que elas estabelecem com o objeto, com as disciplinas que as cercam e com as demandas que poderíamos chamar de “sociais”. Pretendo atacar esses problemas tendo como foco privilegiado a historiografia das ciências em seu desenvolvimento recente. Utilizei largamente de uma narrativa metafórica para expor o meu tema e delimitar um problema. No entanto, acredito que nesse ponto é preciso inserir algumas observações que passam um pouco ao largo dessa metáfora, mas, ao mesmo tempo, permitem que ela se torne mais do que meramente ilustrativa, dando-lhe algum poder explicativo. À construção metafórica construída em termos de territórios, fronteiras, zonas de troca, fluxos, precisa ser adicionada uma discussão pautada por uma precisão um pouco maior do que aquela alcançável pela via da metáfora. É preciso deixar claro o que entendo como “apropriação do conhecimento científico pelo discurso histórico”. Isso significa, antes de mais nada, que os historiadores trataram dos temas do conhecimento científico de forma própria aos protocolos e técnicas da sua disciplina. Isto é, a influência de outros tipos de abordagem, sejam filosóficas, sociológicas, ou de outra ordem, embora sejam capazes de conferir certo grau de singularidade à recente historiografia da ciência não fizeram com que ela deixasse de ser historiografia. A apropriação nesse caso é dupla, pois tanto o objeto quanto os métodos de pesquisa são manipulados de uma maneira que é peculiar ao historiador. Quero sugerir que o objeto, para ser capturado e apropriado, exige certas técnicas de manipulação. Assim, para se apropriar dos conhecimentos científicos e dos fundamentos que os constituem, a recente historiografia das ciências precisou escolher que técnicas manipular, o que a levou ao contato com outras áreas de reflexão sobre esse objeto. As ciências, me permito dizer, resistem as abordagens simplificadoras. A filosofia de inclinação positivista falhou em sua tarefa de redutibilidade lógica. A sociologia construtivista, que tomou a cena a partir dos anos 1970, falhou ao jogar o jogo dos acordos sociais, das negociações, deixando para a natureza um papel passivo. Essas derrotas, contudo, foram importantes para testar o limite de nossas análises e forçar as fronteiras de nossas disciplinas. Foi devido a elas que se estabeleceu a rica zona de troca em torno das ciências, da qual a recente historiografia tanto tem se beneficiado. 8 Para aquilatar as dimensões desse novo olhar sobre as ciências, recorrei a alguns exemplos. Começarei com alguns exemplos, digamos, em negativo. Numa coletânea recente sobre epistemologia, editada por autores influentes e escrita por filósofos de várias universidades norte-americanas, podemos ler que: “o conhecimento é um estado altamente valorizado no qual se encontra uma pessoa em contato cognitivo com a realidade” (ZAGZEBSKI, 2008, p. 153). Em outro capítulo, um autor afirma: “o objetivo da epistemologia é caracterizar, entre outras coisas, a evidência adequada e a forma pela qual tal evidência fundamenta crenças verdadeiras qualificando-as como conhecimento (...) O conhecimento implica crença verdadeira justificada” (MOSER, 2008, p. 117-118). Mesmo no artigo dedicado à epistemologia social, a abordagem é similar: “a epistemologia social pode ser definida como o estudo conceitual e normativo das dimensões sociais do conhecimento” (SCHMITT, 2008, 547, grifo meu). Quanta distância da tímida reflexão de Kuhn sobre a tensão entre descrição e prescrição. Distância ainda maior da acepção de conhecimento utilizada por David Bloor no livro Conhecimento e imaginário social, uma das obras mais influentes de estudos sobre a ciência na segunda metade do século XX. Nela, Bloor propõe uma abordagem metodológica que considerava inovadora para a sociologia, o “programa forte”, e contrapõe-se frontalmente à noção filosófica de conhecimento. O autor encarou, em meados dos anos 1970, o desafio de submeter o conteúdo das ciências, o conhecimento científico, à investigação sociológica, radicalizando a proposta de Thomas Kuhn, antecipando e influenciando a nova historiografia. Segundo Bloor (2009, p. 17-18): A definição apropriada do conhecimento será, portanto, bem diferente daquelas oferecidas pelo leigo ou pelo filósofo. Em vez de defini-lo como crença verdadeira – ou, ainda, crença verdadeira justificada –, para o sociólogo o conhecimento é tudo aquilo que as pessoas consideram conhecimento. Desse modo, o autor define conhecimento – científico inclusive – simplesmente como crença compartilhada, passível de ser analisada pela sociologia como qualquer outro corpo de crenças. Em relação a exigência normativa, enfatizada na epistemologia tradicional dos filósofos, Bruno Latour assume uma posição bastante diferente. Como assevera o autor: O projeto dos estudos científicos (...) não é estabelecer a priori que existe “alguma conexão” entre ciência e sociedade, pois a existência dessa conexão depende daquilo que os atores fizeram ou deixaram de fazer para estabelecê-la.Os estudos científicos apenas fornecem os meios de traçar essa conexão quando ela existe. (LATOUR, 2001, 104, grifo do autor) Os historiadores de ofício também articularam essas questões em suas pesquisas. Em um clássico da área, o Leviathan and the air-pump, de Simon Schaffer e Steven Shapin, tendo assumido que o objeto do livro são os experimentos científicos, os autores arrolam uma lista de perguntas que serviram de guia para a investigação que eles desenvolvem. Algumas são bastante 9 indicativas do tipo de abordagem que quero demonstrar. Por exemplo: “quais são os meios pelos quais pode se dizer que os experimentos produzem fatos, e qual a relação entre fatos experimentais e construtos explanatórios?” Ou outras, ainda mais generalizantes: “Porque alguém faz experimentos para chegar à verdade científica? O experimento é um meio privilegiado de se chegar a um consenso sobre o conhecimento da natureza, ou há outros meios possíveis?”(SCHAFFER; SHAPIN, 1985, p. 3, tradução minha, grifo dos autores). E os autores prosseguem de forma extremamente relevante: Queremos que nossa resposta seja de caráter histórico. Para isso, vamos lidar com as circunstâncias históricas nas quais o experimento surgiu como um meio sistemático de geração de conhecimento natural, nas quais as práticas experimentais se institucionalizaram e nas quais fatos produzidos experimentalmente foram colocados nos fundamentos daquilo que conta como conhecimento propriamente científico. (Ibid., p. 3). Outro autor pode nos dar mais um exemplo. Em uma conferência proferida em Portugal em meados da década de 1990, e que foi depois publicada na forma de um pequeno artigo, Peter Galison nos relata como chegou à sua concepção de história da ciência. Tentando equilibrar o que aprendia com Thomas Kuhn, Gerald Holton ou Mary Hesse com uma historiografia que enfatizava a importância da cultura material para o processo histórico, tal qual aquela produzida por Fernand Braudel ou Edward Thompson, ele havia se preocupado sempre com as questões imanentes das ciências. Assim, Galison havia se permitido questionar a imagem etérea que os pesquisadores tradicionais haviam pintado para a figura de Albert Einstein, e pensar o físico alemão em outra chave, completamente imerso num universo material, tendo que lidar, por exemplo, com questões práticas da tecnologia científica (GALISON, op. cit., p. 395-396). Em uma obra de maior fôlego, a monumental Image and logic, Galison irá insistir na ideia de que a dimensão teórica não consegue dar conta de explicar as ciências. As práticas experimentais, defende o autor, não são aplicações de uma teoria, elas possuem seu ritmo próprio, sua dinâmica interna, suas redes de sociabilidade, seus canais de comunicação. Eles se estabelecem como uma tradição relativamente independente dos desenvolvimentos teóricos e tem seu espaço de pleno direito. As comunidades de experimentadores têm sua história, não estão à reboque da teoria (GALISON, 1997). Mais recentemente, Galison se juntou a uma historiadora, Lorraine Daston, para uma tarefa ainda mais ousada, escrever uma história da objetividade científica. Com efeito, Daston já havia esboçado esse desafio no mesmo ciclo de conferências no qual Peter Galison insistiu na materialidade da cultura científica (e que já me referi acima). No texto que resulta da sua exposição, Daston defende o que ela chama de “pretensões pouco plausíveis”, a saber: “primeiro, que a objectividade científica tem uma história (e, diga-se de 10 passagem, uma história relativamente curta) e, em segundo lugar, que existe mais de uma espécie de objectividade científica” (DASTON, 1999). A empreitada conjunta de Galison e Daston, contudo, já não se pergunta sob a plausibilidade do tema. Ela é taxativa. “A objetividade científica tem uma história. A objetividade nem sempre definiu a ciência” (DASTON; GALISON, 2007, p. 17, tradução minha, grifo dos autores). Mas a objetividade não foi o único valor científico historicizado, nem o mais implausível e nem o que ilustra melhor a noção de zona de troca, à qual venho me referindo. Em 1992, Steven Shapin publicou um livro cujo título, embora um pouco provocativo, já é bastante indicativo da ampliação do escopo da historiografia, A social history of truth. Uma passagem desse livro evidencia bem o movimento que tentei mapear nas páginas precedentes. Mesmo um pouco longa, vale a penas determo-nos nela: A social history of truth diz respeito a questões sobre os fundamentos do conhecimento científico que haviam sido tradicionalmente reservadas aos filósofos; usa elementos e técnicas habitualmente dominadas por historiadores; e chega a conclusão que são amplamente sociológicas em forma e substância. Apesar disso, o livro não foi iniciado com nenhuma intenção especial de celebrar a interdisciplinaridade ou misturar, mutilar ou fundir deliberadamente os procedimentos disciplinares. Pelo contrário, ele é o resultado de anos de engajamento com questões cuja exploração tem me levado a algum ângulo da trajetória de colegas mais confortáveis em suas identidades disciplinares.(SHAPIN, 1992, p. xv). Diante desse fragmento, a imagem dos fluxos, territórios, trânsitos, domínios e zonas de troca, ganha maior clareza. É esse movimento que pretendo tratar historicamente. Permito-me, agora, voltar para as perguntas iniciais, que indagam sobre a capacidade da historiografia de se apropriar do conhecimento científico como objeto legítimo da sua disciplina e do seu poder de explicar satisfatoriamente a verdade, a objetividade, etc. Minha hipótese é que essa apropriação é possível e legítima.Desde que não negligencie que, para isso, é necessário que se estabeleça contato com outras disciplinas, usufruindoo que foi produzido em outros territórios de saber e conferindo-lhe sabor local. Obviamente, isso não se define como um novo monopólio, transferindo a propriedade da explicação da dinâmica das ciências para o âmbito da historiografia. O movimento, cujo desenho esbocei acima, se caracterizou por uma multiplicidade de olhares que, postos sobre o mesmo objeto, se entrecruzaram. Essas abordagens variadas possuem pontos de proximidade e de afastamento, consenso e dissenso e estabelecerem zonas de troca nas quais a historiografia teve um papel fundamental. 11 Referências BLOOR, David. Conhecimento e imaginário social. São Paulo: Editora UNESP, 2009. CHALMERS, Alan. A fabricação da ciência. São Paulo: Editora Unesp, 1994. DASTON, Lorraine. Imagens da objectividade: a fotografia e o mapa. In: GIL, Fernando (org.). A ciência tal qual se faz. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1999. DASTON, Lorraine e GALISON, Peter. Objectivity. Nova Iorque: Zone Books, 2007. DOSSE, François. História do estruturalismo. Vol. 1. O campo do signo, 1945/1966. Vol. 2. O canto do cisne, de 1967 aos nossos dias. São Paulo e Campinas: Ensaio; Editora da Unicamp, 1993 e 1994. FULLER, Steve. Thomas Kuhn: a philosophical history for our times. Chicago: University of Chicago Press, 2000. GALISON, Peter. Culturas etéreas e culturas materiais. In: GIL, Fernando (org.). A ciência tal qual se faz. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1999. GALISON, Peter. Image and logic. A material culture of microphysics. Chicago: The University of Chicago Press, 1997. GIL, Fernando (org.). A ciência tal qual se faz. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1999. GRECO, John e SOSA, Ernest (orgs.). Compêndio de epistemologia. São Paulo: Edições Loyola, 2008. HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos. O breve século XX. 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2001. LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora. Ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru: EDUSC, 2001. MAIA, Carlos Alvarez. Cientificismo versus Historicismo. O desafio para o historiar as idéias: O hiato historiográfico.No prelo. MOSER, Paul K. Realismo, objetividade e ceticismo. In: GRECO, John e SOSA, Ernest (orgs.). Compêndio de epistemologia. São Paulo: Edições Loyola, 2008. SCHAFFER, Simon e SHAPIN, Steven. Leviathan and the air-pump. Hobbes, Boyle, and the experimental life. Princeton: Princeton University Press, 1985. SCHMITT, Frederick. Epistemologia social. In: GRECO, John e SOSA, Ernest (orgs.). Compêndio de epistemologia. São Paulo: Edições Loyola, 2008. SHAPIN, Steven. A social history of truth. Chicago. The University of Chicago Press, 1992. 12 SHAPIN, Steven. Discipline and bounding. The history and sociology of science as seen through the externalism-internalism debate. History of Science. 1992. vol. 30. STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas. São Paulo: Editora 34, 2002. ZAGZEBSKI, Linda. O que é conhecimento? In: GRECO, John e SOSA, Ernest (orgs.). Compêndio de epistemologia. São Paulo: Edições Loyola, 2008.
Baixar