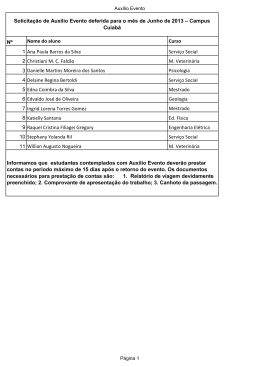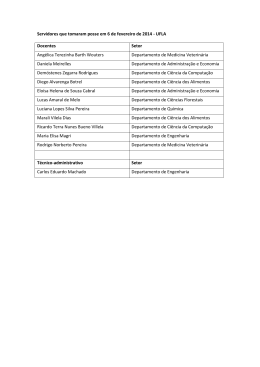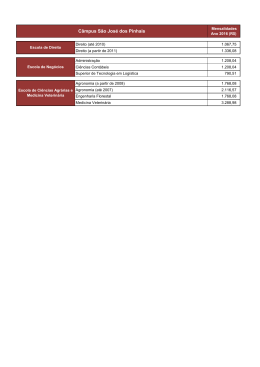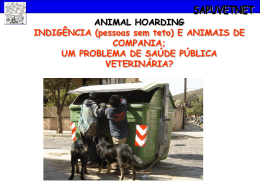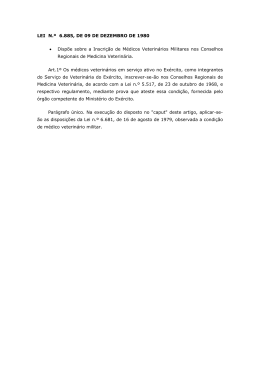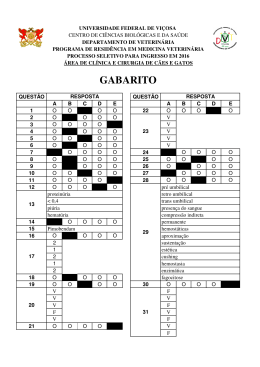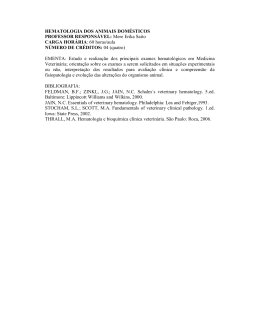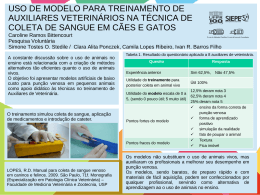VETERINÁRIA EM FOCO Revista de Medicina Veterinária Vol. 10 - Nº 2 - Jan./Jun. 2013 ISSN 1679-5237 COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA “SÃO PAULO” Presidente Adilson Ratund Vice-Presidente Jair de Souza Júnior Reitor Marcos Fernando Ziemer Pró-Reitor de Planejamento e Administração Romeu Fornec Pró-Reitor Acadêmico Ricardo Willy Rieth Pró-Reitor Adjunto de Ensino Presencial Pedro Antonio González Hernández Pró-Reitor Adjunto de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação Erwin Francisco Tochtrop Júnior Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Assuntos Comunitários Valter Kuchenbecker Capelão Geral Lucas André Albrecht VETERINÁRIA EM FOCO Disponível eletronicamente no site www.ulbra.br/medicina-veterinaria/revista.html Indexadores AGROBASE - Base de Dados da Pesquisa Agropecuária (BDPA), CAB Abstracts, LATINDEX Comissão Editorial Prof. Dr. Carlos Santos Gottschall Profa. Dra. Cristine Fischer (ULBRA) Prof. Dr. Luís Cardoso Alves Conselho Editorial Prof. Dr. Adil K. Vaz (Univ. Estadual de Lages) Profa. Dra. Anamaria Telles Esmeraldino (ULBRA) Prof. Dr. Angelo Berchieri Jr. (UNESP - Jaboticabal) Prof. Dr. Antonio Bento Mancio (UFMG) Profa. MSc Beatriz Guilhembernard Kosachenco Prof. Dr. Carlos Tadeu Pippi Salle (UFRGS) Prof. Dr. Celso Pianta (ULBRA) Prof. Dr. Cesar H. E. C. Poli (UFRGS) Profa. MSc. Cristina Bergman Zaffari Grecellé (ULBRA) Prof. Dr. Eduardo Malschitzky (ULBRA) Profa. Msc. Elisabete Gabrielli (ULBRA) Prof. Dr. Emerson Contesini (UFRGS) Prof. Dr. Francisco Gil Cano (Univ. Murcia/ Espanha) Prof. Dr. Franklin Riet-Correa (UFPEL) Prof. MSc Jairo Ramos de Jesus (ULBRA) Prof. Ms. João Sérgio Coussirat de Azevedo (ULBRA) Prof. Dr. Joaquim José Ceron (Univ. Murcia/Espanha) Prof. Dr. Julio Otávio Jardim Barcellos (UFRGS) Prof. Dr. Luiz Alberto Oliveira Ribeiro (UFRGS) Prof. Dr. Luiz Cesar Fallavena (ULBRA) Prof. Dr. Marcio Aurélio da Costa Teixeira (ULBRA) Profa. MSC Maria Helena Amaral (CRMV/RS) Profa. MSC. Maria Inês Witz (ULBRA) Profa. Ms. Mariangela da Costa Allgayer (ULBRA) Prof. Dr. Paulo Ricardo Loss Aguiar (ULBRA) Prof. Dr. Renato Silvano Pulz (ULBRA) Prof. Dr. Rossano André Dal Farra (ULBRA) Dra. Sandra Borowski (FEPAGRO) Prof. Dr. Sérgio José de Oliveira Profa. Msc. Simone Thomé (ULBRA) Prof. Dr. Victor Cubillo (Univ. Austral do Chile) Profa. MSc Viviane Machado Pinto (ULBRA) Prof. Dr. Waldyr Stumpf Junior (EMBRAPA) Secretaria do Curso de Medicina Veterinária ULBRA - Av. Farroupilha, 8001 - Canoas - Prédio 14 - Sala 126 CEP: 92425-900 - Fone: (51) 3477.9284 - E-mail: [email protected] Carlos Gottschall: [email protected] Sergio Oliveira: [email protected] EDITORA DA ULBRA Diretor - Astomiro Romais Coordenador de periódicos - Roger Kessler Gomes Capa - Everaldo Manica Ficanha Editoração - Roseli Menzen PORTAL DE PERIÓDICOS DA ULBRA Gerência: Agostinho Iaqchan Ryokiti Homa Endereço para permuta Universidade Luterana do Brasil Biblioteca Central - Setor Aquisição Av. Farroupilha, 8001 - Prédio 05 CEP: 92425-900 - Canoas/RS, Brasil E-mail: [email protected] Solicita-se permuta. We request exchange On demande l'échange. Wir erbitten Austausch Matérias assinadas são de responsabilidade dos autores. Direitos autorais reservados. Citação parcial permitida com referência à fonte. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP V586 Veterinária em foco / Universidade Luterana do Brasil. – Vol. 1, n. 1 (maio/out. 2003)- . – Canoas : Ed. ULBRA, 2003- . v. ; 27 cm. Semestral. ISSN 1679-5237 1. Medicina veterinária – periódicos. I. Universidade Luterana do Brasil. CDU 619(05) Setor de Processamento Técnico da Biblioteca Martinho Lutero Sumário 148 Editorial Artigos científicos 149 Atuação e importância do médico veterinário na cadeia produtiva do leite Thaysa S. Santos; Duperron de A. Carvalho 159 Perfil dos produtores de leite e caracterização técnica das propriedades leiteiras dos municípios de Rondon do Pará e Abel Figueiredo, Estado do Pará Susiane de Oliveira Soares; Ricardo Pedroso Oaigen; José Diomedes Barbosa; Carlos Magno Chaves Oliveira; Tatiane Telez Albernaz; Felipe Nogueira Domingues; Janaina Teles da Silva Maia; Christina Manfio Christmann 169 Influência do arranjo de plantas sobre a composição bromatológica da silagem de milho Danilo Abade Costa; Felipe Nogueira Domingues; Marilice Zundt Astolphi; Diego Azevedo Mota; Ricardo Pedroso Oaigen; Juliano Calonego; Augusto Sousa Miranda 178 Avaliação do desempenho biológico de bovinos de corte terminados sobre pastagens de azevém (Lolium multiflorum) e milheto (Pennisetum glaucum) Carlos Santos Gottschall; Leonardo Rocha da Silva; Fábio Tolotti 186 Utilização de rações para frangos de corte com diferentes níveis de energia e proteína Dijair de Queiroz Lima; Nicholas Lucena Queiroz 195 Bem-estar de bovinos leiteiros: revisão de literatura Gracieli Alves Ferreira; Rosangela Estel Ziech; Erica Cristina B. do P. Guirro 210 Particularidades na contenção química e na anestesia de serpentes Fernanda Soldatelli Valente; Simone Passos Bianchi; Emerson Antonio Contesini 146 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 222 Fauna de ixodídeos em carnívoros silvestres atropelados em rodovias de Santa Catarina: relato de caso Rosiléia Marinho de Quadros; Bruna L. Boaventura; Wilian Veronezi; Sandra Márcia Tietz Marques 229 Espécies do gênero Helicobacter de importância em medicina veterinária: revisão de literatura Priscila R. Guerra; Anelise Bonilla Trindade; Vanessa Dias; Marisa Ribeiro de I. Cardoso 244 Osteomielite decorrente de infecção por Aspergillus sp. em cão da raça rottweiler: Relato de caso Fabrício Bernardo de Jesus Brasil; Edmilson Rodrigo Daneze 252 Normas editoriais Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 147 Editorial Recentemente, a Medicina Veterinária vem, no contexto geral das profissões, assumindo um papel de destaque entre todas as outras, pois, sem menosprezar o papel e a importâncias destas, vivemos um momento em que nossa profissão está em evidência. Isso é comprovado pelos anseios e prioridades da sociedade atual, em que valores como bem-estar animal, sustentabilidade, alternativas de produção adequadas ao mercado atual, tais como produção orgânica, produtos naturais sem agrotóxicos, são realidades. Segundo dados da ELANCO, em 50 anos a população mundial demandará 100% a mais de alimentos; destes, 70% deverão vir de novas tecnologias que aumentem a produtividade. Diante desse quadro, cabe a nós a resposta adequada a essas questões. Os assuntos abordados no presente volume demonstram a preocupação de nosso corpo editorial e consultores com a abordagem científica de problemas atuais, com o que esperamos, de alguma forma, tentar contribuir para a melhoria de vida no planeta. Boa leitura a todos! Comissão Editorial Atuação e importância do médico veterinário na cadeia produtiva do leite Thaysa S. Santos Duperron de A. Carvalho RESUMO As atividades do Médico Veterinário são, muitas vezes, divulgadas de forma limitada, criando estereotipo de uma profissão que cuida apenas de cães e gatos, não o relacionando com qualidade e segurança dos alimentos de origem animal, inclusive muitos Veterinários desconhecem ou não compreendem suas áreas de atuação e/ou importância na saúde pública. Objetiva-se, com este artigo, refletir, informar e mudar conceitos sobre atuação e importância do Médico Veterinário na segurança e qualidade dos alimentos de origem animal, em particular na cadeia produtiva do leite (alvo de adulteração, contaminação por produtos químicos e microrganismos patogênicos), demostrando que este profissional é o grande responsável pela orientação e fiscalização do leite e seus derivados garantindo que os mesmos tenham qualidade e estejam seguros para consumo. Palavras-chave: Consumidor. Leite e derivados. Saúde pública. Performance and importance of veterinarians in the milk supply chain ABSTRACT The activities of a veterinarian are often broadcasted in a limited way, creating a stereotype of a profession that regards only about taking care of dogs and cats, not linking it to quality and safety of animal origin food. Besides that many veterinarians are unaware or do not understand their fields and / or their importance in public health. It is aimed, with this article, to rethink, to inform and to change concepts about performance and importance of veterinarians in the safety and quality of animal origin food, particularly in the milk chain (which is target of adulteration and contamination by chemicals and pathogens), demonstrating that this professional is the main responsible for the orientation and supervision of milk and its derivatives ensuring that they have quality and are safe for consumption. Keywords: Consumer. Dairy products. Public health. INTRODUÇÃO As atividades do Médico Veterinário são, muitas vezes, divulgadas de forma limitada, criando estereotipo de uma profissão que cuida apenas de cães e gatos. Desta Thaysa S. Santos é Médica Veterinária, Mestre em Ciência Animal (UFG), Doutoranda em Engenharia de Alimentos pela Universidade de São Paulo. Duperron de A. Carvalho é Médico Veterinário e Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Superintendência de Goiás. Endereço: Rua Antônio de Souza Mourão, Pinheiro, CEP.: 13630-345, Pirassununga-SP. E-mail: [email protected] Veterinária em Foco Canoas v.10 n.2 p.149-158 jan./jun. 2013 forma, o grande público e, principalmente, os homens de decisão política e econômica do país não relacionam o seu trabalho, por exemplo, com a saúde pública (zoonoses, higiene, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal), não estando, portanto, cientes da importância da Medicina Veterinária na sociedade (DERKS et al., 2012). Inclusive muitos Veterinários desconhecem ou não compreendem suas áreas de atuação e/ou importância na saúde pública, ou por falhas dos cursos superiores no ensino teórico e prático dos conteúdos relacionados (resultando em menor grau de comprometimento do profissional com a saúde coletiva) (PFUETZENREITER, 2008; BÜRGUER, 2010), ou ainda por não se preocuparem, ou talvez nem tenham pensado que a mudança de percepção da sociedade sobre a importância de uma profissão é capaz de promover sua valorização (MEDITSCH, 2006; BÜRGUER, 2010; ABREU, 2013). Desta forma, este espaço vem sendo ocupado gradativamente nos diferentes níveis de gestão por outras profissões (TREVEJO, 2009). É necessária uma mudança cultural na Medicina Veterinária, que caminhe em direção às ciências naturais e sociais, com maior ênfase no bem-estar geral e perspectivas amplas (WERGE, 2003). Além disso, deve-se conscientizar o Médico Veterinário da sua importância para com a saúde pública, ampliando sua atuação profissional, assim como difusão de informações sobre zoonoses e segurança de alimentos, não apenas através deste profissional, mas também pelos órgãos oficiais de saúde pública e educação (MEDITSCH, 2006; STODDARD; GLYNN, 2009; OKELLO et al., 2011), só assim a profissão será mais valorizada (HENDRIX et al., 2005). Prova disso, é o Veterinário chegar a coordenar equipes de vigilância em países desenvolvidos (JOHNSTON, 2013). Para oferecermos alimentos de origem animal em quantidade e qualidade, é necessário acompanhamento deste produto, desde o início de sua cadeia até a industrialização, passando pelo processamento da matéria-prima em alimento, seu armazenamento, transporte, comércio, e consumo, papel este do Veterinário (GOMIDE et al., 2006). Neste contexto, encontra-se o leite, fonte de nutrientes e muito consumido, que deve ser fiscalizado (BRASIL, 1950; 1989), pois são muitos os casos ao longo de toda a cadeia produtiva de adulteração (produto caro, atraente para modificar) (DE LA FUENTE; JUAREZ, 2005; KAROURI; BAEDEMAEKER, 2007), contaminação por produtos químicos (DORNE et al., 2009) e presença de microrganismos patogênicos (WHO, 2013). Prova disso são os casos veiculados pela mídia como o de Minas Gerais em 2007, no qual ocorreu adulteração do leite com soro, peróxido de hidrogênio, soda cáustica, citrato de sódio e pasta-base, e em 2013, adição de água e ureia (que continha formol) no Rio Grande do Sul. A responsabilidade de evitar que leite impróprio seja consumido pela população é dos Médicos Veterinários, sejam eles fiscais, Responsáveis Técnicos ou Veterinários de campo, garantido assim a segurança do alimento (BRASIL, 1952, 1989, 1980, 2009a; CFMV, 1991, 2002). Diante do exposto, é necessário refletir, informar e mudar conceitos sobre atuação e importância do Médico Veterinário na segurança e qualidade dos alimentos (Saúde 150 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 Pública), em particular na cadeia produtiva do leite (produção, indústria e comércio), desta forma objetiva-se com este artigo, demostrar e esclarecer que este profissional é o grande responsável pela orientação e fiscalização na cadeia produtiva do leite garantindo um produto seguro para a população e demostrando seu valor para a sociedade. REVISÃO DE LITERATURA Atuação e importância do Médico Veterinário na cadeia produtiva do leite As principais atribuições do Médico Veterinário estão relacionadas com: higiene, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal (atividade privativa do Veterinário); prevenção e saúde pública; indústria de ração, medicamentos e defensivos animais; clínica; ecologia e meio ambiente; produção animal, administração e extensão rural; biotecnologia, reprodução animal e fisiopatologia da reprodução (BRASIL, 1968). Somado a isso a Organização Mundial da Saúde criou a Saúde Pública Veterinária, definida como a soma de todas as contribuições para o bem-estar físico, mental e social dos seres humanos através de uma compreensão e aplicação da ciência veterinária (WHO, 2013). Ao analisar o exposto acima, observa-se a amplitude das áreas que o Veterinário pode atuar. Sendo inquestionável que o Médico Veterinário está apto a atuar em quase todos os processos de produção e processamento dos alimentos, indo desde o campo onde o animal é criado, passando pela indústria na qual o produto de origem animal é processado, até a comercialização e chegada do produto ao consumidor (DUTRAL, 2006; TREVEJO, 2009). Vale ressaltar que, para se produzir leite com qualidade e segurança para o consumidor, é de suma importância que os principais atores da cadeia produtiva – como produtores, Médicos Veterinários e indústrias processadoras – executem o seu papel e trabalhem em conjunto. A seguir, serão descritas todas as competências que cabem ao Médico Veterinário. Campo (propriedade rural) No ambiente rural, o Veterinário desempenha papel de orientação do produtor rural e funcionários encarregados do manejo dos animais. As principais orientações estão relacionadas ao manejo sanitário, tratamento e principalmente a prevenção de doenças (gestão veterinária da saúde do rebanho) (LEBLANC et al., 2006; DERKS et al., 2012; HOGEVEEN, 2012), bem estar animal (CRONEY; BOTHERAS, 2010), manejo alimentar (BRASIL, 1974; NOORDHUIZEN; WENTINK, 2001), manejo de ordenha (boas práticas higiênicas e sanitárias) (HOGEVEEN; HUIJPS; LAM, 2011), acondicionamento e transporte do leite adequado (BRASIL, 2011). Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 151 O Brasil é um dos maiores consumidores de defensivos agrícolas do mundo (BRASIL, 2009b), devendo o Veterinário também instruir o produtor rural quanto ao uso deste tipo de produto, visto que existem relatos de contaminação do leite, por exemplo, por organoclorados (AVANCINI et al., 2013), que podem afetar a imunidade, sistema reprodutivo e neurológico, metabolismo, e causar até câncer no homem (CASTILLAPINEDO et al., 2010). Outro exemplo é a contaminação do leite por antibióticos, que representa riscos à saúde pública, principalmente pela resistência microbiana (MARSHALL; LEVY, 2011; MEYER, et al., 2013), levando prejuízos a produtores e indústria (ZACOO et al., 2007). Neste sentido, orientações sobre medidas higiênicas, profiláticas e tratamento das doenças (respeitando o período de carência e dose dos medicamentos) devem ser fornecidas ao produtor (LEBLANC et al., 2006). Colaborando com este controle o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC), executado por fiscais federais Veterinários que são responsáveis por controlar a violação dos níveis de segurança de substâncias autorizadas, bem como a ocorrência de compostos químicos de uso proibido (BRASIL, 1999). Nos exemplos citados, o Médico Veterinário é o grande responsável por evitar que o leite fora dos padrões exigidos pela legislação (BRASIL, 2002a; 2011) chegue à indústria processadora, orientando e fiscalizando o produtor rural e seus funcionários. Mas, na prática existem muitos casos de adulteração que acontecem dentro da fazenda, ou no percurso até a indústria que constantemente são noticiados pela mídia, com intuito de corrigir a densidade do leite ou como conservantes, principalmente pela adição de água, sal, açúcar e peróxido de hidrogênio, entre outros (KARTHEEK et al., 2011). Cabe ao produtor rural seguir estas orientações investindo em estratégias preventivas, para garantir a saúde do rebanho, bem-estar animal, segurança do alimento e saúde pública (DERKS et al., 2012). Indústria (usina de beneficiamento e fábrica de laticínios) ou posto de refrigeração de leite No âmbito industrial (usina de beneficiamento e fábrica de laticínios) ou posto de refrigeração de leite, a atuação do Médico Veterinário está relacionada ao cargo de Responsável Técnico (RT) (BRASL, 1980; CFMV, 1991, 2002), e agente fiscal (BRASIL, 1968), que pode ser de âmbito municipal (Serviço de Inspeção Municipal), estadual (Serviço de Inspeção Estadual) ou federal (Serviço de Inspeção Federal ligados ao MAPA e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) (BRASIL, 1952, 1989, 2010). Os RT’s e fiscais instruem e verificam nas indústrias de laticínios e posto de refrigeração, as condições do transporte do leite in natura dos estabelecimentos produtores até os locais de armazenamento e processamento. Isso se dá mediante a inspeção dos 152 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 caminhões-tanque, constatando-se aspectos da estrutura física, higienização e temperatura do leite (RIISPOA, 1952; BRASIL, 2002a, 2011). Nessa fase, faz-se a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas (como redutase, pesquisa de resíduos de antibióticos, crioscopia, determinação de sólidos totais, densidade, acidez titulável, gordura, temperatura e pesquisas de indicadores de fraudes e adulterações) (BRASIL, 2006a, 2011) e microbiológicas (BRASIL, 2003a), interpretação dos resultados, determinando o destino adequado do leite in natura dentro do laticínio (RIISPOA, 1952; BRASIL, 2002a, 2003a, 2006a, 2011). É também função dos RT’s e fiscais, orientar e fiscalizar: condições técnicas do laboratório, relacionadas a equipamentos, pessoal, reagentes e técnicas analíticas (BRASIL, 1952, 2006a); a indústria na aquisição de matéria-prima de boa qualidade e procedência (BRASIL, 2006); na compra de aditivos (BRASIL, 1997a), embalagens, desinfetantes, conservantes e sanitizantes (BRASIL, 1997b, 2006b); no controle e/ ou combate de insetos e roedores, evitando contaminação dos alimentos, sendo uma importante via de transmissão de doenças aos consumidores (BRASIL, 1997b). Na indústria de laticínio ou posto de refrigeração deve-se manter a higiene (das instalações, equipamentos e dos colaboradores), seguir os procedimentos operacionais padrão (higiene, processamento, estocagem e transporte do produto acabado até o comércio) e evitar contaminação física, química e microbiológica do leite e seus derivados (BRASIL, 1952, 1984, 1996). Para tanto, cabe ao RT fazer a empresa seguir as Boas Práticas de Fabricação (BPF) (BRASIL, 1997b, 1997c, 2002b), Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO) (BRASIL, 2003b, 2009a), Análise de Perigos e de Pontos Críticos de Controle (APPCC) da empresa (BRASIL, 1998a) e normas ambientais (BRASIL, 1998b), e o fiscal realizar inspeção periodicamente (BRASIL, 1989). Para atingir estes objetivos é necessário o RT realizar treinamento de formação dos colaboradores envolvidos na manipulação, transformação, embalagem, armazenamento e transporte dos produtos (BRASIL, 1997b, 1998a, 2003). Outro fator que é de competência do Veterinário é exigir que as indústrias cumpram rigorosamente o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) dos produtos e os fiscais auditem (BRASIL, 1996), e aprovem os rótulos dos produtos (BRASIL, 1952). Em caso extremo, no qual as orientações dos RT’s não são acatadas pela indústria processadora de leite, o mesmo deverá notificar o Conselho de Medicina Veterinária que ele está registrado, pois medidas punitivas serão tomadas (CFMV, 1991, 2002). Já os fiscais podem se utilizar de multas e altos de infração e até o fechamento do estabelecimento, tudo para preservar a saúde do consumidor (BRASIL, 1952, 1989). Comercialização Já no âmbito do comércio (supermercados e hipermercados) de leite e seus derivados, a função do Veterinário está mais relacionada ao fiscal da vigilância Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 153 sanitária (ANVISA), que orienta e fiscaliza a aquisição de produtos originários de estabelecimentos com Inspeção Sanitária Oficial, exigindo condições higiênicosanitárias adequadas das instalações e equipamentos, avaliando o controle de insetos e roedores e prazo de validade dos produtos (BRASIL, 1997c, 2002b), rigoroso controle da temperatura das câmaras de resfriamento e de estocagem (BRASIL, 1984). Vale ressaltar que a responsabilidade pelo produto acabado é do estabelecimento beneficiador (BRASIL, 1990), porém RT (orienta e ajuda a fiscalizar) e o fiscal (que representa fiscalização, está realizada periodicamente, e também a orientação) têm responsabilidade direta pela qualidade e segurança do leite e seus derivados produzidos e, portanto, consumidos pela população (CFMV, 2002). CONCLUSÃO Frente ao exposto, conclui-se que, além do Médico Veterinário ser fundamental como orientador em toda a cadeia produtiva do leite (campo, indústria e comércio), ele também tem a função de promover a sua fiscalização. Sendo este profissional responsável por impedir que o leite e seus derivados impróprios para o consumo cheguem à mesa do consumidor, utilizando para isso, nos casos mais extremos, comunicação às autoridades competentes (no caso do RT), autuação da indústria ou até o seu fechamento (no caso do fiscal). Acima de tudo, espera-se que esta contribuição sirva para a conscientização da sociedade e da própria classe de Médicos Veterinários, da importância do mesmo na Saúde Pública, no que se refere à qualidade e segurança do leite, valorizando ainda mais está profissão. REFERÊNCIAS ABREU, S. R. O. A Medicina Veterinária na Saúde Coletiva. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Alagoas. Disponível em: <http://www.crmv-al.org. br/site/MostraConteudo.aspx?c=9>. Acesso em: 19 jul. 2013. AVANCINI, R. M; SILVA, I. S.; ROSA, A. C. S.; SARCINELLI, P. D. N.; DE MESQUITA, A. S. Organochlorine compounds in bovine milk from the state of Mato Grosso do Sul- Brazil. Chemosphere., v.90, n.9, p.2408-2413, 2013. BRASIL. Lei n° 1.283, de 18 de dezembro de 1950. Dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário, de todos dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis. Diário Oficial da União, Presidência da República, Brasília, DF, 19 de dez. 1950. BRASIL. Presidência da República. Decreto n° 30.691, de 29 de março de 1952. Dispõe sobre o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA. Brasília: SDA, 1952. p.124. BRASIL. Lei n° 5.517, de 23 de outubro de 1968. Dispõe sobre o exercício da profissão do médico veterinário e cria o Conselho Federal e Regionais de Medicina Veterinária. Diário Oficial da União, Presidência da República, Brasília, DF, 25 de out. 1968. 154 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 BRASIL. Lei n° 6.198, de 26 de dezembro de 1974. Dispõe sobre a inspeção e fiscalização obrigatórias dos produtos destinados à alimentação animal. Diário Oficial da União, Presidência da República, Brasília, DF, 27 dez. 1974. BRASIL. Lei n° 6.839, de 30 de outubro de 1980. Dispõe sobre registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. Diário Oficial da União, Presidência da República, Brasília, DF, 30 out. 1980. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério da Saúde. Resolução n° 10, de 31 de julho de 1984. Dispõe sobre instruções para conservação nas fases de transporte, comercialização e consumo dos alimentos perecíveis, industrializados ou beneficiados, acondicionados em embalagens. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 01 ago. 1984, Brasil. BRASIL. Lei n° 7.889, de 23 de novembro de 1989. Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal. Diário Oficial da União, Presidência da República, Brasília, DF, 24 dez. 1989. BRASIL. Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Presidência da República, Brasília, DF, 12 set. 1990. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria n° 146 de 7 de março de 1996. Dispõe sobre Aprovar os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 1996, Seção 1, p.3977. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria n° 540 de 27 de outubro de 1997. Dispõe sobre o Regulamento Técnico: Aditivos Alimentares-definições, classificação e emprego. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 out. 1997a. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria n° 368 de 4 de setembro de 1997. Dispõe sobre o Regulamento Técnico sobre as Condições HigiênicoSanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 set. 1997b. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria nº 326 de 30 de julho de 1997. Aprova o regulamento técnico; condições higiênicos-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores e de alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 01 ago. 1997c. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria n.°46 de 10 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre Instituir o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC a ser implantado, gradativamente, nas indústrias de produtos de origem animal sob o regime do Serviço de Inspeção Federal – SIF. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 mar. 1998a. BRASIL. Presidência da República-Casa Civil. Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 13 fev. 1998b. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n.° 51 de 18 de setembro de 2002. Dispõe sobre a Aprovação dos Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do leite tipo A, B e C do leite Pasteurizado e do Leite Cru Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 155 Refrigerado e o Regulamento técnico da coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a granel. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 2002a. Seção 1, p.13. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 out. 2002b. Seção 1, p.126. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003. Dispõe sobre os métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal e Água. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 set. 2003a. Seção 1, p.14. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Resolução n.° de 22 de maio de 2003. Dispõe sobre o Programa Genérico de Procedimentos – Padrão de Higiene Operacional-PPHO, a ser utilizado nos Estabelecimentos de Leite e Derivados que funcionam sob o regime de Inspeção Federal, como etapa preliminar e essencial dos Programas de Segurança Alimentar do tipo APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 maio 2003b. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n° 68, de 12 de dezembro de 2006. Dispõe sobre os métodos analíticos oficiais físico-químicos, para controle de leite e produtos lácteos, em conformidade com o anexo desta Instrução Normativa, determinando que sejam utilizados nos Laboratórios Nacionais Agropecuários. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 dez. 2006a, Seção 1, p.8. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n° 49, de 14 de setembro de 2006. Dispõe sobre Instruções para permitir a entrada e o uso de produtos nos estabelecimentos registrados ou relacionados no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conformidade com os Anexos desta Instrução Normativa. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de set. 2006b, Seção 1. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ofício Circular n° 07, de 11 de setembro de 2009. Dispõe dos procedimentos de verificação dos Programas de Autocontrole em estabelecimentos processadores de leite e derivados, mel e produtos apícolas, Brasília, DF, 11 set. 2009a. BRASIL. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Agrotóxicos: Agência discute o Controle de Resíduos nenhuma Senado (2009b). Disponível em: <http://www.anvisa. gov.br/divulga/noticias/2009/251109.htm>. Acesso em: 20 jul. 2013. BRASIL. Lei n° 7.216, de 17 de junho de 2010. Dispõe sobre nova redação e acresce dispositivos ao Regulamento dos arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, aprovado pelo Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Presidência da República, Brasil, DF, 08 jun. 2010. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n.° 61 de 29 de dezembro de 2011. Altera a Instrução Normativa n° 51 e dispõe sobre a Aprovação do Regulamento Técnico de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, Leite Cru Refrigerado, Leite Pasteurizado e o Regulamento Técnico da Coleta 156 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2011. Seção 1. BÜRGER, K.P. O ensino de saúde pública veterinária nos cursos de graduação em Medicina Veterinária do estado de São Paulo. 2010. 129f. Tese (Medicina Veterinária Preventiva) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP, Jaboticabal, 2010. CASTILLA-PINEDO, Y.; ALVIS-ESTRADA, L.; ALVIS-GUZMÁN, N. Exposición hum organoclorados por ingesta de leite pasteurizada comercializada los Cartagena Colômbia. Rev. Salud Pública, v.12, p.14-26, 2010. CFMV, Conselho Federal de Medicina Veterinária. Resolução n° 582, de 11 de dezembro de 1991. Dispõe sobre responsabilidade profissional (técnica) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 de jan. 1992. CFMV, Conselho Federal de Medicina Veterinária. Resolução n°722, de 16 de agosto 2002. Dispõe sobre aprovação do Código de Ética do Médico Veterinário. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 de dez., Seção 1, 2002. CRONEY, C.C; BOTHERAS, N.A. Animal welfare, ethics and the U.S. dairy industry: maintaining a social license to operate. Tri-State Dairy Nutrition Conference, p.51-55, 2010. DE LA FUENTE, M.A.; JUAREZ, M. Authenticity assessment of dairy products. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v.45, n.7, p.563-585, 2005. DERKS, M.; VAN DE VEN, L. M. A.; VAN WERVEN, T.; KREMER, W. D. J.; DORNE, J. L. C. M.; BORDAJANDI, L. R.; AMZAL, B.; FERRARI, P.; VERGER, P. Combining analytical techniques, exposure assessment and biological effects for risk assessment of chemicals in food. Trends Anal. Chem., v.28, n.6, p.695-707, 2009. DUTRA, M. G. B. As múltiplas faces e desafios de uma profissão chamada Medicina Veterinária. Revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Brasília: Conselho Federal de Medicina Veterinária, n.37, p.49-56, 2006. GOMIDE L. A. M.; RAMOS E. M.; FONTES P. R. Tecnologia de Abate e Tipificação de Carcaças. Viçosa: UFV, p.19-20, 2006. HENDRIX, C. M.; MCCLELLAND, C. L.; THOMPSON, I.; MACCABE, A. T.; HENDRIX, C. R. An interprofissional role for veterinary medicine in human health promotion and disease prevention. Jounal of Interprofessional Care, v.19, n.1, p.3-10, 2005. HOGEVEEN, H.; HUIJPS, K.; LAM, T. J. G. M. Economic aspects of mastitis: New developments. New Zealand Veterinary Journal, v.59, n.1, p.16-23, 2011. HOGEVEEN, H. The perception of veterinary herd health management by Dutch dairy farmers and its current status in the Netherlands: A survey. Preventive Veterinary Medicine, v.104, n.3-4, p.207-215, 2012. JOHNSTON, W.B. National Association of State Public Health Veterinarians: about state public health veterinarians. Disponível em: <http://www.nasphv.org/aboutPHVs. html>. Acesso em: 20 jul. 2013. KAROURI, R,; BAEDEMAEKER, J. A review of the analytical methods coupled with chemometric tools for the determination of the quality and identity of dairy products. Food Chemistry, v.102, n.3, p.621-640, 2007. KARTHEEK, M.; SMITH, A. A.; MUTHU, A. K.; MANAVALAN, R. Determination of adulterants in food: A review. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research., v.3, p.629-636, 2011. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 157 LEBLANC, S. J.; LISSEMORE, K. D.; KELTON, D. F.; DUFFIELD, T. F.; LESLIE, K. E. Major advances in disease prevention in dairy cattle. J. Dairy Sci., v.89, p.12671279, 2006. MARSHALL, S.; LEVY, S. B. Food Animals and Antimicrobials: Impacts on Human Health. Clinical Microbiol-Reviews, v.24, p.718-733, 2011. MEDITSCH, R. G. M. O Médico Veterinário na construção da saúde pública: um estudo sobre o papel do profissional da clínica de pequenos animais em Florianópolis, Santa Catarina. Revista CFMV, Brasília, DF, ano XII, n.38, maio/jun./jul./ago. 2006. MEYER, E.; GASTMEIER, P.; DEJA, M.; SCHWAB, F. Antibiotic consumption and resistance: Data from Europe and Germany. International Journal of Medical Microbiology, v.303, n.4, maio 2013. NOORDHUIZEN, J. P. T. M; WENTINK, G. H. Developments in veterinary herd health programmes on dairy farms: a review. Vet. Quart., v.23, p.162-16, 2001. OKELLO, A. L.; GIBBS, E. P.; VANDERSMISSEN, A.; WELBURN, S. C. One Health and the neglected zoonoses: turning rhetoric into reality. Veterinary Record., v.169, p.281-285, 2011. PFUETZENREITER, M. R.; ZYLBERSZTAJN, A. Percepções de estudantes, professores e médicos Veterinários sobre o ensino da Medicina Veterinária preventiva e Saúde Pública. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, v.7, n.1, p.75-84, 2008. STODDARD, R. A.; GLYNN, M. K. Opening the window on public health to veterinary students. OIE Revue Scientifique et Technique, v.28, n.2, p.671-679, 2009. TREVEJO, R.T. Public Health for the Twenty-First Century: What Role Do Veterinarians in Clinical Practice Play? Veterinary Clinics of North America – Small Animal Practice. v.39, n.2, p.215-224, 2009. WERGE, R. Culture change and veterinary medicine. Journal of Veterinary Medical Education, v.30, n.1, p.5-7, 2003. WHO, WORD HEALTH ORGANIZATION. Veterinary public health (VPH). General information related to microbiological risks in food. Disponível em: <http://www.who. int/zoonoses/vph/en/> e <http://www.who.int/foodsafety/micro/general/en/index.html>. Acesso em: 20 jul. 2013. ZACCO, E.; ADRIAN J.; GALVE, R.; MARCO, M. P.; ALEGRET, S.; PIVIDORI, M. I. Electrochemical magneto immunosensing of antibiotic residues in milk. Pividori. Biosens. Bioelectron., v.22, p.2184-2191, 2007. 158 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 Perfil dos produtores de leite e caracterização técnica das propriedades leiteiras dos municípios de Rondon do Pará e Abel Figueiredo, Estado do Pará Susiane de Oliveira Soares Ricardo Pedroso Oaigen José Diomedes Barbosa Carlos Magno Chaves Oliveira Tatiane Telez Albernaz Felipe Nogueira Domingues Janaina Teles da Silva Maia Christina Manfio Christmann RESUMO O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil do produtor de leite e o grau de tecnificação empregados nos estabelecimentos leiteiros localizados nos municípios de Rondon do Pará e Abel Figueiredo, Estado do Pará. A metodologia foi baseada na aplicação de um questionário individual com os produtores de leite em 38 propriedades rurais, onde estes foram classificados de acordo com a produção diária de leite em: pequenos produtores (produção diária de até 53 litros), médios produtores (entre 54 a 133 litros) e grandes produtores (produção diária acima de 133 litros). Foi selecionada, de forma aleatória, uma amostra proporcional de 15% de cada categoria, sendo portanto entrevistados 10 pequenos, 18 médios e 10 grandes pecuaristas. A maioria das propriedades rurais eram gerenciadas por homens. Pequenos e médios produtores tinham um menor nível de instrução em comparação aos grandes produtores. Verificaram-se aspectos referentes ao perfil do produtor e caracterização do sistema de produção no que tange as instalações e práticas de manejo reprodutivo, sanitário e nutricional. O rebanho era constituído de animais mestiços, com média de produção de leite/sistema de 40 l/dia, 95 l/dia e 313 l/dia e produtividade/animal de 3,35 l/dia, 3,39 l/dia e 4,91 l/dia, respectivamente para pequenos, médios e grandes produtores. Estas informações são relevantes, pois ajudam a identificar os diferentes níveis de produção e os desafios dos sistemas de produção leiteiros, auxiliando posteriormente no desenvolvimento de ações e políticas públicas de apoio ao setor. Palavras-chave: Sistemas de produção. Produção leiteira. Tipologia. Sudeste paraense. Susiane de O. Soares e Tatiane Telez Albernaz – Médicas Veterinárias, Mestres em Ciência Animal (UFPA). Ricardo Pedroso Oaigen – Professor adjunto do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus de Uruguaiana-RS. Carlos M. C. Oliveira, Felipe N. Domingues, Janaina T. S. Maia e José D. Barbosa – Professor do Curso de Medicina Veterinária da UFPA, campus de Castanhal-PA. Christina Manfio Christmann – Acadêmica de Medicina Veterinária. 2013 Veterinária em Foco Veterinária v.10 v.10, n.2, n.2 jan./jun. p.159-168 Canoas em Foco, jan./jun. 2013 159 Profile of producers of milk and technical characteristics of the properties of milk in Rondon do Pará and Abel Figueiredo, Pará ABSTRACT The aim of this study was to identify the profile of the milk producer and characterize the technical profile of dairy production systems in the municipalities of Rondon do Pará and Abel Figueiredo, located in the southeast of Pará State. The methodology was based on applying a questionnaire to individual dairy farmers on 38 farms, where farmers were classified according to the daily production of milk: small producers (daily production of up to 53 liters), medium farmers (between 54 to 133 liters) and large producers (producing more than 133 liters). Subsequently, we interviewed 10 small, 18 medium and 10 large farmers. It was found that the properties were mostly run by men. Regarding education, small and medium farmers had low education, while the major had higher level of education. Several aspects were verified regarding the producer and characterization of the production system in aspects related to facilities, reproductive health and nutrition management profile. The herd consisted of cross bred and had an average of 92 head of cattle (small), 150 head (medium) and 384 head (large).Milk production was minimum of 15 liters/day and maximum of 550 liters/day, with a yield of 3.35on small holder farmers, 3.39 on medium producers and 4.91 in the major producers. This information is relevant because they help to highlight the best understanding of the different types of these systems and tend to assist in the development of public policies and actions to aid the production chain. Keywords: Milk production. Production systems. Southeast of Pará. Typology. INTRODUÇÃO A região sudeste do Pará se destaca pela produção de leite, visto que 72% dos estabelecimentos produtores de leite e 79,8% do volume total de leite, de origem bovina, é proveniente desta região (AMORIM, 2008). A pecuária leiteira transformouse em uma importante atividade econômica, pois representa um dos segmentos produtivos mais expressivos para a agricultura familiar, visto que essa atividade tem aumentado em conformidade com o fortalecimento e expansão deste tipo de agricultura na região (MARTINS, 2001). Assim, é de extrema importância a caracterização técnica de um sistema de produção identificando as estruturas e os componentes próprios, iniciando um processo que possa melhorar e promover a bovinocultura (MOURA et al., 2013). Como a pecuária leiteira nacional é bastante heterogênea, não existindo um padrão de produção definido, sobretudo em novas fronteiras agropecuárias, o presente estudo teve por objetivo identificar o perfil dos produtores de leite e caracterizar o grau de tecnificação dos sistemas de produção localizados nos municípios de Rondon do Pará e Abel Figueiredo. Consequentemente ações em prol desta cadeia produtiva poderão ser coordenadas por órgãos regionais, públicos e/ou privados, de fomento ao setor. 160 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 MATERIAL E MÉTODOS O trabalho foi realizado na bacia leiteira de Rondon do Pará, abrangendo os municípios de Rondon do Pará e Abel Figueiredo, Região Sudeste do Estado do Pará. Inicialmente se buscaram informações em três laticínios da região, onde foi possível obter dados referentes às propriedades produtoras de leite. A partir de então, os produtores foram classificados de acordo com a produção diária de leite em: pequenos produtores (até 53 litros/dia), médios produtores (54 a 133 litros/dia) e grandes produtores (acima de 133 litros/dia), seguindo a classificação de Barros et al. (2001). Em seguida por sorteio retirou-se uma amostragem estratificada de 15% de cada categoria. Dessa forma, 38 produtores foram selecionados, sendo 10 pequenos, 18 médios e 10 grandes, para posteriormente serem visitados, entre os meses de agosto e setembro de 2009 e janeiro de 2010. Os dados foram colhidos mediante um questionário adaptado com perguntas objetivas. Para a análise estatística dos dados foi realizada um análise de frequência. Para as comparações das médias foi utilizado o teste de Student Newman Keuls (SNK), ao nível de significância de 5% (p<0,05). Para a execução das análises de variância e comparação das médias das variáveis (classe de produtores, escolaridade, assistência técnica, instalações e melhoramento do rebanho), relacionadas à produtividade foi utilizado o programa NTIA versão 4.2.1 de outubro/95, desenvolvido pela Embrapa, Campinas-SP. A produtividade foi avaliada dividindo-se o número de vacas em lactação pela produção de leite diária da propriedade. RESULTADOS E DISCUSSÃO Verificou-se neste estudo que as pequenas e grandes propriedades produtoras de leite eram gerenciadas por homens, sendo constatada a presença de mulheres em apenas 22% (4/18) nos estabelecimentos de tamanho médio. Pôde-se observar que os filhos tinham participação na atividade leiteira, sendo mais intensa nos pequenos produtores que apresentavam em média três filhos, com dois envolvidos na atividade leiteira. Já a média do número de filhos nos médios e grandes produtores de leite era de dois filhos, com apenas um envolvido na atividade leiteira. Os resultados deste estudo revelam o homem à frente da pecuária leiteira. Estes dados estão de acordo com França (2006) que encontrou nos municípios de Esmeraldas e Sete Lagoas, Minas Gerais, as propriedades na maioria das vezes administradas por homens, com apenas 5% delas estando sob a responsabilidade do sexo feminino. Magalhães (2009) cita que com o aumento da importância econômica da produção de leite para as famílias, os homens passaram a exercem o domínio sobre a atividade. Mas os dados diferem quanto ao número de filhos envolvidos, pois, 70% dos produtores não tinham os descendentes envolvidos na atividade leiteira. Em relação ao nível de escolaridade, este era baixo nos pequenos produtores sendo 30% analfabetos e 50% com nível fundamental. Nos médios produtores 55% Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 161 eram analfabetos e 5% apresentavam nível superior. Enquanto que na classe dos grandes produtores, 70% apresentavam nível médio e 30% nível superior. Foi constatado que o produtor com maior nível escolar buscava maiores conhecimentos e capacitação sobre inovações tecnológicas e por possuírem maior renda acabavam investindo mais na propriedade, o que lhes garantia maior produtividade. Para Zoccal et al. (2011) não só na atividade leiteira, mas em diferentes áreas do agronegócio, a incorporação de tecnologias e de inovações é importante para tornar os sistemas de produção cada vez mais eficientes, sustentáveis e competitivos. Tais inovações exigem, cada vez mais, uma formação educacional consistente por parte do produtor. Foi verificada a relação entre escolaridade e produtividade do rebanho, sendo que houve diferença significativa entre os níveis. As vacas dos produtores com maior escolaridade apresentaram praticamente o dobro de produtividade (p<0,05), conforme visualiza-se na Tabela 1. TABELA 1 – Relação entre escolaridade e produtividade. Escolaridade Produtividade (l/vaca/dia) Analfabetos 2,76 a Fundamental 3,70 ab Médio 4,35 b Superior 4,80 b Médias seguidas pela mesma letra não são significativamente diferentes, pelo teste SNK ao nível de significância de 5% (p≤0,05). Em todas as classes de produtores, 90% dos pequenos produtores e 50% dos médios e grandes produtores encontravam-se envolvida com a atividade leiteira por no máximo 10 anos. 80% dos pequenos, 61% dos médios e 30% dos grandes produtores de leite informaram que já possuíam experiências na atividade leiteira adquirida em outros Estados como Bahia, Sergipe, Maranhão e Minas Gerais antes de migrarem para o Pará. Dos produtores que manifestaram interesse em ampliar sua produção, 100% destes pertenciam aos pequenos, 72% aos médios e 80% aos grandes produtores de leite. O interesse de expansão da produção leiteira por grande parte dos produtores significava o desejo de tornar a atividade mais lucrativa. Os que não tinham interesse em expandir sua produção, relataram frustrações decorrentes do baixo preço do leite no mercado ou não viam a continuação da atividade pelos seus descendentes. Nas propriedades com pequena produção leiteira, 80%, a mão de obra familiar tinha participação ativa no processo de produção e 20% utilizavam mão de obra contratada. Estes últimos eram grandes pecuaristas de gado de corte que tinham a atividade leiteira como fonte secundária de renda. Já nos médios e grandes produtores havia predominância da mão de obra contratada. 162 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 A agricultura familiar constituía a base familiar dos pequenos produtores. Estes dados corroboram com os encontrados por Tourrand et al. (1998) e Alves et al. (2006) que encontraram a predominância da agricultura familiar nas pequenas propriedades do Sudeste paraense. Paes (2003), também encontrou condição semelhante em Rondônia, onde a mão de obra utilizada na produção de leite era tipicamente familiar, com 85% do trabalho sendo de mão de obra familiar e 15% contratada. A agricultura familiar é uma forma de produção em que o núcleo de decisões, planejamento, gerência, trabalho e capital é controlado pela família. Em geral, são produtores com baixo nível de escolaridade e renda que diversificam suas atividades para aproveitar as potencialidades da propriedade, melhor ocupar a mão de obra disponível e aumentar a renda (ROSANOVA et al., 2010). Dos pequenos produtores analisados 60% exploravam a pecuária leiteira como atividade exclusiva para a geração de renda familiar. Outros tinham atividades concomitantes, como agricultura e bovinocultura de corte. Nos médios produtores 89% exploravam apenas o leite na propriedade, outros investiam em gado de corte e suínos. Já os grandes produtores em 80% dos casos exploravam a pecuária leiteira juntamente com a pecuária de corte. Os currais onde os animais eram manejados nas propriedades possuíam piso de chão batido, que nos períodos de chuva acumulava lama e quando possuíam áreas cobertas, essas eram insuficientes para o abrigo dos animais. Nos estabelecimentos de grande produção leiteira as estruturas eram consideradas boas, com áreas cobertas suficientes para abrigar os animais e o piso em 70% eram calçados ou concretados, o que permitia uma boa higienização. Ao relacionar as condições das instalações com a produtividade do rebanho, verificou-se que aquelas que possuíam melhor infraestrutura possuíam maior produtividade (p<0,05), conforme Tabela 2. TABELA 2 – Estado de conservação das instalações e produtividade. Instalações Produtividade (l/vaca/dia) Bom 4,42 a Ruim 3,94 ab Péssimo 3,19 b Médias seguidas pela mesma letra não são significativamente diferentes, pelo teste SNK ao nível de significância de 5% (p≤0,05). As propriedades dos pequenos produtores apresentavam em média 92 cabeças de gado, sendo que as vacas representavam em média 50% da constituição geral do rebanho, onde 48% eram vacas em lactação. As propriedades dos médios produtores apresentavam-se com média em torno de 150 cabeças de gado, sendo 65% vacas leiteiras e 44% correspondentes às vacas em lactação. As propriedades dos grandes Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 163 produtores apresentavam-se com média em torno de 384 cabeças de gado, sendo que as vacas representavam 53% da constituição geral do rebanho, onde 45% eram vacas em lactação. Estes resultados mostram a ineficiência em produção e produtividade de leite nos sistemas de produção da região analisada, visto que o ideal é que cerca de 80 a 85% das vacas estejam lactando. Foi verificada a produção e produtividade média do rebanho leiteiro, por classe de produtores. A produção de leite mínima observada entre os pequenos produtores foi de 15 litros/dia e a máxima de 53 litros/dia, sendo a média de 40 litros/dia e produtividade de 3,35 litros/vaca/dia. A produção mínima de leite dos médios produtores foi 60 litros/dia e a máxima de 120 litros/dia, sendo a média de 95 litros/ dia e produtividade de 3,39 litros/vaca/dia. A produção mínima de leite dos grandes produtores foi de 150 litros/dia e a máxima de 750 litros/dia, sendo a média de 313 litros/dia e produtividade de 4,91 litros/vaca/dia. Estes resultados são similares aos encontrados por Tourrand et al. (1998) em Uruará/Pa onde a produtividade média por vaca, encontrava-se em torno de 4 a 5 litros/dia, muito aquém do ideal. Os rebanhos eram compostos por animais mestiços de Gir, Girolanda, Nelore e Guzerá. Dos entrevistados, 100% dos pequenos e 72% dos médios produtores não realizavam práticas de melhoramento genético do rebanho, ao contrário dos grandes produtores, onde 90% investiam na compra de boas matrizes e reprodutores ou empregavam a inseminação artificial. Uma característica regional é o uso de animais para leite sem o padrão racial desejado, visto que as raças Nelore e Guzerá são de corte. A justificativa dos produtores é que caso a cria seja macho, o animal poderia ser manejado no rebanho de corte da propriedade, o que demonstra uma baixa especialização dos rebanhos regionais. Nos sistemas que já possuíam algum grau de seleção genética foi verificado uma correlação positiva entre produtividade e o uso de ferramentas de melhoramento do rebanho, p<0,05, vide Tabela 3. Estes resultados estão de acordo com Galinari (2004) que encontrou em Minas Gerais, as maiores produtividades naqueles produtores que apresentavam maior nível tecnológico e adotavam maior número de práticas que viabilizavam a atividade leiteira de forma eficiente e que lhes conferiam uma média de produção de leite mais expressiva. TABELA 3 – Melhoramento do rebanho e produtividade Melhoramento do rebanho Produtividade (l/vaca/dia) Sim 4,49 a Não 3,37 b Médias seguidas pela mesma letra não são significativamente diferentes, pelo teste SNK ao nível de significância de 5% (p≤0,05). O tipo de reprodução empregada nas pequenas e médias propriedades de leite era a monta natural. Enquanto 50% das grandes propriedades utilizavam a inseminação 164 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 artificial. O que também foi observado por Azevedo et al. (2008), na mesorregião do Norte de Minas Gerais, em 68% das propriedades estudadas. Em relação à ordenha, esta era realizada uma vez ao dia. Foi observado que 100% dos pequenos e 89% dos médios produtores realizavam a ordenha em curral de chão batido sem cobertura. Outro ponto importante é que apenas 20% dos grandes produtores realizavam linha de ordenha e testes para a detecção da mastite. Provavelmente, os que não faziam uso de medidas higiênico-sanitárias por ocasião da ordenha tinham pouca ou nenhuma orientação sobre medidas básicas de controle de qualidade do leite, da mastite e dos seus prejuízos. O desmame do bezerro era realizado em média em torno do oitavo mês de idade, por todas as classes de produtores. Para o controle de ectoparasitas, destacou-se o emprego da cipermetrina em todas as propriedades. Os tratamentos eram realizados sem critério por grande parte dos produtores, ou seja, sempre que apareciam infestações por ectoparasitas no rebanho. Para o controle de endoparasitas, as bases terapêuticas mais citadas em ordem decrescente foram as ivermectinas, cipermetrina e abamectina. Os intervalos de aplicação nos animais eram realizados de seis em seis meses, juntamente com a vacinação contra febre aftosa, o que facilitava o manejo dos animais. Em geral a alternância de produtos para endoparasitas e ectoparasitas era feita sem critério ou orientação técnica. Práticas como fornecimento de sal mineral adicionado de benzocriol (cresol + fenol), de creolina (cresol), ou simplesmente de vitaminas também foram citadas como medidas para manutenção da saúde dos animais ou para controle de endoparasitas e ectoparasitas. Para a prevenção de enfermidades, todos os proprietários realizavam vacinação contra febre aftosa e 70% dos pequenos produtores, 94% dos médios e 100% dos grandes para brucelose. A terceira vacina mais empregada era contra clostridioses, sendo realizada por 60% dos pequenos, 94% dos médios e 100% dos grandes produtores. A vacina contra raiva era feita por 10% dos pequenos, 22% dos médios e 20% dos grandes produtores. As pastagens em 85,3% das propriedades eram de capim braquiarão (B. brizantha), sendo que em 14,7% havia também o capim mombaça (Panicum maximum). As pastagens constituíam, em 92% das propriedades, a única fonte de alimentação dos animais. Alguns produtores utilizavam subprodutos como a torta de babaçu, cevada, milho, raspa de mandioca, soja, capineiras de Pennisetum purpureum var.cameron ou cana de açúcar para suplementação no período da seca. Estes dados estão de acordo com os achados de Veiga et al. (2001), que verificou nas condições amazônicas a pastagem como base da produção leiteira e, muitas vezes, o único insumo do sistema. Embora alguns produtores utilizassem subprodutos na alimentação, verificou-se in loco que tanto as áreas de capineiras com de cana de açúcar como a quantidade dos subprodutos utilizados eram insuficientes para atender às exigências nutricionais dos rebanhos leiteiros. A suplementação mineral era uma mistura composta por sal mineral pronto para consumo, misturado nas proporções de 1:1 ou 1:2 com cloreto de sódio. Segundo Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 165 Tokarnia et al. (2000), em estudos realizados na região Amazônica, onde as carências de fósforo, cobre e cobalto são muito marcadas, recomenda-se a suplementação o ano inteiro com suplementos contendo fosfato bicálcico, cloreto de sódio, sulfato de cobre, óxido de zinco ou sulfato de zinco, sulfato de cobalto e selenito de sódio. Os cochos utilizados para o fornecimento das misturas minerais, nas pequenas e médias propriedades, eram inadequados, pois não possuíam cobertura, nem proteções laterais necessárias para proteger a mistura mineral da chuva. Foi observado também nestes sistemas que a área de cochos era insuficientes para o número de animais existentes. Por outro lado nas propriedades com grande produção de leite, 80% dos cochos eram cobertos com proteções laterais adequados para o fornecimento das misturas mineral. Segundo Peixoto et al. (2005), os cochos são elementos fundamentais na suplementação, devendo ser cobertos e protegidos da chuva, pois a água solubiliza parte dos componentes da mistura. Também, devem ser em número suficiente e ter uma área medindo cerca de 4 cm de espaço linear por animal com mistura mineral, entretanto se for usado mistura múltipla (mineral com ureia, farelos e/ou grãos), esta medida deve ser cerca de 20 cm linear por animal. Verificou-se também que as vias de acesso era uma das principais limitações da cadeia produtiva, o que implicava em isolamento e dificuldade de comercialização do produto. Em algumas propriedades os latões de leite ficavam horas expostos ao sol, pois alguns produtores tinham como única alternativa esperar que os caminhões oriundos dos laticínios viessem buscar o leite. O transporte do leite era feito por motociclistas, caminhões, e outros meios alternativos, como a utilização de animais de carga. Foi observado que os latões de leite ficavam descobertos durante o transporte e chegavam muitas vezes no período da tarde nos laticínios. CONCLUSÕES A bacia leiteira de Rondon do Pará e Abel Figueiredo apresenta grande importância econômica para a Região Sudeste do Estado do Pará, sendo uma região promissora para desenvolvimento desta atividade, sobretudo pelo crescimento vertical (maior produção por área e por animal) dos sistemas de produção. No entanto existem entraves ao desenvolvimento deste setor, sendo estes relacionados, sobretudo, ao manejo sanitário, reprodutivo e nutricional do rebanho, ao baixo nível de capacitação dos recursos humanos envolvidos na atividade, tendo como consequência a baixa produção do rebanho e uma rentabilidade aquém do ideal, quando comparada com outras opções de emprego de capital. Outro ponto crítico são as vias de acesso às propriedades rurais, que contribuem para a diminuição da qualidade do produto final e limitação da expansão da cadeia produtiva. 166 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 Trabalhos deste porte são importantes para identificar informações úteis à cadeia produtiva da bovinocultura leiteira, auxiliando órgãos públicos e privados na elaboração de políticas e ações de fomento que busquem otimizar a geração de renda das empresas rurais. REFERÊNCIAS ALVES, L. N.; RODRIGUES, M. S.; SCHERER, R. S. O arranjo produtivo do leite do Sudeste do Pará. Marabá: UFPA/LASAT/CNPq, 2006. 40p. AMORIM, S. A. Análise situacional da indústria de laticínios de pequeno e médio porte da microrregião de São Félix do Xingu-Pa. 176 f. 2008. Dissertação (Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2008. AZEVEDO R. A.; FELIX, T. M.; JÚNIOR, O. S. P.; ALMEIDA, A. C.; DUARTE, E. R. Perfil de propriedades leiteiras ou com produção mista no norte de Minas Gerais. Revista Caatinga, v.24, n.1, p.153-159, 2011. BARROS, G. S. A.; BACCHI, M. R. P.; GALAN, V. B.; GUIMARÃES, V. D. A. Sistema agroindustrial do leite no Brasil. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2001. 172p. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA). Instrução normativa nº 51, de 18 de setembro de 2002. Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo B, do Leite tipo C, do Leite Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 set. 2002. FRANÇA, S. R. A. Perfil dos produtores, características das propriedades, e qualidade do leite bovino nos municípios de Esmeraldas e Sete Lagoas – MG. 112 f. 2006. Dissertação (Doutorado em Ciência Animal) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. GALINARI, R.; CAMPOS B. C; LEMOS M. B.; BIAZI, E.; SANTOS, F. Tecnologia, especialização regional e produtividade: um estudo da pecuária leiteira em Minas Gerais. Revista Brasileira de Economia e Sociologia Rural, v.41, n.3, p.117-138, 2003. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2010. Pesquisa Pecuária Municipal. Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/censo> Acesso: 23 mar. 2011. MAGALHÃES, R. S. A “Masculinização” da produção de leite. Revista de Economia e Sociologia Rural. 2009, v.47, n.1, p.275-299. MARTINS, C. E.; ALENCAR, C . A. B.; BRESSAN, M. Sustentabilidade da produção de leite no leste mineiro. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2001. 266p. MOURA, J. F. P.; PIMENTA FILHO, E. C.; NETO, S. G.; CANDIDO, E. P. Avaliação tecnológica dos sistemas de produção de leite bovino no Cariri da Paraíba. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal. 2013, v.14, n.1, p.121-131. PAES, M. et al. Agronegócio do leite: características da cadeia produtiva do Estado de Rondônia. 2003. 20p. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 167 PEIXOTO, P. V.; TOKARNIA, C. H.; MALAFAIA, P.; BARBOSA, J. D. Princípios de suplementação mineral em ruminantes. Pesquisa Veterinária Brasileira. v.25, n.3, p.195-200, 2005. ROSANOVA, C.; RIBEIRO, D. C. Caracterização socioeconômica dos produtores de leite da agricultura familiar e análise da informalidade no município de Palmas/TO. 2010. Disponível em: <http://connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/ viewFile/1747/46> Acesso: 18 dez. 2013. TOKARNIA, C. H.; DÖBEREINER, J.; PEIXOTO, P. V. Deficiências minerais em animais de fazenda, principalmente bovinos. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.20, n.3, p.127-13, 2000. TOURRAND, J. F.; VEIGA, J. B.; QUANZ, D.; SIMÃO NETO, M. Produção leiteira em área de fronteira agrícola da Amazônia: o caso do município de Uruará, PA na Transamazônica. In: HOMMA, A. K. O. Amazônia: meio ambiente e desenvolvimento agrícola. Brasília: Embrapa-SPI/Belém: Embrapa-CPATU, 1998. p.345-386. VEIGA, J. B.; POCCARD-CHAPUIS, R.; PIKETTY, M. G.; TOURRAND, J. F. Produção leiteira e o desenvolvimento regional na Amazônia Oriental. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2001. 24p. ZOCCAL, R.; ALVES, E. R.; GASQUES, J. G. Diagnóstico da Pecuária de Leite nacional. Estudo Preliminar Contribuição para o Plano Pecuário 2012. Disponível em:<www.cnpgl. embrapa.br/nova/Plano_Pecuario_2012.>Acesso: 27 fev. 2013. 168 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 Influência do arranjo de plantas sobre a composição bromatológica da silagem de milho Danilo Abade Costa Felipe Nogueira Domingues Marilice Zundt Astolphi Diego Azevedo Mota Ricardo Pedroso Oaigen Juliano Calonego Augusto Sousa Miranda RESUMO Objetivamos com este estudo avaliar a composição bromatológica da silagem de milho semeado em diferentes densidades de plantas com diferentes espaçamentos entre linhas. Os tratamentos foram constituídos por três populações de plantas de milho, 45, 60 e 75 mil plantas/ha, combinadas em dois espaçamentos entre linhas, 0,45m e 0,90m, em delineamento experimental em blocos ao acaso com quatro repetições em esquema fatorial 3 x 2 (3 populações x 2 espaçamentos). Os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), extrato etéreo (EE), extrativo não nitrogenado (ENN), matéria mineral (MM) e nutrientes digeríveis totais (NDT), não apresentaram diferença (P>0,05) tanto para as densidades (45.000, 60.000 e 75.000 plantas/ha) quanto para o espaçamento entre linhas (0,45m e 0,90m). O fator espaçamento interagiu com fator densidade de plantas na concentração de fibra em detergente ácido (FDA) presente nas silagens, sendo que nas densidades de espaçamento reduzido (0,45m), o FDA foi maior (P<0,05). As pequenas alterações causadas na arquitetura das plantas não são suficientes para causar mudanças na composição bromatológica da silagem, com exceção no teor de fibra em detergente ácido que aumenta com arquiteturas mais adensadas. Palavras-chave: Espaçamento entre linhas. População de plantas. Composição química. Forragem conservada. Influence of plants arrangement on the bromatological composition of corn silage ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the silage bromatological composition of corn planted at different plant densities and different row spacings. The treatments consisted of three populations of corn: 45, 60 and 75 thousand plants ha- 1; combined in two row spacings 0.45m Danilo Abade Costa é zootecnista. Felipe Nogueira Domingues é Professor Adjunto da Universidade Federal do Pará, Campus de Castanhal. Marilice Zundt Astolphi e Juliano Calonego são Professores da Universidade do Oeste Paulista. Diego Azevedo Mota é Professor Adjunto da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus de Erechim. Ricardo Pedroso Oaigen é Professor Adjunto da Universidade Federal do Pampa, Campus de Uruguaiana. Augusto Sousa Miranda é mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Pará. Endereço: Avenida Universitária S/N, Bairro Jaderlândia, CEP: 68745-000, Castanhal/PA. E-mail: [email protected] Veterinária em Foco Veterinária v.10 v.10, n.2, n.2 jan./jun. p.169-177 Canoas em Foco, 2013 jan./jun. 2013 169 and 0.90m. The experimental design was randomized blocks with four replications in factorial scheme 3 x 2 (3 populations x 2 spacings). The was no statistical difference (P > 0.05) for all densities (45,000, 60,000 and 75,000 plants/ha) and spacings (0.45m and 0.90m) regarding these parameters dry matter (DM), crude protein (CP), crude fiber (CF), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), Fat, nitrogen free extract (NFE), Ash, total digestible nutrients (TDN). The spacing interacted with the plant density and affected the concentration of the acid detergent fiber (ADF) in the silage: the FDA was higher (P < 0.05) in the reduced spacing (0.45 m) densities. Minor changes in the plants’ architecture are not sufficient to cause changes in the silage bromatological composition, with the exception of the acid detergent fiber content that increases in more densely architectures. Keywords: Row spacing. Plant population. Chemical composition. Conserved forage. INTRODUÇÃO O milho é a mais importante planta comercial com origem nas Américas, sendo uma das culturas mais antigas do mundo. Logo depois de seu descobrimento, foi levado para a Europa, onde era cultivado em jardins, até que seu valor alimentício tornou-se conhecido. Sua importância econômica é caracterizada pelas diversas formas de sua utilização que vai desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. Isso se deve ao seu alto valor energético, sua boa composição em fibras, além do seu alto potencial de matéria seca (MS) aliado à produção de grãos que enriquece a silagem produzida. Contudo, a qualidade da forragem pode variar bastante em função do nível de tecnologia e do sistema de manejo utilizado no processo produtivo. Esta qualidade irá influenciar diretamente os ganhos de produção animal, daí a necessidade de se conhecer a composição da forragem utilizada (LESKEM; WERMKE, 1981; PAIVA, 1991). A utilização de silagem para a alimentação de animais ruminantes é prática rotineira nos estados de pecuária desenvolvida. A silagem é, sem dúvidas, um alimento bom, barato e de boa qualidade nutritiva para suplementar o rebanho, não só em períodos de escassez, mas também na forma de complementação alimentar o ano todo e vem sendo intensificamente estudada (SOUZA et al. 2000; NEUMANN, M. et al. 2007; VELHO et al. 2007). Por suas características, permite a armazenagem de grandes volumes de alimentos, permitindo aumentar a densidade de ocupação do campo, aumentar a produção de carne e leite, diminuindo a utilização de outras rações mais caras e reduzindo, portanto, os custos de produção (GOMEZ, 1988). A população ideal de plantas deve ser uma preocupação constante quando se visa à produção de silagem de alta qualidade (NUSSIO, 1991). Vários trabalhos de pesquisa têm mostrado que em cultivos com maiores populações de plantas as silagens obtidas são de baixa qualidade (MUDSTOCK, 1978; PIZARRO, 1978; FARIA 1986; POZAR; ZAGO, 1991; PAIVA et al., 1993), pois em cultivos com maiores populações resultam em plantas mais altas e finas, com isso ocorre uma maior deposição de FDA, que está ligada com a digestibilidade da forragem, onde quanto maior o teor de FDA, menor a sua digestibilidade. 170 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 A interceptação da radiação fotossinteticamente ativa sobre as plantas exerce grande influência sobre o rendimento de grãos do milho quando outros fatores ambientais são favoráveis (OTTMAN; WELCH, 1989). Portanto, a escolha do arranjo de plantas adequado é uma das práticas de manejo mais importantes para otimizar o rendimento de grãos de milho, pois afeta diretamente a intercepção de radiação solar, que é um dos principais fatores determinantes da produtividade (OTTMAN; WELCH, 1989; SINCLAIR, 1993; EVANS, 1993). Para produção de silagem, tanto de planta inteira como de grão úmidos, o arranjo de plantas é mesmo utilizado para a produção de grãos (PEREIRA FILHO et al., 2000). Usando altas populações de plantas, observaram que houve melhoria na qualidade A devido ao aumento de carboidratos B da fibra bruta solúveis no colmo (LESKEM; WERMKE, 1981). Todavia, as altas densidades de plantas têm alta correlação com a redução do peso de espigas, o que poderia prejudicar a qualidade de silagem (BARBOSA, 1995). Segundo Oliveira et al. (2010), a FDA está relacionada com a digestibilidade da forragem, pois é ela que contêm a maior proporção de lignina, indicando assim, a quantidade de fibra que não é digestível. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição bromatológica da silagem de milho semeado em diferentes densidades de plantas com diferentes espaçamentos entre linhas. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido na Granja São Bento, em Indiana (SP), em um solo classificado como Argissolo Vermelho de textura média (EMBRAPA, 2006). A localização geográfica dessa área está definida pelas coordenadas geográficas: 22º10’ latitude sul e 51º15’ longitude oeste de Greenwich, com altitude média de 479 metros e declividade variável de 0 a 3%. O clima da região é do tipo CWb, pela classificação de Köppen, caracterizado como clima quente com inverno seco e verão chuvoso. No dia 15 de dezembro de 2008 foram coletas 10 amostras de solo na camada de 0 a 20cm de profundidade, que foram misturadas para obtenção de uma amostra composta e encaminhada para análise química (RAIJ et al., 2001) para caracterização da área, cujo resultados foram: pH (CaCl2 0,01 mol L-1) 4,9; 18 g dm-3 de MO; 10mg dm-3 de Presina; 27 mmolc dm-3 de H+Al; 1,2 mmolc dm-3 de K; 14 mmolc dm-3 de Ca; 7 mmolc dm-3 de Mg; 22 mmolc dm-3 de SB; 49 mmolc dm-3 de CTC; saturação por bases de 45%. Os tratamentos foram constituídos por três populações de plantas de milho, 45, 60 e 75 mil plantas ha-1, combinadas em dois espaçamentos entre linhas, 0,45m e 0,90m, em delineamento experimental em blocos ao acaso com quatro repetições em esquema fatorial 3 x 2 (3 populações x 2 espaçamentos). A área foi dividida em quatro blocos com 29m de comprimento por 3,6m de largura, sendo cada parcela com 4m de comprimento por 3,6m de largura, espaçadas em Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 171 1m de distância. Considerou-se como área útil de cada parcela as duas linhas centrais de milho, desconsiderando 0,5m do início e do final de cada parcela. Utilizou-se o milho híbrido duplo AG 1051, caracterizado pela arquitetura foliar aberta, ciclo semiprecoce (soma térmica de 875o C dia), grãos dentados amarelo, altura de planta e altura de inserção de espiga com 2,20m e 1,12m, com recomendação para produção de grãos, silagem e milho verde (PALHARES, 2003). O milho foi semeado manualmente no dia 7 de janeiro de 2009, após preparo do solo com aração e gradagem, além da incorporação de calcário (2 t ha-1) para correção da acidez do solo. As doses de adubos e corretivos foram realizadas de acordo com analise química do solo, seguindo recomendações de Raij et al. (1996). Na adubação de plantio foram aplicados 300 kg/ha do formulado (NPK) 4-14-8 na linha de semeadura. No dia 10 de fevereiro de 2009, com as plantas apresentando 6 folhas totalmente desdobradas, aplicou-se 60 kg/ha de N, via ureia, em linha e incorporado ao solo. Com 110 dias após o plantio, as plantas inteiras foram cortadas aleatoriamente 10 plantas por parcela de cada bloco, a uma altura de corte de 5 a 7cm do solo, totalizando 40 plantas. As plantas foram levadas até uma picadeira estacionária, onde foram picadas separadamente por tratamentos obtendo partículas de ± 1cm. Após a picagem o material foi homogeneizado e ensilado em silos experimentais feitos com canos de PVC que possuía válvulas de Bunsen para a saída de gases. Para cada tratamento foram utilizados 4 silos, totalizando 4 repetições por tratamentos. Com 70 dias após a ensilagem, os silos foram abertos individualmente, descartando toda parte deteriorada e a silagem foi homogeneizada em uma bacia plástica e encaminhada ao laboratório de Nutrição Animal da UNOESTE para a determinação dos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente acido (FDA), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), extrativo não nitrogenado (ENN) de acordo com Silva e Queiroz (2002) e nutrientes digeríveis totais (NDT) de acordo com Capelle et al. (2001). O delineamento experimental foi de bloco casualizado com 4 repetições em esquema fatorial 3 x 2 (3 populações x 2 espaçamentos), sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, seguindo o modelo estatístico: Yij = μ+ PPi + ESj + PPES + BL + eijk Sendo que: μ = constante geral; PPi = populações de plantas; ESj = espaçamento entre linha; PPES = interação entre população de plantas e espaçamento entre linhas; BL = blocos; eijk = erro associado. 172 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 RESULTADOS E DISCUSSÃO A composição bromatológica das silagens confeccionadas com as diferentes densidades (45.000, 60.000 e 75.000 plantas/ha) e espaçamentos entre linhas (0,45m e 0,90m) está apresentada na Tabela 01. Para a matéria seca (MS), as médias observadas foram: 34,85%; 34,32%; e 36,57% (para as diferentes densidades), e 35,09% e 35,41% (para os espaçamentos entre linhas), sendo que os valores encontrados estão dentro dos valores considerados adequados a um bom padrão fermentativo, que varia entre 30 a 35% de MS (FERREIRA, 2001). Vale ressaltar, que teores de MS acima de 35% dificultam a compactação do material ensilado e expulsão do ar; e teores abaixo de 28% proporcionam acréscimo na lixiviação, consequentemente perda de nutrientes e redução do material ensilado (PERREIRA et al., 2007). A matéria mineral (MM) não diferiu (P>0,05) entre as diferentes densidades e espaçamentos entre linhas estudados. O teor de MM de silagens de milho somente sofre variações quando são aplicadas diferentes doses de adubação, pois esta prática provoca uma maior absorção de nutrientes disponíveis no solo. Contudo, o valor médio obtido, de 5,11 (%MS), encontra-se dentro dos limites (4,6 a 5,6%) indicados por Ensminger et al. (1990) para silagens de milho. TABELA 1 – Composição bromatológica das silagens de milho. População de plantas/ha Var. Espaçamento entre linhas (m) Efeito CV (%) 45000 60000 75000 0,45 0,90 POP ESP POP x ESP MS 34,85 34,32 36,57 35,09 35,41 NS NS NS 5,95 PB 9,30 7,75 7,78 7,89 8,65 NS NS NS 14,71 MM 4,83 5,16 5,35 5,23 5,00 NS NS NS 18,89 EE 2,99 3,10 2,92 2,85 3,15 NS NS NS 14,69 ENN 58,10 59,66 59,54 59,22 58,98 NS NS NS 4,39 FB 24,78 24,31 24,39 24,80 24,20 NS NS NS 6,63 FDA 30,07 30,98 33,00 32,10 30,60 * * * 4,28 FDN 60,01 59,73 55,94 58,01 59,11 NS NS NS 8,33 NDT 64,64 64,79 64,20 63,90 65,19 NS NS NS 2,75 NS= não significativo; * P<0,05; POP = população de plantas por/ha; ESP = espaçamento entre linhas; POP x ESP = interação entre população de plantas e espaçamento entre linhas. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 173 A silagem obtida da densidade de 45000 plantas/ha e com o espaçamento entre linhas de 0,90m apresentaram os maiores teores de PB, sendo 9,30 e 8,65%, respectivamente. No entanto, estes valores não diferiram estatisticamente dos teores obtidos nas silagens oriundas das demais densidades e espaçamentos avaliadas. O valor médio obtido para a concentração de proteína bruta (PB) foi de 8,27 (%MS). Sendo que esta media está acima do valor de PB estabelecido por Ferreira (2001) de silagem de boa qualidade apresenta teor de PB em torno de 7-8%. Diversos podem ser os motivos destes valores acima da concentração considerada ideal na literatura, que vão desde o uso de diferentes híbridos de milho até erro de amostragens visando às posteriores analises laboratorial. Neste sentido, pode-se observar os resultados obtidos por Possenti et al. (2005), que avaliou parâmetros bromatológicos de silagem de milho semeado com 5 sementes/m a um espaçamento de 0,80m, obtendo silagem com um teor de proteína bruta em torno de 9,4%. Para fibra bruta (FB), a média geral observada foi de 24,49% (%MS), a qual se encontra bem próxima da média (24.50%) indicada por Ensminger et al. (1990) para silagens de milho. Desta mesma forma, o teor médio de extrativos não nitrogenados (ENN), que foi de 59,10% ficou bem próximo da média (60,30%) indicada pelos mesmos autores. Não houve diferença nos teores de fibra em detergente neutro entre os parâmetros estudados. A média de 58,56% obtida neste ensaio está acima dos valores, que são de 51,00% e 52,00%, preconizados para silagens de milho pelo NRC, (1984) e NRC, (1996), respectivamente. Este alto valor de FDN encontrado e preocupante e deve-se, provavelmente, à menor quantidade de grãos nas silagens e/ou às condições climáticas desfavoráveis ao crescimento do milho (ALFAYA et al., 2009). Os teores de extrato etéreo (EE) obtidos neste ensaio não apresentaram diferença (P>0,05) tanto para densidade quanto para espaçamento entre linhas. A concentração média obtida foi de 3,00%, resultado próximo do encontrado por Campos et al. (2000), de 2,2% da MS em silagens de milho com 29,3% de MS. No entanto, a determinação do teor de EE teve como objetivo utilizá-lo no cálculo dos nutrientes digestíveis totais. Os valores de NDT estimados pela fórmula proposta por Cappelle et al. (2001) não apresentaram diferença entre os diferentes parâmetros. A média geral obtida foi de 64,54%, os quais foram semelhantes aos tabelados por Tedeschi et al. (2002) para silagens de milho produzidas no Brasil (65,4%), estimadas pela equação de Weiss et al. (1992), e superiores também aos de NDT observado (60,2%) e estimado (62,5%) por Costa et al. (2005) pelas equações do NRC (2001). Cappelle et al. (2001), revisando os teores de NDT de silagem de milho na literatura brasileira, verificaram valores mínimos de 55,47% e máximo de 63,87%. De acordo com a Tabela 2, foi possível observar que o fator espaçamento interagiu com fator densidade de plantas na concentração de fibra em detergente neutro (FDN) presente nas silagens, sendo que nas densidades de espaçamento reduzido (0,45m), o FDA foi maior (P<0,05). Provavelmente este aumento no teor de FDA. Em maiores 174 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 populações de plantas e com espaçamento reduzido, houve um aumento no teor de FDA devido à estrutura das plantas, que ficaram mais altas e finas. Valer ressaltar que o teor de FDA está relacionado com a digestibilidade da forragem, pois é ela que contém a maior proporção de lignina, que é a fração da fibra indigestível, indicando assim a quantidade de fibra que não é digestível (OLIVEIRA et al., 2010). TABELA 2 – Desmembramento da interação entre os tratamentos para a variável fibra em detergente ácido (FDA). Espaçamento entre linhas (m) População plantas/ha Média 0,45 0,90 45000 29,52 cA 30,62 aA 30,07 60000 32,07 bA 29,88 aB 30,97 75000 34,72 aA 31,29 aB 33,00 Média 32,10 30,60 Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem (P>0,05) estatisticamente pelo teste de Tukey. CONCLUSÕES As pequenas alterações causadas na arquitetura das plantas não são suficientes para causar mudanças na composição bromatológica da silagem, com exceção no teor de fibra em detergente neutro que aumenta com arquiteturas mais adensadas. AGRADECIMENTOS À Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) pelo auxílio financeiro. REFERÊNCIAS ALFAYA, H.; SANTOS, L. A.; RAUPP, A. A.; LÜDER, W. E.; SILVA, J. B.; RODRIGUES R. C.; REIS, J. C. L. Avaliação de silagens elaboradas com milho produzido sob dois níveis de adubação: II. Qualidade. Pesquisa Agropecuária Gaúcha, v.15, n.2, p. 123-133, 2009. BARBOSA, J. A. Influência do espaçamento e arquitetura foliar no rendimento de grãos e outras características agronômicas do milho (Zea mays L.). 1995. 48f. Dissertação (mestrado em Agronomia) Escola Superior de Agricultura de Luiz de Queiroz, Piracicaba, 1995. CAMPOS, F. P.; BOSE, M. L. V.; BOIN, C.; LANNA, D. P. D.; MORAIS, J. P. G. Comparação do sistema de monitoramento computadorizado de digestão in vitro com os métodos in vivo e in situ. 2. Uso de resíduo da matéria seca de forragens. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.2, p.531-536, 2000. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 175 CAPELLE, E. R.; VALADARES FILHO, S. C.; COELHO da SILVA, J. C.; CECON, P. R. Estimativa do valor energético a partir de caracterização químicas e bromatológicas dos alimentos, Revista Brasileira de Zootecnia. v.30, n.6, p-1837-1856. 2001. COSTA, M. A. L.; VALADARES FILHO, S. C.; VALADARES, R. F. D.; PAULINO, M. F.; CECON, P. R.; PAULINO, P. V. R.; CHIZZOTTI, M. L.; PAIXÃO, M. L. Validação das equações do NRC (2001) para predição do valor energético de alimentos nas condições brasileiras. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.1, p.280-287, 2005. EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2.ed. Rio de Janeiro, 2006. 306p. ENSMINGER, M. E.; OLDFIELD, J. E.; HEINEMANN, W. W. Feeds and nutrition. 2.ed. Clovis: The Ensminger Publishing, 1990. EVANS, L, T. Processes, genes, and yield potential. In: BUXTON, D. R.; SHIBLES, R.; FORSBERG, R. A. et al. (Ed.). International crop science I. Madison: Crop Science Society of America, 1993. 895p. FARIA, V. P. Técnicas de produção de silagens. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PASTAGENS, 1986, Piracicaba. Anais ... p.119-44. FERREIRA, J. J. Características qualitativas e produtivas da planta de milho e sorgo. In: CRUZ, J. C., et al. (Eds.). Produção e utilização de silagem de milho e sorgo. Sete Lagoas: EMBRAPA, 2001. p.383-404. GÓMEZ, J. C. A. Revolução Forrageira. Guaíba: Agropecuária Ltda., 1998. 96p. LESKEM, Y.; WERMKE, M. Effect of plant density and removal of ears, on the quality of forage mayse in a temperature climate. Grass and Forage Science, Oxford, v.36, n.3, p.147-153, 1981. MUDSTOCK, C. M. Efeitos de espaçamentos entre linhas e de populações de plantas em milho (Zea mays L.) de tipo precoce. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.13, n.1, p.13-8, 1978. NEUMANN, M.; MÜHLBACH, P. R. F.; NÖRNBERG; J. L.; OST, P. R.; RESTLE, J.; SANDINI, I. E.; ROMANO, M. A. Características da fermentação da silagem obtida em diferentes tipos de silo sob efeito do tamanho de partícula e da altura de colheita das plantas de milho. Ciência Rural, v.37, n.3, p.847-854, 2007. NRC, NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of beef cattle. Sexth. ed. Washington, D.C.: National Academy Press, 1984. 183p. NRC, NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrients requirements of beef cattle. Seventh Edition. Washington, D.C. National Academy Press. 1996. 244p. NRC, NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrients requirements of dairy cattle. Seventh Revised Edition. Washington, D.C. National Academy Press. 2001. 381p. NUSSIO, L. G. Cultura de milho para produção de silagem de alto valor nutritivo. In: SIMPÓSIO SOBRE NUTRIÇÃO DE BOVINOS, 4, 1991, Piracicaba. Anais..., p.59-168. OLIVEIRA, L. B.; PIRES, A. J. V.; VIANA, A. E. S.; MATSUMOTO, S. N.; CARVALHO, G. G. P.; RIBEIRO, L. S. O. Produtividade, composição química e características agronômicas de diferentes forrageiras. Revista Brasileira de Zootecnia, v.39, n.12, p.2604-2610, 2010. OTTMAN, M. J.; WELCH, L. F. Planting patterns and radiation interception, plant nutrient concentration, and yield in corn. Agronomy Journal. Madison, v.81, n.2, p.167- 174, 1989. 176 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 PAIVA, L. E.; ANDRADE, M. A.; ANDRADE, L. A. B. Influência da adubação nitrogenada, espaçamento e densidades na produção de matéria seca e qualidade da silagem de milho. Ciência prática. v.17, n.4, p.370-6. 1993. PALHARES, M. Distribuição e população de plantas e aumento do rendimento de grãos de milho através do aumento da população de plantas. 2003. Ano de Obtenção: 2003. 90 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) Escola Superior de Agricultura de Luiz de Queiroz, Piracicaba. 2003. PEREIRA FILHO, I. A.; GAMA, E. E. G.; CRUZ, J. C. Minimilho: efeito de densidade de plantio e cultivares na produção e em algumas características da planta de milho. In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 23, 2000, Uberlândia. Anais... Sete lagoas: ABMS; Embrapa milho e sorgo; UFU, 2000. PEREIRA, E. S.; MIZUBUTI, I. Y.; PINHEIRO, S. M.; VILLARROEL, A. B. S.; CLEMENTINO, R. H. Avaliação da qualidade nutricional de silagens de milho (Zea mays, L). Revista Caatinga. v.20, n.3, p.08-12. 2007. PIZARRO, E. A. Conservação de forragem. I. Silagem. Inf. Agropec., v.4, n.48, p.2030. 1978. POSSENTI, R. A.; FERRARI JUNIOR. E.; BUENO, M. S.; BIANCHINI, D.; LEINZ, F. F.; RODRIGUES, C. F. Parâmetros bromatológicos e fermentativos das silagens de milho e girasol. Ciência Rural, Santa Maria, v35, p 1185-1189, set.-out. 2005. POZAR, G.; ZAGO, C. P. Influência da densidade de plantio em milho (Zea mays L.) sobre a produção de grãos e silagem, e alguns de seus componentes de produção e qualidade. Capinópolis: Sementes Agroceres, 1991. 36p. RAIJ, B. van; ANDRADE, J. C.; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J. A. Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. Campinas: Instituto Agronômico, 285 p.2001. RAIJ, B. van; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J. A.; FURLANI, A. M. C. Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. Instituto Agronômico & Fundação IAC, 285p. 1996. SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos métodos químicos e biológicos. 3.ed. Viçosa: UFV, 2002, 235p. SINCLAIR, T. R. Crop yield potential and fairy tales. In: BUXTON, D. R.; SHIBLES, R.; FORSBERG, R. A. et al. (Ed.). International Crop Science I. Madison: Crop Science Society of America, 1993. 895p p.707-711. SOUZA, G. A.; FLEMMING, J. S.; FLEMMING, R.; PASTORE, N. S.; BENINCÁ, L.; GONÇALVES, J. A.; SIMONI, L. G.; GALLI, M. A. Avaliação de cultivares de milho para produção de silagem de alta qualidade. Archives of Veterinary Sciense, v.5, p107-110, 2000. TEDESCHI, L. O.; FOX, D. G.; PELL, A. N.; LANNA, D. P. D.; BOIN, C. Development and evaluation of tropical feed library for The Cornell Net Carbohydrate and Protein System model. Scientia Agricola, v.59, n.1, p.1-18, 2002. VELHO, J. P.; MÜHLBACH. P. R. F.; NÖRNBERG, J. L.; VELHO, I. M. P. H.; GENRO, T. C. M.; KESSLER, V, J. D. Composição bromatológica de silagens de milho produzidas com diferentes densidades de compactação. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.5, p.1532-1538, 2007. WEISS, W. P.; CONRAD, H. R.; ST. PIERRE, N. R. A theoretically-based model for predicting total digestible nutrient values of forages and concentrates. Animal Feed Science and Technology, v.39, n.1-2. p.95-110, 1992. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 177 Avaliação do desempenho biológico de bovinos de corte terminados sobre pastagens de azevém (Lolium multiflorum) e milheto (Pennisetum glaucum) Carlos Santos Gottschall Leonardo Rocha da Silva Fábio Tolotti RESUMO O cultivo de pastagens representa uma alternativa para melhorar a eficiência biológica na terminação de bovinos de corte. Para isso, é importante conhecer as variáveis no desempenho dos animais sobre diferentes pastagens. No presente trabalho, avaliaram-se dados de 1071 bovinos, machos, castrados, entre três a cinco anos de idade. Os animais, recriados em campo nativo, foram terminados sobre pastagens cultivadas de azevém e milheto. Nos invernos de 2010 e 2011 foram terminados 710 animais em pastagens de azevém e nos verões de 2010/11 e 2011/12 foram terminados 361 animais em pastagens de milheto. Para avaliar o desempenho animal foi determinado o ganho médio diário de peso (GMD), o ganho médio de peso (GP) e a idade dos animais (IA). As variáveis usadas foram peso médio inicial (PMI), peso médio final (PMF) e tempo médio de permanência (TMP) nas pastagens. O GMD e o GP foram respectivamente de 1,22 kg/dia e 87,3 kg nas pastagens de azevém e 1,43 kg/dia e 55,5 kg nas pastagens de milheto. A IA média dos animais terminados em azevém no inverno de 2010 foi de quatro anos e no inverno de 2011 de três anos, dos animais terminados em milheto foi de três anos e meio em ambos os ciclos. O GMD e o GP foram significativamente diferentes (P<0,01) para as pastagens de azevém e milheto. A IA não exerceu influência no GMD e no GP. O cultivo de pastagens representa uma alternativa para melhorar o desempenho de bovinos de corte, com diferentes idades, na terminação, durante todo o ano. Palavras-chave: Cultivo. Engorda. Pasto. Biological performance evaluation of beef cattle finished in ryegrass pasture (Lolium multiflorum) and millet (Pennisetum glaucum) ABSTRACT The raising of pastures is an alternative to improve biological efficiency in finishing beef cattle. For this, it is important to know the variables performance on different pastures. In this Carlos Santos Gottschall – Médico Veterinário, Doutor, Professor Adjunto do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Leonardo Rocha da Silva – Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária da ULBRA, bolsista de Iniciação Científica PROBITI / FAPERGS. Fábio Tolotti – Médico Veterinário Autônomo. Endereço: Av. Farroupilha, 8001. Canoas, RS. Bairro São José. Prédio 14 sala 126. CEP 92425-900. Carlos Gottschall. E-mail: [email protected] v.10 v.10, n.2, n.2 jan./jun. p.178-185 Canoasem Foco, 178Veterinária em Foco Veterinária 2013 jan./jun. 2013 work were evaluated data from 1071, castrated male bovine between three to five years of age. The animals before finishing were recreated in native field, and after were finished on cultivated pastures of ryegrass and millet. In the winters of 2010 and 2011 were finished 710 animals and in the summers of 2010/11 and 2011/12 were finished 361 animals. To evaluate the performance of the animals was determined the average daily weight gain (DWG), average weight gain (WG) and age animal (AA). The variables used were initial average weight (IAW), average final weight (AFW) and average time of permanence (ATP) in pastures. The DWG and WG were respectively of 1,22 kg/day and 87,3 kg in ryegrass pastures and 1,43 kg/day and 55,5 kg in the pastures of millet. The AA not influences the DWG and WG. The cultivated pastures represent an alternative to improve animal performance in finishing beef cattle with different ages throughout the year. Keywords: Cultivation. Fattening. Pasture. INTRODUÇÃO A intensificação na terminação de bovinos de corte é um caminho a ser seguido, e o cultivo de pastagens representa uma alternativa para melhorar a eficiência desses animais (RESTLE et al., 2000; CANELLAS et al., 2011). Diferentemente da alimentação em confinamentos que, de forma geral, tem estabilidade no fornecimento de nutrientes, a qualidade da forragem em pastejo sofre constantes flutuações no seu valor nutritivo e produtivo (CARVALHO et al., 2005). Segundo Lobato (1985), em condições extensivas, de campo nativo, os animais estão mais expostos às variações cíclicas das forragens. O campo nativo, por si só, não é suficiente para os animais obterem altas taxas de ganho de peso e atingindo o máximo do seu potencial produtivo, o que limita o seu desempenho e retarda a idade ao abate (NRC, 1996; RESTLE et al., 2002). O cultivo de pastagens garante aos animais grandes quantidades de matéria seca de boa qualidade e com poucas oscilações no valor nutritivo (CARVALHO et al., 1999). No entanto, o fornecimento de nutrientes via pasto com obtenção de elevadas taxas no ganho de peso é uma atividade complexa e exige conhecimentos (CARVALHO et al., 2005). O domínio das variáveis do desempenho animal sobre as diferentes pastagens é fator preponderante no sucesso do sistema (RESTLE et al., 2000). Portanto, a eficiência na produção animal a pasto resulta da produção de forragem, consumo da forragem e desempenho animal, que é a capacidade dos animais de converter forragem em proteína, sendo fundamental a harmonia desses três processos (PAULINO et al., 2004). A implantação de pastagens de inverno visando à terminação de bovinos de corte é cada vez mais comum, visto que o campo nativo, neste período, apresenta baixa produção e qualidade de forragem (ROSO et al., 2000; ROSO; RESTLE, 2000). Segundo Conrad et al. (1964), alimentos com baixa qualidade (digestibilidade) limitam fisicamente o consumo dos animais. Desta forma, as pastagens de estação fria são alternativas para obtenção de maior ganho em um período desfavorável (AGUINAGA et al., 2006). Em contrapartida, a base alimentar de bovinos de corte durante o verão, no Rio Grande do Sul, ainda é o campo nativo (ALVES FILHO, 1995). Nesse aspecto, o uso de pastagens estivais pode ser uma forma de fornecer alimento com alto valor nutritivo e de forma abundante para os animais (RESTLE et al., 1996; ANDRADE et al., 1997). No entanto, devido à elevada produção de colmo das gramíneas tropicais, que altera o Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 179 valor nutritivo e a digestibilidade dessas forragens, é fundamental o adequado manejo destas (PAULINO et al., 2004). Segundo Carvalho et al. (2005), o manejo incorreto da estrutura das pastagens tropicais gerou conceitos empíricos no que diz respeito ao desempenho dos animais, sendo estas subestimadas. Além do estabelecimento da forragem, a adequada adubação e o manejo das pastagens, a escolha da adequada categoria animal a ser submetida às diferentes pastagens têm grande relevância no sucesso do sistema (RESTLE et al., 1998; SANTOS et al., 2004). Segundo Restle et al. (1998), os custos de implantação e utilização das pastagens independe da categoria animal, tornando-se importante a escolha de categorias mais eficientes na conversão alimentar, para o melhor aproveitamento do sistema. Os objetivos neste trabalho foram avaliar a resposta biológica de bovinos de corte terminados em pastagens cultivadas de azevém e milheto, e a influência da idade dos animais sobre o seu desempenho no ganho de peso. MATERIAIS E MÉTODOS Foram avaliados 1071 bovinos de uma propriedade particular, localizada no município de Cachoeira do Sul, Depressão Central do Rio Grande do Sul, durante os anos de 2010 a 2012. Os animais, machos, castrados, da raça Braford e cruzas, com idades entre três a cinco anos, oriundos de recria em capo nativo, foram terminados em diferentes pastagens e épocas do ano. Nos invernos de 2010 e 2011 foram terminados, respectivamente, 401 e 309 animais, totalizando 710 animais terminados sobre pastagens cultivadas de azevém (Lolium multiflorium). Nos verões de 2010/11 e 2011/12 foram terminados, respectivamente, 186 e 175 animais, totalizando 361 animais terminados sobre pastagens de milheto (Pennisetum glaucum). Para o ingresso nas pastagens, os animais foram selecionados dentro do universo da propriedade, de acordo com o melhor desenvolvimento e condição corporal (CC), por determinação visual, independente do peso e idade. Também foi considerada a capacidade de suporte das pastagens, sendo estimada por avaliação visual, buscando-se preservar uma altura mínima indicada de acordo com o tipo de pastagem. A saída das pastagens ocorria à medida que os animais atingiam grau de acabamento (gordura) satisfatório, estimado através de observação visual e plena aceitação pelos frigoríficos compradores. Os animais identificados individualmente eram pesados na entrada das pastagens e por ocasião da venda. A partir dos registros e coleta de informações foi possível avaliar o desempenho animal expresso pelo ganho médio diário de peso (GMD), o ganho médio de peso (GP) em função das pastagens (azevém x milheto), e a idade dos animais (IA) entre os anos, nas mesmas pastagens (azevém x azevém e milheto x milheto). Também foi possível utilizar informações do peso médio inicial (PMI), peso médio final (PMF) e tempo médio de permanência (TMP) nas pastagens. Para as analises estatísticas foram usados a análise de correlação de Pearson e o teste T-Student com o auxílio dos softwares Microsoft Excel 2010 e SPSS for Windows 16 (Statistical Package for the Social Sciences). 180 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 RESULTADOS E DISCUSSÃO O GMD e o GP médios para os ciclos de azevém foram, respectivamente, de 1,22 kg/dia e 87,3 kg por animal, já nas pastagens de milheto, os mesmos foram de 1,43 kg/dia e 55,5 kg por animal, com significativa diferença estatística (P<0,01) entre as pastagens (Figura 1). Em pastagens consorciadas de azevém e aveia preta (Avena strigosa Schreb) manejadas com diferentes alturas, Aguinaga et al. (2006), encontraram GMD de 0,73 kg/dia e 1,14 kg/dia, respectivamente, em pastagens com 10 e 30 cm de altura, com animais jovens. Utilizando as mesmas pastagens, Restle et al. (2000), em trabalho avaliando o ganho de peso de animais submetidos à terminação em pastagens adubadas com diferentes fontes de nitrogênio, obtiveram 0,58 kg/dia com ureia e 0,62 kg/dia com sulfato de amônio, em terneiras de corte com 10 meses de idade. Restle et al. (1998), em trabalho também com azevém e aveia preta, observaram ganho de peso de diferentes categorias animais, obtendo GMD de 0,86 kg/dia em terneiros de 10 meses de idade da raça Charolês. Os mesmos autores tiveram produção de peso vivo por hectare de 428 kg e 453 kg, respectivamente, para tratamentos com ureia e sulfato de amônio. Sugundo Canellas et al. (2011), a recria e engorda de animais em pastagens cultivadas de inverno é muito usada no Rio Grande do Sul e permite ganhos entre 0,70 kg/dia e 1,20 kg/dia, dependendo do estágio da planta e categoria animal. No presente trabalho o GMD e a produção de kg/ha em pastagens de azevém, manejadas com 15 cm de altura, nos ciclos de 2010 e 2011 foram, respectivamente, de 1,15 kg/dia e 108,5 kg/ha, e 1,32 kg/dia e 110,3 kg/ha, em animais com idade média de três e quatro anos, nos respectivos ciclos. Moreira et al. (2005), em trabalho onde avaliaram o GMD e peso médio final (PMF) de novilhos Nelore, aos 23 meses, sobre pastagem de aveia preta, obtiveram ganho de 1,31 kg/dia em animais com peso médio inicial (PMI) de 398 kg. Em pastagem consorciada de aveia preta e ervilhaca, Canto et al. (1997), observaram GMD de 1,27 kg para novilhos com PMI de 320 kg. Restle et al. (1998), observaram GMD de 1,60 kg/dia para novilhos com PMI de 276 kg, em pastagens consorciadas de aveia preta e azevém. O PMI nos ciclos das pastagens de azevém do presente trabalho foi de 418,6 kg (Figura 1). Observou-se que animais que ingressaram nas pastagens de azevém com menor PMI apresentaram maior GMD (Pearson = -0,31, P<0,01), corroborando com os dados dos autores supramencionados, aonde o menor PMI obteve maior GMD e o maior PMI obteve menor GMD. Conforme estudos de Hersom et al. (2004), animais que sofreram algum tipo de restrição alimentar prévia tendem a fazer um ganho ou crescimento compensatório quando passam a receber dietas de melhor qualidade. A implantação de pastagens hibernais de azevém, assim como aveia, são muito usadas no Rio Grande do Sul e apresentam bons índices produtivos, entretanto, estes índices são aquém do potencial produtivo dessas pastagens, fato que, segundo Restle et al. (2000), atribui-se à deficiência no manejo e adubação. Segundo Carvalho et al. (2005), convencionou-se que o consumo de gramíneas tropicais é limitado pelo trato gastrointestinal e o baixo desempenho animal atribuise a baixa qualidade dessas forragens. Entretanto, no presente trabalho o GMD e a produção de kg/ha nos ciclos de 2010/11 e 2011/12 em pastagem de milheto foram, respectivamente, de 1,28 kg/dia e 166,3 kg/ha, e 1,59 kg/dia e 155,5 kg/ha. Segundo Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 181 Canellas et al. (2011), o uso de pastagens estivais permitem uma alta carga animal com ganhos de peso moderados a altos. Restle et al. (2002), obtiveram GMD em pastagem de milheto de 1,19 kg/dia e Lupatini (1996) obteve 1,05 kg/dia. Segundo Medeiros e Lana (2000), o aumento no consumo voluntário de alimentos, a redução da mantença, a melhor eficiência metabólica e mudanças na composição do ganho são fatores que explicam a compensação no ganho de peso durante esse período. A estrutura da pastagem é fator preponderante no consumo dos animais e devido à alta produção de colmo das pastagens tropicais, o que altera a qualidade e digestibilidade dessas forragens, o conhecimento no manejo e adubação se torna essencial para a obtenção de bons resultados no ganho de peso de bovinos de corte (PAULINO et al., 2004; CARVALHO et al., 2005). O PMI nos ciclos de milheto do presente trabalho foi de 460,6 kg (Figura 1), significativamente maior que o PMI dos ciclos de azevém (P<0,01). O TMP nas pastagens de milheto foi de 43,2 dias, inferior ao TMP nas pastagens de azevém, que foi 71,9 dias (Pearson = -0,53, P<0,01) (Figura 1). Apesar do menor TMP nas pastagens de milheto, os animais saíram com maior PMF que nas pastagens de azevém, sendo respectivamente de 516,2 kg e 505,9 kg (P<0,01) (Figura 1), fato explicado pelo maior PMI dos animais que ingressaram nas pastagens de milheto. O ingresso mais pesado nas pastagens estivais deve-se a resposta positiva do campo nativo no início da primavera. O campo nativo apresenta seu ápice de produção nos meses de primavera-verão, e um declínio nos meses de outono-inverno (LOBATO, 1985). O mesmo autor relata que, o principal fator limitante na produção pecuária em campos naturais resume-se na deficiência nutricional do campo nativo no período hibernal. Nabinger (2006) demonstra que o manejo do campo natural permite ganhos de peso mesmo no inverno, porém com grande variação entre as estações do ano, aonde observou ganhos de 0,78 kg/dia na primavera, 0,68 kg/ dia no verão, 0,28 kg/dia no outono e 0,18 kg/dia no inverno. FIGURA 1 – Resultados das diferentes estações. A IA média dos animais terminados em azevém no inverno de 2010 foi de quatro anos e no inverno de 2011 de três anos, dos animais terminados em milheto foi de três 182 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 anos e meio em ambos os ciclos, não demonstrando exercer influencia significativa nas taxas de GMD e GP dos animais. Segundo Figueiredo et al. (2007), a eficiência na conversão dos alimentos decresce com o aumento na idade dos animais. Entretanto, segundo Di Marco et al. (2006), a quantidade de gordura aumenta com a taxa de ganho de peso, com o peso do animal e com o avanço da idade. Em trabalho avaliando o desempenho de bovinos de corte terminados em pastagens de azevém, Gottschall et al. (2012), observaram que os animais mais velhos entravam primeiro nas pastagens por apresentar um maior desenvolvimento e condição corporal, fator decisório para o ingresso dos animais nas pastagens, assim como no presente trabalho. Segundo os mesmos autores, animais mais velhos e maiores apresentam basicamente demanda nutricional para acumulo de gordura, o que não ocorre em animais jovens. Restle et al., (1998), obtiveram taxa de ganho de peso menor para terneiros (0,85 kg/dia) em comparação a novilhos (1,60 kg/dia) e vacas de descarte acima de oito anos de idade (1,26 kg/dia) em trabalho avaliando a eficiência e o desempenho de diferentes categorias em pastagem de azevém e aveia. Tanto nos invernos como nos verões, os animais que apresentaram maior PMF tiveram maior GMD (Pearson = 0,23, P<0,01), animais com maior GMD apresentaram maior GP (Pearson = 0,42, P<0,01) e animais que ingressaram nas pastagens com maior PMI saíram para abate com maior PMF (Pearson = 0,70, P<0,01). Gottschall et al. (2007), observaram dados semelhantes, aonde novilhos com maior PMI obtiveram maior peso ao abate. Animais que apresentaram menor PMI obtiveram maior GP (Pearson = -0,48, P<0,01). Nos verões, os animais que apresentaram maior GMD permaneceram por menor tempo nas pastagens (Pearson = -0,53, P<0,01). TABELA 1 – Coeficiente de Correlação de Pearson entre as variáveis estudadas, com GMD. ** (P<0,01). Invernos n=710 GMD Verões n=361 GMD PMI -0,312** 0,083 PMF 0,216** 0,232** TMP -0,053 -0,533** GP 0,655** 0,290** CONCLUSÕES Os animais terminados tanto em azevém, como em milheto, apresentaram um bom desempenho no ganho de peso, tendo em vista os resultados obtidos no presente trabalho e dados de literatura. A terminação de bovinos de corte em pastagens cultivadas de azévem e milheto representa uma alternativa viável para intensificar o ganho de peso. A idade dos animais não exerceu influencia nas taxas de ganho, entretanto, nesse experimento se usou animais com faixa etária entre três a cinco anos. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 183 REFERÊNCIAS AGUINAGA, A. A. Q.; CARVALHO, P. C. F.; ANGHINONI, I. et al. Produção de novilhos superprecoces em pastagem de aveia e azevém submetida a diferentes alturas de manejo. Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, p.1765-1773, 2006. ALVES FILHO, D. C. Evolução do peso e desempenho anual de um rebanho de cria, constituído por fêmeas de diferentes grupos genéticos. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 1995. 131p. Dissertação de Mestrado em Zootecnia – Universidade Federal de Santa Maria, 1995. ANDRADE, R. P.; MUEHLMANN, L. D.; ROCHA, M. G.; RESTLE, J. Utilização de pastagem de estação quente com bovinos desmamados precocemente. Revista Brasileira de Zootecnia, v.26, n.3, p.584-589, 1997. CANELLAS, L. C.; BARCELLOS, J. O. J.; FILHO, L. A. Q. et al. Gestão, tecnologias e processos produtivos aplicados a sistemas intensivos de produção de bovinos de corte. Anais ... XIV Ciclo de palestras em produção e manejo de bovinos. ULBRA, Canoas, 2011. CANTO, M. C.; RESTLE, J.; QUADROS, F. L. F. et al. Produção animal em pastagens de aveia (Avena Strigosa Schreb) adubada com nitrogênio ou em mistura com ervilhaca (Vicia sativa L.). Revista Brasileira de Zootecnia, v.26, n.2, p.396-402. Viçosa, 1997. CARVALHO, P. C. F.; DAMASCENO, J. C. O processo de pastejo: desafios da procura e apreensão da forragem pelo herbívoro. In: Reunião anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 36, 1999, Porto Alegre. Anais... SBZ, v.2, p.253-268. Porto Alegre-RS, 1999. CARVALHO, P. C. F.; GENRO, T. C. M.; GONÇALVES, E. N. et al. A estrutura do pasto como conceito de manejo: reflexos sobre o consumo e a produtividade. In: REIS, R. A. et al. (Orgs.). Volumosos na Produção de Ruminantes, Jaboticabal, Funep. 2005, p. 107-124. CONRAD, H. R.; PRATT, A. D.; HIBBS, J. W. Regulation of feed intake in dairy cows. I. Change in importance of physical and physiological factors with increasing digestibility. Journal of Dairy Science, v.47, p.54-62. 1964. corte. Porto Alegre: Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva. 248p. 2006. DI MARCO, O. N.; BARCELLOS, J. O. J.; COSTA, E. C. Crescimento de bovinos de FIGUEIREDO, D. M.; OLIVEIRA, A. S.; SALES, M. F. L. et al. Análise econômica de quatro estratégias de suplementação para recria e engorda de bovinos em sistema pastosuplemento. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.5, p.1443-1453, 2007. GOTTSCHALL, C. S.; CANELLAS, L. C.; FERREIRA, E. T. et al. Desempenho de novilhos Angus, Devon e cruzas Angus x Devon x Nelore em confinamento. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v.28, n.1, p.135-142, 2007. GOTTSCHALL, C. S.; TOLOTTI, F.; SILVEIRA, A. et al. Avaliação do desempenho biológica de bovinos de corte terminados sobre pastagem de azevém (Lolium multiflorum). Veterinária em Foco, V.9, n.2, jan./jun. 2012. Canoas, 2012. HERSOM, M. J.; HORN, G. W.; KREHBIEL C. R. et al. A. Effect of live weight gain of steers during winter grazing: I. Feedlot performance, carcass characteristics, and body composition of beef steers. Journal of Animal Science, Champaign, v.82, n.1, p.262-272, 2004. 184 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 LOBATO, J. F. P. Gado de cria: tópicos. Porto Alegre: Adubos Trevo, 32p., 1985. LUPATINI, G. C. Produção animal em milheto (Pennisetum americanum (L.) Leeke) submetido a níveis de adubação nitrogenada. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 1996. 126p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Santa Maria, 1996. MEDEIROS, S. R.; LANNA, D. P. D. Crescimento compensatório em bovinos. In: Simpósio Nutron de Nutrição de Ruminantes. Goiânia-GO, 2000. MOREIRA, F. B.; PRADO, I. N.; SOUZA, N. E. et al. Desempenho animal e características da carcaça de novilhos terminados em pastagem de aveia preta, com ou sem suplementação energética. Acta Sci. Anim. Sci., v.27, n.4, p.469-473, Oct./Dec., 2005. Maringá, 2005. NABINGER, C. Manejo do campo nativo na região Sul do Brasil e viabilidade do uso de modelos. In: II Simpósio Internacional em Produção Animal, Santa Maria, p.1-44. 2006. NRC. Nutrient requirements of beef cattle. Washington: National Academy of Science. 1996. 242p. PAULINO, M. F.; FIGUEIREDO, D. M.; MORAES, E. H. B. K. et al. Suplementação de Bovinos em pastagens: uma visão sistêmica. In: Simpósio de Produção de Gado de Corte, 4., 2004, Viçosa, MG. Anais ... Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2004. p.93-144. RESTLE, J.; FERREIRA, M. V. B.; SOARES, A. B. et al. Produção animal em pastagem nativa ou cultivada durante o período de verão. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 33., 1996, Fortaleza. Anais... Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1996. p.438-440. RESTLE, J.; LUPATINI, G. C.; ROSO, C. et al. Eficiência e desempenho de categorias de bovinos de corte em pastagem cultivada. Revista Brasileira de Zootecnia, v.27, n.2, p.397-404, 1998. RESTLE, J.; ROSO C.; AITA, V. et al. Produção Animal em Pastagem com Gramíneas de Estação Quente. Revista Brasileira de Zootecnia, v.31, n.3, p.1491-1500, 2002. RESTLE, J.; ROSO, C.; SOARES, A. B. et al. Produtividade Animal e Retorno Econômico em Pastagem de Aveia Preta mais Azevém Adubada com Fontes de Nitrogênio em Cobertura. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.2, p.357-364, 2000. ROSO, C.; RESTLE, J. Aveia preta, triticale e centeio em mistura com azevém. 2. Produtividade animal e retorno econômico. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.1, p.85-93, 2000. ROSO, C.; RESTLE, J.; SOARES, A. B. et al. Aveia preta, triticale e centeio em mistura com azevém. 1. Dinâmica produção e qualidade de forragem. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.1, p.75-84, 2000. SANTOS, D. T. et al. Suplementos energéticos para recria de novilhas de corte em pastagens anuais. Análise econômica. Revista Brasileira de Zootecnia, v.33, n.6, p.23592368, 2004. (supl. 3). Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 185 Utilização de rações para frangos de corte com diferentes níveis de energia e proteína Dijair de Queiroz Lima Nicholas Lucena Queiroz RESUMO Este experimento foi realizado para avaliar o efeito da utilização de seis níveis de Energia Metabolizável (EM) e de Proteína Bruta (PB) no desempenho de 360 pintos de corte das linhagens “Hubbard” (180 machos e 180 fêmeas), em um delineamento experimental em blocos casualizados, com seis rações experimentais com quatro repetições de cada sexo, em 24 parcelas, cada uma com 15 aves. Os parâmetros analisados foram: Ganho de Peso Médio, Consumo Médio de Ração e Conversão Alimentar Média. Os níveis ideais de EM e PB nas rações são distintos para machos e fêmeas. Para os machos, os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si, com exceção do Tratamento 4 para ganho de peso, que apresentou diferença pelos teste Tukey (P>0,01) entre os 29 até os 42 dias, com 3.300 Kcal/EM associado com 20,8% de PB. Para as fêmeas não ocorreram nenhuma diferença estatística, contudo o tratamento 5 para ganho de peso, foi a que se destacou em valores absolutos entre os demais tratamentos, sendo portanto o ideal quando a EM (3.300 Kcal), estiver associado com 22,8% de PB. Palavras-chave: Eficiência Energética. Proteína Ideal. Aves. Effect the different levels energy and protein and performance broilers chick ABSTRACT This experiment was conducted to evaluate the effect of using six levels of metabolizable energy (ME) and crude protein (CP), the performance of 360 strains of broiler chicks “Hubbard” (180 males and 180 females), in a complete experimental randomized block design with six experimental diets with four replicates of each sex, in 24 installments, each one with 15 birds. The parameters analyzed were: Mean Weight Gain ; Average Feed Intake and Feed Conversion Average. Optimal levels of MS and CP in the diets are different for males and females. For males the treatments did not differ statistically, except for Treatment 4 GPM, that was different by Tukey test (P> 0.01) between 29 to 42 days, with 3,300 Kcal / MS associated with 20.8 % CP. For females no statistical difference occurred, however the treatment to 5 weight gain, was that stood in absolute values between the other treatments and are therefore ideal when AT (3,300 Kcal), is associated with 22.8% CP. Keywords: Energy Efficiency. Ideal Protein. Birds. Dijair de Queiroz Lima – Prof. Dr. Departamento de Agroecologia e Agropecuária – Centro de Ciências Agroecológicas e Ambientais, Campus II – Universidade Estadual da Paraíba – UEPB – Lagoa Seca, PB. Email: [email protected] Nicholas Lucena Queiroz – Doutorando do Programa de Pós – Graduação em Agronomia – Universidade Federal da Paraíba – UFPB – Centro de Ciências Agrárias – Areia, PB. E-mail: [email protected] v.10 v.10, n.2, n.2 jan./jun. p.186-194 Canoasem Foco, 186Veterinária em Foco Veterinária 2013 jan./jun. 2013 INTRODUÇÃO A utilização de nutrientes pelos animais é um processo complexo e que envolve uma série de etapas. Uma ração perfeitamente formulada, fornecida a uma ave geneticamente superior, produzirá resultados insatisfatórios se esta estiver inapta para utilizar adequadamente os nutrientes fornecidos. Nas rações, a energia representa o nutriente mais importante, sendo o milho a principal fonte energética. Entretanto, devido às oscilações mercadológicas, as fontes alternativas tornam-se necessárias, com o objetivo de procurar substituir parcialmente este grão como fonte de energia nas rações para frangos de corte. As gorduras e óleos em rações para aves vêm sendo estudados há vários anos, e muitos pesquisadores tem procurado determinar os níveis ideais como fonte de energia de acordo com (ABDOLLAHI et al., 2011). Na formulação de rações ainda são utilizadas tabelas de exigências nutricionais determinadas em outros países, nos quais os resultados de pesquisa revelam diferenças nos requisitos entre raças e categorias de animais, estado fisiológico, regiões e, até mesmo, estações do ano. Faz-se então necessário, que pesquisas sejam feitas buscando um melhor equilíbrio entre as fontes energéticas e proteicas para uma maior eficiência no aproveitamento dos nutrientes disponíveis para as aves, principalmente no fornecimento de energia, que é fundamental para um bom desempenho desses animais, buscando também a eficiência econômica para o setor (ALBINO et al., 1992). Segundo Junqueira (2005) e Conejo et al. (2007), as gorduras incorporadas nas rações facilitam a utilização da energia dos outros componentes não lipídicas da dieta, podendo este fenômeno estar relacionado com a diminuição da velocidade de passagem dos alimentos pelo trato digestivo. RESULTADOS E DISCUSSÃO De acordo com Nascimento et al. (2011), o processo de crescimento de frangos de corte, a energia exerce um papel fundamental, entretanto, a sua eficiência depende da suplementação proteica e concentração de gordura no alimento. Porém, o sucesso vai depender dos níveis que lhes são fornecidos. Mendes et al. (2004), avaliando o efeito de seis níveis de energia (2.900; 2.960; 3.020; 3.080; 3.140 e 3.200 kcal EM/kg) da dieta sobre desempenho, rendimento de carcaça e porcentagem de gordura abdominal de frangos de corte, no período de 1 a 42 dias de idade, observaram que houve redução no consumo de ração e melhora na conversão alimentar média à medida que se aumentou o nível de energia da ração. Com isso os machos apresentaram melhores resultados de desempenho que as fêmeas. À medida que se acrescentou energia na dieta, houve efeito linear na porcentagem de gordura abdominal e no rendimento de asas, mas não houve efeito sobre o rendimento de carcaça e das demais partes. Nascimento et al. (2011), avaliando o efeito e das relações energia: (2.850; 3.000 e 3.150 kcal) e três relações EM: PB (125; 136,9 e 151,5 kcal/%PB), sobre o desempenho e qualidade da carcaça de frangos de corte nas fases pré-inicial e inicial, observaram que de 1 a 7 dias, a melhor Conversão Alimentar Média (CAM) foi obtida com 3.150 kcal/EM e relação EM: PB de 125 (25,2 %PB). No Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 187 período de 1 a 21 dias, a redução desta relação EM:PB (aumento da PB) em todos os níveis de EM melhorou o Ganho de Peso Médio (GPM) e a Conversão Alimentar Média (CAM). As dietas que contém carboidratos e gordura suficiente suprem a maior parte das necessidades energéticas das aves. Essas fontes fazem com que a quantidade de proteína degradada para fins energéticos seja menor, de modo que proteína ingerida será utilizada em uma maior proporção na síntese tissular. Neste mesmo sentido, Dudley-Cash (2009) afirmam que paralelamente a elevação do nível energético é necessário o aumento do nível proteico, a fim de se manter constante a relação energia-proteína. Por outro lado, a elevação dos níveis de proteínas, também não significa, necessariamente, retorno economicamente compatível com o maior custo dessas rações. Hosoda et al. (2008), utilizando na fase inicial níveis de 22% de PB associado com 2.930, 2.980, 3.030, 3080, 3130 e 3180 de EM e, na fase final, 18% de PB associado com 3.030, 3.080, 3.130, 3.180, 3.230 e 3.280 Kcal/kg de EM, não observaram diferenças significativas para consumo de ração e conversão alimentar entre tratamentos, mas houve diferenças significativas para ganho de peso. Já Babu et al. (1991), utilizando níveis de PB (22, 23, e 24%) associado respectivamente a níveis de EM (2.650; 2.750 e 2.850 Kcal/ kg), observaram que níveis de 24% de PB e 2.750 Kcal/kg de EM apresentaram maior peso na última semana de idade. Oliveira et al. (1991), utilizando três níveis de PB (19,0 ; 21,0 ; e 23,0%) na fase inicial associado com três níveis de EM (2.900; 3.100 e 3.300 Kcal/kg) e com 18,0; 19,0 e 20% de PB com os respectivos níveis energéticos para a fase final, verificaram em ambas as fases, o melhor ganho de peso e conversão alimentar foi para a ração inicial com 3.100 e 3.300 Kcal/kg e 18 e 20% de PB. Muarolli et al. (2009), verificando as diferentes relações dietéticas de energia metabolizável e proteína bruta e do peso inicial de pintos de corte sobre o desempenho e rendimento de carcaça em frangos de corte, criados até 48 dias de idade, onde os parâmetros avaliados foram: Consumo de Médio de Ração Médio (CMR), Ganho de Peso Médio (GPM), Conversão Alimentar Médio (CAM), Rendimento de Carcaça e Rendimento de Cortes (Asa, coxa, sobre coxa, peito, cabeça, pé e dorso) no final do período experimental. Verificaram que nas variáveis CMR e GPM não foram observados efeitos significativos (P>0,01) em nenhum dos tratamentos e períodos. Na variável CAM, observou-se efeito significativo (P<0,01) no período de 1 a 35 dias de idade, onde aves que foram alimentadas com uma relação EM:PB baixa, apresentaram uma pior conversão alimentar, independente do peso inicial. No rendimento de carcaça houve efeito significativo (P<0,01), onde as aves com maior peso inicial obtiveram uma melhor porcentagem de rendimento quando receberam, durante todo o período de criação, dietas com relação EM:PB alta. MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi realizado nas instalações Universidade Federal da Paraíba – UFPB e teve a duração de 49 dias. O delineamento experimental utilizado foi o de 188 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 bloco casualizados e os dados estatísticos foram analisados segundo o programa SAEG (EUCLIDES, 2007). O teste de média realizado foi de Tukey a 1%. As variáveis analisadas foram: Ganho de Peso Médio (GPM), Consumo Médio de Ração (CMR) e Conversão Alimentar Média (CAM). Foram utilizados 360 pintos de um dia de idade da linhagem “Hubbard”, de ambos os sexos (180 machos e 180 fêmeas). Os tratamentos foram compostos por seis rações experimentais e quatro repetições, perfazendo 24 unidades experimentais, ou parcelas. Em cada unidade experimental foram distribuídas ao acaso, por sorteio, em cada bloco, 15 aves por parcela totalizando assim, 360 aves experimentais. A composição química calculada das rações experimentais na fase inicial (1 a 28 dias) e na fase final (29 a 49 dias) está apresentado nas tabelas 1 e 2, respectivamente. TABELA 1 – Composição química calculada e das rações experimentais na fase inicial (1 a 28 dias). 1 2 3 4 5 6 EM (Kcal/kg) 3,05 3,05 3,05 3,20 3,20 3,20 Proteína Bruta (%) 21,20 23,20 25,20 22,00 24,00 26.00 Cálcio (%) 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 Fósforo Disponível (%) 0,51 0,51 0,51 0,53 0,53 0,53 Lisina (%) 1,13 1,27 1,42 1,19 1,14 1,48 Metionina (%) 0,49 0,47 0,45 0,53 0,50 0,47 Met + Cis 0,82 0,82 0,84 0,87 0,87 0,87 RPE* 6,9 7,6 8,3 6,9 7,5 8,1 RAÇÕES Nutrientes * Relação entre % de PB/1000 Kcal EM da ração. TABELA 2 – Composição química calculada e das rações experimentais na fase final (29 a 49 dias). 1 RAÇÕES 2 3 4 5 6 Nutrientes EM (Kcal/kg) 3,10 3,10 3,10 3,30 3,30 3,30 Proteína Bruta (%) 19,50 21,50 23,50 20,80 22,80 24,80 Cálcio (%) 0,97 0,97 0,97 1,04 1,04 1,04 Fósforo Disponível (%) 0,97 0,97 0,97 1,04 1,04 1,04 Lisina (%) 1,00 1,15 1,30 1,11 1,26 1,40 Metionina (%) 0,47 0,45 0,43 0,51 0,48 0,46 Met + Cis 0,78 0,78 0,79 0,83 0,83 0,83 RPE* 6,3 6,9 7,6 6,3 6,9 7,5 * Relação entre % de PB/1000 Kcal EM da ração. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 189 RESULTADOS E DISCUSSÃO De acordo com as Tabelas 3 e 4, os parâmetros Ganho de Peso Médio (GPM), na fase inicial (1 a 28 dias), na fase final (43 a 49 dias) e no total do experimento, não houve diferenças significativas entre tratamentos (P>0,01), verificando que os machos apresentaram maior GPM que as fêmeas. Estes resultados são comparáveis aos encontrados por Longo et al. (2005), que utilizaram rações isoenergéticas e diferentes níveis e fontes proteicas. O mesmo não foi observado por Junqueira et al. (2005), que utilizaram três níveis de energia associado com três níveis de proteína, onde o GPM foi maior nas aves que receberam os maiores níveis de PB e EM. Para o Ganho de Peso Médio (GPM) nos machos, no período de crescimento dos 29 aos 42 dias, percebe-se que houve diferenças significativas entre os tratamentos, onde o tratamento 4 apresentou o maior valor (1,108), entre os demais tratamentos, para o teste Tukey (P<0,01). Quanto às fêmeas, o GPM não diferiu estatisticamente entre si em nenhuma das fases. Entretanto, na fase final, o maior GPM dos machos, foi com o tratamento que continha níveis de 20,8% de PB e 3.300 Kcal/kg de EM (tratamento 4). Dados esses que estão de acordo com os encontrados por Bernal et al. (1993). Não se observou efeito significativo dos níveis de EM e PB sobre o CMR (machos e fêmeas), conforme as tabelas 3 e 4. Estes dados estão de acordo com os encontrados por Newcombe e Summers (1994). Resultados obtidos diferem dos encontrados por Babu et al (1991) que, associando três níveis de PB com três níveis de EM, verificaram que o consumo de ração diminuiu significativamente a medida que aumentou o nível de EM da ração. Esta relação também foi obtida por Correa et al. (2007), em experimento com codornas de corte, com vários níveis de proteína bruta e energia metabolizável durante a fase de crescimento. Os resultados da CAM das aves nas diversas fases do experimento indicam que os machos obtiveram maior CAM que as fêmeas em todas as fases de criação. Na fase inicial (1 a 28 dias) na fase final (43 a 49 dias) e no total do experimento, de modo que, os tratamentos não diferiram estatisticamente (P>0,01) entre si, estando de acordo com os dados encontrados por Oliveira et al. (1991) e discordantes dos encontrados por Hosoda et al. (2008). Os dados do GPM e da CAM dos 29 aos 42 dias diferem estatisticamente entre si (P<0,01) para machos. Já para as fêmeas, de acordo com a tabela 4, não existe diferenças estatísticas entre os tratamentos nas diversas etapas do experimento. Estes dados estão de acordo com os encontrados por Mendes et al. (2004). As relações EM:PB devem ser mantidas, no entanto, cabe observar as exigências para cada fase, de forma que pode ser inadequada para a fase inicial, conforme Nascimento et al. (2011), onde verificaram que as aves não ajustaram claramente o consumo pela densidade energética da ração. Rações com relação EM: PB de 136,9 (21,91% PB) e EM de 3.000 kcal atendem as exigências de frangos de corte para ótimo crescimento na fase inicial, enquanto a relação 151,5 foi inadequada. A redução da relação EM: PB diminui a gordura abdominal e melhora a qualidade da carcaça de frangos de corte na fase inicial. 190 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 TABELA 3 – Médias de ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar do 1 aos 28 dias, entre 29 aos 42 dias, entre 43 aos 49 dias e total dos machos. Ganho de peso médio (GPM) dos machos Tratamentos 1 aos 28 dias 29 aos 42 dias 43 aos 49dias Total 1 1,152 0,967ab 0,474 2,593 2 1,166 0,892b 0,519 2,577 3 1,160 1,008ab 0,412 2,580 4 1,182 1,108a 0,557 2,847 5 1,172 1,048ab 0,416 2,636 6 1,163 1,039ab 0,454 2,656 C.V (%) 3,263 5,847 11,639 2,793 DMS* 0,125 0,148 0,180 0,238 Consumo médio de ração (CMR) dos machos Tratamentos 1 aos 28 dias 29 aos 42 dias 43 aos 49 dias Total 1 1,741 1,874 1,292 4,907 2 1,669 1,881 1,261 4,941 3 1,799 1,877 1,228 4,904 4 1,642 1,902 1,344 4,888 5 1,668 1,870 1,291 4,829 6 1,700 1,867 1,214 4,781 C.V (%) 3,996 2,770 4,141 2,909 DMS* 0,227 0,173 0,174 0,472 Conversão alimentar média (CAM) dos machos Tratamentos 1 aos 28 dias 29 aos 42 dias 43 aos 49 dias Total 1 1,509 1,937ab 1,732 1,890 2 1,432 1,118 a 1,450 1,912 3 1,551 1,862ab 1,411 1,900 4 1,432 1,716b 1,413 1,714 5 1,410 1,789ab 1,499 1,831 6 1,463 1,815ab 1,502 1,801 C.V (%) 4,430 5,510 9,831 2,443 DMS* 0,225 0,378 0,921 0,158 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 191 TABELA 4 – Médias de ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar aos 28 dias, entre 29 e 42, entre 43 e 49 dias e total das fêmeas. Ganho de peso médio (GPM) das fêmeas Tratamentos 1 aos 28 dias 29 aos 42 43 aos 49 Total 1 1,060 0,801 0,432 2,293 2 1,056 0,802 0,431 2,289 3 1,054 0,792 0,479 2,325 4 1,058 0,878 0,421 2,434 5 1,192 0,898 0,498 2,588 6 1,067 0,826 0,411 2,304 C.V (%) 3,142 4,336 9,690 2,361 DMS* 0,112 0,173 0,175 0,141 Consumo médio de ração (CMR) das fêmeas Tratamentos 1 aos 28 dias 29 aos 42 43 aos 49 Total 1 1,680 1,708 1,185 4,573 2 1,646 1,784 1,170 4,601 3 1,587 1,814 1,208 4,600 4 1,613 1,737 1,148 4,498 5 1,635 1,803 1,151 4,589 6 1,614 1,851 1,204 4,669 C.V (%) 3,245 2,580 4,231 2,175 DMS* 0,212 0,145 0,198 0,452 Conversão alimentar média (CAM) das fêmeas 192 Tratamentos 1 aos 28 dias 29 aos 42 43 aos 49 Total 1 1,485 1,137 1,560 1,994 2 1,359 1,223 1,317 2,009 3 1,306 1,289 1,222 1,978 4 1,324 1,192 1,326 1,847 5 1,403 1,109 1,225 1,773 6 1,385 1,255 1,476 2,026 C.V (%) 4,857 5,931 8,731 2,321 DMS* 0,264 0,373 0,842 0,174 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 CONCLUSÃO Com base nos resultados referentes ao Ganho de Peso Médio (GPM), Consumo Médio de Ração (CMR) e a Conversão Alimentar Média (CAM), das fêmeas, nas fases estudadas, não foram afetadas pelos níveis de PB e EM das rações. GPM dos machos dos 29 aos 42 dias de idade foi afetado pelos níveis de PB e EM das Rações. O GPM, CMR e CAM dos machos foi maior que das fêmeas entre os 29 aos 42 dias. Com base nos resultados para os machos, recomenda-se o tratamento 4, pois ele apresentou o melhor valor para o (GPM), já as para as fêmeas, recomenda-se o tratamento 5, pois em valores absolutos foi o que apresentou melhor resultado. REFERÊNCIAS ABDOLLAHI, M. R. et al. Influence of conditioning temperature, apparent metabolisable energy, ileal digestibility of starch and nitrogen and the quality of pellets, in broiler starters fed maize and sorghum-based diets. Animal feed science and Technology. 168, 88-99. 2011. ALBINO, L. F. T.; ROSTAGNO, H. S.; FONSECA, J. B.; TORRES, R. A. Utilização de diferentes sistemas de avaliação energética dos alimentos na formulação de rações para frangos de corte. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, v.21, p.1037-1046, 1992a. BABU, M. et al. Effects of calories: protein ration of the diet on broilers performance. Nutrition Abstracts Reviews, v.61, n.10, p.799. Oct., 1991. BERNAL, F. E. M. et al. Efeito do nível de energia sobre o desempenho de frangos de corte. IN: CONFERÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLA. Santos, SP, 1993. Pesquisas... SANTOS: 1993. p.16. CONEJO, S. et al. Qualitative feed restriction on productive performance and lipid metabolism in broiler chickens. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., 59(6):1554-1562, 2007. CORRÊA, G. S. S.; SILVA, M. A.; FONTES, D. O. et al. Exigências em proteína bruta para codornas de corte EV1 em crescimento. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.59, n.5, p.1278-1286, 2007. DUDLEY-CASH, W. A. A landmark contribution to poultry science – A bioassay for true metabolizable energy in feeding stuffs Poult. Sci. 2009. 88, p.832-834. EUCLYDES, R. I. SAEG – Sistema de análise estatística e genética. Viçosa: UFV, 2007. 68p. HOSODA, R.; PENA, G. M.; ANGELINI, M. S. Dietas de diferentes densidades energéticas mantendo constante a relação energia metabolizável: nutrientes para codornas japonesas em postura. R. Bras. Zootec., v.37, n.9, p.1628-1633, 2008. JUNQUEIRA, O. M. Valor energético de algumas fontes lipídicas determinado com frangos de corte. R. Bras. Zootec. [online]. 2005, v.34, n.6, suppl., p. 2335-2339. ISSN 1806-9290. LONGO, F. A.; MENTEN, F. M.; PEDROSO, A. A. et al. Diferentes fontes de proteína na dieta pré-inicial de frangos de corte. Revista. Brasileira de Zootecnia., v.34, n.1, p.112-122, 2005. MENDES, A. et al. Efeito do nível de energia e a relação energia-proteína de rações de terminação no desempenho de frangos de corte. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AVICULTURA, 9 BRASÍLIA – DF. Anais... Brasília. 2004. 145p. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 193 MENDES, A. et al. Efeitos da energia da dieta sobre desempenho, rendimento de carcaça e gordura abdominal de frangos de corte. Revista. Brasileira de Zootecnia. v.33, n.6, p.2300-2307, 2004 (Supl. 3). MURAROLLI, R. A. et al. Efeitos de diferentes relações dietéticas de energia metabolizável: proteína bruta e do peso inicial de pintos sobre o desempenho e o rendimento de carcaça em frangos de corte fêmeas. Braz. J. vet. Res. Anim. Sci., São Paulo, v.46, n.1, p.62-68, 2009. NASCIMENTO, G. A. J. et al. Equações de predição para estimar valores da energia metabolizável de alimentos concentrados energéticos para aves utilizando metaanálise. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., fev. 2011, v.63, n.1, p.222-230. NEWCOMBE, M.; SUMMERS, J. D. Feed intak and gastrointestinal parameters of broiler and Leghorn Chicks in response to dietary energy concentration. Nutrition Abstracts and Reviews. v.54, n.10, p.550. Oct. 1994. OLIVEIRA, L. M.; SOUSA, E. M.; ESPÍNDOLA, G. B. et al. Estudo de diferentes níveis de energia e proteína sobre as características de carcaça de frangos de corte no trópico semiárido. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AVICULTURA 12. Brasília, 1991. Anais... Brasília, 1991. 194 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 Bem-estar de bovinos leiteiros: revisão de literatura Gracieli Alves Ferreira Rosangela Estel Ziech Erica Cristina B. do P. Guirro RESUMO Durante muito tempo, o bem-estar dos animais de produção foi ofuscado pela busca de melhores índices zootécnicos. Com o passar dos anos, a sociedade passou a reconhecer a necessidade de mudanças nos sistemas de produção animal e a exigir a adoção de atitudes humanitárias na criação e abate de animais para consumo, incluindo a bovinocultura de leite, que é um dos principais agronegócios, responsável pela geração de muitos empregos e renda no Brasil. Esta revisão teve como objetivo abordar os principais pontos que interferem no bem-estar de bovinos de leite, as maneiras de estimá-lo e as causas de estresse relacionadas ao manejo, às enfermidades e à ambiência. Palavras-chave: Bovinocultura de leite. Comportamento. Bem-estar animal. Welfare of dairy cattle: literature review ABSTRACT For a long time, the welfare of farm animals has been overshadowed by the search for better performance indexes. Over the years, society has come to recognize the need for changes in livestock production systems and require the adoption of humanitarian attitudes in raising and slaughtering animals for food, including dairy cattle, which is a major agribusiness, responsible the generation of many jobs and income in Brazil. This review aimed to address key points that affect the welfare of dairy cattle, the ways to estimate it and causes of stress related to the management, disease and ambience. Keywords: Dairy cattle. Behavior. Animal welfare. INTRODUÇÃO Dos sistemas agroindustriais brasileiros, um dos mais importantes é a bovinocultura leiteira, tamanha sua relevância econômica e social para o país. A atividade é praticada em todo o território nacional em mais de um milhão de propriedades rurais, e somente na produção primária gera mais de 3 milhões de empregos e agrega mais de R$ 6 bilhões Gracieli Alves Ferreira – Médica Veterinária, Mestranda em Ciência Animal pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Rosangela Estel Ziech – Médica Veterinária, Mestranda em Ciência Animal pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Erica Cristina Bueno do Prado Guirro – Medica Veterinária, Doutora, Docente na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Endereço: Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas Palotina, PR. CEP 85.950-000. E-mail: [email protected] Veterinária em Foco Veterinária v.10 v.10, n.2, n.2 jan./jun. p.195-209 Canoas em Foco, 2013 jan./jun. 2013 195 ao valor da produção agropecuária nacional (BATTISTI et al., 2013). A reestruturação que se tem verificado nos últimos anos nas explorações leiteiras traduziu-se em aumento da dimensão média da produção e consequentemente na intensificação da atividade. Ocorreram rápidas transformações na atividade, mas obviamente muito ainda precisa ser feito, principalmente no que diz respeito às questões relacionadas às doenças e ao bem-estar animal (PETERS, 2012). A importância deste tipo de produção para o país requer tecnificação, e a reestruturação que tem sido verificada nos últimos anos nas propriedades leiteiras tem sido apontada como a responsável pela elevação da média da produção nacional de leite e intensificação da atividade (CERQUEIRA et al., 2011). Todavia, verifica-se marcante heterogeneidade dos sistemas de produção leiteira no país, que se difunde por todo o território nacional (VILELA et al., 2002). Segundo Paciullo et al. (2005) a atividade leiteira tem evoluído de um modelo tradicional e extrativista para outro mais competitivo, os sistemas de produção de leite deverão ser fundamentados no emprego de tecnologias que possam ser economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. Além dos investimentos em tecnologia, genética e nutrição, cada vez mais tem se observado a necessidade de aprimorar as questões ligadas ao bem-estar animal e à redução de enfermidades (CERQUEIRA et al., 2011). Existe certo consenso de que os animais domesticados, por estarem sendo criados em cativeiro e servindo de alguma maneira à humanidade, merecem níveis mínimos de bem-estar (HOTZEL; FILHO, 2004). Na década de 60, Ruth Harrison publicou o livro “Animal Machines” (HARRISON, 1964) na Inglaterra e a população pôde conhecer os sistemas de produção animal. A partir desse evento, a sociedade começou a questionar alguns métodos de produção e tem sido dado mais valor à criação humanitária de animais. Isso originou a ciência bem-estar animal, que é considerada complexa, pois envolve diferentes aspectos relacionados à saúde e ao comportamento animal, bem como as interações que ocorrem entre esses aspectos (GOMES, 2008). Atualmente, produtos oriundos de sistemas de mais alto grau de bem-estar apresentam maior valor agregado, atendendo a demanda de um nicho específico de mercado (BOND et al., 2012). Os anseios da população em prol do uso mais consciente de animais criados para produção de alimentos embasam as mudanças de legislação e justificam o estabelecimento de leis voltadas especificamente ao bem-estar animal que, provavelmente, interferirá nas barreiras comerciais internacionais (BOND et al., 2007). Embora de forma menos articulada, a população brasileira também manifesta preocupação com o bem-estar animal (PETERS, 2012) e algumas mudanças de conceitos e legislação já são realidade no país. A educação é necessária para criar conscientização e maior entendimento da importância do bem-estar animal para uma produção eficiente. No caso de produtores e manejadores de animais, a educação pode levar à implementação de novos procedimentos que melhorem os resultados de bem-estar animal. A educação dirigida à população em geral pode resultar, eventualmente, em pessoas apoiando formas de produção que envolva boas condições de bem-estar animal (FAO, 2009). Com base no exposto, o objetivo 196 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 desta revisão foi discutir os principais fatores que interferem no bem-estar de bovinos leiteiros. DESENVOLVIMENTO O bem-estar animal A produção animal atual, que tem importante ênfase em eficiência produtiva está sujeita a novos desafios em decorrência de demandas de bem-estar animal (BEA) e de redução do seu impacto ambiental (SOUZA et al., 2013). Tais demandas estão inseridas no contexto da sustentabilidade da produção que, segundo o conceito multidimensional da FAO (2013), significa assegurar os direitos e o bem-estar humanos, sem reduzir a capacidade do planeta em manter a vida e sem ocorrer à custa do bem-estar de outros. Diversos questionamentos cercam a criação animal, pois não basta avaliar a produção ou a produtividade, mas é preciso verificar sustentabilidade, a ética, a aceitação social, os objetivos propostos, a necessidade e os recursos da comunidade para a qual foi projetado (FRASER; MATTHEWS, 1997; SOUZA et al., 2013). Adotar práticas de bem-estar e aplicar boas práticas de manejo é necessário para promover melhores condições aos animais e aumentar sua produtividade nas propriedades rurais. Entretanto, o custo adicional nos sistemas de produção que contemplam bem-estar é um dos principais obstáculos para oferecer um melhor tratamento aos animais nas propriedades rurais (OLIVEIRA, 2010). Assim, implantar mudanças nas atitudes humanas, que não requeiram investimentos adicionais, é o ponto de partida para a incorporação de bem-estar nas propriedades (HEMSWORTH; BARNETT, 2001; COSTA et al., 2010). Este assunto envolve questões complexas e abstratas, pois combina as condições de vida dos animais, incluindo a saúde, o comportamento, a criação, os sentimentos e o manejo (DUNCAN; FRASER, 1997; PETERS et al., 2010). Segundo Broom (1986) o bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às suas tentativas de adaptar-se ao seu ambiente. Além disso, é preciso atentar para o conceito das cinco liberdades, elaborado pelo Comitê de Brambell, na Inglaterra, em 1965, e que até hoje norteia o bem-estar dos animais de produção (FITZPATRICK et al., 2006). É importante entender que esse conceito deve ser avaliado pela ótica do animal e são eles: todos os animais devem ser livres de fome e sede; livres de ansiedade, medo e estresse; livres de desconforto; livres de dor e doenças; livres para expressar seu comportamento natural (MOLENTO, 2005). Estes indicadores fornecem um conjunto de princípios, sendo que os ideais expressos em cada liberdade representam os parâmetros a serem utilizados para avaliar se o bem-estar está sendo atendido. A partir da verificação do atendimento ou não das cinco liberdades pode-se quantificar o bem-estar de determinado animal (BROOM; FRASER, 2010). Segundo Fraser et al. (2009), para definir a condição de bem-estar animal devese adotar uma visão que aborde criteriosamente o animal e o ambiente onde ele está inserido. Independentemente de considerações morais, a medida e interpretação do Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 197 bem-estar devem ser objetivas. Assim, para mensurar o bem-estar animal é necessário identificar indicadores de alto e baixo grau e para isso deve-se considerar a natureza dos animais, os aspectos emocionais e a função biológica do animal em avaliação. Com relação à natureza dos animais, conhecê-la é fundamental para entender o comportamento normal e avaliar o bem-estar. O comportamento é uma das formas mais utilizadas para determinação do bem-estar (BROOM; FRASER, 2010). Por exemplo, sabe-se que bovinos são animais de hábito gregário, apresentam organização social bem estabelecida e são animais com comportamento de presa (GRANDIN, 1997). Além dessas características, os bovinos apresentam outros padrões comportamentais e fisiológicos próprios da espécie, como a ruminação (PHILLIPS, 2010). Quando em situações de avaliação do bem-estar utiliza-se a ocorrência e frequência de comportamentos anormais e estereotipias para definir o grau de bem-estar (MOLONY; KENT, 1997), por isso a importância de conhecer aspectos comportamentais naturais da espécie em avaliação, pois assim qualquer alteração no comportamento normal poderá ser identificada e poderão ser tomadas as providências para descobrir as causas e solucionar os problemas (BROOM; FRASER, 2010). Outro aspecto a ser considerado durante mensurações de bem-estar são as particularidades emocionais de cada animal como motivação, medo, preferência e outros. Esses aspectos subjetivos podem ser considerados quando se avalia bem-estar através de testes de preferência (FRASER; MATTHEWS, 1997). Além disso, medidas fisiológicas de prazer, como níveis de ocitocina, podem demonstrar o grau de bem-estar emocional em que o animal se encontra (BROOM; FRASER, 2010). A verificação do bem-estar pode ser realizada também através de indicadores fisiológicos como níveis de glicocorticoides, frequência cardíaca, frequência respiratória e respostas do sistema imune (PETERS et al., 2010). Ao longo dos anos a utilização das respostas fisiológicas como forma de avaliar a dor e o sofrimento, tem sido uma medida significativa para compreensão de como estes parâmetros podem auxiliar na mensuração do grau de bemestar (BROOM; FRASER, 2010). Quando o cérebro percebe o estímulo doloroso, o sistema nervoso simpático é ativado, produzindo a adrenalina. A adrenalina causa aumento na frequência cardíaca e na pressão sanguínea, além de aumentar os níveis do hormônio do estresse, o cortisol (FIERHELLER, 2009). Estes indicadores podem auxiliar na avaliação de bem-estar respeitando a função biológica. Assim, considerando a função biológica de determinado animal, que no caso de vacas leiteiras a principal finalidade é a reprodução e a produção de leite, é possível cumprir a função do animal e, ao mesmo tempo, atender ao bem-estar, de acordo com os indicadores fisiológicos (PETERS et al., 2010). Além disso, os indicadores de bem-estar auxiliam a identificar o estado do animal em relação à sua situação na escala, que varia de bem-estar muito alto a muito baixo (BROOM; FRASER, 2010). Algumas medidas são mais relevantes para problemas de curto prazo, como aqueles associados a manejo humano, enquanto outras são mais apropriadas para problemas de longo prazo (KEELING; JENSEN, 2007; BROOM; FRASER, 2010). Existem outros parâmetros que podem ser utilizados para avaliação do bem- estar, como o grau de higiene 198 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 da vaca leiteira, sendo que o elevado nível de limpeza da vaca é indicador de menor risco de exposição a agentes patogênicos ambientais, correlacionando-se com elevada incidência de mastites e altas contagens individuais de células somáticas (CERQUEIRA et al., 2011). Os fatores que afetam a higiene da vaca estão relacionados à dimensão do local aonde elas habitam e com a consistência das fezes. A pontuação da higiene na exploração permite quantificar o grau de sujidade e matéria fecal presente nas diferentes regiões anatômicas e fazer uma avaliação global da limpeza do animal (PETERS et al., 2010). Fatores que interferem no bem-estar de bovinos leiteiros Durante os últimos 50 anos, certos aspectos do manejo de bovinos alteraram-se de forma considerável, entretanto, de maneira simultânea, o conhecimento a cerca da fisiologia e comportamento bovino vem se aprimorando (CERQUEIRA et al., 2011). Esta espécie apresenta mecanismos cerebrais complexos que regulam seus processos comportamentais, uma estrutura social elaborada e capacidade sofisticada de aprendizagem (PETERS et al., 2010). Os dados que estabelecem tais fatos fizeram que muitos cientistas da produção animal reconsiderassem os efeitos das condições e dos procedimentos nos ambientes de produção, tanto em termos de sua eficiência no que tange à produção como em relação ao bem-estar dos animais (BROOM; FRASER, 2010). As práticas de manejo interferem no conforto animal e incluem desde aquelas relacionadas à simples intervenções, até cirurgias complexas que além da dor crônica e aguda podem causar depressão ao organismo (PETERS et al., 2010; CERQUEIRA et al., 2011). Um grave problema relacionado ao manejo é a mortalidade de bezerras, e decorre de problemas sociais e nutricionais, associados à criação até o desmame (JENSEN; BUDDE, 2006). Normalmente as bezerras leiteiras de reposição são alimentadas com um volume de leite equivalente a 10% do seu peso vivo, o que equivale a aproximadamente metade do seu consumo voluntário (APPLEBY et al., 2001). Mesmo quando as bezerras têm acesso à ração inicial, o consumo no primeiro mês não é suficiente para compensar a restrição nutricional (JASPER; WEARY, 2002). Em muitos aspectos do manejo de animais de produção, a melhora do grau de bem-estar leva à melhora da produção. Se o grau de bem-estar de uma vaca leiteira for melhorado, existirá com frequência uma maior produção de leite e, se o bem-estar das bezerras for melhorado, os consequentes aumentos na taxa de crescimento e nas chances de sobrevivência levam a vantagens econômicas para o produtor (APPLEBY et al., 2001). Já quando ocorre o comprometimento do bem-estar, além de alterações de comportamento está associado o baixo ganho de peso (VIEIRA et al., 2008). Outra questão relevante para o bem-estar e produtividade de vacas leiteiras é a qualidade das interações entre os animais e os humanos que os manejam (BOISSY, 1995; HEMSWORTH; COLEMAN, 1998; RUSHEN et al., 1999). O ser humano sempre teve interesse em animais menos agressivos e mais fáceis de lidar, promovendo a seleção dos animais portadores destas características (RUSHEN et al., 1999). A qualidade dessa interação entre homens e animais é representada pela atitude do homem em relação Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 199 aos animais, pela forma com que os animais são tratados pelo homem e pela resposta comportamental dos animais em relação a esse tratamento (ROSA, 2004). Muitas das interações entre o homem e o animal acontecem durante práticas habituais de rotina usadas no manejo dos animais. A docilidade é uma característica de valor econômico, pois a lida com animais agressivos implicaria em mais estresse e maiores custos com mão de obra, instalações, manejo, além da perda no rendimento e qualidade do produto (COSTA, 2000). Pesquisas têm mostrado que alguns comportamentos frequentes na rotina do retireiro podem resultar em animais altamente medrosos em relação ao ser humano (RUSHEN et al., 1999). Este alto nível de medo resultando em estresse agudo ou crônico pode limitar a facilidade de manejo, a produtividade e o bem-estar dos animais (HOTZEL et al., 2005). O comportamento dos animais amedrontados, que tendem a evitar o tratador, reforça o comportamento aversivo no manejador, em um processo de retroalimentação indesejável (RUSHEN et al., 1999; HOTZEL et al., 2005). Por exemplo, estima-se que 20% da variação do rendimento de leite em vacas é explicada pelo medo dessas em relação às pessoas que as tratam (BREUER et al., 2000), o que indica a ocorrência de estresse nos animais. Estima-se que ocorra perda de produção de até 1 kg de leite por ordenha em vacas tratadas aversivamente pelo ordenhador (ROSA, 2002). Principais enfermidades que interferem no bem-estar de bovinos leiteiros A sanidade é o maior componente do bem-estar animal, e é regido essencialmente pela interação entre os animais, o seu ambiente e organismos patológicos. A biossegurança deve ser a consideração chave em todos os sistemas de produção intensiva de gado, nos quais a transmissão de doenças tem de ser contida em animais muito próximos. Habitualmente, é nesses sistemas que ocorrem os maiores desafios para a saúde do gado (PHILLIPS, 2010). Na produção animal, a importância de uma doença é frequentemente julgada pelo impacto econômico direto, mas uma visão ampla exige um melhor entendimento de como determinada doença afeta o bem-estar animal (WELLS et al.,1998). Animais doentes com muita frequência têm dificuldade de enfrentar seu meio ambiente de modo bem sucedido, ou falham em tal tentativa, de forma que seu grau de bem-estar é mais baixo que o de um animal saudável em outras condições comparáveis (PETERS et al., 2010). Se a doença causa dor ou outros tipos de desconforto ou aflição, um tratamento veterinário que reduza os efeitos da doença melhorará claramente o grau de bem-estar do animal. É importante enfatizar, que não é o diagnóstico da doença que ocasiona o bem-estar, mas o tratamento consequente (BROOM; FRASER, 2010). A doença pode ser considerada como um importante indicador de bem-estar, porque em muitos casos pressupõe-se estar associada às experiências negativas, como dor, desconforto ou estresse (BROOM; FRASER, 2010). É evidente que a ocorrência de enfermidades pode ser utilizada como um indicador de baixo grau de bem-estar 200 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 em unidades de produção animal (RUSHEN et al., 2008). Esta medida de bem-estar é relevante, pois, o mesmo pode ser comprometido por vários fatores, entretanto, tem sido reconhecido que doenças têm um impacto negativo maior sobre o bem-estar (FITZPATRICK et al., 2006). Os distúrbios que têm maior impacto sobre o bem-estar são processos que causam sofrimento em longo prazo em condições que envolvem dor crônica progressiva. Além disso, as doenças de natureza multifatorial, sempre com importante componente ambiental, aparecem como resultado do efeito de fatores cuja incidência sobre o animal provoca estresse, por isso o aparecimento dessas alterações morfológicas ou doenças é um efeito de fatores estressantes repetidos (CERQUEIRA, 2011). Entre as consequências do baixo grau de bem-estar associado à doença tem-se a redução da resistência a outras doenças (BROOM; FRASER, 2010), podendo explicar casos em que uma doença inicialmente suave leva o animal à morte. A avaliação de dor em bovinos pode ser ainda mais difícil, pois estes são considerados espécies presa e menos prováveis de demonstrarem sinais de dor quando comparado com outros animais ou pessoas. Isto é um instinto natural de sobrevivência das espécies presas, onde a não expressão de sinais de dor ou doença evita a aproximação de predadores (FIERHELLER, 2009). Entre os comportamentos indicativos da condição de dor em bovinos de leite, que leva evidentemente a um baixo grau de bem-estar, pode-se citar a alteração do comportamento ingestivo, do comportamento social alterado e as mudanças do comportamento de ordenha. Três classes principais de comportamentos podem ser úteis na avaliação da dor, sendo que a mais óbvia destas são os comportamentos específicos da dor, como contorções, número crescente de vocalizações e comportamentos vigorosos de fuga (PETERS, 2012). A segunda classe de resposta à dor é a diminuição na frequência ou magnitude de certos comportamentos, por exemplo, a apatia geral tem sido considerada como um sinal clássico de dor em animais e estudos da dor, muitas vezes, inclui medidas de redução da atividade tais como, menor ingestão de alimentos ou reatividade (WEARY et al., 2006; PETERS, 2012). Uma terceira classe de medidas de dor são as de escolha ou preferência. O comportamento tem um papel importante na transmissão de uma ampla variedade de doenças, é consensual entre os pesquisadores que condições de enfermidades causam dor, apesar de ainda pouco se conhecer sobre o processo da dor em casos de inflamação da glândula mamária bovina (BROOM; FRASER, 2010). Os principais problemas de bem-estar de vacas leiteiras são problemas podais, mastite, problemas reprodutivos, e qualquer condição que torne o animal incapaz de demonstrar respostas comportamentais normais ou fisiológicas emergenciais (BROOM; FRASER, 2010; PETERS, 2012). Sob as condições de desconforto permanente causado por enfermidades, os animais passam menos tempo se alimentando e ruminando (ALMEIDA et al, 2008), o que leva a distúrbios metabólicos. As altas taxas de prevalência e incidência das afecções digitais em bovinos leiteiros, principalmente em sistemas de confinamento, incentivaram pesquisas nas quais diversos autores constataram que esta é a terceira maior causa de descarte nos rebanhos, ficando atrás apenas da mastite e problemas reprodutivos (RUTHERFORD et al., 2009). Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 201 As afecções do casco em bovinos levam a diminuição entre 5% e 20% na produção de leite por lactação, além de dificultar a observação e reduzir a ocorrência do estro e a taxa de concepção (GREEN et al., 2002). Também desencadeiam custos com tratamento de animais doentes, maior incidência de mastite, perda de valor genético por acometer frequentemente animais de grande valor, e em alguns casos pode até levar o animal a óbito (MARTINS et al., 2002; FERREIRA et al., 2005). Um dos principais fatores preponderantes que influenciam no bem-estar animal com relação aos problemas de casco na exploração de bovinos leiteiros é o pavimento. A higiene das superfícies também é considerada um fator chave que pode agravar os problemas de claudicação de origem infecciosa (COOK et al., 2005). Um dos principais entraves para a bovinocultura leiteira é a mastite, apesar do desenvolvimento de diversas estratégias para o seu controle e prevenção, continua sendo a doença que mais causa prejuízos a atividade leiteira. A mastite afeta rebanhos leiteiros do mundo inteiro, sendo considerada não só um problema econômico, mas também um sério problema ao bem-estar animal (BROOM; FRASER, 2010). Além do impacto econômico da mastite, resultante das perdas em produção de leite, alterações na composição e descarte de animais, fatores relacionados à dor e desconforto causado por esta doença devem ser considerados nos sistemas de produção leiteira, buscando assim elevar os níveis de bem-estar na propriedade e consequentemente, a produtividade animal (PETERS, 2012). Segundo Broom e Fraser (2010) o risco de ter baixo grau de bem-estar indicado por doenças como mastite, claudicação ou problemas de fertilidade é maior à medida que a produção aumenta. Por outro lado, baixos níveis de bem-estar ocasionados por doenças inflamatórias podem impedir o animal de atingir o potencial máximo de produção. As pesquisas avaliando a relação específica de doenças da glândula mamária e bem-estar são incipientes. Como ocorre com outras doenças, é difícil conhecer como a mastite afeta o bem-estar dos animais. No entanto, sabe-se que o efeito da mastite no animal depende da forma da doença (RUSHEN et al., 2008). Por exemplo, mastite sistêmica tem uma longa duração do efeito em relação à mastite localiza e pode ter maiores consequências no bem-estar. Vacas leiteiras com mastite sentem dor e tem seu bem-estar prejudicado, essa provavelmente é a maior fonte de dor em ruminantes (FITZPATRICK et al., 2006). Cabe afirmar que os animais são seres sencientes e tem capacidade de sentir e perceber dor, ou seja, se a mastite causa dor essa é, sem dúvida, percebida pelos animais, comprometendo assim o bem-estar e a produtividade animal (CERQUEIRA et al., 2011). A mastite afeta diretamente a terceira liberdade, a qual prevê que as vacas devem estar livres de dor e doenças para ter um alto grau de bem-estar (BROOM; FRASER, 2010). Desta forma, um animal submetido a um quadro clínico crônico de mastite não tratada adequadamente pode resultar, além das perdas em produção e composição do leite, em morte, o tratamento da dor objetiva tem como alvo, obter um estado no qual a dor não é totalmente eliminada, mas se torna muito mais suportável, ao mesmo tempo em que os aspectos positivos são conservados e potencializados (HELLEBREKERS, 2002). 202 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 A relação “doença”, “dor” e “bem-estar” formam um sistema em que os elementos influenciam-se entre si e cada um tem seu nível de importância. Apesar do atual reconhecimento, pelas pessoas, da capacidade dos animais em sentir dor, nem sempre um tratamento adequado é seguido (PETERS, 2012). Diante do exposto anteriormente percebe-se a importância de se preocupar com o controle da dor, pois ela pode ser vantajosa para a própria produtividade. Além disso, o alívio adequado da dor inflamatória estabelece uma condição de bem-estar geral do animal, com efeitos positivos sobre a velocidade e qualidade da recuperação (HELLEBREKERS, 2002), e talvez, com impacto sobre a capacidade produtiva em lactações futuras. Influência do ambiente no bem-estar de bovinos leiteiros O estresse calórico é um típico problema encontrado no manejo de vacas leiteiras nos países de clima tropical e subtropical, causando reduções na produção e mudanças na composição do leite, redução na ingestão de alimentos e aumento na ingestão de água. A perda de produção de leite devido ao aumento de temperatura depende de fatores como a umidade relativa do ar, velocidade do vento, nutrição e outros fatores relacionados ao manejo (HEAD, 1995). O estresse térmico se deve à baixa adaptação das raças bovinas leiteiras especializadas às condições de clima e de manejo prevalentes em regiões tropicais. Diferentes autores têm demonstrado que criar animais, em ambiente de conforto e bemestar, pode refletir diretamente na melhora de seus desempenhos produtivo e reprodutivo (LEME et al., 2005). As condições climáticas no verão podem causar desconforto e até o óbito de animais menos adaptados. O calor excessivo reduz a ingestão alimentar e aumenta o gasto de energia para manutenção do equilíbrio térmico (MADER et al., 1999). Além disso, o estresse calórico diminui a produção de leite e a eficiência reprodutiva resultando em baixo desempenho dos animais (ARMSTRONG et al., 1993). São realizadas alterações de comportamento pelo animal com o intuito de reduzir a produção de calor ou promover a sua perda, evitando estoque adicional de calor corporal. Essas alterações referem-se à mudança do padrão usual de postura, movimentação e ingestão de alimentos. Em geral, verifica-se que o percentual de vacas se alimentando durante as horas mais quentes do dia é maior em ambientes sombreados, especialmente no verão (PERERA et al., 1986). Rossarolla (2007) constatou que os animais sem acesso à sombra diminuem o tempo de pastejo, sem conseguir compensá-lo com pastejo noturno. As vacas observadas neste estudo ruminaram mais à noite, não havendo diferença entre tratamentos, entretanto durante o dia as vacas sem disponibilidade de sombra permaneceram mais tempo em ruminação. Além disso, animais sem acesso à sombra tiveram a temperatura retal, frequência cardíaca e respiratória aumentadas em comparação com os animais que tiveram acesso à sombra. Tem sido verificado também, que vacas leiteiras passam menor tempo em pastejo no verão e maior tempo no inverno. Por outro lado, no inverno, a porcentagem de vacas ruminando é maior do que no verão (WERNECK, 2001) e os animais permanecem maior tempo em ócio durante o verão do que no inverno (PERERA et al., 1986). Ademais, visando aumentar a perda de calor, Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 203 no verão, as vacas passam maior tempo em pé, ao contrário do inverno, época em que elas preferem ficar deitadas (ARMSTRONG, 1993; WERNECK, 2001). O sistema silvipastoril pode ser uma opção para prover sombra aos animais. Este sistema caracteriza-se pelo cultivo de espécies arbóreas em associação com pastagens. As árvores, além contribuírem para a melhora na produção, qualidade e sustentabilidade das pastagens, contribuem para o conforto dos animais, atenuando as temperaturas extremas, diminuindo o impacto de chuvas e vento, e servindo de abrigo (CARVALHO, 1998). Também em sistemas de criação confinados (free-stall) o bem-estar pode estar comprometido. Poderá haver ventilação deficitária, muitos animais ofegantes na tentativa de amenizar o calor. Ainda, se o dimensionamento da cama não for correto, ou se o material da cama for de qualidade inferior, o descanso pode ficar comprometido. Um descanso inferior ao requerido, além do estresse do animal, pode predispor a enfermidades podais. O ideal é encontrar 80% das vacas deitadas na cama (COOK et al., 2005). É preciso também observar a limpeza das baias, pois isso está diretamente relacionado a problemas sanitários, principalmente mastite. Estudos demonstram que os valores da produção de leite apresentaram diferenças significativas conforme as instalações. Para vacas da raça Jersey, a climatização da sala de espera propiciou uma produção de leite 19% maior que o grupo não climatizado (PINHEIRO et al., 2005). A aspersão utilizada em galpões tipo freestall pode proporcionar um aumento de 3% na produção de leite em relação à utilização de nebulização (PERISSINOTTO et al., 2006). Alternativas para assegurar o BEA de bovinos de leite Em relação à manutenção de um ambiente de conforto térmico, os pecuaristas têm uma gama de técnicas disponíveis para atenuar os efeitos do clima de inverno em climas temperados, fornecendo abrigo, aumentando a condição corporal e proporcionando maior quantidade e qualidade de alimentos (TUCKER et al., 2007). Já para atenuar os problemas com o calor é possível diminuir a temperatura ambiental modificando a estrutura do galpão onde os animais são mantidos, ou pela a introdução de instalações de refrigeração. Aumentando a perda de calor a partir de animais por aspersão com água, utilizando ventiladores entre outros. Aumentando a eficiência da energia de alimentação utilização, e reduzindo o calor incremento de animais de alimentação (TUCKER et al., 2008). Outro ponto chave para assegurar o bem-estar de bovinos de leite está relacionado à implantação das boas práticas de manejo. Uma boa relação homem-animal deve ser estabelecida desde o início da vida das bezerras. De maneira alguma se deve utilizar de um manejo aversivo em qualquer atividade a fim de desenvolver o bem-estar na fazenda, oferecendo melhores condições de vida para todos que nela vivem e trabalham (GARCIA, 2013). 204 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 CONCLUSÃO O bem-estar animal está em pleno desenvolvimento no mundo, e quanto mais às sociedades se conscientizam da forma de como os animais vem sendo submetidos, mais existirão exigências e barreiras àqueles que não se adequarem a este novo modo de produzir. Conhecer e respeitar o bem-estar de bovinos de leite requer a observação de muitas variáveis que podem o comprometer. Com base nos estudos descritos na literatura pode-se afirmar que em todas as etapas de produção e para todas as diferentes categorias animais é necessária maior atenção ao bem-estar. REFERÊNCIAS ALMEIDA, P. E.; WEBER, P. S. D.; BURTON, J. L.; ZANELLA, A. J. Depressed DHEA and increased sickness response behaviors in lame dairy cows with inflammatory foot lesions. Domestic Animal Endocrinology, v.34, p.89-99, 2008. APPLEBY, M. C.; WEARY, D. M.; CHUA, B. Performance and feeding behaviour of calves on ad libitum milk from artificial teats. Applied Animal Behaviour Science, v.74, n.3, p.191-201, 2001. ARMSTRONG, D. V.; WELCHERT, W. T.; WIERSMA, F. Environmental modification for dairy cattle housing in arid climates: livestock environment. Saint Joseph: American Society of Agricultural Engineers, 1993. BATTISTI, L.; BITTENCOURT, M. V. J.; PITTA, R. S. C.; KOVALESKI, L. J.; ALVARENGA, P. H. T. A evolução da cadeia produtiva do leite no Brasil: uma análise pósdécada de 90. III Congresso Brasileiro de engenharia de produção. Ponta Grossa, Paraná, 2013. BOISSY, A. Fear and fearfullness in animals. The Quaterly Review of Biology, v.70, n.2, p.165-191, 1995. BOND, G. B.; OSTRENSKY A. A.; MOLENTO, C. F. M. Métodos de diagnóstico e pontos críticos de bem-estar de bovinos leiteiros. Cienc. Rural, Santa Maria, v.42, n.7, jul. 2012. BOND, G. B.; OSTRENSKY, A.; ALMEIDA, R.; MOLENTO, C. F. M. Diagnóstico de bem-estar em bovinos de leite no Estado do Paraná. Projeto bem-estar de bovinos leiteiros: relatório parcial. Laboratório de Bem-estar Animal – LABEA/UFPR, Curitiba, p.37, 2007. BREUER, K.; HEMSWORTH, P.; BARNETT, J. Behavioural response to humans and the productivity of commercial dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, v.66, n.4, p.273-288, 2000. BROOM, D. M. Indicators of poor welfare. British Veterinary Journal, London, v.142, p.524-526, 1986. BROOM, D. M.; FRASER, A. F. Comportamento e bem-estar de animais domésticos. São Paulo: Manole, 4.ed, p.438, 2010. CARVALHO, M. M. Arborização em pastagens cultivadas. Juiz de Fora: EMBRAPACNPGL. Documentos, 64, p.37, 1998. CERQUEIRA, L. J.; ARAÚJO, P. J.; SORENSEN, T. J.; RIBEIRO, N. J. Alguns indicadores de avaliação de bem-estar em vacas leiteiras – revisão. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, 2011. Disponível em: http://www.fmv.utl.pt/spcv/PDF/ pdf12_2011/5-19.pdf. Acesso em: 10 jun. 2013. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 205 COOK, N. B.; BENNETT, T. B.; NORDLUND K. V. Monitoring Indices of Cow Comfort in Free-Stall-Housed Dairy Herds. Journal of Dairy Science. Volume 88, Issue 11, 2005. COSTA, M. J. R. P. Ambiência na produção de bovinos de corte a pasto. In: ENCONTRO ANUAL DE ETOLOGIA. 2000, Florianópolis. Anais... Florianópolis: Sociedade Brasileira de Etologia, 2000. p.26-42. DUNCAN, I. J. H.; FRASER, D. Understanding animal welfare. In: APPLEBY, C; HUGHES, B.O. Animal welfare. London, 1997. p.19-32. FAO. Sustainability Pathways. 2013a. Disponível em: <http://www.fao.org/nr/ sustainability/en/>. Acesso em: 11 jun. 2013. FAO. Capacitação para implementar boas práticas de bem-estar animal. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Roma, 2009. FERREIRA, P. M.; CARVALHO, A. U.; FACURY FILHO, E. J.; FERREIRA, M. G.; FERREIRA, R. G. Sistema locomotor dos ruminantes. Belo Horizonte: Escola de Veterinária da UFMG, 39p., 2005. FIERHELLER, E. E. Reducing pain during painful procedures. Advances in Dairy Technology, v.21, p.129-140, 2009. FITZPATRICK, J.; SCOTT, M.; NOLAN, A. Assessment of pain and welfare in sheep. Small Rum. Res., v.62, p.55-61, 2006. FRASER, A. F.; KHARB, R. M.; MCCRIDLE, C. et al. Capacitação para implementar boas práticas de bem-estar animal – Relatório do Encontro de Especialistas da FAO, 2008. Roma: FAO, 2009. 60p. FRASER, D.; MATTHEWS, L. Preference and motivation testing. In: APPLEBY, M. C.; HUGHES, B. O. Animal Welfare. Wallingford: CAB International, p.159-173, 1997. GARCIA, P.R. Sistema de avaliação do bem-estar animal para propriedades leiteiras com sistema de pastejo. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade de São Paulo. Piracicaba 2013. Disponível em: http://www.nupea.esalq.usp.br/imgs/teses/disserta--overs-o-final-Paulo.pdf. Acesso em: 25 nov. 2013. GOMES, C. C. M. Relação ser humano-animal frente a interações potencialmente aversivas na rotina de criação de vacas leiteiras. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Agrárias. Florianópolis, 2008. GRANDIN, T. Assessment of stress during handling and transport. Journal of Animal Science, v.75, p.249-257, 1997. GREEN, L. E.; HEDGES, V. J.; SCHUKKEN,Y. H.; BLOWEY, R. W.; PACKINGTON, A. J. The impact of clinical lameness on the milk yield of dairy cows. Journal of Dairy Science, Champaign, n.85, p.2250-2256, 2002. HARRISON, R. Animal Machines: The new factory farming industry. London: Vincent Stuart Ltd, 1964. HEAD, H. H. Management of dairy cattle in tropical and subtropical environments: improving production and reproduction. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMETEOROLOGIA, Jaboticabal. Anais... Jaboticabal: SBBiomet, 1995. p.26-68. HELLEBREKERS, L.J. Dor em animais. São Paulo: Manole, 2002. 166p. HEMSWORTH, P. H.; BARNETT, J. L. The importance of animal comfort for animal production in intensive grassland systems. In: INTERNATIONAL GRASSLAND CONGRESS. Piracicaba. Anais… Piracicaba: 2001. p.425-433, 2001. 206 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 HEMSWORTH, P. H.; COLEMAN, G. J. Human-Livestock Interactions: The Stockperson and the Productivity and Welfare of Intensively-farmed Animals. C. A. B. International Oxon: 1998, p.430. HOTZEL, J. M.; FILHO, M. P. C. L. Bem-estar animal na agricultura do século XXI. Revista de Etologia, v.6, n.1, 03-15, 2004. HÖTZEL, M. J.; MACHADO, L. C. P.; PINHEIRO MACHADO FILHO, L. C.; YUNES; SILVEIRA, M. C. A. C. Capacidade de vacas leiteiras de identificarem um ordenhador aversivo. Revista Brasileira de Zootecnia. 34, p.1278-1284, 2005. Disponível em: http:// www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010384782008000500023&lng=pt& nrm=iso. Acesso em: 25 jun. 2013. JASPER, J.; WEARY, D. M. Effects of ad libitum milk intake on dairy calves. Journal of Dairy Science, v.85, n.11, p.3054-3058, 2002. JENSEN, M. B.; BUDDE, M. The Effects of Milk Feeding Method and Group Size on Feeding Behavior and Cross-Sucking in Group-Housed Dairy Calves. Journal of Dairy Science, v.89, n.12, p.4778-4783, 2006. KEELING, L.; JENSEN, P. Behavioural disturbances, stress and welfare. In: LABEA/ UFPR, 2007. 37p. LEME T. M. S. P.; PIRES, M. F. A.; VERNEQUE, R. S.; ALVIM, M. J.; AROEIRA L. J. M. Comportamento de vacas mestiças holandês x zebu, em pastagem de Brachiariadecumbens em sistema silvipastoril. Ciênc. agrotec., Lavras, v.29, n.3, p.668-675, maio/jun. 2005. MADER, T. L.; DAHLQUIST, J. M.; HAHN, G. L.; GAUGHAN, J. B. Shade and wind barrier effects on summertime feedlot cattle performance. Journal of Animal Science, Champaign, v.77, p.2065-2072, 1999. MARTINS, C. F.; SARTI, E.; BUSATO, I.; PIRES, P. P.; FIORI, C. H.; MOREIRA, C.; SOARES, K.; BETINI, B.; VELASQUEZ, M. Prevalência e classificação das afecções podais em vacas lactantes na bacia leiteira de Campo Grande e municípios arredores-MS. Ensaios e Ciência, Campo Grande, v.6, n.2, p.113-137, 2002. MOLENTO, C. F. M. Bem-estar e produção animal: aspectos econômicos. Archives of Veterinary Science, v.10, n.1, p.1-11, 2005. MOLONY, V.; KENT, E. Assessment of acute pain in farm animals using behavioral and physiological measurements. Journal of Animal Science, v.75, p.266-272, 1997. OLIVEIRA, G. C. B. Interação ordenhador-vaca: Respostas comportamentais produtivas e econômicas de vacas leiteiras submetidas ao manejo de três ordenhadores. 2010. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Campus de Itapetinga. Disponível em: http://www.uesb.br/ppz/Defesas%202010/GLEITON%20CEZAR%20BATISTA%20 SOUZA/Disserta%C3%A7%C3%A3o-%20Intera%C3%A7%C3%A3o%20 Ordenhador-%20vaca.pdf. Acesso em: 05 dez. 2013. PACIULLO, D. S. C.; HEINEMANN, A. B.; MACEDO, R. O. Sistemas de produção de leite baseados no uso de pastagens. Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos, Goiás, v.1, n.1, p.88-106, 2005. PERERA, K. S.; GWADAUSKAS, F. C.; PEARSON, R. E.; BRUMCACK JUNIOR, T. B. Effect of season and stage of lactation on performance of Holstein. Journal Dairy Science, Champaign, v.69, p.228-236, 1986. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 207 PERISSINOTTO, M. et al. Eficiência econômica de sistemas de climatização em galpões tipo freestall, para o confinamento de bovinos leiteiros. Engenharia Rural, Piracicaba, v.18, p.59-63, 2006. PETERS, M. D. P. Avaliação da mastite e seu impacto sobre a sensibilidade à dor em vacas leiteiras. Tese de doutorado. Área de conhecimento: produção animal. Programa de Pós-Graduação em Zootecnia.Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2012. Disponível em: http://www.ufpel.edu.br/faem/ppgz/ sites/default/files/Tese%20M%C3%B4nica%20Peters%202012.pdf. Acesso em: 05 jun. 2013. PETERS, M. D. P.; BARBOSA SILVEIRA, I. D.; PINHEIRO MACHADO FILHO, L. C. et al. Manejo aversivo em bovinos leiteiros e efeitos no bem estar, comportamento e aspectos produtivos. Archivos de Zootecnia, v.59, p.435-442, 2010. PHILLIPS, C. J. C. Principles of Cattle Production.2° Ed. Cambridge University Press, UK, p.75-129, 2010. PINHEIRO, M. G. et al. Efeito do ambiente pré-ordenha (sala de espera) sobre a temperatura da pele, a temperatura retal e a produção de leite de bovinos da raça Jersey. Revista Portuguesa de Zootecnia, Vila Real, v.12, n.2, p.37-43, 2005. ROSA, M. S. Interação entre retireiros e vacas leiteiras na ordenha. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal. 52p. 2002. ROSA, M. S. Ordenha sustentável: a interação retireiro-vaca. 2004. 83 f. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2004. ROSSAROLLA, G. Comportamento de vacas leiteiras da raça Holandesa, em pastagem de milheto com e sem sombra. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) na Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS, Brasil 2007. RUSHEN, J.; TAYLOR, A. A.; DE PASSILLE, A. M. Domestic animals’ fear of humans and its effect on their welfare. Applied Animal Behaviour Science, v.65, n.3, p.285-303, 1999. RUSHEN, J.; DE PASSILÉ, A. M.; VON KEYSERLINGK, M. A. G; WEARY, D. M. The Welfare of cattle. The Netherlands: Springer, v.5, 2008. RUTHERFORD, K. M. D.; LANGFORD, F. M.; JACK, M. C.; SHERWOOD, L.; LAWRENCE, A. B.; HASKELL, M. J. Lameness prevalence and risk factors in organic and non-organic dairy herds in the United Kingdom. The Veterinary Journal 180: 95105. 2009. SOUZA, A. P. O.; FRANCO, B. M. R.; MOLENTO, C. F. M. III Simpósio de Sustentabilidade e Ciência Animal. Bem-estar de frangos de corte na sustentabilidade ambiental da produção avícola. 2013. Disponível em: http://sisca.com.br/resumos/ SISCA_2013_049.pdf. Acesso em: 10 de Janeiro de 2014. TUCKER, C. B.; ROGERS A. R, SCHUTZ, K. E. Effect of solar radiation on dairy cattle behaviour, use of shade and body temperature in a pasture-based system. Applied Animal Behaviour Science 109 (2008) 141-154. TUCKER, C. B.; ROGERS A. R.; VERKERK G. A.; KENDALL P. E.; WEBSTER J. R.; MATTHEWS L. R. Effects of shelter and body condition on the behavior and physiology of dairy cattle in winter. Applied Animal Behaviour Science 105 (2007) 1-13. 208 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 VIEIRA, A.; GUESDON, V.; DE PASSILLE, A. M.; VON KEYSERLINGK, M. A. G.; WEARY, D. M. Behavioural indicators of hunger in dairy calves. Applied Animal Behaviour Science, v.109, p.180-189, 2008. VILELA, D.; LEITE, J. L. B.; RESENDE, J. C. Políticas para o leite no Brasil: passado, presente e futuro. In: Simpósio sobre sustentabilidade pecuária leiteira na região Sul do Brasil, 1., 2002, Maringá. Anais… Maringá: UEM/CCA/DZO/NUPEL, 2002. p.1-26. WEARY, D. M.; NIEL, L.; FLOWER, F.C.; FRASER, D. Identifying and preventing pain in animals. Applied Animal Behaviour Science, v.100, n.1-2, p.64-76, 2006. WELSS, S. J.; OTT, S. L.; HILLBERG, S. A. Key health issued for dairy cattle – new and old. Journal of Dairy Science, v.81, p.3029-3035, 1998. WERNECK, C. L. Comportamento alimentar e consumo de vacas em lactação (holandêszebu) em pastagem de capim elefante (Pennisetumpurpureum, Sehum.). 2001. 58f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2001. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 209 Particularidades na contenção química e na anestesia de serpentes Fernanda Soldatelli Valente Simone Passos Bianchi Emerson Antonio Contesini RESUMO Atualmente observa-se um crescente aumento no interesse em répteis, seja como instrumentos de pesquisa ou animais de estimação. A contenção química e anestesia em serpentes é uma ciência pouco estudada, e sua utilização se faz necessária na maioria dos procedimentos clínicos e cirúrgicos, principalmente em espécies grandes e peçonhentas. É imprescindível um interesse especial pela anatomia e fisiologia desse grupo de répteis, uma vez que eles são delicados e vulneráveis aos efeitos adversos do uso inadequado da anestesia, não sendo possível, em muitos casos, extrapolar doses e resultados dos animais domésticos. A anestesia inalatória, principalmente com isoflurano, tem se tornado a prática padrão para serpentes, pois é mais segura e a recuperação do animal é mais rápida. Os agentes injetáveis, tais como fenotiazínicos, benzodiazepínicos, agonistas α2-adrenérgicos, opioides e propofol em associação com a cetamina também podem ser utilizados para a indução e manutenção da anestesia. Os agentes bloqueadores neuromusculares e o frio (hipotermia) são ainda utilizados por alguns profissionais para imobilização de serpentes, no entanto, esses não produzem qualquer efeito analgésico ou anestésico; sendo, hoje em dia, considerado inaceitável o seu uso para esses fins. A anestesia local pode ser utilizada em serpentes e proporciona uma analgesia adicional além de, reduzir a quantidade do agente anestésico utilizado. A escolha do protocolo anestésico depende de vários fatores, tais como o estado do animal, o tipo e a duração do procedimento a ser realizado e o custo dos agentes utilizados. Sem dúvida, os agentes de escolha para as serpentes (e répteis em geral) são os anestésicos que tenham metabolização rápida. Palavras-chave: Répteis. Fármacos injetáveis. Anestésicos inalatórios. Particularities in the chemical restraint and anesthesia of snakes ABSTRACT Nowadays a crescent increase has been observed on the interest for reptiles such as instruments of survey or pets. Chemical restraint and anesthesia in snakes is a science a little studied, and its application is necessary in most of the clinical and surgical procedures, especially, in large and venomous species. It is indispensable an special interest for anatomy and Fernanda Soldatelli Valente – Médica Veterinária, residência em cirurgia de pequenos animais (UFRGS), Mestre em Cirurgia e Anestesiologia Animal (UFRGS), Doutoranda do PPGCV-UFRGS. Simone Passos Bianchi – Médica Veterinária, residência em cirurgia de pequenos animais (UFRGS), Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias (PPGCV) da UFRGS. Emerson Antonio Contesini – Médico Veterinário, Doutorado em Medicina Veterinária (UFSM), Professor Associado de Cirurgia da Faculdade de Veterinária da UFRGS. Endereço: Rua Murilo Furtado, 49 apto. 303, Bairro Petrópolis, 90470-440, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: [email protected] v.10 v.10, n.2, n.2 jan./jun. p.210-221 Canoasem Foco, 210Veterinária em Foco Veterinária 2013 jan./jun. 2013 physiology in this group of reptiles, once that they are delicates and vulnerable to adverse effects of inadequate anesthesia using, being not possible, to many cases, extrapolate doses and results from domestic animals. Inhalational anesthesia, mainly with isoflurane, has become standard practice to snakes, because it is safer and the animal recovery is faster. Injectables agents such as phenothiazine, benzodiazepines, alpha2-agonist, opioids, propofol associated also with ketamine should be used for anesthesia induction and maintenance. Neuromuscular blockers agents and cold (hypothermia) are still used by some professionals to snakes immobilization, however this doesn’t make whatever analgesic or anesthetic effects, being actually, considered unacceptable its use for such purposes. Local anesthesia can be performed in snakes and provides additional analgesia, beyond decrease the amount of anesthetic agent used. The choice of anesthetic protocol depend on many factors, such as animal status, the kind of procedure and the procedure time to be done and the cost of the used agents. No doubt, the chosen agents for snakes (and reptiles in general) are anesthetics that have fast metabolism. Keywords: Reptiles. Injectable drugs. Inhalational anesthetics. INTRODUÇÃO Atualmente observa-se um crescente aumento no interesse em répteis, seja como instrumentos de pesquisa ou animais de estimação. Os procedimentos clínico-cirúrgicos nesta classe receberam relativa importância ao longo dos anos e, consequentemente, a anestesia nestes animais deixou de ser puramente empírica (CARREGARO et al., 2009). A contenção física precede a anestesia nos répteis, devendo-se para tanto conhecer o comportamento e mecanismos de ataque/defesa desses animais, a fim de, se evitar acidentes com a equipe de trabalho e com os próprios animais (NUNES et al., 2006). Existe uma grande variedade de serpentes com diversos tamanhos e comportamentos. O seu manejo requer o conhecimento a cerca da sua biologia, se peçonhenta ou não, como inocula o veneno (algumas podem “cuspir”), se lenta ou ágil, para que se possa usar o equipamento e a proteção adequados (CRUZ; NUNES, 2008). De igual importância são as particularidades anatômicas e fisiológicas que interferem diretamente em um procedimento anestésico (NUNES et al., 2006). A anestesia inalatória, principalmente com isoflurano, tem se tornado a prática padrão para serpentes, pois é mais segura e a recuperação do animal é mais rápida. A anestesia injetável pode ser feita lentamente na veia caudal com cloridrato de cetamina associada ao cloridrato de xilazina (KOLESNIKOVAS et al., 2006). De acordo com Nunes et al. (2006), em um levantamento dos principais anestésicos empregados em répteis, utilizando-se 367 animais, constatou-se que em 88% dos casos foram utilizados anestésicos inalatórios; a cetamina e o propofol foram os agentes injetáveis mais empregados. Essa pesquisa bibliográfica tem como objetivo descrever os principais fármacos utilizados na contenção química e anestesia, inalatória e injetável, em serpentes, além de, suas associações em protocolos para os diferentes procedimentos anestésicos. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 211 DESENVOLVIMENTO Medicação pré-anestésica/tranquilização/sedação O tipo e a quantidade de agentes pré-anestésicos dependem da espécie de réptil a ser anestesiada e do procedimento a ser executado. Grandes crocodilos, serpentes de grande porte ou peçonhentas e quelônios talvez necessitem da administração de um agente injetável, previamente, para facilitar o manuseio e a indução da anestesia com um agente inalatório (por exemplo, isoflurano) ou injetável (por exemplo, propofol). Répteis candidatos a submeter-se a procedimentos cirúrgicos ou dolorosos, devem receber a administração de um agente analgésico pré-operatório como butorfanol ou buprenorfina para um regime anestésico balanceado. A administração desses agentes proporciona analgesia transoperatória e pós-operatória e frequentemente reduz a quantidade do agente inalatório utilizado para a manutenção da anestesia (SCHUMACHER; YELEN, 2006). A maioria das serpentes pode ser pré-medicada com butorfanol (1 a 4mg/ kg, IM) ou uma dose baixa de cetamina (5 a 20 mg/kg, IM) antes da indução com um agente inalatório (por exemplo: isoflurano 5% ou sevoflurano 8%). Serpentes grandes podem ser pré-medicadas com tiletamina/zolazepam (2 a 4 mg/kg IM) para facilitar o manuseio, a intubação endotraqueal e a indução com um agente inalatório (SCHUMACHER; YELEN, 2006). Em um estudo desenvolvido por GARCIA (2012) foi utilizada morfina (3mg/kg, IM) associada à cetamina (3mg/kg, IM) como medicação pré-anestésica, previamente à indução com bucha de gaze embebida em isoflurano, obtendo-se resultados satisfatórios. Os fenotiazínicos não promovem sedação adequada, apenas tranquilização, mas ajudam na redução da dose do agente indutor. Sugere-se o emprego da acepromazina (0,1 a 0,5mg/kg, IM), porém, como sua absorção ocorre mais lentamente deve ser administrada uma hora antes; ou, então, o uso da clorpromazina (10mg/kg, IM) (NUNES et al., 2006; CRUZ; NUNES, 2008). Os benzodiazepínicos, como o diazepam (0,2 a 2mg/kg, IM ou IV) e o midazolam (1 a 2mg/kg, IM ou IV) se usados sozinhos tem um mínimo efeito sedativo na maioria dos répteis. Geralmente, nos protocolos anestésicos, os benzodiazepínicos são associados com agentes dissociativos como a cetamina (10 a 60mg/kg, IM) pelo efeito miorrelaxante e agentes opioides como o butorfanol (1 a 4mg/kg, IM) ou buprenorfina (0,02 a 0,2mg/kg, IM) (SCHUMACHER; YELEN, 2006). Os benzodiazepínicos promovem extensão da cabeça e reduzem a resistência em abrir a boca, sem causar alterações nas frequências cardíaca e respiratória, podendo ser utilizado para exame clínico mais apurado, fluidoterapia e alimentação forçada por meio de sonda esofágica (NUNES et al., 2006; CRUZ; NUNES, 2008). Os agentes dissociativos mais frequentemente utilizados para a sedação de serpentes são a cetamina, na dose de 22 a 44mg/kg, IM, e a tiletamina/zolazepam, na dose de 11 a 22mg/kg, IM. Em casos de bradicardia intensa ou prolongada, recomenda-se o uso de sulfato de atropina (0,01 a 0,04mg/kg, IM ou IV), porém a maioria dos autores refere que bradicardia e sialorreia não são frequentes em répteis (CRUZ; NUNES, 2008). 212 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 Indução anestésica Para a administração intravenosa do agente de indução, pode ser utilizada a veia ventral caudal, para a administração de propofol (3 a 5mg/kg, IV) ou outro agente anestésico. Serpentes peçonhentas podem ser induzidas na câmara de indução ou diretamente intubadas e mantidas com um agente anestésico inalatório. Tubos plásticos claros são ideais para o manuseio de serpentes peçonhentas, pois permitem uma barreira segura e visualização do animal. Esses tubos são frequentemente providos de pequenos orifícios e fendas que possibilitam a aplicação de injeções e coleta de amostras. Uma vez que a serpente está contida no tubo plástico, um anestésico inalatório pode ser administrado através do tubo para facilitar a indução da anestesia e a intubação endotraqueal (SCHUMACHER; YELEN, 2006). A progressão do relaxamento muscular em serpentes é craniocaudal na indução e caudocranial na recuperação anestésica. O reflexo de reposicionamento em serpentes é realizado posicionando-se o animal em decúbito dorsal. Ele tentará voltar ao decúbito ventral se estiver em plano anestésico superficial. O reflexo de dor pode ser avaliado por meio do pinçamento cutâneo (NUNES et al., 2006). Em todas as serpentes, os reflexos palpebrais e corneais não podem ser avaliados, devendo-se utilizar reflexos adicionais como o caudal e o cloacal para o monitoramento do animal (SCHUMACHER; YELEN, 2006). Anestesia injetável Nas serpentes, injeções IM são administradas nos músculos paravertebrais, enquanto que injeções IV podem ser realizadas na veia coccígea ventral ou na veia jugular direita, após pequena incisão cutânea. As injeções intracardíacas só deverão ser aplicadas em situações de emergência (FERNANDES, 2010). A via intraóssea (IO) não é viável em serpentes (LONGLEY, 2008). Muitos agentes injetáveis têm sido utilizados e investigados para indução e manutenção da anestesia em répteis. A maioria desses agentes, especialmente quando usados sozinhos em altas dosagens, está associada a nítidos efeitos depressivos do sistema cardiovascular, tempos de indução e recuperação prolongados, relaxamento dos músculos de forma não satisfatória e analgesia insuficiente durante a manutenção anestésica. O agente anestésico dissociativo mais comumente utilizado em répteis para produzir imobilização e indução da anestesia é a cetamina. É considerada segura na maioria dos répteis e pode ser administrada pelas vias intramuscular e intravenosa. Quando utilizada sozinha, resulta em pobre relaxamento muscular, mínima analgesia e, se usada em altas dosagens, prolongado tempo de recuperação anestésica (SCHUMACHER; YELEN, 2006). De acordo com Carregaro et al. (2009), devido às particularidades anatômicas e comportamentais, a anestesia em serpentes deve priorizar o uso de medicamentos passíveis de administração intramuscular e elevada segurança anestésica. Neste sentido, os agentes dissociativos se destacam, pois além da segurança anestésica em serpentes, promovem poucas alterações fisiológicas em doses adequadas Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 213 (BENNETT, 1991). O uso isolado da cetamina é realizado há vários anos em serpentes para facilitar a contenção, possibilitar a realização de exames clínicos e diminuir o estresse do procedimento (HILL; MACKESSY, 1997). Entretanto, poucos enfatizam as alterações fisiológicas dos animais no período transanestésico, atentando-se apenas na possibilidade de contenção e na segurança do procedimento, tanto para o animal quanto para o profissional (SCHUMACHER et al., 1997). Em serpentes, o uso da cetamina isolada tem causado depressão respiratória, hipertensão e taquicardia, estando contraindicada em pacientes desidratados, ou com problemas renais e/ou hepáticos (FERNANDES, 2010). Portanto, ela é raramente utilizada sozinha e frequentemente associada, em baixas dosagens, com agentes sinérgicos como os benzodiazepínicos (diazepam, midazolam), agentes opioides (butorfanol, buprenorfina) ou agonistas alfa2-adrenérgicos (medetomidina). A adição de agentes sinérgicos permite que a dose da cetamina seja reduzida e resulta em melhor qualidade da anestesia, caracterizada pela indução e recuperação mais rápida e suave, além de, melhor relaxamento dos músculos e analgesia durante a manutenção anestésica (SCHUMACHER; YELEN, 2006). A cetamina é uma escolha apropriada para animais que requerem contenção química. De acordo com Oliveira (2003), a dose recomendada para répteis é de 20 a 45mg/kg, IM, podendo ser administrada doses adicionais, se necessário. Para Cruz e Nunes (2008), a cetamina deve ser utilizada para a anestesia injetável na dose de 55 a 80mg/kg, IM. O período de latência varia de 10 a 30 minutos; o de recuperação de 24 a 96 horas, sendo essa variação dependente da temperatura. Carregaro et al. (2009) observaram a recuperação de serpentes anestesiadas com cetamina (80mg/kg, IM) e submetidas à hipotermia (< 22ºC) ou à normotermia (30ºC). De acordo com esse estudo, a recuperação dos animais mantidos em hipotermia foi mais prolongada (5,5 horas) em relação aos animais condicionados a normotermia (3,5 horas). Não houve diferença em relação ao período de latência entre os grupos. A temperatura corporal reduzida pode até dobrar o período de duração da anestesia com cetamina (80mg/kg, IM) em cascavel. Por isso, recomenda-se sempre aquecer o animal no período transcirúrgico (GARCIA, 2012). As taxas metabólicas em animais ectotérmicos são termodependentes, dessa maneira, temperaturas adequadas devem ser providenciadas (26 a 30°C), para que a absorção e a excreção dos anestésicos não sejam prolongadas (KOLESNIKOVAS et al., 2006). O propofol (5 a 10mg/kg, IV) é muito utilizado em répteis, principalmente por sua rápida metabolização. O período de latência é de 1 a 2 minutos e a recuperação anestésica de 30 a 60 minutos (NUNES et al., 2006). Pode ocorrer apneia e redução da saturação de oxigênio, bem como bradicardia, por isso recomenda-se a intubação, ventilação e oxigenação (BENNETT, 1998). Para Schumacher e Yelen (2006), o propofol é um agente de indução de ultracurta duração, sendo o anestésico injetável de escolha em répteis, se existe um acesso venoso disponível. Tem sido utilizado em uma variedade de espécies de répteis para indução e 214 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 manutenção da anestesia. Em serpentes, é administrado pela via intravenosa, podendo ser utilizado em infusão contínua (0,3 a 0,5mg/kg/minuto) ou em bólus intermitente (0,5 a 1mg/kg). A tiletamina/zolazepam também pode ser utilizada como anestésico injetável, na dose de 44 a 88mg/kg, IM. Os barbitúricos são contraindicados, pois apresentam alto índice de mortalidade, recuperação prolongada (de até sete dias) e seus mecanismos de metabolização e eliminação ainda são desconhecidos em serpentes (CRUZ; NUNES, 2008). Entre os agonistas-α2 adrenérgicos, a medetomidina tem sido investigada como um agente sedativo em répteis, especialmente em espécies potencialmente perigosas e em procedimentos curtos. Similarmente ao uso em animais domésticos, a medetomidina não pode ser utilizada isoladamente e, por isso, é comumente associada com uma baixa dose de cetamina e um agente opioide, como o butorfanol. A administração dessa associação facilita o manuseio de grandes espécies de répteis e permite a execução de pequenos procedimentos como, debridamento de abscesso e coleta de amostras para diagnóstico. O antagonista-α2 específico, atipamezole, pode ser administrado em cinco vezes a dose da medetomidina para reverter os efeitos do agonista-α2 no final do procedimento (SCHUMACHER; YELEN, 2006). Já, o agonista-α2 adrenérgico, xilazina (0,1 a 1,25mg/kg, IM), não tem se mostrado eficiente em répteis. A ioimbina também não foi eficaz em reverter os efeitos da xilazina nesses animais, em alguns estudos (CRUZ; NUNES, 2008). Anestesia inalatória Os anestésicos inalatórios oferecem muitas vantagens sobre os agentes injetáveis, como indução mais rápida, maior controle da profundidade anestésica, dispensa precisão no peso do animal, permite suplementação de oxigênio e quando a intubação endotraqueal é realizada, ventila-se pelo modo assistido. Além disso, o período de recuperação pode ser mais curto do que com os agentes injetáveis, embora vários fatores possam interferir, como a temperatura do animal, o shunt arteriovenoso (pois o sangue desvia o pulmão, reduzindo, assim, a eliminação por via respiratória) e a apneia, que é muito frequente nessas espécies (NUNES et al., 2006; CRUZ; NUNES, 2008). Em serpentes, os anéis traqueais são incompletos e o comprimento da traqueia é mais longo em comparação à dos quelônios. A posição rostral da glote proporciona sua fácil visualização (SCHUMACHER; YELEN, 2006). A ventilação pulmonar é mantida pelos movimentos dos músculos respiratórios, já que as serpentes não apresentam um diafragma funcional (NUNES et al., 2006). A intubação endotraqueal e a assistência ventilatória são indicadas. A frequência respiratória normal para muitos répteis é de 10 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Com o uso de oxigênio a 100%, a frequência respiratória a ser empregada pode ser reduzida para 2 a 4 movimentos/minuto e a ventilação assistida com pressão igual ou inferior a 12cm H2O. As sondas endotraqueais com diâmetro interno maior que 2mm são Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 215 rotineiramente comercializadas; no entanto, sondas com diâmetros menores precisam ser confeccionadas manualmente, a partir de cateteres ou sondas uretrais de pequeno calibre (NUNES et al., 2006). GARCIA (2012) utilizou um cateter 16G recoberto com lidocaína gel a 2% para a intubação de serpentes e, após, esse tubo endotraqueal foi adaptado ao sistema baraka do aparelho de anestesia, obtendo uma anestesia segura e tranquila. Segundo Nunes et al. (2006), algumas serpentes como a píton-burmesa (Python molurus bivittatus) e a cascavel-do-oeste (Crotalus viridis) têm cartilagens traqueais completas na porção proximal, e o uso de sonda com balonete é contraindicado, porque pode causar lesão traqueal e, posteriormente, ferimento isquêmico. Em procedimentos cirúrgicos orais, os tubos endotraqueais com balonetes podem ser usados, mas devese ter cuidado para não inflar o cuff em demasia. Em emergências respiratórias, como um processo obstrutivo na cavidade oral ou na traqueia (por exemplo: granulomas, corpos estranhos), pode ser realizada uma traqueostomia para obter acesso à traqueia e assegurar uma ventilação (SCHUMACHER; YELEN, 2006). O halotano, por não possuir odor pungente, pode ser bem tolerado na indução da anestesia com auxílio de máscara. A administração deve ser realizada gradativamente de forma a minimizar a ocorrência de apneia controlada. Se o animal não recebeu nenhum sedativo prévio, a indução pode ser acompanhada de excitação inicial. Postula-se que as espécies peçonhentas requerem maiores concentrações de halotano em relação às não peçonhentas. O tempo de indução pode variar de 1 a 30 minutos e a recuperação pode ser bastante prolongada (acima de 7 horas) (NUNES et al., 2006). Segundo Fernandes (2010), o halotano, em serpentes, diminui significativamente a frequência e o volume respiratório, levando a acidose respiratória, enquanto que, a frequência cardíaca aumenta suavemente ou permanece inalterada. O isoflurano é o anestésico inalatório de escolha em pacientes debilitados. Devido à solubilidade reduzida no sangue, a indução e a recuperação da anestesia são relativamente rápidas. O período de indução varia de 6 a 20 minutos e o de recuperação é de até 6 horas. A indução da anestesia pode ser realizada com isoflurano através de máscara, porém, esse é o agente que mais causa “breath holding”, ou seja, situação em que a respiração cessa imediatamente após a inalação, o que dificulta a indução da anestesia. Além disso, promove depressão respiratória de modo dose-dependente, tem efeito broncodilatador e é irritante para as vias aéreas podendo desencadear tosse e laringoespasmo (NUNES et al., 2006). Segundo Fernandes (2010), com níveis baixos do anestésico isoflurano os animais são capazes de respirar espontaneamente, mas com os níveis adequados para a cirurgia, é normalmente necessário o uso de ventilação mecânica. O isoflurano causa uma redução moderada (25%) na frequência cardíaca e uma severa redução na frequência respiratória, estando presente uma redução da pressão arterial e da frequência cardíaca dose-dependente, com efeitos limitados sobre a função renal e hepática. Conforme Nunes et al. (2006), em um estudo utilizando serpentes (Bothrops jararaca e Crotalus durissus), onde foram comparados três protocolos anestésicos diferentes (cetamina+midazolam+isoflurano; cetamina+midazolam e apenas isoflurano), 216 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 observou-se redução importante na necessidade do agente inalatório quando foi feita a administração prévia de cetamina e midazolam. Já, as jararacas não apresentaram diferença significativa entre os grupos que receberam o agente inalatório com ou sem a contenção química prévia. De acordo com Bertelsen (2007), o dióxido de carbono é ocasionalmente usado na imobilização de serpentes peçonhentas, durante a extração de veneno. Pensa-se que o estado de inconsciência seja atingido através da acidose do sistema nervoso central não sendo, por isso, recomendado na prática clínica. O metoxiflurano é o mais barato dos anestésicos voláteis e funciona bem; porém, seus períodos de indução e recuperação são prolongados e ele apresenta riscos de depressão miocárdica potente e nefrotoxicidade. Algumas espécies, tais como as pítons, são mais sensíveis a ele (OLIVEIRA, 2003). Segundo Oliveira (2003), o óxido nitroso reduz o período de indução e melhora o relaxamento muscular quando administrado em proporção de 1:1 a 3:1 com oxigênio, e também em conjunto com qualquer outro anestésico inalatório. Para Cruz e Nunes (2008), a associação do óxido nitroso ao oxigênio (2:1) acelera a indução anestésica e a recuperação anestésica pode ocorrer em 10 minutos. Não deve ser empregado isoladamente da mesma forma como é indicado nos mamíferos; pelo menos 30% de oxigênio deve ser adicionado à mistura de gases para que não haja hipóxia (NUNES et al., 2006). Narcose pelo frio ou hipotermia Antigamente, o resfriamento era utilizado como contenção física e até como anestesia para cirurgias. No entanto, sabe-se, hoje, que tal método permite a contenção do animal apenas por impossibilitá-lo de responder aos estímulos dolorosos sem, contudo, promover qualquer analgesia e pode provocar estresse. Como este método diminui drasticamente o metabolismo, não convém utilizá-lo como contenção para futura administração de anestésicos gerais (CRUZ; NUNES, 2008). Além disso, para Oliveira (2003), a hipotermia (a 4ºC) pode predispor a pneumonia e, portanto, não deve ser praticada. De acordo com Natalini (2007), o uso da hipotermia como meio de contenção não é recomendado, porque promove recuperação prolongada e há potencial de morbidade aumentada, devendo ser utilizada apenas para obter a contenção de animais peçonhentos e agressivos, seguida por anestesia apropriada. Baixas temperaturas têm sido associadas à alteração necrótica no cérebro de serpentes. Agentes anestésicos injetáveis e inalatórios seguros e efetivos estão disponíveis para répteis, sendo a hipotermia um recurso inaceitável para a imobilização nessas espécies, devendo sua prática ser desmotivada constantemente (SCHUMACHER; YELEN, 2006; CRUZ; NUNES, 2008). Analgesia Ainda há pouco conhecimento quanto à farmacocinética, eficácia e segurança dos analgésicos nos répteis. Além disso, o reconhecimento da dor quanto à presença e sua Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 217 intensidade ainda é pouco estabelecido. Acreditava-se que os répteis não respondiam aos opioides como os mamíferos; entretanto, isso foi desmistificado uma vez que os componentes anatômicos, fisiológicos e bioquímicos da percepção da dor que existem nos mamíferos também foram demonstrados em espécies não mamíferas (NUNES et al., 2006). Segundo Machin (2001) apesar desses animais apresentarem um comportamento mais tranquilo, também sentem dor. Em alguns casos, a falta de reconhecimento da dor em serpentes e o desconhecimento dos agentes analgésicos podem resultar em manejo da dor inapropriado. Condições como traumas, neoplasias, procedimentos cirúrgicos e doenças crônicas, processos normalmente associados com dor em mamíferos, também causam dor e desconforto nessas espécies. A dor, o estresse e o desconforto são relatados como fatores intimamente relacionados em serpentes. O manejo efetivo da dor reduz o estresse e o desconforto desses répteis, reduzindo ou eliminando os efeitos da dor aguda e crônica no metabolismo do animal, como sistema imune comprometido, desequilíbrios hematológicos, bioquímicos e nas trocas metabólicas. Embora muitos médicos veterinários estejam familiarizados com o comportamento normal e anormal dos animais domésticos, em especial cães e gatos, o reconhecimento desses em répteis é frequentemente um desafio. Alguns sinais como posicionamento e movimentos anormais do corpo, além de anorexia, tremores, depressão e aumento da agressividade e da taxa respiratória podem auxiliar no diagnóstico da dor em serpentes (SCHUMACHER; YELEN, 2006). A prevenção é o método mais efetivo para controlar a dor. Por isso, são recomendados protocolos anestésicos que priorizam técnicas analgésicas em procedimentos cirúrgicos eletivos. A semelhança do que ocorre nos animais domésticos, protocolos analgésicos balanceados são mais efetivos no controle da dor trans e pósoperatória em serpentes. Frequentemente, isso inclui a administração de agentes analgésicos sistêmicos (opioides) em combinação com agentes anestésicos locais de longa-duração (por exemplo, bupivacaína) (SCHUMACHER; YELEN, 2006). Opioides Em um estudo retrospectivo sobre anestesia e analgesia de répteis, observou-se que o butorfanol foi o agente analgésico mais utilizado, com doses e intervalos extremamente variados. A buprenorfina (0,03mg/kg, IM), apesar do período de latência prolongado em serpentes, apresenta tempo de ação longo com poucos efeitos colaterais. A meperidina é indicada na dose de 20mg/kg, IM, a cada 12 a 24 horas (NUNES et al., 2006). As doses recomendadas por Cruz e Nunes (2008) de butorfanol é 0,4mg/kg, IM, enquanto de buprenorfina é de 0,01mg/kg, IM. Segundo Longley (2008), o butorfanol e a buprenorfina são comumente usados na sedação de serpentes, antes da indução por máscara com agentes inalatórios. Garcia (2012) utilizou cloridrato de tramadol (3mg/kg, IM, a cada 24 horas) no pós-operatório de serpentes que haviam sido submetidas a incisões de pele e, posteriormente, suturas cutâneas. 218 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 Anti-inflamatórios não esteroidais Os anti-inflamatórios não esteroidais como o meloxicam (0,1 a 0,3mg/kg, IM, a cada 24 horas), o carprofeno (1 a 4mg/kg, IM, a cada 24 a 72 horas) ou o cetoprofeno (1 a 3mg/kg, IM, a cada 24 a 48 horas) promovem efeito satisfatório principalmente no período pós-operatório e no tratamento prolongado. A dose de flunixina meglumina preconizada é de 0,5 a 2mg/kg, IM, a cada 24 horas (NUNES et al., 2006; SCHUMACHER; YELEN, 2006; CRUZ; NUNES, 2008). Agentes anestésicos locais Agentes anestésicos locais não são utilizados isoladamente de forma rotineira em répteis. Contudo, eles podem ser usados para as mesmas indicações que em animais domésticos. Como parte de protocolos analgésicos balanceados, os agentes anestésicos locais como a lidocaína ou a bupivacaína podem ser administrados simultaneamente com analgésicos sistêmicos. Técnicas para anestesia local e regional, incluindo anestesia epidural, não tem sido descritas em répteis. O bloqueio dos nervos intercostais e a administração interpleural de agentes anestésicos locais são indicados para celiotomias em répteis. O agente anestésico local mais efetivo é a bupivacaína (1-2mg/kg), cuja administração pode ser repetida a cada 4 a 12 horas. Outras indicações para a utilização de agentes anestésicos locais incluem as cirurgias ortopédicas, em combinação com agentes analgésicos sistêmicos (SCHUMACHER; YELEN, 2006). Segundo Cruz e Nunes (2008), a anestesia local é indicada para laceração e biópsia de pele, curetagem de abscesso e excisão de neoplasia cutânea. Seu uso é limitado a animais de grande porte pela dificuldade de contenção física. De acordo com Nunes et al. (2006), a pele de répteis é muito sensível à estímulos dolorosos. Pode-se utilizar anestesia infiltrativa com lidocaína 2% para drenar abscessos, realizar suturas de pele ou outros procedimentos menores. Em serpentes peçonhentas, o uso isolado de anestésico local não é recomendado. Mas, podem-se utilizar fármacos para a contenção química e o anestésico local para a analgesia da região onde será realizado o procedimento. Como não há dados na literatura quanto às doses máximas permitidas, para se evitar a ocorrência da toxicidade sistêmica, sugere-se recorrer aos níveis utilizados nos mamíferos (procaína – 10mg/kg; lidocaína – dose máxima 7mg/kg e bupivacaína – 2mg/kg). Uma vez que os anestésicos locais podem ser tóxicos em doses altas, levando a arritmias e convulsões, a dose máxima deve ser calculada no sentido de garantir que não será excedida acidentalmente, principalmente nos pacientes de pequenas dimensões (LONGLEY, 2008). Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 219 CONCLUSÃO As serpentes são animais que apresentam certas particularidades, o que implica na necessidade de cuidados especiais em relação a todas as fases da anestesia: prémedicação, indução, manutenção, recuperação anestésica e monitorização. A anestesia em répteis, embora usada desde o início do século XIX, é uma ciência pouco estudada, com pouquíssimo entendimento da farmacocinética e farmacodinâmica dos anestésicos, falta de aparelhos de monitorização e suporte específicos, além de muita variabilidade entre as espécies, o que dificulta a extrapolação de resultados. Dessa forma, ressalta-se a escassez de informações científicas provenientes de estudos anestesiológicos espécie-específica e a necessidade desses para a validação de protocolos anestésicos adequados, a fim de, nortear os variados procedimentos clínicos, cirúrgicos e anestésicos em serpentes. REFERÊNCIAS BENNETT, R. A. A review of anesthesia and chemical restraint in reptiles. Journal of Zoo Wildlife Medicine, v.22, n.1, p.282-303, 1991. BENNETT, R. A. Reptile anestesia. Seminars-in-Avian-and-Exotic-Pet-Medicine, v. 7, n. 1, p.30-40, jan. 1998. BERTELSEN, M. F. Squamates (Snakes and Lizards). In: WEST et al. Zoo Animal & Wildlife Immobilization and Anesthesia. 1ª ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2007. p.233-243. CARREGARO, A. B. et al. Influência da temperatura corporal de cascavéis (Crotalus durissus) submetidas à anestesia com cetamina. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.29, n.12, p.969-973, dez. 2009. CRUZ, M. L.; NUNES, A. L. V. Contenção física e anestesia em animais silvestres. In: MASSONE, F. Anestesiologia veterinária: farmacologia e técnicas – texto e atlas colorido. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. Cap.19, p.210-217. FERNANDES, A. F. Anestesia em répteis. 2010. 39f. Relatório final de estágio – Mestrado Integrado em Medicina Veterinária – Curso de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto. GARCIA, P. B. Comparativo entre dois padrões de síntese cutânea e três tipos de material de síntese em serpentes Bothropoides jararaca. 2012. 72f. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. HILL, R. E.; MACKESSY, S. P. Venom yields from several species of colubrid snakes and differential effects of ketamine. Toxicon, v.35, n.1, p.671-678, 1997. KOLESNIKOVAS, C. K. M. et al. Ordem Squamata – Subordem Ophidia (Serpente). In: CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de animais selvagens – medicina veterinária. São Paulo: Roca, 2006. Cap.8, p.68-85. LONGLEY, L. A. Reptile anesthesia. In: Anesthesia of Exotic Pets. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2008. p.185-219. MACHIN, K. L. Fish, amphibian, and reptile analgesia. Veterinary Clinics of North America Exotic Animal Practice, v.4, n.1, p.19-33, 2001. 220 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 NATALINI, C. C. Protocolos de anestesia geral volátil nas espécies animais – répteis e anfíbios. In: Teoria e técnicas em anestesiologia veterinária. Porto Alegre: Artmed, 2007. Cap.9, p.1663-164. NUNES, A. L. V. et al. Anestesiologia. In: CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃODIAS, J. L. Tratado de animais selvagens – medicina veterinária. São Paulo: Roca, 2006. Cap.63, p.1040-1067. OLIVEIRA, P. M. A. Animais silvestres e exóticos na clínica particular. São Paulo: Roca, 2003. 375p. SCHUMACHER, J. et al. Effects of ketamine HCl in cardiopulmonary function in snakes. Copeia, v.2, n.1, p.395-400, 1997. SCHUMACHER, J.; YELEN, T. Anesthesia and analgesia. In: MADER, D. R. Reptile medicine and surgery. 2nd.ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2006. Cap.27, p. 442-452. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 221 Fauna de ixodídeos em carnívoros silvestres atropelados em rodovias de Santa Catarina: relato de caso Rosiléia Marinho de Quadros Bruna L. Boaventura Wilian Veronezi Sandra Márcia Tietz Marques RESUMO O estudo de identificação da fauna de ectoparasitos é parte de um programa de monitoramento da fauna silvestre de quatro rodovias que passam pela região serrana do Estado de Santa Catarina, Brasil. No período de agosto de 2007 a abril de 2013 foram resgatados três Puma concolor, três Leopardus tigrinus, um Puma yagouaroundi, seis Procyon cancrivorus e cinco Cerdocyon thous, totalizando 18 carnívoros. Carrapatos ixodídeos foram registrados em todos os carnívoros, 87 espécimes de Amblyomma aureolatum parasitando P. concolor, P. yagouaroundi, C. thous e P. cancrivorus. P. concolor foi quem apresentou maior grau de infestação (72,15%) com 57 espécimes de A. aureolatum. Três espécimes de Amblyomma trigrinum foram registrados em Lycalopex gymnocercus. Este relato amplia a lista de carrapatos parasitando animais silvestres no estado de Santa Catarina. Palavras-chave: Ixodídeos. Amblyomma spp.. Carnivora. Fauna Silvestre. Ixodids detected in wild carnivores run over on highways of Santa Catarina, Brazil: a case report ABSTRACT The study on the identification of ectoparasites is part of a program for monitoring wildlife on four highways in the mountain region of the state of Santa Catarina, Brazil. Between August 2007 and April 2013, Puma concolor (3), Leopardus tigrinus (3), Puma yagouaroundi (1), Procyon cancrivorus (6) and Cerdocyon thous (5), totaling 18 carnivores, were rescued from the highways. Ixodid ticks were detected in all carnivores, and 87 specimens of Amblyomma aureolatum were found as parasites on Puma concolor, P. yagouaroundi, C. thous and P. cancrivorus. P. concolor was the species with the highest infestation rate (72.15%), infected with 57 A. Aureolatum specimens. Three specimens of Amblyomma trigrinum were reported in Cerdocyon thous. This case report extends the list of ticks that have infected wild animals in the state of Santa Catarina. Keywords: Ixodids. Amblyomma spp.. Carnivora. Wildlife. Rosiléia M. de Quadros, Bruna L. Boaventura e Wilian R. Veronezi – Departamento de Parasitologia da Faculdade de Ciências Biológicas da UNIPLAC, Lages-SC. Sandra M. T. Marques – Departamento de Patologia Clínica Veterinária da Faculdade de Veterinária da UFRGS, Porto Alegre-RS. Endereço: Av. Bento Gonçalves, 9090, Agronomia, Porto Alegre-RS. CEP.: 91540-000. E-mail: [email protected] 222Veterinária em Foco Veterinária v.10 v.10, n.2, n.2 jan./jun. p.222-228 Canoasem Foco, 2013 jan./jun. 2013 INTRODUÇÃO A diversidade de espécies de carrapatos parasitando a fauna carnívora silvestres no Brasil é resultante dos diferentes ecossistemas em que estes animais habitam. Nesse sentido, as características ambientais e a diversidade de espécies de hospedeiros de cada área são pontos fundamentais para a existência de determinadas espécies de carrapatos e o constante deslocamento destes animais por regiões diferentes em busca de alimento facilita a infestação por ectoparasitos (LABRUNA et al., 2001). São descritas no mundo aproximadamente 870 espécies de carrapatos, 102 são endêmicas para o Novo Mundo e 55 foram registradas no Brasil (TOLEDO et al., 2008). O gênero Amblyomma apresenta aproximadamente 130 espécies e 57 estão descritas na região neotropical, sendo 30 no Brasil (DANTAS-TORRES et al., 2009) e duas espécies, A. fuscum e A. parkeri são verdadeiramente endêmicas (ONOFRIO et al., 2006). Os carrapatos gastam mais de 90% de sua vida útil fora dos hospedeiros, cujas condições ambientais como temperatura, pluviometria, umidade, latitude, altitude e tipo de vegetação são cruciais para determinar a sobrevivência e o desenvolvimento no meio ambiente, bem como a disponibilidade de hospedeiros primários para este invertebrado (LABRUNA et al., 2005). A maioria das espécies de carrapatos está associada aos animais silvestres, com poucos registros no Brasil, principalmente em relação aos seus hospedeiros, distribuição geográfica e aos efeitos do parasitismo (GUIMARÃES et al., 2001; LABRUNA et at., 2002). O conhecimento das espécies de ectoparasitos é importante uma vez que podem participar na manutenção enzoótica de patógenos em meio natural, parasitando, sobretudo animais silvestres, que passam neste ecossistema a ser importantes vetores de zoonoses emergentes. Quanto ao ciclo vital, os ixodídeos apresentam de um até três hospedeiros e frequentemente as fases imaturas alimentam-se em animais de menor tamanho, tais como aves e roedores, enquanto que os adultos realizam cópulas em animais de médio e grande porte (OLIVER JÚNIOR, 1989). O relato deste estudo faz parte de um programa de monitoramento da fauna silvestre que sofre atropelamento em quatro rodovias que passam pelo Planalto Catarinense, Santa Catarina, Brasil. RELATO DE CASO O estudo é realizado em quatro rodovias da região do Planalto Catarinense, abrangendo as rodovias: BR 282, entre os municípios de São José do Cerrito e Bocaína do Sul, a BR 116 entre Correia Pinto e Capão Alto, SC 425 e SC 438 entre os municípios de Lages e São Joaquim (Figura 1). Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 223 FIGURA 1 – Localização das Rodovias BR 282 entre os municípios de São José do Cerrito e Bocaina do Sul; BR 116 entre Correia Pinto e Capão Alto; SC 425 e SC 438 entre os municípios de Lages e São Joaquim. Fonte: Os autores. O reconhecimento, a busca e a captura dos animais encontrados ao longo das rodovias se devem ao trabalho conjunto com o IBAMA e a Polícia Rodoviária Federal. Os animais são encaminhados para o Laboratório de Parasitologia da Universidade do Planalto Catarinense. No período de agosto de 2007 a abril de 2013 foram resgatados 18 carnívoros: três P. concolor (onça-parda, suçuarana, leão-baio), três L. tigrinus (gato-do-mato-pequeno), um P. yagouaroundi (gato-mourisco, gato-preto, maracajá-preto), seis P. cancrivorus (mãopelada, guaxinim) e cinco C. thous (graxaim-do-mato, cachorro-do-mato, raposa). Entre os animais resgatados, treze eram fêmeas, cinco de felídeos (P. concolor, P. yagouaroundi e L. tigrinus) e oito de canídeos (C. thous, L. gymnocercus e P. cancrivorus). Entre os cinco machos resgatados, dois eram P. cancrivorus, um P. concolor, um L. tigrinus e um C. thous. Os animais recolhidos se apresentaram em óbito (Figura 2). 224 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 FIGURA 2 – Animais resgatados no período de agosto de 2007 a abril de 2013 em quatro rodovias da região do Planalto do Estado de Santa Catarina. Procyon cancrivorus Puma yagouaroundi Puma concolor Cerdocyon thous Fonte: Os autores. As localizações dos resgates foram determinadas através do Sistema de Posicionamento Global (GPS). No laboratório, os animais foram pesados e determinados o peso corporal, o sexo e a espécie. Após, foram inspecionados para a retirada dos ixodídeos, coletados manualmente e acondicionados em frascos com álcool a 70%. A identificação dos ectoparasitos foi baseada nas características morfológicas, segundo Kohls (1956), Keirans (1992) e Onofrio et al. (2006). Carrapatos ixodídeos foram registrados em 18 carnívoros, sendo identificados 87 espécimes (55 fêmeas e 32 machos) de A. aureolatum em P. concolor, P. yagouaroundi, C. thous e P. cancrivorus e três espécimes (duas fêmeas e um macho) de A. trigrinum em L. gymnocercus. Em relação ao sexo dos carnívoros não houve diferença significativa para o encontro de carrapatos. P. concolor apresentou o maior grau de infestação pelos ixodídeos, sendo coletados 57 espécimes de A. aureolatum representando 72,15% dos ácaros identificados. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 225 DISCUSSÃO As últimas listas de carrapatos publicados no Brasil foram os relatos de Aragão e Fonseca (1961) e Guimarães et al. (2001), conforme Dantas-Torres et al. (2009). Aragão e Fonseca (1961) descreveram como possíveis hospedeiros de estágios adultos de A. aureolatum canídeos selvagens (Canis azarae e Dusicyon sp.), gatos selvagens (Felis wiedii wiedii), raposas (Cerdocyon thous entrerianus), guaxinins (Procyon cancrivorus), furões (Grison furax e G. brasiliensis vittatus), bicho-preguiça (Bradypus tridactylus), leão-da-montanha (Puma concolor), veados (Cervus sp ., Cervus paludosus e Mazama sp.), gambás (Didelphis aurita), capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), quatis (Nosua socialis) e o roedor selvagem Euryzygomatomys spinosus. Gato doméstico, caprino, cavalo (LABRUNA et al., 2002), suíno e bovino também podem ser parasitados (Rodrigues et.al , 2002). Estágios adultos de A. aureolatum foram identificados em cães domésticos por Freire (1972), Massard et al. (1981), Evans et al. (2000), Labruna et al. (2001) e Rodrigues et al. (2002); em bugios-ruivos (Alouatta clamitans) em Santa Catarina por Lavina et al. (2011) e em bugios guariba (Alouatta guariba) no Rio Grande do Sul (MARTINS et al., 2006). A. tigrinum foi descrito no Brasil ocorrendo nos estados do Rio Grande do Sul (EVANS et al., 2000), Santa Catarina (CARDOSO et al., 2008), Minas Gerais (ABEL et al., 2006), Tocantins (MARTINS et al., 2009), Paraná (LABRUNA et al., 2001), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo (GUIMARÃES et al., 2001; PEREIRA et al., 2000). Os ectoparasitos em animais silvestres podem ser de grande importância à saúde pública principalmente se tratando de carrapatos A. aureolatum e A. cajennense, apontados como transmissores da febre maculosa, causada por uma pequena bactéria chamada Rickettsia rickettsii (GÓES et al., 2006). A. tigrinum tem envolvimento na transmissão de microrganismos patogênicos como Rangelia vitalii, Babesia canis e Ehrlichia canis (LORETTI; BARROS, 2004). Os ambientes fragmentados promovem o deslocamento de animais silvestres na busca por outros ambientes para sua sobrevivência o que leva a aproximação de áreas urbanas e ao contato mais direto com espécies domésticas entre elas cães e o ser humano, formando um ciclo de importância dentro das transmissões de patógenos zoonóticos (GÓES et al., 2006). Reforçando esta assertiva, Martins et al. (2010) fazem o primeiro registro do parasitismo de A. aureolatum em gato-maracajá (Leopardus wiedii) encontrado atropelado, no município de Gravataí, junto a rodovia RS 020, área antropizadas, pertencente a região metropolitana de Porto Alegre, semelhante situação apresentada neste relato. Um fator relevante nos estudos da fauna silvestre se deve a grande extensão do território brasileiro e, muitas vezes, as dificuldades nas visualizações e captura/soltura da fauna silvestre para investigações, além dos custos operacionais despendidos nesses esforços. A parceria deste projeto com órgãos oficiais é menos onerosa, servindo também ao propósito de contemplar animais em risco, algumas vezes encontrados vivos, muitas vezes atropelados por já se encontrarem injuriados por armas de fogo. Os animais de 226 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 produção servem de fonte de alimento para os carnívoros silvestres que perderam seu habitat, muitas vezes em áreas antropizadas e recentemente urbanizadas. Este relato amplia a lista de carrapatos parasitando P. concolor, L. tigrinus, P. yagouaroundi, P. cancrivorus, C. thous e L. gymnocercus no estado de Santa Catarina. REFERÊNCIAS ABEL, I.; PEDROZO, M. G. C.; BUENO, C. Amblyomma tigrinum Koch 1844 (ACARI: IXODIDAE) em cães domésticos procedentes da Reserva Florestal do Boqueirão, Município de Ingaí, Sul de Minas Gerais. Arquivos do Instituto Bioógico, v.73, n.1, p.111-112, 2006. ARAGÃO, H. B.; FONSECA, F. Notas de Ixodologia. VIII. Lista e chave para os representantes da fauna ixodológica brasileira. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v.59, p.115-29, 1961. CARDOSO, C. P.; STALLIVIERE, F. M.; SCHELBAUER, C. A. et al. Amblyomma tigrinum no Município de Lages, SC e Observações da Biologia em Condições de Laboratório. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v.17, n.1, p.56-58, 2008. DANTAS-TORRES, F.; ONOFRIO, V. C.; BARROS-BATTESTI, D. M. The ticks (Acari: Ixodida: Argasidae, Ixodidae) of Brazil. Systematic and Applied Acarology, v.14, p.30-46, 2009. EVANS, D. E.; MARTINS, J. R.; GUGLIELMONE, A. A. A review of the ticks (Acari: Ixodidae) of Brazil, their hosts and geographic distribution – 1. The state of Rio Grande do Sul, Southern Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v.95, p.453-470, 2000. FREIRE, J. J. Revisão das espécies da família Ixodidae. Revista de Medicina Veterinária, v.8, p.1-16, 1972. GÓES, E. M.; GONÇALVES, C. A. Z. M.; TOGNOLLO, N. R. et al. Investigação Acarológica realizada em Ribeirão Pires frente a Infestação de Carrapatos do Gênero Amblyomma. Boletim Epidemiológico Paulista (BEPA), v.3, n.35, p.13-18, 2006. GUIMARÃES, J. H.; TUCCI, E. C.; BARROS-BATTESTI, D. M. Ectoparasitos de Importância Veterinária. São Paulo: Plêiade. 2001, 213p. KEIRANS, J. E. Systematic of the Ixodida (Argasidae, Ixodidae, Nutalliellidae): an overview and some problems. Tick Vector Biology: Medical and Veterinary Aspects. Berlim: Springer-Verlag, p.1-21, 1992. KOHLS, G. M. Concerning the identity of Amblyomma maculatum, A. tigrinum, A. triste and A. ovatum of Koch, 1844. Proceedings of the Entomological Society Washington BioStor, n.58, p.143-147, 1956. LABRUNA, M. B.; JORGE, R. S. P.; SANA, A. A. et al. Ticks (Acari: Ixodida) on wild carnivores in Brazil. Experimental and Applied Acarology, v.36, p.149-163, 2005. LABRUNA, M. B.; KASAI, N.; FERREIRA, F. et al. Seasonal dynamics of ticks (Acari: Ixodidae) on horses in the state of São Paulo, Brazil. Veterinary Parasitology, v.105, p.65-77, 2002. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 227 LABRUNA, M. B.; SOUZA, S. L. P.; GUIMARÃES, J. S. et al. Prevalência de carrapatos em cães de áreas rurais da região norte do Estado do Paraná. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.53, p.553-556, 2001. LAVINA, M. S.; SOUZA, A. P.; SOUZA, J. C. et al. Ocorrência de Amblyomma aureolatum (Pallas, 1772) e A. ovale (Kock, 1844) (Acari: Ixodidae) parasitando Alouatta clamitans Cabrera, 1940 (Primates: Atelidae) na região norte do estado de Santa Catarina. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.63, n.1, p.266-269, 2011. LORETTI, A. P.; BARROS, S. S. Parasitismo por Rangelia vitalli em cães (“Nambuívu”, “Peste de Sangue”) – Uma revisão crítica sobre o assunto. Arquivos do Instituto Biológico, v.71, n.1, p.101-131, 2004. MARTINS, J. R.; RECK Jr., J.; DOYLE, R. L. et al. Amblyomma aureolatum (Acari: Ixodidae) parasitizing margay (Leopardus wiedii) in Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v.19, n.3, p.189-191, 2010. MARTINS, J. R.; SALOMÃO, E. L.; DOYLE, R. L. et al. First record of Amblyomma aureolatum (Pallas, 1772) (Acari: Ixodidae) parasitizing Alouatta guariba (Humboldt, 1812) (Primata: Atelidae) in Southern Brazil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v.15, p.203-205, 2006. MARTINS, T. F.; SPOLIDORIO, M. G.; BATISTA, T. C. A et al. Ocorrência de carrapatos (Acari: Ixodidae) no município de Goiatins, Tocantins. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v.18, n.2, p.50-52, 2009. MASSARD, C. A.; MASSARD, C. L.; REZENDE, H. E. B. et al. Carrapatos de cães em áreas urbanas e rurais de alguns estados brasileiros. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA, 1981. Anais... Belo Horizonte: SBP, p.201, 1981. OLIVER JÚNIOR, J. H. Biology and Systematics of Ticks (Acari: Ixodida). Annual Review of Ecology and Systematics, v.20, p.397-430, 1989. ONOFRIO, V. C.; LABRUNA, M. B.; PINTER, A. et al. Comentários e chaves para as espécies do gênero Amblyomma. p.53-113, 2006. In: BARROS-BATTESTI, D. M.; ARZUA, M.; BECHARA, G. H. Carrapatos de importância médico veterinária da região neotropical: um guia ilustrado para identificação de espécies. São Paulo: Vox, 2006, 224p. PEREIRA, M. C.; SZABÓ, M. J. P.; BECHARA, G. H. et al. Ticks (Acari: Ixodidae) associated with wild animals in the Pantanal region of Brazil. Journal of Medical Entomology, v.37, p.979-983, 2000. RODRIGUES, S. D; CARVALHO, H. A.; FERNANDES, A. A. et al. Biology of Amblyomma aureolatum (Pallas, 1772) (Acari: Ixodidae) on Some Laboratory Hosts in Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v.97, n.6, p.853-856, 2002. TOLEDO, R. S.; TAMEKUNI, K.; HAYDU, V. B. et al. Dinâmica Sazonal de Carrapatos do Gênero Amblyomma (ACARI: IXODIDAE) em um Parque Urbano da Cidade de Londrina, PR. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v.17, supl.1, p.50-54, 2008. 228 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 Espécies do gênero Helicobacter de importância em medicina veterinária: revisão de literatura Priscila R. Guerra Anelise Bonilla Trindade Vanessa Dias Marisa Ribeiro de I. Cardoso RESUMO As bactérias do gênero Helicobacter são bacilos Gram negativos, helicoidais, que requerem uma atmosfera de microaerofilia para seu crescimento. Podem habitar tanto a mucosa gástrica quanto o interior das glândulas gástricas de animais assintomáticos ou com sinais clínicos de gastropatia. Esses pacientes podem apresentar quadros de dispepsia, gastrite crônica, erosões, ulcerações e até adenocarcinoma, ocasionado dor e desconforto abdominal. Devido à elevada prevalência dessa bactéria em diferentes espécies animais, torna-se importante conhecer as principais espécies envolvidas na infecção, bem como os principais métodos diagnósticos utilizados na medicina veterinária. Os métodos invasivos, os quais necessitam de endoscopia digestiva alta, são os mais empregados em medicina veterinária, incluem-se a histologia, o teste rápido da urease, a cultura bacteriana e os métodos moleculares de diagnóstico. Para fins de pesquisa, recomenda-se a associação de múltiplas técnicas para alcançar um diagnóstico mais preciso. O objetivo do trabalho foi revisar os principais métodos diagnósticos invasivos empregados em medicina veterinária, bem como as principais espécies de Helicobacter que acometem os animais domésticos. Palavras-chave: Estômago. Gastrite. Pequenos animais. Suínos. Main species of genus Helicobacter reported in veterinary medicine: Review ABSTRACT Bacteria of the genus Helicobacter are Gram-negative, helix-shaped and requires microaerophilic atmosphere for growth. It can inhabit the gastric mucosa as inside of the gastric glands of asymptomatic animals or animals with clinical signs of gastropathy. These patients may be suffering of dyspepsia, chronic gastritis, erosions, ulcerations and even adenocarcinoma, Priscila R. Guerra é Médica Veterinária, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Anelise Bonilla Trindade é Médica Veterinária, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Vanessa Dias é técnica laboratorial do Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva, Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Marisa Ribeiro de Itapema Cardoso é Médica Veterinária, doutora, professora titular da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Endereço: [email protected] Veterinária em Foco Veterinária v.10 v.10, n.2, n.2 jan./jun. p.229-243 Canoas em Foco, 2013 jan./jun. 2013 229 leading to abdominal pain and discomfort. Because of the high prevalence of this bacterium in different animals species, it is important to know the main species involved in the infection, as the main diagnostic methods used in Veterinary Medicine. Invasive methods, which require endoscopy, are the most commonly used in veterinary medicine. It included histology, rapid urease test, bacterial culture and molecular diagnostic methods. To achieve more accurate diagnosis it is used the combination of multiple techniques. The purpose of this paper was to review the main invasive diagnostic methods used in Veterinary Medicine as well, as the main Helicobacter species affecting domestic animals. Keywords: Stomach. Gastritis. Small animals. Swine. INTRODUÇÃO O gênero Helicobacter é o agente mais comum de infecção crônica em humanos e, possivelmente, também nos animais de companhia, colonizando a mucosa gástrica e as microvilosidades das células epiteliais. Em humanos, podem ocorrer úlcera gástrica, adenocarcinoma e linfoma marginal na região extranodal (MALT), ou a infecção pode resultar apenas em sinais clínicos de dispepsia funcional (VITORIANO et al., 2011). Estima-se que 25% a 50% da população humana dos países desenvolvidos estejam infectados, sendo essa prevalência superior a 80% nos países em desenvolvimento (CZINN, 2005; HAESEBROUCK et al., 2009). A infecção por Helicobacter pylori em humanos é muito estudada, pois é considerada para essa espécie como uma das infecções bacterianas mais comuns (RIZZATO et al., 2013). O gênero Helicobacter já foi descrito em 142 espécies de vertebrados, incluindo animais domésticos e silvestres (SMET et al., 2011). A prevalência de Helicobacter em espécies animais é elevada, essas bactérias são encontradas frequentemente no estômago de cães, entretanto a relação com a doença gástrica ainda não foi completamente estabelecida (ASL et al., 2010). Estima-se que os valores de prevalência variem entre 61 a 100% em cães assintomáticos ou com sinais clínicos de dispepsia (HERMANNS et al., 1995; STRAUSS-AYALI; SIMPSON, 1999; NEIGER; SIMPSON, 2000; HWANG et al., 2002). Já em felinos os valores de prevalência variam entre 40% e 100% (VAN DEN BULCK et al., 2005; ERGINSOY; SOZMEN, 2006), enquanto que em suínos de terminação variou entre 8% a 95% (BARBOSA et al., 1995; CANTET et al., 1999; CHOI et al., 2001; BAELE et al., 2009). Mesmo com a elevada prevalência em diferentes espécies animais pouco é sabido sobre as vias de transmissão desse agente, sendo inclusive levantada a hipótese de que os animais sejam uma fonte de infecção para humanos. Apesar dos estudos das últimas décadas haverem proposto que a transmissão por via fecal-oral e/ou oral-oral são as vias mais plausíveis para infecção gástrica (ARFAEE et al., 2012). Ainda existem muitas questões a serem elucidadas referentes às principais espécies bacterianas e a importância dessas em Medicina Veterinária. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre as principais espécies do gênero Helicobacter que acometem os animais domésticos, bem como os métodos diagnósticos mais empregados. 230 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 Características do gênero O gênero Helicobacter pertence à subdivisão Proteobacteria, da ordem Campylobacterales, pertencente à família Helicobacteraceae. São bacilos Gramnegativos, helicoidais, multiplicam-se numa faixa de temperatura entre 34°C a 40°C, sendo a temperatura ótima de 37°C. São micro-organismos fastidiosos, necessitam de uma atmosfera microaerofílica constituída por O2 (5-6%), CO2 (8-10%) e N2 (80-85%), são oxidase positiva, com exceção de H. canis, catalase positiva (KUSTERS et al., 2006; QUINN et al., 2012). Atualmente, o gênero Helicobacter sp. compreende 33 espécies (LPSN, 2013), embora ainda haja muitas divergências com relação à nomenclatura de novas espécies. Nos últimos anos, muitas espécies vêm sendo classificadas como não H.pylori, as quais constituem um grupo diversificado capaz de colonizar a mucosa gástrica de animais (HAESEBROUCK et al., 2009). Em humanos as espécies não H.pylori são encontradas em 0,2 a 6% das biópsias gástricas (WÜPPENHORST et al., 2012). Helicobacter pylori, causador de gastrite crônica e úlcera péptica em humanos, foi descrita pela primeira vez por Warren e Marshall em 1983, sendo considerada a espécie típica do gênero. Entretanto, observações de bactérias espiraladas presentes no estômago de cães já haviam sido registradas no século dezenove (SIQUEIRA et al., 2007; RECORDATI et al., 2009). Espécies do gênero Helicobacter já foram identificadas em amostras da cavidade oral, do estômago, do duodeno e nas fezes de cães (EKMAN et al., 2013). Em animais essa bactéria pode ocasionar desde erosão da mucosa gástrica, gastrite até a formação de neoplasia gástrica, podendo também estar presente em animais assintomáticos. Segundo Vieira e colaboradores (2012), sugeriram haver uma correlação entre grau de inflamação e o número de bactérias presentes na mucosa gástrica de cães. Entretanto, outros autores não encontraram essa mesma correlação, denotando que as alterações citadas na literatura possam ser causadas por algumas espécies e sua interação com o hospedeiro, ou uma consequência da resposta frente à infecção (GOMBAC et al., 2010). Patogenia As bactérias do gênero Helicobacter só sobrevivem alguns minutos no lúmen do estômago, portanto necessitam migrar rapidamente para a superfície epitelial gástrica para sobrevivência. Porém, a camada mucosa do estômago consiste em uma barreira física dificultando a penetração. Por isso, a presença de flagelos, assim como a forma helicoidal são fatores fundamentais para a sobrevivência, pois permite atravessar essa camada de muco gástrico e atingir a superfície epitelial e as criptas gástricas para que ocorra a adesão (SALAMA et al., 2013). Essa ocorre por meio de fatores de aderência, por exemplo, BabA, IceA, SabA, SabB e OipA, os quais auxiliam no estabelecimento da colonização persistente e contribuem para a patogenicidade ao permitir o contato direto com o epitélio (LIMA; RABENHORST, 2009). A atividade da enzima urease também auxilia a mobilidade na camada mucosa, porque altera as propriedades de viscoelasticidade da mucina gástrica. A produção de urease catalisa íons elevando pH para Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 231 valores próximos da neutralidade, transformando a consistência da mucina de gel para visco elástica (SALAMA et al., 2013). A ativação da enzima urease, é um mecanismo para neutralizar o pH ácido, o qual hidrolisa a ureia em amônia e bicarbonato, propiciando um microclima favorável para a multiplicação no estômago. Além disso, a amônia também serve de nutriente, sendo utilizada na biossíntese de aminoácidos bacterianos. A amônia pode, ainda, ocasionar lesões na mucosa gástrica, pois estimula a liberação de mediadores inflamatórios (BURY-MONE et al., 2003). A colonização por Helicobacter sp. resulta na indução de resposta inflamatória, caracterizada pelo influxo de neutrófilos, células mononucleares e CD4 T-helper. A célula epitelial gástrica é o principal alvo para a infecção e contribui ativamente para a resposta imune inata, através da sinalização de receptores como os Toll-like (TLR). O lipopolissacarídeo (LPS) do gênero Helicobacter tem demonstrado baixa afinidade de ligação para TLR, apesar do LPS ser a ligação bacteriana clássica para TLR. Além disso, outros mecanismos de evasão são citados nessa espécie bacteriana, como a inibição da liberação de óxido nítrico por macrófagos em resposta ao LPS (IHAN et al., 2012). O mecanismo de proteção contra a infecção ainda não foi claramente elucidado, mas existem evidências que apoiam o papel fundamental do CD4 T-helper, sendo ativado quando antígenos são apresentados por MHC classe II, as quais são expressadas na superfície de células apresentadoras de antígenos. Porém, estudos em camundongos sugerem haver falhas na apresentação de epítopos resultando em resposta imune não efetiva (LI et al., 2012). Segundo Kusters e colaboradores (2006), pode em alguns casos a resposta do sistema imune provocar dano tecidual ao invés de destruir o microrganismo. Cepas de Helicobacter promovem sua permanência no hospedeiro, por meio da secreção de toxinas, como a produção de proteína imunogênica (CagA) e a produção de citoxina vacuolizante (VacA). A proteína CagA, a qual é introduzida na célula hospedeira via sistema de secreção do tipo IV da bactéria, induz alterações na fosforilação de tirosinas, nas vias de sinalização e de transdução, resultando em rearranjo do citoesqueleto e em alterações morfológicas. Cepas, as quais expressam CagA, estão associadas com um aumento do câncer gástrico em humanos (SALAMA et al., 2013). A citotoxina VacA pode induzir múltiplas atividades celulares, incluindo a vacuolização das células, a formação de canais de membrana, a interrupção das funções endossomais e lisossomais, apoptose e imunomodulação (KUSTERS et al., 2006; LIMA; RABENHORST, 2009). Helicobacter faz uso de vários fatores de virulência para evadir as defesas imunes do hospedeiro e assegurar a persistência da infecção (SALAMA et al., 2013). Métodos diagnósticos Os métodos disponíveis para o diagnóstico da infecção por Helicobacter sp. são subdivididos em não invasivos e invasivos. Os métodos não invasivos, utilizados para o diagnóstico em humanos, têm o intuito de detectar indiretamente a presença de Helicobacter sp. por meio da sorologia e/ou do teste respiratório com ureia marcada com isótopos de carbono (STRAUSS-AYALI; SIMPSON, 1999). Os métodos invasivos 232 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 requerem a realização de endoscopia digestiva alta para a coleta de fragmentos de mucosa gástrica. Esses últimos são amplamente empregados para o diagnóstico em medicina humana e veterinária, compreendendo: a reação em cadeia da polimerase (PCR), o teste rápido da urease, a histologia e a cultura bacteriana (HAHN et al., 2000; GUARNER et al., 2009). Teste rápido de urease O teste rápido da urease é um método simples, de baixo custo, necessitando de apenas um fragmento de mucosa gástrica para sua realização. Existem kits comerciais que contém uma combinação de ureia com indicador de pH (vermelho de fenol). Os fragmentos de biopsia devem ser imersos nessa solução, imediatamente após a coleta. A hidrólise da ureia ocasiona o aumento do pH do meio, resultando na alteração na coloração do vermelho de fenol de amarelo para rosa. Quando essa mudança ocorre em intervalo de até 24 horas, o teste é considerado positivo (CHOI et al., 2011). O método baseia-se no fato de que a maioria das espécies do gênero Helicobacter são potentes redutores de ureia, característica a qual permite a sobrevivência no ambiente ácido do estômago (SIQUEIRA et al., 2007). Segundo Redéen et al. (2011) o método apresenta sensibilidade de 90% e especificidade de 98% para fragmentos da região do antro e corpo do estômago. Todavia, Choi et al. (2012) relataram haver uma redução na sensibilidade quando houver sangramento gástrico. Além disso, é importante salientar, que o resultado positivo no teste está diretamente relacionado com a concentração bacteriana presente no fragmento, baixo número de bactérias pode resultar em testes falso-negativos. Por outro lado, há a possibilidade de contaminação da amostra por outros micro-organismos produtores de urease, como Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa, o que pode acarretar em resultados falsopositivos (SIQUEIRA et al., 2007; PATEL et al., 2013). Para o diagnóstico de rotina, o resultado do teste da urease é comumente avaliado em conjunto com o resultado do exame histopatológico (GUARNER et al., 2009). Histologia O diagnóstico histológico constitui em um método eficaz, pois permite a avaliação das alterações teciduais, como a presença de células inflamatórias. Também é capaz de detectar a presença da bactéria nos tecidos, além de discriminar de outras possíveis causas para os sinais clínicos apresentados pelo paciente sendo útil para o diagnóstico diferencial (GUARNER et al., 2009). Segundo CHOI et al. (2012), o exame histopatológico se mostrou muito confiável, mesmo em pacientes com úlceras hemorrágicas, apresentando sensibilidade de 96,4% e especificidade de 97,2% para detecção a partir de biopsias gástricas. As colorações histológicas mais empregadas na avaliação histológica são Giemsa, Hematoxilina e Eosina (HE) e Warthin-Starry, sendo esta última considerada de escolha para a visualização da bactéria (STRAUSS-AYALI; SIMPSON, 1999). Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 233 Os critérios estabelecidos por Day et al. (2008) e Washabau et al. (2010) para avaliação histológica, são baseados na identificação de infiltrados inflamatórios e alterações morfológicas de superfície. Os tecidos visualizados durante o exame histológico devem ser classificados como: sem alteração (0); ou com leve alteração (1), moderada (2), acentuada (3). Para avaliação mais precisa, múltiplos fragmentos de biopsia necessitam ser coletados para evitar que sejam amostradas apenas regiões com nenhuma ou baixa densidade bacteriana (STRAUSS-AYALI; SIMPSON, 1999). A técnica de imuno-histoquímica é frequentemente aplicada para diagnóstico de infecção por Helicobacter, no entanto anticorpos específicos para as espécies não H.pylori não estão disponíveis (BAELE et al., 2009). A microscopia eletrônica também pode ser utilizada para a identificação das espécies bacterianas, de acordo com suas características morfológicas. Entretanto, devido ao custo elevado dessa metodologia seu emprego, geralmente, está restrito à pesquisa científica (HÄNNINEN et al., 1996). Isolamento bacteriano O isolamento da bactéria é considerado o método de referência, pela elevada especificidade (CHOI et al., 2012), porém sua sensibilidade é limitada, em torno de 68% (MCNULTY et al., 2011) a 58,1% (CHOI et al., 2012). A baixa sensibilidade é devido ao fato da bactéria ser fastidiosa e necessitar de meios de cultura frescos e suplementados, fatores os quais tornaram o uso pouco empregado no diagnóstico de rotina. O isolamento é realizado em meios de cultivo constituído por meio base, como: BHI (Brain Heart Infusion), meio HPSPA (Helicobacter pylori special peptone agar) meio Glupczynski’s, ágar Brucella, ágar Mueller-Hinton, ágar Chocolate, ágar Belo Horizonte e ágar Columbia (BENAÏSSA et al., 1996; QUEIROZ et al., 1987; STEVENSON et al., 2000). Os meios necessitam ser suplementados com sangue de carneiro ou equino, podendo ser acrescido de soro fetal bovino. Para inibição da microbiota acompanhante, uma diversa combinação de antimicrobianos, deve ser incluída. O meio Belo Horizonte, desenvolvido para o isolamento de Helicobacter pylori, possui em sua composição a associação de ácido nalidíxico, anfotericina B, vancomicina e TTC (sal de tetrazólio), o qual confere uma coloração dourada à colônia (QUEIROZ et al., 1987), fator que possibilita uma melhor visualização das colônias no meio de cultura (KUSTERS et al., 2006). Depois de semeadas, as amostras devem ser incubadas á 37°C, em atmosfera de microaerofilia, sendo verificado o crescimento bacteriano após 3, 6, 10, 15 e 21 dias de incubação (OLIVEIRA et al., 2006). A identificação bacteriana e a determinação da espécie são realizadas através da observação macroscópica das colônias, da morfologia microscópica e de testes bioquímicos, tais como: detecção das enzimas catalase e oxidase, redução de nitrato e hidrólise da urease (SONGER; POST, 2005). As colônias do gênero Helicobacter são translúcidas, acinzentadas, não hemolíticas, achatadas, cerca de 1-2 mm de diâmetro com morfologia irregular (SONGER; POST, 2005). Em culturas velhas as bactérias podem apresentar a forma cocoide, a qual é 234 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 considerada forma viável não cultivável, ou seja, não serão recuperadas em cultivos subsequentes (ANDERSEN; RASMUSSEN, 2009). O sucesso do isolamento é influenciado por vários fatores, tais como: o número de fragmentos obtidos na biópsia, o meio de cultura, a duração e a temperatura do transporte. Além disso, antimicrobianos e inibidores de bomba de prótons utilizados como tratamento de suporte ao paciente podem interferir no isolamento da bactéria (SIQUEIRA et al., 2007). Métodos moleculares A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é o método de escolha para a identificação das espécies do gênero Helicobacter. A sensibilidade e a especificidade da PCR convencional estão em torno de 95% (GLUPCZYNSKI, 1998), todavia, a PCR em tempo real (RT-PCR) tem possibilitado resultados ainda mais específicos e sensíveis (McNULTY et al., 2011). Além disso, a RT-PCR possibilita a quantificação do agente presente na amostra, no entanto, ainda apresenta um custo elevado se comparado a outros métodos diagnósticos. Apesar da PCR possuir boa sensibilidade e especificidade quando comparada a outros métodos, existem algumas limitações intrínsecas da técnica, como: os resultados falsos negativos devido ao pequeno número de bactérias presentes na amostra ou devido à presença de inibidores da reação (SUGIMOTO et al., 2009). A técnica de FISH (hibridização in situ fluorescente) permite identificar a presença de segmentos cromossômicos específicos, através do uso de sondas de DNA marcadas com fluorocromos diretamente nos tecidos. Essa técnica consiste em um método molecular rápido e relativamente barato para a detecção de micro-organismos, além de possuir alta especificidade (CERQUEIRA et al., 2011). Atualmente, método FISH tem sido aplicado na detecção de Helicobacter sp. em amostras de água e de alimentos (ANGELIDIS et al., 2011). Seu uso também é empregado na pesquisa de resistência antimicrobiana em cepas de H.pylori, pois já existem sondas disponíveis para detectar o gene de resistência à claritromicina (CERQUEIRA et al., 2011). Os métodos moleculares podem ser realizados a partir de fragmentos de biopsia gástrica ou duodenal, de suco gástrico, da placa dentária, da saliva, da cultura ou de fezes (SIQUEIRA et al., 2007). Esses métodos diagnósticos também possibilitam a pesquisa de genes de virulência, como cagA e vacA, relacionados à formação de úlceras pépticas (SHIRASAKA et al., 2006). Espécies do gênero Helicobacter descritas em animais domésticos Estudos demonstraram a presença de Helicobacter sp. em 67-86% de cães clinicamente saudáveis e 61-100% de cães com sinais clínicos de dispepsia (JALAVA et al., 1997; O’ROURKE et al., 2004; VAN DEN BULCK et al., 2006a; BAELE et al., Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 235 2008). Em felinos estima-se que a prevalência também seja elevada, tanto em animais clinicamente sadios quanto em felinos com sinal clínico de vômito (HÄNNINEN et al., 1996; PAPASOULIOTIS et al., 1997; VAN DEN BULCK et al., 2005). Infecções na mucosa gástrica podem ser ocasionadas por diversas espécies, sendo H.felis, H.bizzozeronii, H.salomonis, “Candidatus H.heilmannii” H. bilis, H.(Flexispira) rappini, H. cynogastricus comumente relatadas (HAESEBROUCK et al., 2009, VAN DEN BULCK et al., 2006a, LANZONI et al., 2011). Em felinos há também relatos de isolamento de outras espécies, como: H.baculiformis e de H.pylori (BAELE et al., 2008; SIMPSON et al., 2001). A infecção em animais é, geralmente, adquirida durante a fase de crescimento, pelo contato materno ou com outros animais jovens. Acredita-se que a transmissão ocorra pelo contato com vômito e alimentos regurgitados por animais infectados (HANNINEN et al., 1998). A espécie H. felis foi primeiramente isolada do estômago de um felino e, posteriormente, foi descrita também em cães. É provável que tenha sido a espécie descrita no primeiro relato feito por Bizzozero em 1893. Morfologicamente, apresenta fibras periplasmáticas, as quais facilitam sua identificação através da microscopia. Contudo, a importância de H. felis em distúrbios gástricos de pequenos animais ainda não está completamente elucidada, sendo necessários mais estudos para determinar se as afecções gástricas dos animais são causadas pela presença dessa bactéria (KUSTERS et al., 2006). A espécie H.bizzozeronii foi descrita em 1996, sendo considerada adaptada aos cães. Muitas vezes é encontrada em exames histológicos de biopsias gástricas de pacientes com ou sem lesões de gastrite, portanto, a patogenicidade dessa espécie para cães ainda não está completamente estabelecida (SCHOTT et al., 2011). Recentemente, o termo H.heilmannii foi proposto para designar espécies presentes em animais e humanos. Inicialmente, essa espécie era classificada como “Gastrospirillium hominis”, sendo reclassificado para H.heilmannii a partir do sequenciamento do DNA ribossomal e subdividida posteriormente, em tipo 1 e 2 (DEWHIRST et al., 2005; HAESEBROUCK et al., 2009; SCHOTT et al., 2011). O tipo 1 foi identificado como sendo geneticamente idêntico à espécie já descrita como H. suis, a qual coloniza o estômago de suínos, passou a receber a denominação de H.heilmannii tipo 1. Todavia, o tipo 2 não corresponde apenas a uma única espécie do gênero, mas engloba as espécies capazes de colonizar a mucosa gástrica dos pequenos animais (HAESEBROUCK et al., 2011). Em felinos, H. heilmanni é apontada como possível causa para o linfoma gástrico primário, cujo prognóstico, na maioria dos casos, é reservado (BRIDGEFORD et al., 2008). Queiroz et al. (1990) encontraram pela primeira vez a espécie H. heilmanii tipo 1 em suínos, ao realizar exame histológico de fragmentos de biopsia gástrica. As bactérias descritas eram morfologicamente distintas da espécie H.pylori, sendo inicialmente denominadas “Gastrospirillum suis”. Em suínos, a prevalência de Helicobacter sp. em lotes de terminação varia entre 8% a 95%, entretanto acredita-se que até 60% dos 236 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 animais possam estar infectados (BARBOSA et al., 1995; CANTET et al., 1999; CHOI et al., 2001; BAELE et al., 2009). Em estudo realizado com leitões de seis semanas de idade submetidos à infecção experimental por H.suis foi observada a formação de hiperqueratose e úlcera gástrica na porção aglandular do estômago de todos os animais inoculados (HAESEBROUCK et al., 2009). As ulcerações na porção aglandular do estômago de suínos decorrem de uma etiologia complexa, na qual muitos fatores podem estar envolvidos, incluindo fatores dietéticos, ambientais e principalmente estresse. Porém, a infecção por H. heilmanni tipo 1 contribui na ocorrência de gastrite e úlceras na espécie suína, pois aumenta a secreção de ácidos gástricos, resultando em maior contato do ácido clorídrico com a porção aglandular do estômago (HELLEMANS et al., 2007). Ulcerações na porção aglandular do estômago ocasionam redução do consumo de ração e do ganho de peso, podendo acarretar, em alguns casos, a morte súbita do animal (AYLES et al., 1996; BAELE et al., 2009). A infecção experimental em leitões resultou na redução de cerca de 60 grama/dia no ganho de peso, esse estudo demonstrou que em infecções experimentais a espécie H. heilmanni tipo 1 não apenas causa gastrite, mas acarreta também perdas econômicas ao produtor, pois interfere na ingestão diária de alimento e, consequentemente, no ganho de peso (KUMAR et al., 2010). A localização das bactérias do gênero Helicobacter difere de acordo com a espécie, podendo estar presente na superfície da mucosa ou no muco, nas fossas gástricas, nas glândulas gástricas, nas células parietais ou colonizando tanto o lúmen quanto as células gástricas. Em cães, H. felis geralmente é encontrado na superfície das glândulas gástricas, diferentemente de H. bizzozeronii, cuja localização é preferencialmente intraluminal ou intraparietal (LANZONI et al., 2011). Entretanto, as células parietais da mucosa fúndica são o local de predileção para a maioria das espécies que acometem os pequenos animais (WIINBERG et al., 2005; LANZONI et al., 2011). Espécies de gênero Helicobacter também são frequentemente encontradas colonizando o trato gastrintestinal de animais de biotério. Espécies como H. cholecystus são encontradas no ceco e no intestino grosso de animais de biotério, entretanto, na maioria dos casos essas espécies não são consideradas patogênicas. Porém, algumas dessas espécies, como H. hepaticus e H. bilis, podem induzir hepatite e tumores hepáticos pela via ascendente (FOX; LEE, 1997; VAN DEN BULCK et al., 2006b). CONCLUSÃO Até o presente momento, não existe um único teste considerado padrão ouro para o diagnóstico da infecção por Helicobacter sp. sendo portanto recomendada a associação de mais de um método diagnóstico. A escolha clínica dependerá da disponibilidade de recursos financeiros e técnicos. O elevado percentual de animais infectados demonstra a necessidade de maior investigação dessa infecção em animais domésticos. Portanto, se faz necessária a otimização de métodos diagnósticos disponíveis, a fim de determinar as espécies de real importância, bem como estabelecer as vias de transmissão desse agente. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 237 REFERÊNCIAS ANDERSEN, L. P.; RASMUSSEN, L. Helicobacter pylori – coccoid forms and biofilm formation. FEMS Immunology and Medical Microbiology, v.56, p.112–115, 2009. ANGELIDIS A. S.; TIRODIMOS, I.; BOBOS, M.; KALAMAKI, M. S.; PAPAGEORGIOU D. K.; ARVANITIDOU, M. Detection of Helicobacter pylori in raw bovine milk by fluorescence in situ hybridization (FISH). International Journal of Food Microbiology, v.151, p.252–256, 2011. ASL A. S.; JAMSHIDI, S.; MOHAMMADI, M.; SOROUSH, M. H. ; BAHADORI, A.; OGHALAIE, A. Detection of atypical cultivable canine Gastric Helicobacter strain and its biochemical and morphological characters in naturally infected dogs. Zoonoses and Public Health, v.57, p.244-248, 2010. ARFAEE, F.; JAMSHIDI, S.; AZIMIRAD, M.; DABIRI, H.; TABRIZI, A.S.; ZALIET, M. R. PCR-based diagnosis of Helicobacter species in the gastric and oral samples of stray dogs. Comparative Clinical Pathology,p.1-5. 2012 [in press]. AYLES, H. L.; FRIENDSHIP, R. M.; BALL, E. O. Effect of dietary particle size on gastric ulcers, assessed by endoscopic examination, and relationship between ulcer severity and growth performance of individually fed pigs. Swine Health Production, v.4, p.211–216, 1996. BAELE, M.; DECOSTERE, A.; VANDAMME, P.; CEELEN, L.; HELLEMANS, A.; CHIERS, K.; DUCATELLE, R.; HAESEBROUCK, F. Isolation and characterization of Helicobacter suis sp. nov. from pig stomachs. International Journal of Systemic Evolutionary Microbiology, v.58, p.1350–1358, 2008. BAELE, M.; PASMANS, F.; FLAHOU, B.; CHIERS, K.; DUCATELLE, R.; HAESEBROUCK, F. Non-Helicobacter pylori helicobacters detected in the stomach of humans comprise several naturally occurring Helicobacter species in animals. FEMS Immunology Medical of Microbiology, v.55, p.306–313, 2009. BARBOSA, A. J. A.; SILVA, J. C. P.; NOGUEIRA, A. M. M. F.; PAULINO, E.; MIRANDA, C. R. Higher incidence of Gastrospirillum sp. in swine with gastric ulcer of the pars oesophagea. Veterinary Pathology, v.32, p.134–139, 1995. BENAÏSSA, M.; BABIN, P.; QUELLARD, N.; PEZENNEC, L.; CENATIEMPO, Y.; FAUCHÈRE, J. L. Changes in Helicobacter pylori ultrastructure and antigens during conversion from the bacillary to the coccoid form. Infection and Immunity, v.96, n.6, p.2331-2335, 1996. BRIDGEFORD, E. C.; MARINI, R. P.; FENG, Y.; PARRY N. M. A.; RICKMAN, B., J. FOX, G. Gastric Helicobacter species as a cause of feline gastric lymphoma: a viable hypothesis. Veterinary Immunology and Immunopathology, v.123, p.106–113, 2008. BURY-MONE, S., SKOULOUBRIS, S.; DAUGA, C.; THIBERGE, J. M.; DAILIDIENE, D.; BERG, D. E.; LABIGNE, A.; REUSE H. Presence of active aliphatic amidases in Helicobacter species able to colonize the stomach. Infection and Immunity, v.71, p.5613–5622, 2003. CANTET, F.; MAGRAS, C.; MARAIS, A.; FEDERIGHI, M. MEGRAUD, F. Helicobacter species colonizing the pig stomach: molecular characterization and determination of prevalence. Applied and Environmental Microbiology, v.65, p.4672–4676, 1999. 238 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 CERQUEIRA, L.; FERNANDES, R. M.; FERREIRA, R. M.; CARNEIRO, F.; DINISRIBEIRO, M.; FIGUEIREDO, C.; KEEVIL, C. W.; AZEVEDO, N. F.; VIEIRA, M. J. PNA – FISH as a new diagnostic method for the determination of clarithromycin resistance of Helicobacter pylori. BMC Microbiology, v.11, p.2-7, 2011. CHOI, Y. K.; HAN, J. H.; JOO, H. S. Identification of novel Helicobacter species in pig stomachs by PCR and partial sequencing. Journal of Clinical Microbiology, v.39, p.3311–3315, 2001. CHOI, J.; KIM, C. H.; KIM, D.; CHUNG, S. J.; SONG, J. H.; KANG, J. M.; YANG, J. I.; PARK, M. J, KIM, Y. S.; LIM, S. H; KIM, J. S.; JUNG, H. C.; SONG, I. S. Prospective evaluation of a new stool antigen test for the detection of Helicobacter pylori, in comparison with histology, rapid urease test, 13C-urea breath test and serology. Journal of Gastroenterology and Hepatology, v.26, p.1053–1059, 2011. CHOI, Y. J.; KIM, N.; LIM, J.; SHIN, C. M.; LEE, H. S.; LEE, S. H.; PARK, Y.S.; HWANG J-H.; KIM, J. W.; JEONG, S. H.; LEE, S-H.; JUNG, H. C. Accuracy of diagnostic tests for Helicobacter pylori in patients with peptic ulcer bleeding. Helicobacter, v.17, p.77-85, 2012. CZINN, S. J. Helicobacter pylori infection: detection, investigation and management. Journal of Pediatrics, v.146, p.21-26, 2005. DAY, M. J.; BILZER, T.; MANSELL, J.; WILCOCK, B.; HALL, E. J.; JERGENS, A.; MINAMI, T.; WILLARD, M.; WASHABAU, R. Histopathological standards for the diagnosis of gastrointestinal inflammation in endoscopic biopsy samples from the dog and cat: a report from the World Small Animal Veterinary Association Gastrointestinal Standardization Group. Journal of Comparative Pathology, v.38, p.S1–S43, 2008. DEWHIRST, F. E.; SHEN, M. S. Z.; SCIMECA, L. N.; STOKES, T.; BOUMENNA, T.; CHEN, B. J.; PASTER, J.; FOX, G. Discordant 16S and 23S rRNA gene phylogenies for the genus Helicobacter: implications for phylogenetic inference and systematics. Journal of Bacteriology, v.187, p.6106–6118, 2005. DUQUENOY, A.; LE LUYER, B. Gastritis caused by Helicobacter heilmannii probably transmitted from dog to child. Archives de Pediatrie, v.16, p.426-429, 2009. EKMAN, E.; FREDRIKSSON, M.; TROWALD-WIGH, G. Helicobacter spp. in the saliva, stomach, duodenum and faeces of colony dogs. Veterinary Journal, v.195, p.127129, 2013. ERGINSOY, S.D.; SOZMEN, M. Gastric Helicobacter-like organisms in stray cats. Acta Veterinaria Brno, v.75, p.91-98, 2006. FOX, J.G.; LEE, A. The role of Helicobacter species in newly recognized gastrointestinal tract diseases of animals. Laboratory Animal Science, v.47, p.222–55, 1997. GOMBA, M.; TANJA, S.; MANICA, C.; POGANIK, M. Histological changes in stomachs of apparently healthy dogs infected with Helicobacter. Acta Veterinaria, v.60, p.173-182, 2010. GLUPCZYNSKI, Y. Microbiological and serological diagnostic tests for Helicobacter pylori: an overview. British Medical Bulletin, v.54, n.1, p.175-118, 1998. GUARNER J.; KALACH, N.; ELITSUR, Y.; KOLETZKO, S. Helicobacter pylori diagnostic tests in children: review of the literature from 1999 to 2009. European Journal Pediatrics, v.169, p.15–25, 2009. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 239 HAESEBROUCK, F.; PASMANS, F.; FLAHOU, B.; CHIERS, K.; BAELE, M.; MEYNS, T.; DECOSTERE, A.; DUCATELLE, R. Gastric Helicobacters in domestic animals and nonhuman primates and their significance for human health. Clinical Microbiology Reviews, v. 22, p.202–223, 2009. HAESEBROUCK, F.; PASMANS, F.; FLAHOU, B.; SMET, A.; VANDAMME, P.; DUCATELLE, R. Non-Helicobacter pylori Helicobacter Species in the Human Gastric Mucosa: A Proposal to Introduce the Terms H. heilmannii Sensu Lato and Sensu Stricto. Helicobacter, v.16, p.339–340, 2011. HAHN, M.; FENNERTY, M. B.; CORLESS, C. L.; MAGARET, N.; LIEBERMAN, D. A.; FAIGEL, D. O. Noninvasive tests as a substitute for histology in the diagnosis of Helicobacter pylori infection. Gastrointestinal Endoscopy, v.52, n.1, p.20-26, 2000. HÄNNINEN, M.; HAPPONEN, I.; JALAVA, K. Culture and Characteristics of Helicobacter bizzozeronii, a new canine gastric Helicobacter sp. International Journal of Systematic Bacteriolology, v.46, n.1, p.160–166, 1996. HÄNNINEN, M.; HAPPONEN, I.; JALAVA, K. Transmission of canine gastric Helicobacter salomonis infection from dam to offspring and between puppies. Veterinary Microbiology, 62, p.47–58, 1998. HAPPONEN, I.; SAARI, S.; CASTREN, L.; TYNI, O.; HANNINEN, M. L.; WESTERMARCK, E. Comparison of diagnostic methods for detecting gastric Helicobacter-like organisms in dogs and cats. Journal of Comparative Pathology, v.115, p.117-127, 1996. HELLEMANS, A.; CHIERS, K.; DECOSTERE, A.; BOCK, M.; HAESEBROUCK, F.; DUCATELLE. D. Experimental infection of pigs with “Candidatus Helicobacter suis.” Veterinary Research Communications, v.31, p.385–395, 2007. HERMANNS, W. K.; KREGEL, K.; BREUER, W.; LECHNER, J. Helicobacter like organisms: histopathological examination of gastric biopsies from dogs and cats. Journal of Comparative Pathology, v.112, p.307–318, 1995. HWANG, C. Y.; HAN, H. R.; YOUN, H. Y. Prevalence and clinical characterization of gastric Helicobacter species infection in dogs and cats in Korea. Journal of Veterinary Science, v.3, p.123–133, 2002. IHAN, A.; PINCHUK, I. V. BESWICK, E. J. Inflammation, Immunity, and Vaccines for Helicobacter pylori Infection. Helicobacter, v.17, n.1, p.16-21, 2012. JALAVA, K.; KAARTINEN, M.; UTRIAINEN, M.; HAPPONEN, I.; HANNINEN, M. L. Helicobacter salomonis sp. nov., a canine gastric Helicobacter sp. related to Helicobacter felis and Helicobacter bizzozeronii. International Journal Systematic of Bacteriology, v.47, p.975–982, 1997. KUMAR, S.; CHIERS, K.; PASMANS, F.; FLAHOU, B.; DEWULF, J.; HAESEBROUCK, F.; DUCATELLE, R. An experimental Helicobacter suis infection reduces daily weight gain in pigs. Helicobacter, v.15, p.324, 2010. KUSTERS, J. G.; ARNOUD, H. M.; VLIET, V.; KUIPERS, E. J. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. Clinical Microbiology Reviews, v.19, n.3, p.449–490, 2006. LANZONI, A.; FAUSTINELLI, I.; CRISTOFORI, P.; LUINI, M.; SIMPSON, K. W.; SCANZIANI, E.; RECORDATI, C. Localization of Helicobacter spp. in the fundic mucosa of laboratory beagle dogs: an ultrastructural study. Veterinary Research, v.42, p.1-9, 2011. 240 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 LI, Y.; JIANG Y.; XI, Y.; ZHANG, L.; LUO, J., HE, D.; ZENG, S.; NING, Y. Identification and characterization of H-2d restricted CD4+ T cell epitopes on Lpp20 of Helicobacter pylori. BMC. Immunology, v.13, n.68, p.1-8, 2012. LIMA, V. P.; RABENHORST, S. H. B. Genes associados a virulência de Helicobacter pylori. Revista Brasileira de Cancerologia, v.55, n.4, p.389-396, 2009. LPSN. J. P. Euzéby: List of Prokaryotic names with standing in nomenclature-Genus Helicobacter. 2013. Disponível em: <http://www.bacterio.cict.fr/h/helicobacter.html>. Acesso em: 09 maio 2013. McNULTY, C. A. M.; LEHOURS, P.; MEGRAUD, F. Diagnosis of Helicobacter pylori infection. Helicobacter, v.16, p.10-18, 2011. MONTEIRO, L.; MASCAREL, A.; SARRASQUETA, A. M.; BERGEY, B.; BARBERIS, B.; TALBY, P.; ROUX, D.; SHOULER, L.; GOLDFAIN, D. et al. Diagnosis of Helicobacter pylori infection: noninvasive methods compared to invasive methods and evaluation of two new tests. American Journal of gastroenterology, v.96, p.353-358, 2001. NEIGER, R.; SIMPSON, K. W. Helicobacter infection in dogs and cats: facts and fiction. Journal of Veterinary Internal Medicine, v.14, n.2, p.125-33, 2000. O’ROURKE, J. L.; SOLNICK, J. V.; NEILAN, B. A.; SEIDEL, K.; HAYTER, R.; HANSEN, L. M.; LEE A. Description of ‘‘Candidatus Helicobacter heilmannii’’ based on DNA sequence analysis of 16S rRNA and urease genes. International Journal of Systematic Evolutionary of Microbiology, v.54, p.2203–2211, 2004. OLIVEIRA, A. G.; ROCHA, G. A.; ROCHA, A. M. C.; SANNA, M. G. P.; MOURA, S.B.; DANI, R.; MARINHO, F. P.; MOREIRA, L. S.; FERRARI, M. L. A.; CASTRO, L. P. F.; QUEIROZ, D. M. M. Isolation of Helicobacter pylori from the intestinal mucosa of patients with Crohn’s disease. Helicobacter, v.11, p.2-9, 2006. PAPASOULIOTIS, K.; GRUFFYDD-JONES, T. J.; WERRET, G.; BROWN, P. J.; PEARSON, G. R. Occurrence of gastric ‘Helicobacter like organisms’ in cats. Veterinary Record, v.140, p.369-370, 1997. PATEL, S. K.; PRATAP, C. B.; VERMA, A. K.; JAIN, A. K.; DIXIT, V. K.; NATH, G. Pseudomonas fluorescens – like bacteria from the stomach: A microbiological and molecular study. World Journal of Gastroenterology, v.19, n.7, p.1056-1067, 2013. QUEIROZ, D. M. M.; MENDES, E. N; ROCHA, G. A. Indicator medium for isolation of Campylobacter pylori. Journal of Clinical Microbiology, v.25, p.2378-2379, 1987. QUEIROZ, D. M. M.; ROCHA, G. A.; MENDES, E. N.; LAGE, A. P.; CARVALHO, A. C. T.; BARBOSA, A. J. A. A spiral microorganism in the stomach of pigs. Veterinary Microbiology, v.24, p.199–204, 1990. QUINN, P. J.; MARKEY, B. K.; LEONARD, F. C.; FITZPATRICK, E. S.; FANNING, S.; HARTIGAN, P. J. Helicobacter species. In: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2th.ed. Iowa, USA: 2012. p.745-746, Chap. 34. Bet al. Spatial distribution of Helicobacter RECORDATI, C.; GUALDI, V.; CRAVEN, M. A spp. in the gastrointestinal tract of dogs. Helicobacter, v.14, p.180-191, 2009. REDÉEN, S.; PETERSSON, F.; TÖRNKRANTZ, E.; LEVANDER, H.; MARDH, E; BORCH, K. Reliability of diagnostic tests for Helicobacter pylori infection. Gastroenterology Research and Practice, 2011. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 241 RIZZATO, C.; KATO, I.; PLUMMER, M.; MUÑOZ, N.; STEIN, A; DOORN, L. J. V.; FRANCESCHI, S.; CANZIAN F. Risk of advanced gastric precancerous lesions in Helicobacter pylori infected subjects is influenced by ABO blood group and cagA status. International Journal of Cancer, v.133, p.315-326, 2013. SALAMA, N. R.; HARTUNG, M. L; MÜLLER, A. Life in the human stomach: persistence strategies of the bacterial pathogen Helicobacter pylori. Nature reviews, v.11, 385-399, 2013. SCHOTT, T.; KONDADI, P. K.; HÄNNINEN M-L.; ROSSI, M. Comparative Genomics of Helicobacter pylori and the human-derived Helicobacter bizzozeronii CIII-1 strain reveal the molecular basis of the zoonotic nature of non-pylori gastric Helicobacter infections in humans. BMC Genomics, v.12, 2011. SHIRASAK, A.; JAMSHIDI, S.; MOHAMMADI, M.; SOROUSH, M.H.; BAHADORI, A.; OGHALAIE, A. Detection of Atypical Cultivable Canine Gastric Helicobacter Strain and its Biochemical and Morphological Characters in Naturally Infected Dogs. Zoonoses and Public Health. v.57, p.244–248, 2006. SIMPSON, K. W.; STRAUSS-AYALI, D.; STRAUBINGER, R. K.; SCANZIANI, E.; MCDONOUGH, P. L.; STRAUBINGER, A. F.; CHANG, Y. F.; ESTEVES, M. I.; FOX, J. G.; DOMENEGHINI, C.; AREBI, N.; CALAM, J. Helicobacter pylori infection in the cat: evaluation of gastric colonization, inflammation and function. Helicobacter, v.6, p.1-14, 2001. SIQUEIRA, J. S.; LIMA, P. S. S.; BARRETO, A. S.; QUINTANS-JÚNIOR, L. J. Aspectos Gerais nas Infecções por Helicobacter pylori – Revisão. RBAC, v.39, n.1, p.9-13, 2007. SMET, A.; FLAHOU, B.; MUKHOPADHYA, I.; DUCATELLE, R.; PASMANS, D.; HAESEBROUCK, F.; HOLD, G. The other Helicobacters. Helicobacter, v.16, p.70–75, 2011. SONGER, J. G., POST, K. W. The genera Campylobacter, Helicobacter and Arcobacter. In: Veterinary Microbiology: Bacterial and fungal agents of Animal disease. St. Louis: Elsevier, 2005. p.223-231 Chap. 28. STRAUSS-AYALI, D.; SIMPSON, K. W. Gastric Helicobacter infeccion in dogs. Veterinary Clinical of North American Small Animals Practice, Ithaca, v.29, n.2, p.397414, 1999. STEVENSON, T. H.; CASTILLO, A.; LUCIA, L. M.; ACUFF, G. R. Growth of Helicobacter pylori in various liquid and plating media. Applied Microbiology, v.30, p.192–196, 2000. SUGIMOTO, M.; WU, J-Y.; ABUDAYYEH, S.; HOFFMAN, J.; BRAHEM H.; AL-KHATIB, K.; YAMAOKA, Y.; GRAHAM, D. Y. Unreliability of results of PCR detection of Helicobacter pylori in clinical or environmental samples. Journal of Clinical Microbiology, v.47, n.3, p.738–742, 2009. VAN DEN BULCK, K.; DECOSTERE, A.; BAELE, M.; DRIESSEN, A.; DEBONGINE, J. C.; BURETTE, A.; STOLTE, M.; DUCATELLE, R.; HAESEBROUCK, F. Identification of non-Helicobacter pylori spiral organisms in gastric samples from humans, dogs and cats. Journal Clinical Microbiology, v.43, p.2256-2260, 2005. VAN DEN BULCK, K.; DECOSTERE, A.; BAELE, M.; VANDAMME, P.; MAST, J.; DUCATELLE, R.; HAESEBROUCK, F. Helicobacter cynogastricus sp. nov., a Helicobacter species isolated from the canine gastric mucosa. International Journal of Systematic Evolutionary of Microbiology, v.56, p.1559–1564, 2006a. 242 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 VAN DEN BULCK, K.; DECOSTERE, A.; BAELE, M.; MARECHAL, M.; DUCATELLE, R.; HAESEBROUCK, F. Low frequency of Helicobacter species in the stomachs of experimental rabbits. Laboratory Animals, v.40, p.282–287, 2006b. VIEIRA, F. T.; SILVA, J. C. P.; VILORIA, M. I. V.; VIEIRA, M. T.; PEREIRA, C. E. R. Frequência e distribuição de Helicobacter spp. na mucosa gástrica de cães. Revista Ceres, v.59, n.1, p.25-31, 2012. VITORIANO, I.; SARAIVA-PAVA, K. D;. ROCHA-GONÇALVES, A.; SANTOS A.; LOPES, A. L. OLEASTRO, M.; ROXO-ROSA, M. Ulcerogenic Helicobacter pylori strains isolated from Children: A contribution to get insight into the virulence of the bacteria. Plus one, v.6, n.10, 2011. WASHABAU, R. J.; DAY, M. D.; WILLARD, M. D.; HALL, E. J.; JERGENS, A. E., Endoscopic, biopsy, and histopathological guidelines for the evaluation of gastrointestinal inflammation in companion animals. Journal of Veterinary Internal Medicine, v.24, p.10–26, 2010. WIINBERG, B.; SPOHR, A.; DIETZ, H. H.; EGELUND, T.; GREITER-WILKE, A.; MCDONOUGH, S. P.; OLSEN, J.; PRIESTNALL, S.; CHANG, Y. F.; SIMPSON, K. W. Quantitative analysis of inflammatory and immune responses in dogs with gastritis and their relationship to Helicobacter spp. infection. Journal of Veterinary Internal Medicine, v.19, p.4-14, 2005. WÜPPENHORST, N.; VON LOEWENICH, F.; HOBMAIER, B.; VETTER-KNOLL, M.; MOHADJE, S.; KIST, M. Culture of a Gastric Non-Helicobacter pylori Helicobacter from the Stomach of a 14-Year-Old Girl. Helicobacter, v.18, p.1-5, 2012. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 243 Osteomielite decorrente de infecção por Aspergillus sp. em cão da raça rottweiler: Relato de caso Fabrício Bernardo de Jesus Brasil Edmilson Rodrigo Daneze RESUMO A osteomielite é definida como uma inflamação da medula óssea e do osso adjacente, podendo ser de origem bacteriana, fúngica, resultante de reações a implantes metálicos nos ossos ou, ainda, parasitária ou viral. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de osteomielite decorrente de infecção por Aspergillus sp. em um cão da raça Rottweiler. O animal foi atendido apresentando lesão inflamatória em membro torácico com histórico de início há aproximadamente um ano. No exame radiográfico foi visualizada ausência total de falanges e metacarpos dos dedos I e II esquerdos, focos de osteólise difusos em rádio e ulna, com edema de partes moles. No exame microbiológico foi isolado o fungo Aspergillus sp. Após avaliação do caso, foi proposta a amputação do membro afetado. Porém, o proprietário não autorizou a realização de tal procedimento. Através do relato desse caso, concluímos que os exames radiográficos e a cultura microbiológica foram suficientes e indispensáveis para diagnosticar a ocorrência de osteomielite decorrente de infecção por Aspergillus sp. no animal. Contudo, devido à irredutibilidade do proprietário em autorizar o tratamento mais adequado, o animal pode vir a óbito. Palavras-chave: Osteomielite. Inflamação. Radiologia. Cultura microbiológica. Osteomyelitis due to Aspergillus sp. infection in rottweiler dog breed: Case report ABSTRACT Osteomyelitis is defined as an inflammation of bone marrow and adjacent bone. May be of bacterial, fungal, reactions to metallic implants in bone, or even, parasitic or viral origin. The aim of this study is to report a case of osteomyelitis due to infection by Aspergillus sp. in a dog Rottweiler breed. The animal presented inflammatory lesion in the forelimb with a history of beginning about one year ago. By radiographic examination was visualized total absence of phalanges and metacarpals of the I and II left fingers, diffuse foci of osteolysis in radius and ulna, with swelling of soft parts. By microbiological examination was isolated Aspergillus sp. After review of the case, was proposed amputation of the affected limb. However, the owner did not authorize such procedure. Through the report of this case, it was concluded that the radiographic and microbiological culture were sufficient and necessary to diagnose the occurrence of osteomyelitis due to Aspergillus sp. infection in the animal. However, due to the irreducibility of the owner to allow the most appropriate treatment the animal may ultimately death. Keywords: Osteomyelitis. Inflammation. Radiology. Microbiological culture. Fabrício B. de Jesus Brasil é Medico Veterinário, Doutor, Professor adjunto do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária da Faculdade Francisco Maeda (FAFRAM/FE). Edmilson R. Daneze é Medico Veterinário, aluno do PPG em Patologia Animal da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV/UNESP). Endereço: Rod. Jerônimo Nunes Macedo, km 01, 14500-000, Ituverava-SP. E-mail: [email protected] v.10v.10, n.2, n.2 jan./jun. p.244-251 Canoasem Foco, 244Veterinária em Foco Veterinária 2013 jan./jun. 2013 INTRODUÇÃO A osteomielite é definida como uma inflamação da medula óssea e do osso adjacente (WOODARD, 2000; FARROW, 2005; SHIRES, 2005), podendo ser de origem bacteriana, fúngica, resultante de reações a implantes metálicos nos ossos (KEALY, McALLISTER, 2005; SHIRES, 2005) ou, ainda, parasitária (protozoários) ou viral (DOIGE; WEISBRODE, 1988). É uma lesão óssea geralmente comum e, às vezes, ameaçadora da vida, pois se trata de um processo crônico, desfigurante, caracterizado por necrose e remoção óssea e por neoformação óssea compensatória (DOIGE; WEISBRODE, 1988). Na maioria das vezes, as lesões iniciam pequenas e aumentam gradualmente se não forem tratadas (FARROW, 2005). Infecções fúngicas geralmente são sistêmicas (SHIRES, 2005), envolvendo os ossos num tipo não supurativo de osteomielite, que pode ser multifocal, produzindo uma aparência manchada nos ossos (KEALY; McALLISTER, 2005). Em cães acometem, normalmente, adultos jovens de raças de grande porte (THRALL, 2010). A capacidade dos fungos de causar doenças invasivas é muito bem documentada (BECK-SAGUE; JARVIS, 1993), sendo comumente identificada em regiões geográficas onde os fungos que a predispõem são endêmicos (THRALL, 2010). No entanto, o diagnóstico de infecções osteoarticulares causadas por fungos é difícil, devido principalmente aos indicadores clínicos inespecíficos e pouco sensíveis disponíveis (FIGUEIREDO et al., 2007). Os cães acometidos por micoses sistêmicas com tendência à localização óssea podem ser infectados tanto pelo trato respiratório como por ferimentos penetrantes ou fraturas expostas (WOODARD, 2000; DALECK et al., 2002; SHIRES, 2005; GOMES et al., 2008). Os microorganismos comumente isolados são Cryptococcus sp., Coccidioides sp., Blastomyces sp. (DALECK et al., 2002; SHIRES, 2005; GOMES et al., 2008), Histoplasma sp. (KENNETH, 2003) ou Aspergillus sp. (FIGUEIREDO et al., 2007; SANCHES; COUTINHO, 2007). Pode-se suspeitar de uma infecção por Aspergillus sp. com base no histórico e exame físico, podendo ser confirmada através de radiografia, tomografia computadorizada, cultura de fungos, histopatologia e achados sorológicos (SANCHES; COUTINHO, 2007). Embora se disponha de diversos registros da aspergilose na literatura mundial, ainda são escassas as descrições em nosso país (SANCHES; COUTINHO, 2007). Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é relatar um caso de osteomilite decorrente de infecção por Aspergilus sp. em um cão da raça Rottweiler. RELATO DO CASO Um cão da raça Rottweiller, macho, de 13 anos de idade, foi atendido apresentando lesão inflamatória difusa e extensa em membro torácico esquerdo (MTE). Segundo o Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 245 proprietário, a lesão aparecera há aproximadamente um ano. Nesse período ele observou que a mesma iniciou-se como uma inflamação periungueal ulcerada na segunda falange do MTE evoluindo, no decorrer de 06 meses, para os metacarpos, carpos, rádio e ulna. Informou, ainda, que o animal habitava zona rural, tendo acesso ao solo e possuindo o hábito de cavar buracos. Durante o exame físico observou-se que o MTE apresentava rarefação pilosa, hiperpigmentação cutânea, áreas ulceradas em extremidade e na face medial do membro, ausência dos dedos I e II, onicomadese dos dedos III e IV, edema e sinais de pododermatite (Figura 1); ao ser manipulado, percebeu-se que o animal sentia dor. O animal foi submetido a exame radiográfico e coleta de material da região afetada para exame microbiológico. No exame radiográfico foi visibilizada ausência total de falanges e metacarpos dos dedos I e II esquerdos, focos de osteólise difusos em rádio e ulna, com edema de tecido mole, sendo classificada como osteomielite crônica (HAY, 2008) (Figura 2). Foi prescrito tratamento à base de cefalexina (30 mg/kg, a cada 12 horas) de forma profilática até a conclusão do exame microbiológico. No exame microbiológico foi isolado o fungo Aspergillus sp. Decorridos 21 dias, durante contato telefônico com o proprietário, para informar os resultados dos exames, o mesmo informou que o animal encontrava-se estável, sendo que não foi observada involução da lesão. Após avaliação do caso, foi proposto ao proprietário amputação alta do membro afetado, pois não era possível reverter o quadro do animal somente com tratamento à base de antifúngicos. Porém, o mesmo se negou a realizar o procedimento e recusou-se em dar continuidade ao tratamento do animal, sendo alertado das consequências da afecção sobre a vida do animal. Especulou-se, então, que provavelmente o animal foi eutanasiado, face ao sofrimento que estava apresentando. FIGURA 1 – Membro torácico esquerdo de cão da raça Rottweiller com osteomilite decorrente de infecção por Aspergillus sp. Em A, face dorsal, identifica-se rarefação pilosa, edema, ausência dos dedos I e II, com onicomadese dos dedos III e IV; em B, face palmar, observa-se sinais de pododermatite. Fonte: Os autores. 246 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 FIGURA 2 – Exame radiográfico de membro torácico esquerdo de cão da raça Rottweiller com osteomilite decorrente de infecção por Aspergillus sp. Notar ausência total de falanges e metacarpos dos dedos I e II esquerdos, focos de osteólise difusos em rádio e ulna, com edema de parte moles. Fonte: Os autores. DISCUSSÃO A maior parte das infecções ósseas envolve as metáfises, ossos chatos, corpos vertebrais ou discos vertebrais (KEALY; MCALLISTER, 2005). De acordo com Kenneth (2003), Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans e Aspergillus spp. podem causar osteomielite fúngica. Com exceção da aspergilose, todas são raras, com maior parte tendo uma distribuição geográfica restrita (MAY, 2001). Assim, informações referentes à deslocamentos do animal devem ser obtidas durante a anamnese e tomadas em consideração (GARZOTTO; BERG, 2003; THRALL, 2010). No presente caso, o proprietário informou que o animal habitava uma propriedade na zona rural e tinha hábito de geoescavação. Segundo Lacaz et al. (2002), o gênero Aspergillus apresenta mais de 180 espécies, que são saprófitos e oportunistas, podendo ser isoladas de matéria orgânica, solo, água, detritos vegetais, ar atmosférico e são frequentemente contaminantes em laboratórios. As espécies de maior importância em Medicina Veterinária são A. fumigatus, A. terreus e A. deflectus (TABOADA, 2004; HAWKINS, 2010), embora muitas outras espécies já tenham sido descritas causando doença no homem e nos animais (QUINN et al., 1994; LACAZ et al., 2002). A presença de bactérias ou fungos em um osso não leva inevitavelmente a uma osteomielite. Pelo contrário, é necessário um abuso significativo para precipitar uma infecção ativa. Deficiências imunológicas, contaminação em massa, virulência do microorganismo, traumatismo associado à isquemia tecidual e presença de material estranho no interior do tecido são alguns dos fatores que potencializam a afecção (SHIRES, 2005). Assim sendo, a osteomielite é um tipo de lesão que necessita de um diagnóstico precoce e de um tratamento rigoroso (DOIGE; WEISBRODE, 1998). Mesmo não sendo incomum, a osteomielite fúngica possui prognóstico ruim (DAY, 1998; HARKIN, 2003; KERL, 2003). Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 247 Possíveis diagnósticos diferenciais incluem neoplasias primárias do tecido ósseo (fibrossarcoma, condrossarcoma, hemangiossarcoma), metástases, mieloma múltiplo ou linfoma ósseo, osteomielite bacteriana ou fúngica, lesões ósseas com abscessos (ainda que raras) e doenças ósseas metabólicas (DALECK et al., 2002; KIRPENSTEIJN et al., 2006; DERNELL et al., 2007; GOMES et al., 2008). Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância de um amplo exame clínico e radiológico, assim como da biópsia excisional, para diagnóstico conclusivo (POWERS et al., 1988) e especialmente casos de osteomielite fúngica e osteopatia hipertrófica, pela semelhança das alterações radiográficas ósseas e periostais encontradas no osteossarcoma (LINDENBAUM; ALEXANDER, 1984). O aspecto radiográfico do osteossarcoma é semelhante ao da osteomielite, em particular a de origem fúngica, o que dificulta a sua diferenciação (GARZOTTO; BERG, 2003; THRALL, 2010). O aspecto radiográfico de uma infecção óssea depende de sua duração; inicialmente, há um típico aumento de volume de tecidos moles, mas poucas alterações perceptíveis no osso acometido. Entretanto, com o passar do tempo, alterações estruturais se tornam gradualmente evidentes, na forma de proliferação óssea na superfície e osteólise interior (FARROW, 2005). Nesse sentido, a avaliação radiográfica foi muito importante durante o atendimento do animal, pois permitiu analisar a extensão da lesão, conforme informado por Daleck et al. (2002). As alterações radiográficas correspondentes à reação do periósteo são menos expressivas e agressivas nas infecções fúngicas, permitindo em alguns casos diferenciar osteomielite fúngica de osteossarcoma (THRALL, 2010). A aparência radiográfica da osteomielite fúngica é de lesões proliferativas ou blásticas, líticas, que ocorrem em diáfise distal, metáfises, epífises ou, raramente, no esqueleto axial (DALECK et al., 2002; GOMES et al., 2008), corroborando com o que foi observado no exame radiográfico do animal em discussão. No entanto, este fato não é constante, não podendo ser utilizado como forma segura de diferenciação (THRALL, 2010). Portanto, nos casos em que a história pregressa for compatível com infecção óssea ou se pretenda o diagnóstico exato antes de iniciar o tratamento, deve realizar-se biopsia óssea com análise histopatológica e cultura microbiológica para um diagnóstico definitivo (DERNELL et al., 2007). No presente caso, optou-se pelo exame microbiológico, caso ele fosse inconclusivo seria realizada a coleta de material para biopsia; contudo não foi necessário, pois foi possível isolar e identificar o Aspergillus sp. na cultura. Segundo Chun e Lorimier (2003), citologia aspirativa por agulha fina ou imprint também podem ser usados para diagnóstico preliminar. Segundo Shires (2005), o tratamento para a osteomielite é prolongado, intensivo e caro; enquanto que Butterworth et al. (1995) referem que o tratamento efetivo da aspergilose é comprovadamente difícil. Assim, associando-se as duas afecções, quanto mais rápido o diagnóstico e o início do tratamento, melhores os resultados e a resolução da afecção. No entanto, como o presente caso era de osteomielite crônica, foi proposto ao proprietário a amputação do membro, como indicado por Sturion et al. (2000) e 248 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 Hay (2008) em casos em que o prognóstico é ruim, especialmente se houver perda de tecidos moles e restrição financeira do proprietário. Segundo Campos et al. (2009), as amputações de membros em pequenos animais devem ser executadas como último recurso na clínica cirúrgica, sendo realizadas sem preconceito e, principalmente, quando os demais tratamentos conservativos se esgotam e o paciente corre risco de morte. Contudo, o proprietário se negou em realizar o procedimento e recusou-se em dar continuidade no tratamento do animal, cabendo à equipe apenas alertá-lo das consequências da afecção sobre a vida do animal. Com o diagnóstico de infecção por Aspergillus sp. verificou-se que o clotrimazol tópico é considerado o tratamento de escolha nas infecções fúngicas de pequenos animais (TABOADA, 2004; HAWKINS, 2010). No entanto, somente a terapia tópica não é suficiente quando o agente atinge os tecidos moles, sendo necessária terapia sistêmica conjunta com antifúngicos da família dos imidazóis, tais como cetoconazol, itraconazol, fluconazol, clotrimazol e enilconazol que demonstram ação in vitro contra grande variedade de espécies de Aspergillus, sendo as drogas mais empregadas (DAY, 1998; TABOADA, 2004; HAWKINS, 2010). Na clínica médica humana, têm-se obtido resultados favoráveis com anfotericina B, voriconazol e caspofungina (GOLDENBERG et al., 2007; WALSH et al., 2008); no entanto, a anfotericina B deve ser usada com cautela, pois possui efeito nefrotóxico (BERDICHEVSKY, 2003). A duração do tratamento não está definida, em geral é prescrito por 6-12 semanas. A monitorização da resposta terapêutica inclui a avaliação dos sintomas e sinais, assim como dos aspectos radiológicos, em intervalos regulares (JOHNSON, 1994; WALSH et al., 2008). CONCLUSÃO Através do relato desse caso, concluí-se que o contato com a terra associado aos exames radiográficos e a cultura microbiológica, foram suficientes e indispensáveis para diagnosticar a ocorrência de osteomielite decorrente de infecção por Aspergilus sp. num cão da raça Rottweiler. Contudo, devido à irredutibilidade do proprietário em autorizar o tratamento mais adequado e, mediante a extensão da lesão e gravidade da afecção, o animal pode vir a óbito. REFERÊNCIAS BECK-SAGUE, C. M.; JARVIS, W. R.; National Nosocomial Infections Surveillance System. Secular trends in the epidemiology of nosocomial fungal infections in the United States, 1980-1990. Journal of Infectious Diseases, v.167, p.1247-51, 1993. BERDICHEVISKY, R. H. Nefrotoxicidade associada à anfotericina B em pacientes de baixo risco. 2003. 71f. Dissertação (Mestrado em Nefrologia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas: Nefrologia. Porto Alegre, 2003. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 249 BUTTERWORTH, S. J.; BARR, F. J.; PEARSON, G. R.; DAY, M. J. Multiple discospondylitis associated with Aspergillus species infection in a dog. Veterinary Record, v.136, n.2, p.38-41, 1995. CAMPOS, L. L. T.; STAINKI, D. R.; PEDROZO, J. C. S. R. Amputação de membro locomotor com ligadura vascular prévia em pequenos animais: uma técnica cirúrgica alternativa. CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 18, 2009. Anais... PelotasRS: Universidade Federal de Pelotas, 2009. CHUN, R.; LORIMIER, L. P. Update on the biology and management of canine osteosarcoma. In: KITCHELL, B. E. The veterinary clinics of North America: small animal practice. Philadelphia: WB Saunders, 2003. p.492-516. DALECK, C. R.; FONSECA. C. S.; CANOLA, J. L. Osteossarcoma canino – revisão. Revista de Educação Continuada do CRMV-SP, v.5, n.3, p.233-242, 2002. DAY, M. J. Canine disseminated aspergillosis. In: GREENE, C. E. Infectious diseases of the dog and the cat. 2.ed. Philadelphia: WB Saunders, 1998. p.409-412. DERNELL, W. S.; EHRHART, N. P.; STRAW, R. C.; VAIL, D. M. Tumors of the skeletal system. In: WITHROW, S. J.; MAcEWEN, E. G. Small animal oncology. 4.ed. Philadelphia: Elsevier, 2007. p.540-561. DOIGE, C. E.; WEISBRODE, S. E. Doenças dos ossos e das articulações. In: CARLTON, W. W.; McGAVIN, M. D. Patologia veterinária especial de Thomson. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 1988. p.448-485. FARROW, C. S. Veterinária: diagnóstico por imagem do cão e do gato. São Paulo: Roca, 2005. p.103-118. FIGUEIREDO, G. C.; FIGUEIREDO, E. C. Q.; TAVARES-NETO, J. Aspectos clínicos e terapêuticos da osteomielite vertebral por fungos – análise secundária de dados. Revista Brasileira de Reumatologia, v.47, n.1, p.34-41, 2007. GARZOTTO, C.; BERG, J. Musculoskeletal system. In: SLATTER, D. Textbook of small animal surgery. 3.ed. Philadelphia: WB Saunders, 2003. p.2460-2471. GOLDENBERG, D. C.; KANASHIRO, E.; FONSECA, A. S. F.; KAMAMOTO, F.; CRUZ, D. P.; SALIBA JR., W.; ALONSO, N. Osteomielite fúngica pós-traumática do osso frontal: relato de caso. Brazilian Journal of Craniomaxillofacial Surgery, v.10, n.2, p.66-71, 2007. GOMES, L. C.; BRANDÃO, C. V. S.; RANZANI, J. J. T. Osteossarcoma canino: revisão. Veterinária e Zootecnia, v.15, n.2, p.204-219, 2008. HARKIN, K. R. Aspergillosis an overview in dogs and cats. Veterinary Medicine, v.98, n.7, p.602-618, 2003. HAWKINS, E. C. Distúrbios do sistema respiratório. In: NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Medicina interna de pequenos animais. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p.226-228. HAY, C. W. Osteomielite. In: BIRCHARD, S. J.; SHERDING, R. G. Manual Saunders: clínica de pequenos animais. 3.ed. São Paulo: Roca, 2008. cap.121, p.1231-1234. JOHNSON, K. A. Ostiomyelitis in dogs and cats. Journal of the American Veterinary Medical Association, v.12, n.204, p.1882-1884, 1994. KEALY, J. K.; McALLISTER, H. Radiografia e ultrassonografia do cão e do gato. 3.ed. Barueri-SP: Manole, 2005. p.290. 250 Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 KENNETH, J. A. Osteomielite. In: BIRCHARD S. J., SHERDING R. G. Manual Saunders: clínica de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2003. p.1219-1223. KERL, M. E. Update on canine and feline fungal diseases. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, v.33, p.721-747, 2003. KIRPENSTEIJN, J.; MOORE, A.; OGILVIE, G. K. Key surgical, medical advances for treating osteosarcoma. WORLD CONGRESS WSAVA/FECAVA/CSAVA, Praga, República Tcheca, 2006. Proceedings… Disponível em: http://www.ivis.org. Acesso: 20 dez. 2012. LACAZ, C. S.; PORTO, E.; MARTINS, J. E. C.; HEINS-VACCARI, E.; MELO, N. T. Tratado de micologia médica. 9.ed. São Paulo: Sarvier, 2002. LINDENBAUM, S.; ALEXANDER, H. Infections simulating bone tumors. A review of subacute osteomyelitis. Clinical Orthopaedics and Related Research, v.184, p.193-203, 1984. MAY, C. Ostepatias e artropatias. In: DUNN, J. K. Tratado de medicina de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2001. p.715-753. POWERS, B. E.; LARUE, S. M.; WITHROW, S. J.; STRAW, R. C.; RICHTER, S. L. Jamshidi needle biopsy for diagnosis of bone lesions in small animals. Journal of the American Veterinary Medical Association, v.193, n.2 p.205-210, 1988. QUINN, P. J.; CARTER, M. E.; MARKEY, B. K.; CARTER, G. R. Clinical veterinary microbiology. London: Wolfe Publishing; 1994. 648p. SANCHES, P. P.; COUTINHO, S. D. A. Aspergilose em cães – revisão. Revista do Instituto de Ciências da Saúde, v.25, n.4, p.391-397, 2007. SHIRES, P. K. Osteomileite. In: BOJRAB, M. J. Técnicas atuais em cirurgia de pequenos animais. 3.ed. São Paulo: Roca, 2005. p.854-857. STURION, D. J.; ISQUERDO, R.; LAGANARO, S. L.; GARBELINI, M. E.; TANAKA, N. M.; STURION, M. A. T. Aspectos clínicos e tratamento da osteomielite. Unopar Científica, Ciências Biológicas e da Saúde, v.2, n.1, p.151-160, 2000. TABOADA, J. Micoses sistêmicas. In: ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Tratado de medicina interna veterinária: doenças do cão e do gato. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. p.499-501. THRALL, D. E. Aspectos radiográficos de tumores ósseos e infecções ósseas. In: Diagnóstico de radiologia veterinária. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p.306-310. WALSH, T. J.; ANAISSIE, E. J.; DENNING, D. W.; HERBRECHT, R.; KONTOYIANNIS, D. P.; MARR, K. A.; MORRISON, V. A.; SEGAL, B. H.; STEINBACH, W. J.; STEVENS, D. A.; VAN BURIK, J. A.; WINGARD, J. R.; PATTERSON, T. F. Infectious Diseases Society of America. Treatment of aspergillosis: clinical practice guidelines of the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, v.46, n.3, p.327-360, 2008. WOODARD, J. C. Sistema esquelético. In: JONES, T. C.; HUNT, R. D.; KING, N. W. Patologia veterinária. 6.ed. Barueri-SP: Manole, 2000. p.913-961. Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 251 Normas editoriais POLÍTICAS E REGRAS GERAIS A revista VETERINÁRIA EM FOCO, publicação científica da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), com periodicidade semestral, publica artigos científicos, revisões bibliográficas, relatos de casos e notas técnicas referentes à área de Ciências Veterinárias, que a ela deverão ser destinados com exclusividade. É editada sob responsabilidade do Curso de Medicina Veterinária da ULBRA. Os artigos científicos, revisões bibliográficas, relatos de casos e notas devem ser enviados para o e-mail [email protected], em word, fonte 12, Times New Roman, espaço duplo entre linhas, margem direita 2,5cm e esquerda 3cm. As páginas devem ser numeradas. Os trabalhos devem ser acompanhados de ofício assinado pelos autores. Os artigos serão submetidos a exame por 3 pesquisadores com atividade na linha de pesquisa do tema a ser publicado, tendo a Revista o cuidado de manter sob sigilo a identidade dos autores e dos consultores. Cópias em CD e impressas serão solicitadas após os trabalhos revisados e aceitos. 1- O artigo científico deverá conter os seguintes tópicos: título (em português e inglês); RESUMO; Palavras-chave; ABSTRACT; Keywords; INTRODUÇÃO (com revisão da literatura); MATERIAL E MÉTODOS; RESULTADOS E DISCUSSÃO; CONCLUSÃO; AGRADECIMENTOS; REFERÊNCIAS. 2- A revisão bibliográfica deverá conter: título (em português e inglês); RESUMO; Palavras-chave; ABSTRACT; Key words; INTRODUÇÃO; DESENVOLVIMENTO; CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS. 3- A nota deverá conter: título (em português e inglês); RESUMO; Palavras-chave; ABSTRACT; Keywords; seguido do texto, sem subdivisão, abrangendo introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão, com REFERÊNCIAS. 4- O relato de caso deverá conter: título (em português e inglês); RESUMO; Palavraschave; ABSTRACT; Keywords; INTRODUÇÃO (com revisão de literatura); RELATO DO CASO; RESULTADOS E DISCUSSÃO; CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO Título Deve ser claro e conciso, em caixa alta e negrito, sem ponto final, em português e inglês. Autores Deve constar o nome por extenso de cada autor, abaixo do título, seguido de informação sobre atividade profissional, maior titulação e lugar/ano de obtenção, Instituição em que trabalha, endereço completo e E-mail. Resumo e abstract O resumo deve ser suficientemente completo para fornecer um panorama adequado do que trata o artigo, sem, porém, ultrapassar 350 palavras. Logo após, indicar as palavraschave / key words (mínimo de três) para indexação. Citações e referências Citações bibliográficas no texto deverão constar na INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS E DISCUSSÃO no artigo científico, conforme exemplo: um único autor (SILVA, 1993); dois autores (SOARES; SILVA, 1994); mais de três autores (SOARES et al., 1996). Quando são citados mais de um trabalho, separa-se por ponto e vírgula dentro do parênteses (SOARES, 1993; SOARES; SILVA, 1994; SILVA et al., 1998). Referências devem ser redigidas em página separada e ordenadas alfabeticamente pelos sobrenomes dos autores, elaboradas conforme a ABNT (NBR-6023). Tabelas e figuras As Tabelas e Figuras devem ser numeradas de forma independente, com números arábicos. As Tabelas devem ter o título acima das mesmas, escrito em letra igual à do texto, mas em tamanho menor. As Figuras devem ter o título acima das mesmas. Tabelas e Figuras podem ser inseridas no texto. Endereço para correspondência Revista VETERINÁRIA EM FOCO Av. Farroupilha, 8001 - Prédio 14 - Sala 126 São José / RS - Brasil CEP: 92425-900 E-mail: [email protected] Disponível eletronicamente www.ulbra.br/medicina-veterinaria/revista.html Veterinária em Foco, v.10, n.2, jan./jun. 2013 253
Download