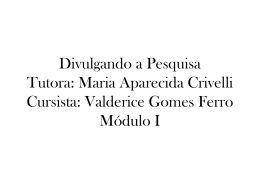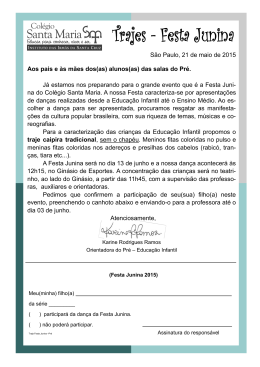BETO PACHECO O Fantástico Mundo das Quinquilharias Crônicas Para tia Tere. Prefácio O menino do playmobil Manda a etiqueta que um professor nunca comente como seus ex-alunos se comportavam em sala de aula. Trata-se de um mal maior do que a indiscrição – o da injustiça. As pessoas, afinal, mudam, amadurecem, ou se embrutecem. De modo que a escola pode ser o mais pantanoso dos cenários, o mais caduco dos termômetros, a mais torturante das miragens. Lembro de um Globo Repórter em que uma mestra, já velhinha, com uma fotografia em mãos, tentava adivinhar o destino de cada um de seus pupilos, previamente contatados pela reportagem. Pois errou feio, em quase todos os casos, confirmando o que disse o semiólogo Roland Barthes sobre a importância da preguiça no aprendizado. Explico o que tem a ver uma coisa com a outra. Os educandos que resistem a determinados rituais do conhecimento formal, preferindo em lugar tarefas prazerosas, tendem a ser mais inventivos. Para surpresa da professora que vi na tevê, o menino do fundão não estava atrás das grades – como ela poderia jurar – mas vivendo o melhor dos mundos. Barthes tinha razão: ao fazerem escolhas, alguns alunos não fazem malandragem, fazem a diferença, paga não raro com pitos, provas finais e reprovações. Até hoje não sei como o pensador, esse blasfemo, não foi parar na fogueira. Melhor dizendo, sei muito bem. Estamos treinados para enxergar os estudantes que são a nossa imagem e semelhança, ou à imagem e semelhança do que idealizamos, afinal, nunca fomos santos. Sabemos os efeitos maravilhosos da “preguiça criativa”, essa expressão que Domenico De Masi “não” inventou. Provamos na prática que a rejeição a determinados conteúdos pode ser uma experiência tão ou mais rica do que o acolhimento. Mas por medo de contrariar dogmas, colocamos Barthes na coleira, domesticando-o, de modo que latindo, não morda. Repetimos o que ele diz, não o que ele fala, com perdão ao pobre trocadilho. E la nave va. Identificamos aqueles guris e gurias que elegem a criação com modo de vida – na física, na música, nos diabos. Em segredo, admiramos. Sabemos quem são aqueles que deveriam matar o bom aluno que mora dentro deles, de modo a que encontrem a própria voz. Mesmo assim, seguimos em linha reta, e com viseiras. Temos notas a fechar. Bom, a gente não veio aqui para falar de educação, mas do livro de crônicas O fantástico mundo das quinquilharias, de Paulo Roberto Pacheco Filho – “Paulo Roberto” para a mãe, quando está brava, Beto para todos. Dei esse loop na montanha russa porque fiquei pensando no que aquela professorinha da televisão diria sobre ele, em tese. Seria indiscreta. Seria injusta. Daria mais uma vez provas da miopia educacional que nos assola. Depois fiquei pensando no que vi. E na sorte de ter cruzado com Barthes algum dia, o que pode ter me salvado de alguns pecadilhos contra os Betos que encontrei na lista de chamada. Lembro exatamente o momento em que ele entrou na sala de aula, no curso de Jornalismo da PUC. Aparentava menos idade, como até hoje, e não imaginei que fosse um desistente da faculdade de Educação Física. Riam. Acho que o senhor Pacheco não quer que essa informação apareça em sua biografia. Não a menciona em suas crônicas. Ao contrário, confidencia mais de uma vez seus maus bofes contra as academias de ginástica. Pois é – eu também mal o imaginava dando lições de polichinelo. Esse moço de fato não cabe numa equação. Da primeira vez, sentou-se nas carteiras da frente, vizinho dos mais aplicados. Fez vários estágios nas dianteiras, mas sem paixão pela perspectiva renascentista. Não tinha endereço fixo. Podia estar em qualquer ponto cardeal da sala. Ou não estar, o que me fazia perguntar se alguém tinha ido ao IML reivindicar o corpo. Assuntos de sua predileção o tiravam do silêncio e do sumiço, como que por encanto. Outros despertavam o que julguei ser uma espécie de “síndrome da perna inquieta”. O sinal me servia de baliza – perna balançando, assunto enfadonho. Beto não se encaixava em nenhum diagnóstico acadêmico sobre alunos, digamos, particulares. Podia negligenciar um seminário na quarta-feira, desses que valem a nota do bimestre, e comparecer com a tibieza de um monge ao núcleo livre de estudos de leitura, no sábado de manhã, depois de ter tocado madrugada adentro. Se a aula de sexta à noite prometia, oba, comparecia, trazendo a tiracolo a namorada, nunca a mesma – diga-se. Em miúdos, levávamos uma rasteira a cada nova tentativa de decodificá-lo, prova da falta de exatidão das ciências da comunicação. Foi assim até se graduar. Ah, aqueles dias... Cantou um samba das antigas, ao violão, na banca de seu TCC. Desconheço outro caso. Levou o prêmio de melhor aluno na noite de colação de grau, uma conquista estranha para quem desafinou em todos os rituais universitários. Foi a primeira vez que o vi chorar, talvez menos pelo prêmio e mais por se ver debaixo dos aplausos dos colegas, pelos quais é amado. Faço todas essas inconfidências com uma única intenção – dizer-lhes que Beto Pacheco continua me confundindo, do que deduzo que permanece em seu saudável estado barthesiano de escolhas preguiçosas. Naquela época, eu não sabia onde ele iria sentar, a que aula viria, o que faria no dia de seu TCC, pois seu coração não estava enterrado na margem esquerda do meu PA, o programa de aprendizagem. Não me surpreendi quando avisou, já formado, que criara um site, que escrevia crônicas e ganhava uns dobrões cantando em botecos. Era a cara dele. Mas ao tentar adivinhar sobre o que escreveria, danei-me mais uma vez. Nosso herói macunaímico sempre foi muito discreto. Falava pouco de si. Numa das crônicas desse livro, inclusive, conta que era sempre o coadjuvante nas brincadeiras com os primos. Faz sentido. Os figurantes estão em segundo plano. Enxergam a pose algo Alberto Roberto dos protagonistas. Logo, aprendem mais sobre o sentido de cada cena. Beto – e aí residia minha única certeza – sente-se à vontade se está pelas beiras, ou em lugares pouco prováveis. Pode estar duas horas no centro do palco, cantando, mas as outras 22 serão à sombra, lugar tranquilo, a topofilia de águas frescas, de onde comunga com o mundo. Fosse colocá-lo numa escola, seria a da jornalista Eliane Brum, autora de A vida que ninguém vê, que usa para si a metáfora da “escutadeira” sentada a um banquinho. Parecem-se. Qual minha surpresa, de novo, ao vê-lo pendurando a alma no varal, texto a texto publicado no www.cronicasdobeto.com.br. Aprendi mais sobre ele lendo essas 50 narrativas selecionadas do que em quatro anos de convivência quase diária. A primeira crônica, “Festa junina”, cumpre a ética da boa conversa: ele ali se apresenta, pois é de direito do interlocutor saber com que trata. Aos 5 anos, era já um homem dado aos amores relâmpago, um sujeito que rejeitava ser formatado – vai à quadrilha sem o bigode de carvão – e que se esconde no armário das vassouras, salvando-se dos que insistem em devorá-lo. Fiquei comovido. De novo, Beto burla as regras e se sai muito bem. Falar de si é algo quase proibitivo para jornalistas. Rechear o texto de perguntas, então, só louco. O discurso ao redor do umbigo pode passar ao leitor a impressão de que o autor está se exibindo. E as perguntas, ora, dão a entender que não tem respostas. Ele brinca com fogo, na beira do abismo. Balança, mas não cai. Se o assunto fica tenso, conta que aprendeu muito com os playmobils. Nós também. Que não achou os Beatles na Barsa. Como é que pode? Sua palavra mágica: a graça. É para quem pode. O protagonismo desajeitado do Beto faz com que nos identifiquemos com as histórias que viveu. Ele está ali para dizer o que diríamos sobre nós mesmos, caso tivéssemos as palavras certas. Nosso cronista tem sempre a metáfora perfeita – em geral, emprestada da cultura pop e da comédia pastelão – para traduzir a insustentável leveza do ser. Ah, não? Pois leia a hilária “Marcha atlética” para lembrar que és pó, ou pum. Beto nos passa cantada com sua prosa. Entende do riscado – não esqueçamos que é cantor da noite. Não é estrela. Sabe que o espetáculo só acontece se nos vermos cantando junto com ele, nem que seja “Andança”. Eis o segredo de O fantástico mundo das quinquilharias: nós nos sentimos coautores do livro. Não é ele que fica doido com o computador emperrado. Não é ele que carrega um bicho-preguiça para dentro de casa. Somos nós. Foi ele quem fez. Mas poderia ter sido eu. Ele sempre nos dá licença. Nessas páginas temos uma segunda chance de viver desajeitada e divertidamente. Valeu. A propósito: – Beto, você tem o contato do professor Atlas? OK. Não posso me furtar de dizer que as crônicas de hoje em dia andam chatas demais. O jornalista e crítico Marcelo Coelho – em um de seus estudos – lamenta que os cronistas tenham se tornado tão chatonildos. Fidalgos, fazem crônica, mas se desejam ensaístas, diletantes da patafísica, convidados de Harvard. Deixam para trás a tradição de Rubem Braga, que falava sobre o nada, ou quase nada. E nos põem a bocejar. Tudo bem – o conceito de que a banalidade nos salva é de Michel de Certeau em seu indispensável A invenção do cotidiano. Mas Beto é mais Braga. Curte a erudição, desde que disfarçada. Prefere falar do Scorpions. Do Spielberg. Do Sérgio Mallandro. Dá-nos a impressão que escreve ao acaso. Que está conversando. Quiçá visitando nossa carteira na sala de aula do dia a dia. Como fazia na PUC. Fala da família – que como a nossa, vista de perto, não é normal –; do cachorro, ao qual ficamos querendo bem mais do que a um beagle de laboratório; pisa em nossos calos. A propósito, aviso-lhe senhor cronista que torço pela Portuguesa, como jiló e quero bem ao jornalismo. O jeito de quem não quer nada não é sua única arma para nos conquistar. Preste atenção nas quinquilharias espalhadas pelas próximas páginas. São um verdadeiro tratado sobre como funcionam as memórias. Elas são fantasia. São traiçoeiras. Dançam conforme a música. A “festa americana” por onde andou o menino Beto não foi daquele jeito. Nunca saberemos o que se deu, porque o passado não existe mais. Mas a festa não acabou, cá nos neurônios. Esse menino encontra as palavras no presente para trazê-la de volta, imperfeita, engraçada, fazendo sentido. Não são a verdade. São mais do que isso – são a imaginação. Traduzem o que sentimos, agora, pois o agora é tudo o que temos. Quem discorda, bem, que não leia crônicas. Não as do Beto, esse sacana que nos põe para andar numa loja de badulaques e achar tudo o máximo. Depois do passeio, só falta pedir para a gente lavar a louça suja que deixou na pia. Não duvidem. José Carlos Fernandes Jornalista e professor do curso de Jornalismo da UFPR. Sumário Festa Junina............................................................................................. 15 Família moderna.................................................................................... 19 Academia................................................................................................. 21 A guerra dos bichos................................................................................ 23 Tubarão.................................................................................................... 26 Festa americana...................................................................................... 28 A porta dos desesperados...................................................................... 32 Coadjuvantes........................................................................................... 35 Cadê o neném? Sumiu!.......................................................................... 37 Gelo e Limão........................................................................................... 40 Decodificando ingredientes certos por listas tortas�������������������������� 42 Um dia a casa cai.................................................................................... 48 Morando sozinho................................................................................... 50 Marcha atlética........................................................................................ 53 Arremetida.............................................................................................. 58 Janela para o Rio..................................................................................... 60 Sobre dados, chimpanzés e gremlins arteiros..................................... 63 Um bom dia na terra da gentileza........................................................ 67 A pescaria................................................................................................ 72 A (maldita) hora da camisinha............................................................. 75 Davi X Golias.......................................................................................... 77 Uma história tétrica............................................................................... 80 Daqui pra frente tudo vai ser diferente................................................ 83 O Fantástico Mundo das Quinquilharias............................................ 85 A sedução do riso................................................................................... 90 Pernas pra que te quero......................................................................... 93 Coisas de homem................................................................................... 96 Euphractus Sexcinctus............................................................................ 99 Vampiros energéticos........................................................................... 101 Bichos de estimação............................................................................. 104 Luzes! A resposta no fim do túnel...................................................... 107 A hortelã, o Playmobil e a malandragem.......................................... 110 Gus-fabra!.............................................................................................. 113 Sobre Dia do Índio e semiótica.......................................................... 116 Memórias............................................................................................... 119 Café......................................................................................................... 126 O Homem Elástico............................................................................... 128 Entre fogueiras, Barsa e Google.......................................................... 130 O Natal vem vindo, vem vindo o Natal............................................. 133 O santo e o pedido............................................................................... 136 Três gotas de água-benta e meia dúzia de palavras mágicas������������� 139 A Guerra................................................................................................ 141 24 horas.................................................................................................. 145 O dardo, o hipopótamo e a fórmula secreta..................................... 151 São Enrique e o Dia do Beijo.............................................................. 153 EletricistazinhoZ.................................................................................. 156 Este é o país do futebol........................................................................ 160 Muchas gracias!.................................................................................... 164 Façanhas de família.............................................................................. 167 Stallone, cupins e pernilongos............................................................ 172 Festa Junina Diga-me uma coisa, é possível achar uma menina bonita quando você tem apenas cinco anos de idade? Eu tinha cinco e ela também, é possível? Calma lá, tarado não, afinal, a menina tinha a mesma idade que eu. Isso não caracteriza uma “taradice”. Juro, eu achava mesmo a menina bonita. Só bonita. Não gostosa. Bonita. Não pode falar gostosa? Mas eu falei justamente o contrário, “Não gostosa. Bonita”. Percebeu? E, também, a gente tinha cinco anos, caramba! Ela não podia ser gostosa mesmo, questão de natureza, sabe como é. Além do mais, ela já deve ser mãe hoje em dia, não ligaria se eu a chamasse de gostosa. Até aprovaria, aposto. De onde a menina? Do meu colégio, da minha sala. Patrícia; não me esqueço. Sim, senhor, cinco anos... Já doía. Aliás, é possível eu me lembrar de que a achava bonita? Curioso, né? Lembro-me bem, ela era morena. Patrícia, moreninha de cabelos curtos da minha sala. Sério, queria mesmo saber se é possível achar uma menina bonita aos cinco anos de idade. Vou perguntar a um moleque, para tirar a prova, qualquer dia desses: “Ei, psit, você aí da lancheira, tu acha alguma mina da tua sala bonita? Como assim, o que é uma ‘mina’?” Acho até que eu tinha chances com ela na época. Sei lá, uma bitoca. Não se dá bitoca aos cinco anos? Mas é sem saliva. Ah, não pode citar saliva? Não mesmo?! Ok, entendi. Então eu só passearia de mãos dadas com ela. Que tal? Até ia curtir as professoras falando “ai, que bonitinho os dois juntinhos”. Não, não queria ouvir o que o pai da garotinha teria a dizer. Só as professoras mesmo. Mas, verdade, tinha chances. Eu até tinha cabelo na época, imagina. Mais cabelo. Sim, ainda tenho cabelo, só não é aquela coisa que você diga “papagaio, quanto cabelo!”, mas ainda é cabelo, assim, na acepção denotativa da coisa. Já na conotativa não garanto. Sabe quando eu perdi qualquer chance com ela? Numa festa junina. Pois é, maldito São João! Não pode falar “maldito”? Certo, entendido: sem gostosa, sem saliva e sem maldito. Anotado. Aliás, você gosta de festa junina? Eu odeio. Está bem, “odeio” é meio pesado. Não gosto muito. E, mais do que me lembrar de achar a menina bonita aos cinco anos, lembro o porquê de não gostar de festa junina. Um belo dia, a professora chega à sala de aula e avisa: hoje nós vamos ensaiar para a quadrilha. “Maravilha!”, vibrei e já fui sacando meu revólver d’água da mochila. Rá!, ledo engano. Guardei o revólver embaixo da carteira e segui com todo mundo para o pátio. A professora começa a separar a turma em pares, “mas que diabos?!...”, e lá pelas tantas decreta: “agora, entrelacem os braços”. Gente, vou contar pra vocês, ficou todo mundo estático, tenso, sem mover um músculo. Todos pensando: o que raios é “entrelacem”? Explicado o significado, lá fomos nós dançar quadrilha de parzinho. Só agora consigo ‘entrelaçar’ todos os traumas da minha infância. Primeiro que, em determinado momento, tivemos de ficar uns de frente para os outros e os meninos deveriam fazer uma reverência tirando o chapéu para as meninas. Olha, mais confuso do que tirar um chapéu de mentirinha e eu não entender bulhufas do ritual que estava acontecendo, era alguém me explicar o porquê, já que tinha chapéu na história, de eu ter de deixar o meu revólver na sala. Mas, tudo bem, esse foi o menor dos problemas. Vieram, na sequência, a cobra, a ponte quebrada e a chuva. Pois é... Eu só tinha vontade de gritar “Por que tanta desgraça? Eu 16 Beto Pacheco só tenho cinco anos, pombas!” Mas não adiantava; e dê-lhe cobra, ponte quebrada e chuva. Nesse ínterim, passávamos pelo túnel – que até achava bacana – e daí fazíamos uma grande roda. Era a hora do “cavalinho do céu”. E foi cobra, ponte quebrada, chuva, túnel e cavalinho do céu todos os dias durante um mês, até que a gente soubesse de cor e salteado a coreografia. Era chegado o grande dia. Noite da festa junina! Ok, sem problemas, afinal, eu sabia a coreografia de cor e a minha parceira não seria a Patrícia, o que me deixava mais tranquilo. Quem seria? Não lembro. Só sei que não era a Patrícia. Assim é a vida, só nos lembramos das partners de festa junina que nos convêm. Porém (sempre tem um “porém”), a menina com quem eu treinei um mês ficou doente na semana de São João (desculpem, mas... maldito!) e num rearranjo fiquei sabendo que eu dançaria com quem, quem, quem? Patrícia, a moreninha de cinco anos mais linda daquelas paragens. Acho que isso não seria problema hoje em dia. Não mesmo. Poderia lidar com isso. Sei lidar com menina bonita. Sei mesmo. Juro! Não sou nenhum Koothrappali (Google, galera). Só que, na véspera da dita festa em que eu dançaria com a Pati (intimidade, hein?), sem aviso prévio, chega a minha mãe com uma calça toda remendada, uma camisa xadrez com os cotovelos encobertos por um pedaço de pano florido e um chapéu de palha escangalhado. “O que é isso?”, perguntei. “Roupa de festa junina”, disse ela. “Nem a pau!”, decretei. Foi com muito custo que aceitei vestir tal indumentária. Só cedi depois de muita conversa e com uns dois remendos a menos nas calças e nenhum na camisa xadrez. Encarei o chapéu, só que empurrado. Negociei usá-lo em troca de meia-dúzia de Yakult. Mas pensa que acaba aqui? É um otimista! Uma hora antes de partir para a tal O fantástico mundo das quinquilharias 17 festa junina, aparentando ser uma mistura de Kurt Cobain com Espantalho do Batman, vem minha mãe com um lápis preto em minha direção. “O que é agora?”, indaguei já me borrando. “Vamos pintar um bigode”, disse ela. Porra, bigode? Bigode não dá. Bigode?! Desculpe se você, aí do outro lado, tem bigode, mas bigode não, né? Finquei pé e esbravejei: “Nem a pau!” E venci. Fui de cavanhaque e de revólver d’água na cintura. Ainda tomei de saída dois potinhos de Yakult (eu disse DOIS!) que era para mostrar definitivamente quem mandava. Só que, envolvido pelo nervoso das calças remendadas, da camisa grunge, do chapéu esfalfado, do cavanhaque sem bigode e costeleta (também vieram com essa), da cobra, da chuva e da ponte quebrada, havia me esquecido de um pequeno detalhe: no rearranjo dos pares eu acabara selecionado para casar na festa. Eu, casar... Às favas que fosse com a Pati cuti-cuti. Fosse quem fosse. Casar? Não, né! Sumi. E coloquei o colégio em polvorosa. “Cadê o noivo?”, gritava o pai da menina. Imagina se ele soubesse que eu achava a filha dele bonita (não gostosa) já aos cinco anos de idade. “Cadê o noivo?”, gritava a turba. “Cadê meu filho?”, gritava minha mãe. E eu lá, escondido no armário das vassouras, fugindo do laço, defendendo desde pequeno minhas crenças, meus ideais, meu estilo de vida, pronto para enfrentar tudo e todos... E de revólver d’água em punho. 18 Beto Pacheco Família moderna Leio por aí histórias de famílias modernas. Debates sobre novos estilos de vida. Reportagens incentivando o diálogo aberto. Tudo papo furado. Família moderna é a minha. Almoçava na casa de uma tia – eu, ela e minha mãe – e a minha tia pergunta: “quer tomar chá de coca?” Assim, na chincha, sem nem pestanejar. E eu: “pois olha...” Meio cabreiro, afinal, minha mãe estava ao lado e sabe como é mãe com essas coisas, né? Ledo engano. Minha mãe tascou: “Toma aí pra ver se dá algum barato”. Ah, que saudade de ficar de castigo sentado à mesa da cozinha, depois de aprontar alguma arte, sem poder dar um pio e ainda encarando a fruteira – que não era de muita conversa. É, minha gente, não se fazem mais mães como antigamente. Então eu disse: “Ok, vamos tomar um chazinho de coca e ver qualé.” E lá veio a minha tia com uma xícara, uma chaleira com água quente e um pacotinho de chá, destes tipo Matte Leão, com folhinhas trituradinhas de coca. Pensei: a indústria do negócio está mais adiantada do que eu imaginava. O treco tinha até nome. Nome e origem: “Mate de Coca Del Valle – Huyro La convención Cusco”. Ah, sim, não poderia me esquecer de citar que o produto é da categoria “Premium”. Gosto de categorias “Premium”. Quem providenciou o dito chá foi outra tia minha (acho melhor preservar os nomes por questão de segurança... a minha segurança), que o trouxe do Peru, numa viagem que ela fez a Machu O fantástico mundo das quinquilharias 19 Picchu e Cusco. Dizem que o troço tem propriedades medicinais e ajuda a “equilibrar a pressão” por causa da altitude do local – ou algo do gênero medicamentoso. Em resumo: tomei coca oferecida por uma tia, trazida do estrangeiro por outra (será que as autoridades brasileiras sabem disso?) e sob os incentivos da minha mãe. Alguém aí quer competir no quesito modernidade? Coloquei o pacotinho em infusão e fiquei na dúvida: adiciono ou não açúcar? Afinal, o açúcar é um desses condimentos que fazem um mal danado à saúde, já dizem os sábios cientistas. Também fiquei preocupado se o pozinho branco (falo do açúcar) estragaria os efeitos (medicamentosos) do chá de coca. Mas como eu não sou homem de adoçante, e de chá amargo já me basta boldo, fui de açúcar mesmo. No primeiro gole fiquei meio estático, só esperando... Nada. Não aconteceu nada. Nada, digamos, mágico. Era um chá, ponto. Bem do sem graça, pra ser sincero. Tomei mais um, e outro, e um quarto gole. Nada. Nada de ver caravelas, ouvir sinos ou sentir formiguinhas caminhando em meus braços. Nada! Não sabia, então, se parava ou se continuava na provação, afinal, vai saber qual o limite da overdose, não é mesmo? E seria uma tremenda vergonha se no meu atestado de óbito constasse: “falecido por overdose de chá e consequente incontinência urinária”. Cavalheiro que sou, e antes que chegasse ao fim da caneca, perguntei para a minha mãe: “Quer provar?” E ela: “Melhor não”. Ou seja, coloca o filho na roubada, de cobaia, mas não compra a briga. Certo, anotado. Bom, resultado: aproveitando que o chá é só um chá mesmo e de barato só o preço (ganhei uma caixa, que será usada para servir chá das cinco a visitas modernas), decidi produzir uma crônica sobre o ocorrido. Pois, se eu não estivesse em meu normal, por conta de supostas propriedades altivas e aditivas do chazinho, não poderia escrevê-la. Normal? 20 Beto Pacheco Academia Meu amigo Gustavo acordou, abriu o Orkut (sim, faz tempo) e estava lá escrito no aplicativo ‘Sorte do dia’: “Você deverá ajudar um amigo a sair do sedentarismo”. Eu acordei no mesmo dia, abri o mesmo aplicativo e lá estava escrito “Azar do dia: um amigo tentará tirá-lo do sedentarismo”. A isso se seguiram telefonemas e mais telefonemas. Primeiro ele tentou me convencer a ir correr, depois a ir pedalar, depois a fazer judô, natação, salto triplo e, por fim, depois de uns 750 telefonemas e de falar “desista, eu vou continuar ligando” (isso que era acreditar nas mensagens do Orkut) conseguiu me convencer a ir para a academia. Pois é... Imagino o seu baque. O problema todo, e falei isso para ele em minha defesa, é que o Gustavo não me livraria do sedentarismo e, sim, me tiraria do meu estilo de vida. Sou um boêmio, não sou de academia. Tenho de tomar anti-histamínico antes de cada aula, inclusive. Aliás, não ia a uma academia havia – deixa pensar... um, dois, dez – sei lá, uns 32 anos. E isso, o fim de uma Era, aconteceu quarta-feira passada. Coloquei tênis, bermuda, uma camiseta velha (tudo isso enquanto xingava baixinho) e parti para a academia, que fica a umas duas quadras da minha casa. Quando cheguei na esquina, já sem fôlego, avistei um cara parecido, pelo menos de longe, com o Gustavo, vestido com um agasalho – calça e blusa – de tactel (acho que é assim que chama). Quase dei meia-volta. Tactel não dá, né? Ainda mais conjunto completo. Mas foi alarme falso, meu amigo já me esperava no local. Segui até a tal da academia e chegando lá falei com o professor, paguei a taxa de matrícula e fui para a esteira. O Gustavo já corria – e O fantástico mundo das quinquilharias 21 parecia ser experiente na coisa. Eu, ao contrário, nunca tinha corrido numa esteira. Nunca! Senti-me um hamster de laboratório. Mas, ok, já que eu estava lá, entrei no clima. Corri, fiz alongamento e parti para as máquinas. “Você faz três séries de 12 repetições”, disse o professor. E eu: “Tá”. Daí ele foi lá e colocou os pesos – uns três ou quatro, não me lembro. “Tá pesado?”, perguntou ele. E eu respondi: “Não”. Obviamente responderia “não” em qualquer situação, afinal, era minha primeira tentativa e precisava afirmar minha posição e evidente pujança. Resultado: estiramento no bíceps. É, amigo, tomei uma dose de Dreher na volta para casa. Bom, fiz a sequência de musculação programada e então o professor falou o seguinte: “agora, abdominal”. E, vou dizer, esse assunto merecia uma crônica à parte. Chego a pensar que se essa história de anticristo for verdade o cara que inventou o abdominal é forte candidato. Não gosto nem de me lembrar das dores. Aliás, e disso tenho certeza, quem inventou os aparelhos de musculação, se encarnasse na Idade Média, seria engenheiro do rei e trabalharia nas masmorras, só bolando maquininhas de tortura. Fechei a conta com uns 58 abdominais – fiz uns 200 ao longo da vida, contando esses – mais uns quinze minutinhos de esteira e alongamento pra fechar. No dia seguinte eu não andava. Pior que o estiramento no braço não é piada de crônica sem graça. Na sexta-feira – sim, voltei à academia, pois sou brasileiro e não desisto nunca (que mentira descarada!) – não conseguia esticar o braço, mas não podia me dar por vencido. Cheguei lá, chamei o professor de lado e mandei o recado à la Jaiminho: “Ô da educação física, hoje só aeróbico, viu, que é para evitar a fadiga”. Afinal, eu que não ia passar vergonha na frente das gatinhas da academia levantando só um pesinho por causa do braço machucado. Como ficaria a minha imagem, já pensou? Não, não! Só corrida. Musculação de novo somente quando eu puder levantar, deixa ver, no mínimo uns quatro pesos... certo, uns dois. 22 Beto Pacheco
Download