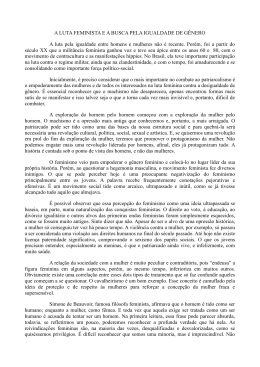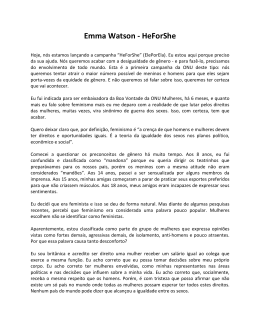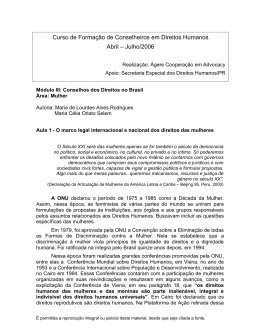UNIVERSIDADE DO RIO JANEIRO CENTRO DE LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEATRO MESTRADO EM TEATRO COMO CONSTRUIR UMA AUTOPERFORMANCE A PARTIR DA QUESTÃO DE GÊNERO, DO MEU CORPO E DE ALGUMA REVOLTA por Helena de Castro Amaral Vieira 1 COMO CONSTRUIR UMA AUTOPERFORMANCE A PARTIR DA QUESTÃO DE GÊNERO, DO MEU CORPO E DE ALGUMA REVOLTA por Helena de Castro Amaral Vieira Área de concentração: Teatro, cultura e educação Linha de Pesquisa: Teatro e performance Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação em Teatro do Centro de Letras e Artes da UNI-RIO, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre, sob orientação da Profª. Drª. Lidia Kosovski. Rio de Janeiro, Maio de 2006 2 Para minhas avós Elza Amaral Vieira Rosa Amélia da Silva Nogueira 3 Agradecimentos Susana de Castro, por sua ajuda imprescindível; Lidia Kosovski, por sua generosidade; Giselle Ruiz, por sua torcida e conselhos; Dr. Luis Augusto, pelos esclarecimentos; Ivana Mena Barreto, por toda a atenção ao trabalho; Helen Dixon, pela disponibilidade; Roberto e Pedro Amaral, leitores atentos; João Carlos Artigos, por toda compreensão; Luiz Camillo Osório, por sua participação na banca de qualificação do projeto e na avaliação final; Beatriz Resende, pela grande contribuição na qualificação do projeto; Mirian Goldenberg, pela valiosa indicação de leituras e por sua participação na avaliação final da dissertação; Lucía Yáñez, pela reflexão desenvolvida na sua dissertação de mestrado para esta escola – ferramenta de grande proveito para este trabalho; Henrique Pereira, pela exposição fotográfica; Adilea de Castro, pela paciência e confiança depositada; ao CNPq, Marcos e Aline e a todos os professores e colegas do PPGT. 4 COMO CONSTRUIR UMA AUTOPERFORMANCE a partir da questão de gênero, do meu corpo e de alguma revolta Helena de Castro Amaral Vieira Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Teatro do Centro de Letras e Artes da UNIRIO, para obtenção do grau de Mestre em Teatro Aprovada por: ...................................................................................... Prof.ª Dr.ª Lidia Kosovski – orientadora UNIRIO ...................................................................................... Prof.ª Dr.ª Mirian Goldenberg UFRJ ...................................................................................... Prof. Dr. Luiz Camillo Osório UNIRIO ...................................................................................... Prof. ª Dr.ª Beatriz Resende (suplente) UNIRIO Rio de Janeiro Maio/2006 5 Resumo Este trabalho apresenta o exercício de uma desconstrução de linguagem. Trata-se de uma experiência prática, elaborada à luz de teorias feministas e de performance, utilizadas como metodologia para a elaboração de um discurso cênico. Esse discurso traduz uma reflexão acerca do lugar ocupado pelo sujeito na contemporaneidade, e investiga as definições tradicionais sobre gênero. Apresento dois processos investigativos: a experiência prática, fruto de intuições e acasos, constituída a partir de questões sobre o corpo, cânones de beleza, gênero e revolta; e a pesquisa teórica, que possibilitou o aprofundamento dessas questões, bem como a comprovação de algumas questões investigativas. Palavras-chave: feminismo; performance; corpo. 6 Abstract This work is an exercise in deconstructing a theatrical language. It shows a practical experience constructed by crossing feminist and performance theories, and the result is used as a method for elaborating a scenic speech. This speech investigates the place of our being in the contemporary world and questions whether standard definitions of man and woman are still sustainable. The work shows two processes of investigation: a practical experience (the performance) based on intuition, and reflections about the body, beauty standards, gender and revolt; and the theoretical research which takes these issues further. key-words: feminism; performance; body. 7 SUMÁRIO INTRODUÇÃO 1 MATRIZES CONCEITUAIS PARA UM ATO PERFORMÁTICO 1.1 Matriz Gênero 1.1.1 Feminismo: um breve histórico 1.1.2 Feminismo, e agora? 1.2 9 14 14 17 27 Matriz Corpo 32 1.2.1 Corpo performance 32 1.2.2 O corpo produzido 36 1.3 45 Matriz Revolta 1.3.1 A Revolta criadora 1.3.2 A sexualidade e a androginia 45 50 2 PERFORMANCE/AUTOPERFORMANCE 53 2.1 Happenings e performance 53 2.2 Autoperformance 60 2.3 Mulher performer: a experiência com Peggy Shaw 3. PROCEDIMENTO CRIATIVO 67 74 3.1 Uma experiência em Belo Horizonte 77 3.2 Experiência em congresso feminista 81 3.3 Diários de um solo 85 Considerações finais 99 Bibliografia 103 Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 8 INTRODUÇÃO O objetivo deste trabalho é dar continuidade a um procedimento artístico já existente no momento de entrada no mestrado, através de uma reflexão teórica que permitisse fundamentá-lo. Eu criara no ano de 2003 “El Segundo Sexo”, um espetáculo solo de teatro (com dança), baseado em texto de minha autoria. Apresentava problemas típicos de uma mulher da classe média atual, no qual aspectos relativos à carreira, família, matrimônio, corpo e identidade eram narrados a partir da minha experiência pessoal e familiar. A passagem pelo mestrado interferiu radicalmente no resultado desta experiência artística, agora transformada na performance “À Simone da Bela Visão”, fruto de um questionamento mais profundo e intenso sobre a mulher e sua representação simbólica no palco, sob um viés político. Do formato inicial de um espetáculo-solo, com texto, marcas de luz, elementos cenográficos, radicalizei na desconstrução desta estética e cheguei a uma autoperformance alimentada e entrecruzada pelas teorias feministas. A perspectiva de uma performance se funda no fato de eu querer dar uma resposta artística a uma revolta pessoal: haver pensado em submeter-me a uma operação de inclusão de uma prótese mamária de silicone para não mais sentir-me um desvio do padrão estético brasileiro. E assim foram os dois anos de investigação, proporcionados pelo mestrado: entre submeter-me a uma operação plástica estética e a criação artística e acadêmica decorrente desta indecisão. A segunda opção provou-se mais profícua e também cheia de surpresas ao longo do processo, cujo desafio tornou-se refletir a complexidade de questões que envolvem o corpo da mulher contemporânea. No início, pensava este objeto de uma maneira única, com um discurso singular, incapaz de escapar das marcas culturais e dos significados políticos da identidade de gênero, e, de certa forma, cristalizei-me nas diferenças apenas binárias, marcadas pela ideologia heterossexual, masculino/feminino. Cheguei ao fim do processo e todas as minhas certezas se foram, restandome a pergunta, elaborada não por mim, mas por um espectador mais atento: “- Em que lugar, entre a mulher e o homem, o nosso ser contemporâneo se instaura?” Ser ou não, um padrão 9 deixou de ser a questão predominante (ainda mais ser um padrão em uma cultura miscigenada como a brasileira). Muito pelo contrário, assumir de fato o desvio, o ser mutante, passou a ser mais enriquecedor para esta pesquisa. Apenas no final da pesquisa é que pude compreender autoras feministas como Judith Butler e Luce Irigaray1 , e até mesmo a polêmica Camille Paglia, que questionam se a sexualidade é culturalmente construída, ou se só é culturalmente construída nos termos do falo. Minha dificuldade em compreendê-las, no início, vinha de nossas orientações latino-americanas, que ainda se organizam em função de políticas em torno da questão identitária como método de emancipação da mulher, mas faz-se necessário desterritorializar as identidades para avançar com as questões. Em sociedades mais justas, com pouco peso da igreja, com salários mais altos, benefícios sociais garantidos, a emancipação já deixou de ser o problema. Autoras mais contemporâneas, como Butler e Irigaray (feministas que primeiramente se apoiaram na discussão de Beauvoir), entre outras, já crêem que chegou à exaustão o termo gênero nas categorias sexo e desejo, marginalizando todas as demais categorias (mulher afirmativa, homem efeminado e macho-gay). Observa-se que, quando a questão identitária deixa de ser a preocupação exclusiva, liberta o movimento para discutir as inúmeras identidades políticas em torno da questão de gênero. Optei por fazer uso da primeira pessoa do singular por tratar-se de construção de um discurso sob o ponto de vista subjetivo, no qual, a partir de temas surgidos de um conflito com meu próprio corpo, surge o desejo de refletir questões da atualidade. Propunha, sem perceber, um processo dialético: interligar intelecto e sensibilidade corporal, dando aos dois os mesmos pesos. Neste registro, onde de certa forma o meu corpo e a minha experiência eram objetos de investigação artística e teórica, não havia como escapar do discurso na primeira pessoa. A estrutura da dissertação escrita apresenta as etapas do processo, revelando a metodologia utilizada. Um quase-memorial, daí o título: “Como construir uma autoperformance 1 Irigaray: feminista, psicanalista lacaniana. Judith Butler (1956) leciona Retórica e Literatura Comparada, Univ. de Berkeley, Califórnia, é intelectual renomada e teórica nas áreas de poder, gênero, sexualidade e identidade. 10 a partir da questão do gênero, do meu corpo e de alguma revolta”. Apresento os conceitos e o efeito: o ato performático. O trabalho, composto de matrizes, cumpre a dupla função de apresentar o caminho percorrido pela pesquisa bibliográfica como leito para uma reflexão teórica e como memorial, propriamente dito, de um processo de criação, o percurso metodológico, para além de um material descritivo, passo a passo. Na primeira parte desta dissertação: “Matrizes conceituais para um ato performático” apresenta as primeiras matrizes conceituais que sustentam minha criação: gênero, feminismo histórico e contemporâneo. Conceituo gênero (grifo o termo para chamar atenção) a partir dos pesquisadores John Money e Robert Stoller, e traço um breve histórico do movimento feminista no mundo e no Brasil. Quanto ao feminismo contemporâneo, apresento discussões mais recentes (retiradas dos jornais, durante o período da pesquisa) que formam um panorama sobre o feminismo em linhas gerais. Foi em Nízia Villaça, que busquei apoio para as questões específicas sobre o corpo na atualidade e as transformações do corpo desempenhadas pela moda. Na artista Orlan, encontrei um interessante objeto de investigação sobre a construção da identidade, a partir das intervenções no próprio corpo, e como as interferências podem ser também lidas como positivas na nossa época. Para a matriz Revolta, primeiro busquei Freud, para explicar a origem, depois encontrei as palavras de Camus, para aproximar revolta íntima de revolta política. Na segunda parte: “Performance/autoperformance”, procurei entrelaçar as teorias feministas com as teorias sobre performance, apontar a influência da primeira sobre as práticas artísticas das vanguardas do século XX e como elas intervieram, politicamente, de maneira significativa e constante na esfera pública. Descrevo uma experiência pessoal com uma artista emblemática deste movimento: Peggy Shaw, artista do teatro queer/gay de Nova York, cofundadora do grupo teatral Split Britches, que tem como objetivo repensar a política e a semiótica da representação da mulher no palco, visando à construção de uma visibilidade lésbica no teatro. 11 Na terceira e última parte: “Procedimento Criativo”, abro meus cadernos de campo e apresento a descrição do processo artístico de desconstrução do espetáculo para a construção de uma linguagem híbrida performática. Apresento minhas reflexões sobre este percurso: da saída de uma posição de conforto (sistema cênico de espetáculo) para outra, de incertezas e precaridade (a performance). No espetáculo-solo: El Segundo Sexo, com duração de trinta minutos, em que, ora com dança, ora com palavras, exasperava a revolta de ter que me tornar para o mundo exterior, aos trintas anos, uma “mulher-maravilha”. Ou seja, ter resolvido, e com sucesso, questões como carreira e matrimônio, e pior, perceber que a nossa realização pessoal ainda estava intrinsecamente ligada à maternidade - embora essa questão não seja abertamente declarada por minha geração. Tentando desconstruir a estética que escolhera na primeira fase, porém, mantendo o mesmo conteúdo, surgiu a segunda versão do trabalho prático, já sob a forma de performance. Percebi esse momento como o escultor que recebe uma peça bruta e, deste material, que já existe, de tanto esculpi-lo, faz surgir uma imagem que sintetiza sua percepção intuitiva. Em cena, apenas meu corpo e a forma como ele se apresenta. Minha imagem, durante este trabalho, ora é andrógina, quando estou vestida em roupas que ocultam as formas (as mesmas roupas que durante trinta minutos são transformadas em várias peças), ora feminina quando assumo para a platéia os seios, marca da feminilidade (e sexualidade), que quase passaram por uma inclusão de prótese. Batizei este novo trabalho de À Simone da bela visão – para Simone de Beau(bela) voir(visão). O título continuava mantendo a mesma homenagem àquela que, desde há muito, é um ícone do movimento, fazendo ao mesmo tempo referência à primeira versão. Percebi que da mesma maneira que desmoronava o discurso cênico da primeira versão do solo, o mesmo ocorria com o discurso singular e de identidade proposto no início do curso de mestrado, mudança provocada a partir de uma ruptura com a linguagem espetacular e a passagem para a linguagem de performance. 12 Concluindo, fiz do meu corpo um meio de reflexão, por meio do qual procurei entrelaçar questionamentos sobre as várias representações de gênero, que nós já carregamos naturalmente, com o intuito de ultrapassá-las; e foi na linguagem da performance que encontrei essa possibilidade. Acompanha este material escrito o DVD (disco digital de vídeo) com a performance À Simone da bela visão. 13 1 MATRIZES CONCEITUAIS PARA UM ATO PERFORMÁTICO 1.1 Matriz Gênero Como falar de gênero sem passar pela história do movimento feminista, nascido em meados do século XIX? Movimento que desfez fronteiras entre homens e mulheres, abrindo caminhos para um debate no qual a noção de gênero vai muito além do enfrentamento político apenas da mulher no mundo contemporâneo, englobando estudos relativos a todas a minorias sexuais (gays, lésbicas, transexuais). O termo circula nas ciências sociais e surgiu nos meios acadêmicos e científicos, no ano de 1950, quando o pesquisador John Money2 propôs a expressão “papel de gênero” (gender role) para descrever o conjunto de condutas atribuídas a rapazes e moças. Mas foi o cientista Robert Stoller3 que precisou melhor o termo, estabelecendo a diferença entre sexo e gênero. Baseado em suas pesquisas sobre meninas e meninos com problemas anatômicos congênitos, Stoller observou que essas crianças haviam sido educadas de acordo com um sexo que não lhes correspondia. A idéia geral de tal conceito é a de diferenciar “sexo” de “gênero”. Sexo seria o termo para determinar a diferença sexual inscrita no corpo, ao passo que gênero se relaciona com os significados que cada sociedade lhe atribui (Burin; Meller, 1998, p.19). Tomando como base as noções entre sexo e gênero dos cientistas Stoler e Horney, Judith Butler traz essa questão para o debate contemporâneo e nos coloca a seguinte dúvida: quando a “cultura” relevante que “constrói” o gênero é compreendida nos termos de lei ou conjunto de leis, tem-se a impressão de que o gênero é tão determinado e tão fixo quanto na formulação de 2 John Money (1921), N. Zelândia. Professor de pediatria e psiquiatria, Universidade Johns Hopkins, USA. Importantes estudos em sexologia. Arquivo consultado em internet/2005: en.wikipedia.org/wiki/John_Money. 3 Robert J. Stoller, M.D, teórico da psicanálise, pesquisador, leciona psiquiatria na UCLA, Escola de Medicina. Reputação internacional por seu pioneirismo em estudos sobre identidade, perversão e excitação sexual. Escreveu sobre esse tema no início de 1968: Sex and gender: on the development of masculinity and femininity. E os livros: Pain and passion: an ethnography of consensual sado-masochism. Porn: myths for the twenty-first century. Arquivo consultado em internet/2005: www.columbia.edu. 14 que a biologia é o destino. Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino. Butler é do grupo de estudiosas que crê que a construção de uma identidade sexual coerente, em conformidade com o eixo disjuntivo do feminino/masculino, está fadada ao fracasso. Haverá “um” gênero que as pessoas possuem, conforme se diz, ou é o gênero um atributo essencial do que se diz que a pessoa é, como implica a pergunta “Qual é o seu gênero?” Quando teóricas feministas afirmam que gênero é uma interpretação cultural do sexo, ou que o gênero é construído culturalmente, qual é o modo ou mecanismo dessa construção? Se o gênero é construído, poderia sê-lo diferentemente, ou sua característica de construção implica alguma forma de determinismo social que exclui a possibilidade de agência ou transformação? Porventura, a noção de “construção” sugere que certas leis geram diferenças de gênero em conformidade com eixos universais da diferença sexual? Como e onde ocorre a construção do gênero? Que juízo podemos fazer de uma construção que não pode presumir um construtor humano anterior a ela mesma? Em algumas explicações, a idéia de que o gênero é construído sugere um certo determinismo de significados do gênero, inscritos em corpos anatomicamente diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como recipientes passivos de uma lei cultural inexorável (Butler, 2003). Se há algo de certo na afirmação de Beauvoir de que ninguém nasce mulher e sim torna-se mulher decorre que a mulher é um termo em processo, um devir, um construir de que não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou fim. Como uma prática discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e re-significações. Mesmo quando o gênero parece cristalizar-se em suas formas mais reificadas, a própria “cristalização” é uma prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada por vários meios sociais (Butler, p.59). Interessa-me perceber, no momento, o que a noção de gênero teria a ver com a humanidade, quando seria desnecessário marcá-lo, e quais seriam seus limites. Talvez, pelo progresso do movimento feminista que é absolutamente irrefutável, chegamos a um limite epistemológico. Acredito que, para as gerações pós 1970, relacionar este gênero à humanidade seria muito mais vantajoso, desde que as gerações atuais já estão crescendo com educação igualitária entre homens e mulheres, em suas casas, escolas, na mídia e na propaganda. Diria, até, indo um pouco mais longe, que estão crescendo com uma melhor 15 aceitação da pluralidade sexual (basta notar o sucesso das paradas GLTB, em todo o mundo ocidental e capitalista). A teoria gay/queer (que celebra as diferenças, cria políticas que valorizam as questões dos “gays” e das “lésbicas”) foi bastante popularizada e divulgada pela cantora pop, Madonna, para as massas, durante as décadas de 80/90, através, principalmente, de seus clipes. A cantora, um ícone pop do mainstream, é a artista que ilustra questões, que considero partes do pósfeminismo e que merecem um capítulo à parte. No entanto, é importante que reconheçamos por que este modelo é emblemático dessa nova juventude, pós-radicalização do feminismo. A superstar , considerada “a verdadeira feminista” por Camille Paglia4 , ensina as jovens mulheres a serem intensamente femininas e sexuais e ao mesmo tempo a exercitarem o controle de suas vidas5 Madonna ataca frontal e audaciosamente a ideologia do establishment feminista, Ela nega que a “pornografia degrade as mulheres”. Ela louva a Playboy e posa, em seguida, com o pompom de coelhinha. Eu a aplaudo .O puritanismo do feminismo americano fica provado no fato da sua ala própornô não abraçar publicamente as revistas sexuais masculinas (Paglia, 1994, p.520). Para Paglia, o feminismo pró-sexo, oprimido e silenciado desde os anos 60, subitamente se ergueu de novo, graças a Madonna. Os anos 70 e 80, ainda segundo sua teoria, foram um período de feminismo reacionário, que se esforçava para suprimir qualquer voz mais individual, suprimir qualquer interesse pela beleza ou pela moda e que não cansava de castigar os homens ou de reclamar deles, vendo a história inteira da humanidade como a história da vitimização das mulheres. Judith Butler também analisa Madonna como símbolo da defesa de uma política feminina, que expressa na sexualidade sua liberdade (female power and sexuality). O exemplo disso é a sua postura antipornográfica. Ela usa a pornografia para desafiar o senso comum que traz a mulher como um objeto sexual passivo. Sua posição privilegiada, respeitada, de pop star, permite que imponha, à força, uma abertura para a causa gay/ queer em uma sociedade 4 5 PAGLIA, Camille (1947): crítica literária, feminista, professora da University of Arts, Philadelphia, Pennsylvania. PAGLIA. In: “Madonna - finally a real feminist”. New York Times, 14/12/1990, p.39. 16 extremamente repressora. Sua mensagem é clara: “Get over it! I can be a sex symbol, but I don’t have to be a victim”6 . Para Butler, a forma como o feminismo se apresenta, rejeitando a idéia de que a biologia é o destino, mas aceitando uma idéia da cultura patriarcal na qual o gênero significa ser feminino ou masculino, aceitando essas únicas construções culturais, circunscritas nessas categorias binárias, torna da mesma forma o destino como algo inescapável, este argumento não deixa espaço para escolhas, diferenças e resistência. There is no gender identity behind the expressions of gender; identity is performatively constituted by the very ‘sxpressions’ that are said to be its results. In other words, gender is a performance; it’s what you do at particular times, rather than a universal who you are.7 questão identitária como metodologia de emancipação da mulher; b) exaustão do termo gênero nas categorias sexo, gênero e desejo, marginalizando toda as demais categorias como, por exemplo, “mulher afirmativa” (assertive female), “homem efeminado” (effeminate man) e “macho-gay”, o deslocamento do binário masculino/feminino, uma construção retirada de um modelo heterossexual e aplicada em contextos homossexuais/queer. 1.1.1 Feminismo: um breve histórico. A 1ª fase do Movimento Feminista explode internacionalmente, apenas após a 2a. Grande Guerra Mundial. O movimento nasce pelo desejo de participação nas decisões políticas e como uma resposta política à misoginia do patriarcado. No século XIX, o movimento pelo voto, o Sufragismo Feminino, teve início quando abolicionistas nos Estados Unidos, proibidas de manifestarem-se em público, resolveram organizar a Primeira Convenção pelos Direitos das Mulheres, em Sêneca Falls, no ano de 1848. 6 Trad. livre: “Supere isso! Eu posso ser um símbolo sexual e não ser uma vítima.” (p. 25). Trad. livre: “Não há identidade de gênero atrás das expressões de gênero; a identidade é constituída performaticamente com as expressões escolhidas a partir do resultado delas. Em outras palavras, gênero é uma performance, é o que você faz em certas situações, mais do que a expressão universal quem você é.” ( p.25). 7 17 Um grupo de senhoras estadunidenses, liderado por Lucrécia Mott e Elizabeth Stanton, divulgou manifesto, exigindo igualdade de direitos, livre acesso à educação e oportunidades iguais de trabalho e remuneração para todas as mulheres. No Brasil, temos a primeira escritora feminista, Nísia Floresta, nascida no Rio Grande do Norte, na cidade Papari (hoje rebatizada como município Nísia Floresta), que publicou, aos 22 anos em 1832, o livro que a tornou célebre: Direitos das mulheres e injustiça dos homens. Por sua postura, Nísia Floresta é considerada a precursora do feminismo brasileiro, pois não há registro de textos anteriores aos dela, escritos com a intenção de denunciar a opressão contra as mulheres. Foi uma das primeiras mulheres, no Brasil, a romper os limites do espaço privado e a publicar textos na grande imprensa. Desde 1830, seu nome aparece nos periódicos nacionais mais conhecidos. E foi o Estado de Nísia Floresta, o Rio Grande do Norte, o primeiro no Brasil a conquistar o voto feminino: a partir de novembro de 1927, a mulher podia votar e ser votada nas eleições municipais e estaduais (na constituição de 1891, as mulheres ainda não tinham direito a voto).Esse direito foi conquistado no restante do país em 1932, na Era Vargas, quando, na Revolução de 30, as feministas se aliam a Vargas, chefe do governo provisório. O Brasil foi o quarto país do mundo a permitir o voto feminino (sucedendo Canadá, Estados Unidos e Equador, nesta ordem). Tal conquista é anterior à França, país de tão forte tradição humanista. Berta Lutz (1894-1976), líder feminista e bióloga, paulista, eleita deputada em 1936, é a precursora desta luta pelo voto feminino e fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), após o I Congresso Internacional Feminista, em dezembro de 1922. Nas décadas 20 e 30, nasce a Associação de Mulheres Universitárias, após bastante luta e organização, em diferentes cidades brasileiras. Maria Lacerda (1887-1945), ativista política, escritora e pioneira do feminismo, colaborou com Berta Lutz na Fundação da liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, embrião da FBPF. Como presidente da Federação Internacional Feminina, Maria propôs modificar os currículos de todas as escolas femininas, incluindo a disciplina História da mulher, sua evolução 18 e missão social. Maria Lacerda era adepta do amor livre e aproveitou todas as oportunidades para manifestar-se a favor da educação sexual e contra a moral vigente. Para ela, temas como as relações mantidas pela mulher com seu corpo, com os homens, a família e o trabalho eram temas mal discutidos no movimento feminista convencional. Afastou-se do movimento feminista quando passou a acreditar que a luta pelo direito ao voto significava apenas um avanço pontual na condição feminina e que beneficiava principalmente as mulheres de elite, sem, contudo, abalar as estruturas patriarcais (Schumaher; Brazil, 2000, p.399). Hoje, passados 73 anos desde a 1ª conquista do voto, com a Revolução de 30 no Brasil, e com algumas fases de sufocamento do movimento (como em 1937, durante o Estado Novo e, em 1964, com a ditadura militar), as mulheres representam menos de 5% no parlamento brasileiro8 (o que muito se deve a misoginia dos partidos de esquerda durante a luta anti-regime militar, e, pelo freio das organizações católicas progressistas). No entanto, elas são a maioria dos jornalistas que entrevistam diariamente no Congresso Nacional os deputados e senadores, membros das comissões que apuram denúncias de corrupção com a máquina estatal, mas nenhuma mulher é presidente ou relatora nestas comissões. Para Françoise Collin9 , belga, escritora e filósofa, apesar das conquistas femininas desde a década de 60, persiste um discurso contra o feminismo. Ela explica que hoje em dia a oposição não é mais direta e frontal, a ponto de negar o direito à igualdade, já que isso faz parte da sociedade republicana, mas que há um discurso sutil, que tenta desmoralizar o movimento classificando suas protagonistas como puritanas ou moralistas. Rachel Gutiérrez10 em seu livro O feminismo é um humanismo, escrito 1985, traz uma profunda análise sobre o panorama geral do Movimento Feminista, dando um embasamento filosófico do movimento e seus entrelaçamentos com a psicanálise e o marxismo. Traça todos os momentos históricos, todas as lutas, suas causas e traz as reflexões das teóricas feministas de todo o mundo. A autora parte de uma constatação pragmática a de que se o mundo dominado 8 SOHEIT, Rachel, 2004, p.20. Françoise Collin, em entrevista a Antônio Góis. Folha de São Paulo, 2/05/2005. 10 Feminista. Em 1985, membro do grupo Mulherando, do Rio de Janeiro. 9 19 pelos homens não fosse o que é, isto é machista, não haveria necessidade de uma luta feminista, nem razão histórica para o feminismo. Os socialistas utópicos ingleses vinculam a libertação da mulher à luta por um mundo melhor, inaugurado, assim, um pensamento feminista socialista, que ataca ao mesmo tempo a instituição do casamento burguês e a sociedade dividida em classes. Como observa Sheila Rowbotham (Apud Gutiérrez, 1985, p.47), por volta de 1840 seria impossível dissociar feminismo de socialismo, mas pouco a pouco surge um outro tipo de feminismo, que no fim do século tomou o nome de “sufragismo”. No Brasil, em 1972, o Movimento Feminista se reorganiza em São Paulo, formado, sobretudo, por professoras universitárias, algumas recém-chegadas dos EUA e da Europa, onde o movimento havia explodido com muita força. Em 1975, a ONU declara o Ano Internacional da Mulher, e o feminismo invade o cenário acadêmico na Reunião anual da SBPC (Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência) em Belo Horizonte. Embora o estudo tenha espaço na Academia, ainda hoje há resistências. A partir dessa data muitas lutas e conquistas vão se solidificando. As sociólogas Moema Toscano 11 e Mirian Goldenberg12 escrevem A revolução das mulheres, um balanço do feminismo no Brasil (1992), entrevistam as feministas brasileiras mais notórias da época: Rose Marie Muraro, Heleieth Saffoti, Marta Suplicy, Heloneida Studart, Rosiska Darcy de Oliveira e Branca Moreira Alves. Todas são unânimes em constatar, na época, que o feminismo trocara a segurança pela liberdade, a aceitação pelo questionamento, a paz pela luta, a identidade pela ambigüidade. Creio que essas frases resumem os pilares bem construídos, que encerram um ciclo de lutas que vai de 1890 a 1975. A nova onda feminista, se por um lado lutou no Brasil contra a ditadura militar, por outro, empenhou-se, também, contra a supremacia 11 Socióloga e militante feminista. Quando escreveu este livro, militava há mais de 30 anos no movimento. Goldenberg, profa. da Pós-graduação em Sociologia e Antropologia e na Antropologia Cultural do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ(IFCS/UFRJ); doutora pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (UFRJ). Ver autoria na Bibliografia desta dissertação. 12 20 masculina, a violência sexual e a favor do direito ao prazer, além dos direitos civis já conquistados pelas primeiras feministas.13 A partir de julho de 1975, surge a segunda onda feminista, quando o novo lema será: Nosso corpo nos pertence! O privado é político, apoiada principalmente nas idéias de Simone de Beauvoir, expressas em O segundo sexo, publicado na França, em 1949. Um outro marco no novo feminismo é a publicação, em 1963, da Mística feminina, por Betty Friedan13 , que agrega às idéias de Beauvoir, novas formulações. É a primeira escritora a denunciar a manipulação da mulher pela sociedade de consumo, e seu livro traz uma original reflexão sobre os conteúdos das reportagens das revistas femininas da década de 50, que mostravam uma acurada imagem da mulher americana neste período até o início da década de 60: Esta era a mulher americana no ano em que Castro liderava a revolução em Cuba e os homens eram treinados para viajar no espaço; em que o continente africano eclodiu em novas nações e um avião de velocidade superior a do som interrompeu uma conferência de Cúpula; em que artistas boicotaram um grande museu em protesto contra a hegemonia da arte abstrata; em que os físicos exploraram o conceito da antimatéria; os astrônomos, por causa dos novos radiotelescópios, tiveram que alterar o conceito de expansão do universo; os biólogos abriram uma brecha na química fundamental da vida; e os jovens negros das escolas sulistas forçaram os Estados Unidos, pela primeira vez desde a Guerra Civil, a enfrentar um momento de verdade democrática. Mas a revista, publicada para mais de 5.00.000 das mulheres, quase todas ginasianas e tendo pelo menos parte de um curso superior, não continha nenhuma menção do universo para além do lar. Na segunda metade do século XX, o mundo da mulher estava confinado ao seu próprio corpo e beleza, ao fascínio a exercer sobre o homem, à procriação, ao cuidado físico do marido, das crianças e do lar. E isso não constituía anomalia, número excepcional entre as revistas femininas (Friedan, 1971, p.34). Friedan busca explicar o que chamou de “mal que não tem nome”, ou seja, a angústia relacionada ao eterno feminino e ao estereótipo da mulher sedutora e feminina. A difusão do novo pensamento feminista potencializou a insatisfação das mulheres com o tradicional papel que lhe era atribuído pela sociedade. Mística feminina (1997) questiona as teorias da época, apoiadas pela propaganda nas revistas, de que o valor mais alto e o compromisso único da mulher é a realização de sua feminilidade, entendendo-se aqui: família e carreira do marido. A partir da publicação desse livro, inicia-se o maior movimento feminista de todos os tempos, o 13 Psicóloga, escritora estadunidense. Fundadora da Organização Nacional das Mulheres (NOW), em 1966. Importante no fortalecimento do papel da mulher na sociedade americana. 21 NOW14 que se propaga pelo resto do mundo. As atividades do movimento iam desde campanhas nacionais contra os produtos de beleza, marchas sobre Washington, protestos contra a opressão da mulher, até a famosa greve de sexo de 25 de agosto de 1975. Três fatores influíram decisivamente na radicalização do Feminismo, a partir de 1970, época do avanço científico. 1) A pílula anticoncepcional, que entra no mercado norte-americano e, em seguida, no mundial (criada dez anos antes, mas só era usada por mulheres casadas ou com problema hormonal), permitindo um controle mais eficaz da natalidade, virou símbolo do amor livre, da separação entre sexo e casamento. 2) O avanço tecnológico: a mecanização facilitou as tarefas domésticas possibilitando, portanto, a saída da mulher para a vida pública e sua inclusão na área da produção. 3) A liberalização cultural, que trouxe em seu bojo a chamada Revolução Sexual. Este processo foi também influenciado pelo Movimento Negro dos Estados Unidos e pelo movimento Hippie - que contestava o consumismo e os valores burgueses e a Revolução de maio de 1968, na França. Paradoxalmente, no final de 1970, Stuart Hall, diretor do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, deixa a direção do centro e vai dirigir a Open University, e o maior motivo é o feminismo: A questão do feminismo foi muito difícil de levar por duas razões. Uma é se eu tivesse me oposto ao feminismo, teria sido uma coisa diferente, mas eu estava a favor. Ser alvejado como “inimigo”, como a figura patriarcal principal, me colocava numa posição contraditória insuportável. É claro que as mulheres tiveram que fazer isso. Elas tinham toda razão em fazer isso. Tinham que me calar, essa era a agenda política do feminismo. Se eu tivesse sido calado pela direita, tudo bem, nós todos teríamos lutado até a morte contra isso. Mas eu não podia lutar contra minhas alunas feministas. [...] Eu não agüentava mais viver parte do meu tempo sendo professor delas, sendo pai delas, sendo odiado por ser pai delas, e ter a imagem de um homem antifeminista. Era uma política insuportável de vivenciar (Hall, 2003, p. 429). 14 The National Women Organization. Organização que luta pelo direito da mulher à educação e direitos civis. Esta é a maior organização deste tipo nos Estados Unidos, com mais de 500.000 membros, mulheres e homens. 22 Um dos eixos temáticos do CCCS era a questão do feminismo, que Hall prefere chamar de pré-feminismo e a questão de gênero. As pessoas dos estudos culturais estavam se sensibilizando para a questão de gênero, naquela época, mas não em relação à política feminista. Analisavam a ficção das revistas femininas, convidaram feministas para trabalhar com eles até que o feminismo realmente eclodiu no Centro, por si só, em seu próprio estilo explosivo e as regras foram modificadas. Ainda como diz Hall, um homem não podia, na explosiva década de 70, por melhor que fossem suas intenções, ser um amigo da causa feminista. Como estratégia política, o movimento adotou os estudos sobre gênero, que passaram a ser obrigatórios nas universidades norte-americanas. Convencionou-se catalogar esses estudos ao momento pós-moderno da sociedade, no qual os contextos culturais geram os conflitos chamados “conflitos da pós-modernidade”, de onde Mabel Burin15 nos coloca a pergunta: “Podemos nós, mulheres latino-americanas, falarmos de pós-modernidade a partir de nossa realidade multicultural, multiétnica, de países periféricos?” (1998, p.28). De fato, convivem em nosso continente a sociedade de consumo, a sociedades das mídias, sociedade da informação, sociedade eletrônica e high-tech com a sociedade quase rural, primitiva e excluída do consumo. Nestor Canclini (2003) que, em Culturas híbridas, investiga as imensas contradições latino-americanas, analisando em um dos capítulos do livro, “o modernismo sem modernização”: A hipótese mais reiterada na literatura sobre a modernidade Latino-americana pode ser resumida assim: tivemos um modernismo exuberante com uma modernização deficiente. Já vimos essa posição nas citações de Paz e Cabrujas. Circula em outros ensaios, em investigações históricas e sociológicas. Posto que fomos colonizados pelas nações européias mais atrasadas, submetidos à ContraReforma e a outros movimentos antimodernos, apenas com a independência pudemos iniciar a atualização de nossos países. Desde então, houve ondas de modernização. No final do século XIX e início do XX, impulsionados pela oligarquia progressista, pela alfabetização e pelos intelectuais europeizados; entre os anos 20 e 30 deste século, pela expansão do capitalismo e ascensão democratizadora dos setores médios e liberais, pela contribuição de migrantes e pela difusão em massa da escola, pela imprensa e pelo rádio; desde os anos 40, pela industrialização, 15 Argentina, doutora em psicologia clínica e psicanálise, professora universitária, especialista em saúde mental das mulheres, membro da Associação de psicólogos de Buenos Aires e membro fundadora do Centro de Estudos da Mulher. 23 pelo crescimento urbano, pelo maior acesso à educação média e superior, pelas novas indústrias culturais. Esses movimentos, entretanto, não puderam cumprir as operações da modernidade européia. Não formaram mercados autônomos para cada campo artístico, nem conseguiram uma profissionalização ampla dos artistas e escritores, nem desenvolvimento econômico capaz de sustentar os esforços de renovação experimental e democratização cultura (p.67). Canclini irá investigar se existem tantas diferenças entre a modernização européia e averiguar se uma modernidade reprimida e postergada, realizada com dependência mecânica em relação às metrópoles é tão verdadeira como costumam publicar os estudos sobre nosso “atraso”. Os interesses mesquinhos de classes dirigentes que resistem à modernização social e se vestem com o modernismo para dar elegância a seus privilégios, seria, para o autor um dos motivos pelo quais nossos países realizaram mal e tarde o modelo metropolitano de modernização. Para interpretar a história híbrida de nosso continente é importante entender os autores que reiteram a tendência a ver nossa modernidade como um eco tardio e deficiente dos países centrais (Canclini, 2003, p.70). Sem fugir à regra, podemos observar este “eco tardio” no percurso do movimento feminista no Brasil. Marta Suplicy (Apud Gondenberg et all., 1992) relata, em entrevista para o livro A revolução das mulheres, a forma como cada país escreve a história do seu feminismo. Na Inglaterra, por exemplo, o novo feminismo marca sua história com a queima de sutiãs em praça pública, buscando chocar a opinião pública com esse grito de liberdade. No Brasil, nossa história é muito centrada em biografias, mais do que em aspectos doutrinários incorporados coletivamente. Para Suplicy (p.88), nosso feminismo dependeu, em grande parte, da liderança, da coragem, da atuação decidida de algumas poucas mulheres que se sentiam prisioneiras em algum círculo fechado de regras e de normas restritivas que as limitavam e que resolveram, cada uma a seu modo, romper as convenções e partir para a conquista de um espaço. Por outro lado, ela também enxerga um fracasso no fato de o movimento, aqui, não ter aprendido melhor com as experiências que as brasileiras tiveram no exterior. Umas das coisas de que, na sua opinião, nós não nos protegemos, foi da condição de “mulher-maravilha”: 24 A mulher-maravilha existia muito forte já nos outros países, e aqui nós entramos com tudo e não conseguimos perceber e denunciar antes, que foi a mulher que é amante-amantíssima, esposa perfeita, mãe carinhosíssima, tem uma profissão fantástica, anda impecável, o dia inteiro, e não existe porque é uma mentira (Suplicy, p.90). Kant (Apud Valle, 2002) em Fundamentos da metafísica dos costumes, procura justificar os verdadeiros e, diferentes papéis entre o Homem e a Mulher na sociedade. Para ele, é por meio do matrimônio que a mulher se liberta e o homem perde sua liberdade. O casamento não é compatível com uma idéia de democracia entre os esposos, nesta união um ser deve ser superior ao outro, e é melhor que seja o homem, pois a infidelidade feminina abala os fundamentos da sociedade, já que a mesma não permite saber se o filho é legítimo do marido, ser chefe de família significa estar seguro do direito de paternidade-propriedade sobre os próprios filhos. Esta é a idéia formulada pelo filósofo no século XVIII e que irá perpassar o século dos iluministas, e que, de certa forma, continuará vigente no século XXI. As escritoras que deram o impulso ao movimento feminista, as artistas, o consumo capitalista, a própria segunda grande guerra mundial cujo lema das mulheres era: We can do it,16 tudo isto ainda não convenceu as mulheres, mesmo entre as mais escolarizadas, de que podem viver sem o casamento ou, sem a maternidade. A revolução feminista terminou por aumentar a confusão entre os sexos, deixando as mulheres do século XXI num nó entre dependência e independência. Será que o movimento feminista foi uma peça cruel para isso? As mulheres com sucesso profissional tornaram-se menos desejáveis? Maureen Dowd, colunista do New York Times, constata: É engraçado, eu venho de uma família de domésticas irlandesas, mulheres altas e dedicadas que trabalharam como empregadas e babás para as primeiras famílias americanas. Sempre me orgulhei por ter conseguido mais. Sinto-me estranha agora descobrindo que se fosse uma empregada teria mais chances com os homens (Maureen Dowd, 2005) . Nos Estados Unidos, onde o feminismo mais se fez presente, família continua sendo o pilar máximo da sociedade, o único que dá um verdadeiro status ao cidadão. Passados quarenta anos, quase todas as conquistas dos movimentos políticos estudantis da década de sessenta estão praticamente indo por terra com as últimas eleições presidenciais, nas quais as correntes conservadoras foram dominantes. Leis mais severas contra o aborto e o casamento entre 16 Propaganda do exército estadunidense para o alistamento de mulheres na 2ª Guerra Mundial. 25 homossexuais representam ganho do movimento religioso conservador que não queria ver ameaçada a base primordial da sociedade. O balanço que Judith Butler faz sobre o movimento feminista não é tão raivoso quanto o de Camille Paglia. Reconhece a importância das representações política e jurídica, conquistadas por esse movimento, contudo, enxerga nesta mesma estrutura de emancipação um poder que limita e reprime. A suposição de que o termo “mulheres” pudesse denotar uma identidade comum tornou-se um problemático, um ponto de contestação, uma causa de ansiedade. Para Butler, afirmar a existência de um patriarcado universal não tem mais a credibilidade ostentada no passado, no entanto, a noção de uma concepção genericamente compartilhada das “mulheres”, decorrente dessa perspectiva, tem se mostrado muito mais difícil de superar. Houve muitos debates: existiriam traços comuns entre as “mulheres”, preexistentes à sua opressão, ou estariam as “mulheres” ligadas em virtude somente de sua opressão? Existe uma região do “especificamente feminino”, diferenciada do masculino como tal e reconhecível em sua diferença por uma universalidade indistinta e conseqüentemente presumida das “mulheres”? Caracterizam-se sempre a especificidade e a integridade das práticas culturais ou lingüísticas das mulheres por oposição? São as perguntas deixadas por Butler (2003, p.21). 26 1.1.2 Feminismo, e agora? Vivemos numa época pós-feminista? O mesmo questionamento que me fazia ao longo da pesquisa foi lançado no Caderno Mais!17 , às feministas históricas: Rose Marie Muraro, Luíza Nagib Eluf, e à Juliet Mitchel:18 Rose: Não! Pós significa negação. Seria mais um neofeminismo. Hoje acabaram-se os movimentos de grande impacto na mídia, necessários no início. Mas, nos países desenvolvidos, as feministas são muitas. Só nos EUA são mais de 50 milhões (40% da pop feminina, segundo dados do próprio governo).[...] E, graças à sua organização, nos EUA as mulheres já ganham 95% do que ganham os homens pelo mesmo trabalho. Aqui, como o preconceito ainda é forte, e débil a organização, chegamos apenas a 67% (dados do IBGE). No século 19, o primeiro feminismo (sufragismo) reivindicava apenas os direitos básicos da cidadania (voto, emprego remunerado, educação etc.). Luiza: Ainda não chegamos lá. Estamos vivendo um momento de modificação do movimento feminista, alteramos nossas estratégias porque a sociedade já mudou bastante, mas as conquistas ainda precisam ser consolidadas. Não somos mais “guerrilheiras”, como no início. Entendo como pósfeminismo o momento em que poderemos relaxar e aproveitar os espaços abertos para nós. Ainda não podemos fazer isso. Há, na sociedade ocidental, redutos exclusivamente masculinos. As mulheres ainda são verdadeiras escravas. Está evidente que não poderemos descansar tão cedo, e o feminismo ainda tem muito a fazer. A idéia corrente de que estamos vivendo numa era pós-feminista lhe parece, portanto, equivocada? Juliet Mitchell: Sim, pois não há como fazer desaparecer as questões feministas ou, se preferir, de gênero. Essas questões podem estar mais ou menos na moda, mas não podem desaparecer enquanto houver tópicos a serem estudados. O que uma quantidade enorme de bons trabalhos tem mostrado é que, quando se aborda qualquer questão – seja ela histórica, sociológica, geográfica etc. - a partir de uma perspectiva de gênero, ela adquire outro sentido. Ou seja, como um modo de análise, uma metodologia, gênero é uma categoria que nos faz pensar de modo diferente sobre qualquer tema. Depoimentos de tamanha autoridade confirmam a direção que tomou (ou estão tomando) as discussões em torno do feminismo no mundo, e no Brasil e no resto da América Latina. Nunca poderíamos seguir a cartilha exata da direção internacional, a norte-americana, por todas as nossas questões específicas de países periféricos. E bem particularmente, porque durante a luta anti-regime militar, no Brasil e no restante da América do Sul, seria improvável que os 17 Folha São Paulo, 15/ 10/ 2000. Escritora; uma das fundadoras, em 1985, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; Luíza Eluf, procuradora de justiça do Ministério Público de São Paulo, e Juliet Mitchel, socióloga e psicanalista inglesa: 18 27 movimentos sociais por autonomia seguissem orientações vindas dos Estados Unidos, seria uma contradição. Sinto-me identificada com o que afirma Marta Suplicy (Apud Goldenberg et all., 1992): O sucesso do feminismo é exatamente onde eu vejo o fracasso: o não reconhecimento de que foi o feminismo que conseguiu tantas mudanças e as mulheres mais jovens acharem que sempre foi assim, as que hoje podem cursar uma universidade, escolher, elas estão distantes do que era não poder ser isso no passado. No Brasil para a publicação de seu livro “A terceira mulher”, Gilles Lipovetsky, filósofo francês, conversou com o jornal o Globo19 e respondeu às seguintes perguntas: O Globo: A DIFERENÇA ENTRE HOMEM E MULHER SEMPRE VAI EXISTIR? Lipovetsky: Isso sempre vai contar. É uma ilusão dos anos 60 considerar homem e mulher parecidos. Não são parecidos, mas não quer dizer que vivemos em planetas diferentes. Acho que subestimamos o peso da História. Os seres humanos não nascem do nada. Somos o produto da nossa história e não vejo como eliminar 20, 30 milhões de anos de História. O segundo argumento é antropológico. Veja um exemplo que é superficial, mas revelador: o fato de muitas mulheres empresárias e políticas, inteligentes e cultivadas, comprarem lingerie sensual. Nos anos 60, elas tentavam apagar a feminilidade. Hoje, procuram reafirmá-la. E isso não é contraditório com a sua autonomia. O Globo: PODE-SE FALAR EM NOVO FEMINISMO? Lipovetsky: Prefiro falar numa nova mulher porque o feminismo, francamente, não vejo mais. O movimento, que começou no final do século XIX, teve seu momento de glória nos anos 60 e 70, do século XX. Nos países desenvolvidos as leis hoje são igualitárias e os movimentos feministas se tornaram pobres e fracos mas não quer dizer que a luta das mulheres tenha perdido o sentindo. Somente não passa mais pelas grandes reivindicações coletivas. O direito ao voto e ao trabalho já foram conseguidos. A mudança, a partir de agora, acontece mais por meio dos costumes, da educação, de novos modelos femininos. Os homens terão que mudar. O Globo: E A MULHER BRASILEIRA NESSE QUADRO? Lipovetsky: A única coisa que observei é o aspecto mais conhecido: a mulher brasileira tem obsessão da aparência. Tenho feito muitas palestras para mulheres no Brasil. No final, muitas se aproximam e falam: “O que você diz é muito interessante mas os homens não são assim no Brasil, eles querem mulheres mais jovens que eles e a partir dos 40 anos as mulheres começam angustiadas, a fazer operação plástica...” Talvez a mulher brasileira aceite menos rapidamente do que a européia o fato de construir sua vida sem o homem. Daí a obsessão da forma para lhes agradar. O homem tem uma maior importância na vida da mulher latina do que parece ter na vida da mulher norte-americana ou européia. Mas se formos analisar as camadas mais pobres do país, 19 Jornal O GLOBO, suplem. ELA, 20/08/2005. Publicou em 1997: A terceira mulher. Rio de Janeiro: MANOLE. 28 ocorre o inverso, a figura masculina é quase inexistente, a maior parte das famílias é chefiada por uma mulher, muitas crianças nem chegam a conhecer a figura do pai, são abandonadas já no nascimento. Discordo do autor quando prefere falar da “nova mulher”, ignorando que isso se deve ao passado do feminismo, que ele não reconhece mais. Desnecessário dizer que, mesmo quem não é feminista, ou nem sabe o que é isso, experimenta essas mudanças no seu cotidiano, de forma consciente ou não. Antes falávamos da luta pelo amor livre, lutávamos para separar o amor da sexualidade e hoje ligamos o consumo, a moda à liberdade. Creio que o desejo sofreu um desvio: talvez o desejo não seja somente o de inserção social, pois esse está plenamente aceito por homens e mulheres em quase todas as democracias e, sim, o desejo de saber para onde estamos caminhando. Achava-se que com a revolução sexual dos anos 60, o desejo feminino, emancipado, se expandiria e se igualaria naturalmente à sexualidade dos homens. Acreditou-se que, num futuro reformado, a prostituição seria desnecessária já que a emancipação e a liberdade do desejo feminino ia ao encontro das necessidades dos homens, porém as mulheres esbarraram em um fator real. A promiscuidade é arriscada para a saúde reprodutiva das mulheres. A prostituta, portanto, passou a simbolizar a mulher elementarmente liberada, que vive no limite e cuja sexualidade não pertence a ninguém. A fantasia igualitária é um mito arcádico, revivido e propagado nos últimos vinte anos por caudilhas feministas. É o tipo de bobagem que se obtém quando se passa mais tempo lendo escritoras contemporâneas de quinta categoria do que escritores brancos mortos como Ésquilo e Shakespeare. Freud é o mais profundo pensador sobre a culpa na moderna cultura ocidental. À sua intricada análise da necessidade de repressão dos instintos na vida civilizada, devemos acrescentar a documentação, feita pela antropologia, dos elaborados códigos de culturas baseadas na vergonha. Vida sem culpa ou vergonha só seria encontrada em sociopatas e lobotomizados. Em nossa cultura, a culpa pode acompanhar automaticamente a construção e reforço de identidade na primeira infância, da qual vem toda a nossa capacidade de atuar como adultos autônomos (Paglia, 1993, p.42). Apesar de sua persona pop, polêmica, e malquista no ambiente acadêmico, consigo compreender o porquê da indignação no discurso de Paglia, durante as décadas de 80/90, e sua necessidade de polemizar nessa época de um vazio conformista nos discursos feministas: o feminismo não preparou as jovens para a questão de que homens e mulheres definitivamente não 29 são iguais e, continua dizendo que os sexos são iguais, continua dizendo às mulheres que elas podem fazer o que quiserem, ir aonde quiserem, dizer e usar o que quiserem. “Não, não podem, não.”, afirmaria Paglia. As mulheres sempre estarão em perigo sexual. Seu feminismo acentua responsabilidade pessoal, retira a mulher de um lugar dessensualizado e dessexualizado que, em seu ponto de vista, era onde localizava as feministas da década de 70. Um de meus alunos dormiu recentemente com um amigo numa passagem da Grande Pirâmide, no Egito. Descreveu a lua e areia, o silêncio antigo e os ecos misteriosos. Eu jamais vou ter essa experiência. Sou mulher. Não sou estúpida a ponto de acreditar que poderia estar segura lá. Há um mundo de aventura solitária que eu jamais terei. As mulheres sempre souberam dessas tristes verdades. Mas o feminismo, com suas fantasias coloridas sobre um mundo perfeito, impede as jovens de verem a vida como ela é. Devemos remediar a injustiça social sempre que pudermos. Mas há certas coisas que não podemos mudar. Há diferenças sexuais que se baseiam na biologia. O feminismo acadêmico se perdeu num nevoeiro de construcionismo social. Acredita que somos inteiramente produto de nosso ambiente. Essa idéia foi inventada por Rosseau. Ele estava errado. Encorajadas por uma chata teoria da linguagem francesa, as feministas acadêmicas repetem sem parar os mesmos slogans vazios. Sua visão do sexo é ingênua e pudica. Deixar o sexo às feministas é o mesmo que deixar o cachorro nas férias com o taxidermista (Paglia, p.61). Tendo nascido e crescido justo nas décadas, que Paglia considera mais críticas do feminismo, e sendo pertencente à geração, que considera feminismo um eufemismo de infelicidade sexual (ou pelo menos, apenas naturalizou as conquistas feministas de tal forma que age como se sempre houvera sido assim), torno-me naturalmente interessada e curiosa por seu discurso polêmico. Entretanto, dele eu não conseguiria me aproximar com clareza, não fosse antes ter passado pelo estudo da história desse movimento no Brasil e no mundo. Hoje, passada uma década desde a publicação dos dois livros contendo as críticas ferozes de Camille Paglia ao movimento do qual fez parte, reconheço as mudanças na agenda dos movimentos feministas, percebo mais abertura do movimento às questões relacionadas à sexualidade que, reconhecidas ou não, refletem o comportamento das sociedades ocidentais 20 . Para Paglia, o feminismo como movimento mundial, deve continuar a se dedicar, nos países economicamente subdesenvolvidos, ao grave problema das mulheres que são tratadas como bens móveis, ou mesmo, mortas por 20 No Rio de Janeiro, por ex., observa-se dentro do Funk , forte movimento feminista, ainda que não assumido como tal pelas funkeiras (mulheres negras e faveladas). Trata-se de um grupo de mulheres, que através de suas letras, seus discursos cotidianos, tomaram consciência de seu papel e disseram não a uma posição de submissão. 30 maridos ou famílias por serem um fardo financeiro. Não obstante, ela não reconhece mais a utilidade deste movimento nas democracias desenvolvidas (Paglia, 1994, p.90). O esforço de identificar o inimigo como singular em sua forma é um discurso invertido que mimetiza acriticamente a estratégia do opressor, em vez de oferecer um conjunto diferente de termos. O fato de a tática poder funcionar igualmente em contextos feministas e antifeministas sugere que o gesto colonizador não é primária ou irredutivelmente masculinista (Butler, 2003, p.34). Observo que a assimetria de gênero persiste fortemente na sociedade brasileira. Os cuidados com a contracepção, na maior parte das vezes, está sob responsabilidade exclusiva das mulheres. Ainda falta conquistar maior envolvimento e responsabilização dos homens nos possíveis desdobramentos de uma relação sexual. Decerto uma conquista importante do movimento feminista foi ter franqueado às mulheres a possibilidade do exercício sexual anterior ao casamento, relativizando a virgindade como atributo central do valor moral da mulher. No entanto, os encargos relativos à prevenção da gravidez dificilmente são divididos com os homens, o que reafirma a crença existente no senso comum de que a reprodução é um assunto de mulheres. As campanhas de prevenção às DSTs/AIDS aumentaram a utilização do preservativo, mas ele continua muito mais associado à prevenção de doenças do que da gravidez21 . 1.2 Matriz Corpo 21 Elaine Reis Brandão, professora Depto. de Medicina Preventiva e do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva (NESC/UFRJ), pesquisadora do CLAM/IMS/UERJ. Disponível em via revista virtual No Mínimo. Acessado em 2006. 31 1.2.1 Corpo performance Jorge Glusberg (2003), em seu livro A arte da performance, aponta para a utilização do corpo como meio de expressão artística, uma tendência atual que recoloca a pesquisa das artes no caminho das necessidades humanas básicas, retomando práticas que são anteriores à história da arte, pertencendo à própria origem da arte (p.51). Outro motivo para a performance ser marcadamente corporal, por se tratar de uma prática de fronteira tênue com as artes-plásticas. A performance, como expressão das artes-plásticas, constitui-se na relação com outras formas artísticas: dança, música e teatro. Embora a performance tenha surgido imbuída de um forte sentimento de coletivização (os Happenings de 1960, por exemplo), foi pouco a pouco, tornando-se uma arte solitária. Superados os problemas de formas e materiais, os artistas mostram seu próprio corpo numa atitude de reencontro consigo mesmos. Ao invés de uma religião capaz de impor sentido aos atos, tudo ocorre como se no lugar do sagrado se instaurasse uma atitude orientada pelo secreto: gestos clandestinos, subterrâneos, desenvolvidos para um pequeno grupo de iniciados (Glusberg, p.52). Com esta afirmação, o autor aponta para uma característica muito freqüente na performance: a linguagem entendida apenas pelos iniciados, os familiarizados com um vocabulário recheado de signos – aqui ele se difere totalmente do teatro solo - da mesma forma que o artista necessita de uma prática mental e física para sua realização, o espectador necessita de um certo treinamento para encarar o novo gênero. Muitas imagens são oferecidas a um público que vive a ficção de seu próprio corpo, que se apresenta de uma forma imposta por rituais sociais estabelecidos. Frente a essa ficção, os artistas apresentam, em oposição, um corpo que dramatiza, caricaturiza, enfatiza ou transgride a realidade operativa (p.57). Glusberg esclarece: “Nenhuma performance pode ser vista isolada de seu contexto, pois essa manifestação guarda forte associação com seu meio cultural” (p.72). Em síntese, a performance procura transformar o corpo no signo central da cena, em um veículo significante, em oposição ao espetáculo teatral no qual costuma servir como veículo, como voz do texto. Essa unidade de trabalho se apresenta numa variedade de sentidos (no 32 sentido perceptivo do termo): visual, olfativo, tátil, auditivo etc. A ilusão de um corpo desprovido de significação, de suas atitudes normais e naturais, se desvanece por completo para o espectador de performance e leva à descoberta do valor positivo da denúncia que adquire a prática corporal somada ao trabalho criativo (Glusberg, 2003, p.58). Na nossa cultura o corpo se tornou tão natural que nós já não reconhecemos um gesto com um ato semiótico, nós o tomamos simplesmente como um ato do dia-a-dia. Então, pra reconverter o corpo em signo, torna-se necessária a montagem de uma aparato de desmistificação da ordem cultural e é a arte que tem a chave mestra desta operação (p.76). Cabe ao performer orientar a percepção do espectador até que ela coincida com a sua. Boa parte do seu trabalho é perceber que a audiência outorga a uma performance imagens que privilegiam os aspectos mais pertinentes, que façam sentido com o seu contexto cultural (p.88). Outro elemento bastante presente na performance é o corpo nu. A performance e a body art particularizam o corpo da mesma maneira que o arquiteto particulariza o espaço natural e o transforma em espaço humano (p.56). Encontrei no livro O corpo como objeto de Arte, de Henri-Pierre Jeudy,(2002), a frase que me levou a refletir sobre o corpo feminino nu na performance: “A mulher nunca mais será um objeto, torna-se sujeito ativo capaz de subverter todos os ditames morais que limitam as possibilidades de viver na exaltação erótica” (p.17). A mulher, cujo corpo servia como modelo primordial para pinturas do século XVII, passa, no século XX, a partir dos anos 60, com a experiência da Body-Art, a ser sujeito e sua primeira subversão será sair do campo do belo, do inatingível e enfrentar as representações mentais da dominação fálica. O uso do corpo nu feminino chegou a tal grau de banalização do uso, que já no final do século XX um movimento de artistas feministas dos anos 80 nos EUA, as Guerrillas Girls, lançaram seu grito de protesto espalhando pôsters por todas as galerias de Nova York com os seguintes dizeres: 33 “Do women have to be naked to get into the met museum?” 22 O corpo nu, na performance que surgira como um corpo natural, desfeitichizado, termina com a generalização de seu uso, principalmente o corpo feminino, que passou a ser questionado pelas mulheres artistas uma vez que, uma mulher nua no trabalho de um homem é natural, mas se é a autora de um trabalho quem se apresenta nua é sinal de narcisismo. É o caso da pintora Carolee Schnnemann, pintora norte-americana, recém-formada pela Universidade de Illinois, quando chega a Nova York, em 1961, epicentro do movimento da contra-cultura e inspirada pelas leituras do “Teatro e seu duplo”, de Artaud, por Virgínia Woolf, Wilhelm Reich, Simone de Beauvoir e Cezanne, rapidamente se envolve com o grupo Fluxus23 , um importante movimento originado na então Alemanha Ocidental por Maciunas - artista plástico e dono de uma galeria - mas que tomou corpo em Nova York. O Fluxus reunia artistas de várias áreas com a paixão em comum por uma nova forma de pensar a arte, o grupo, guiado pela vontade de propor novas experiências, desenvolve incessantes atividades de 1963 a 1964, levando happenings para os espaços públicos como praças, ruas, galerias e teatros pequenos numa incessante atividade. Antes do início da explosão da Body-Art, nos anos 60 e 70, Schnemann já experimentava a idéia de corpo como objeto e sujeito da obra. Eye/Body, de 1962, é sua estréia nesse universo. Sua obra consistia em receber o público em casa, em um cenário de pedaços de molduras, espelhos e vidros quebrados, giz e fotos espalhados, e nua, entrar nesta “moldura” e passar a ser um dos objetos do cenário. Tal ritual de receber o público em casa, a artista intitulou “uma espécie de ritual xamântico”. O importante aqui, como analisa a historiadora Rebecca Schneider, 1997, em O corpo explicito na performance, não é seu impulso de incluir seu próprio corpo, mas sim, seu gesto. Com esta atitude, a artista demonstra seu desagrado à idéia de que um corpo nu, feminino, na arte, é sempre elemento de exibicionismo e de auto-indulgência e de que artistas 22 Trad. livre: “Para entrar no Metropolitan Museum, as mulheres têm que estar nuas?” Este pôster trazia uma mulher nua, usando máscara de gorila e ao lado vinha uma estatística com o número de artistas com exposições no Museu Metropolitano, de arte moderna de Nova York: “mais de 95% artistas homens, os nus eram 85% de mulheres”. 23 Movimento criado por um grupo de jovens estrangeiros e norte-americanos, residentes no bairro Soho, .N. York. A maioria havia freqüentado a escola de John Cage. Dentre seus fundadores: Yoko Ono, Kaprow e Stockhausen. 34 que trabalham assim não podem ser consideradas sérias (Schneider, 1997, p.34). Schnemann endereçava seu sentimento – cobrir seu corpo com tintas, plásticos, giz, graxas e cordas – como um protesto direto ao meio machista de que fazia parte: o Fluxus e os Happenings, no qual sentia que havia sido aceita por ser uma “cunt-mascot”.24 Schneider observou um movimento significativo em torno da questão do corpo feminino, reunindo artistas plásticas e atrizes do cinema pornográfico (o post-porn modernist movement), que, em comum, tinham o desejo de questionar uma visão totalmente falocêntrica com que os críticos, os movimentos artísticos e, conseqüentemente, o público, analisavam seus trabalhos. Resolveram então explicitar elas mesmas seu próprio corpo, sem interlocutores: “meu corpo é meu templo!”, slogan baseado nas idéias feministas dos anos 60 e 70, para ressaltar e celebrar a marca de gênero biológica. Com esse lema a ex-estrela do cinema pornográfico e “artista de performance” Verônica Vera divulga seu trabalho “Marty and Verônica”, fotografado por Robert Mapplethorpe, em 1982. Na fotografia, Verônica é o único rosto que vemos. Por sua expressão facial (boca entreaberta, língua na ponta dos lábios, expressão relaxada) nossa imediata dedução é que se trata de uma propaganda pornográfica comum, embora para ser um simples anúncio de filme pornográfico, tal foto é original. Aqui explode a discussão corrente no final dos anos 80 sobre o que é arte. A palavra “arte” usada por Verônica abre a discussão para se rediscutir também a palavra “pornô” ( Schneider, 1997, p.15). 24 Trad. livre: mascote-mulherzinha ou xoxota mascote, usando a tradução mais próxima ao termo cunt 35 1.2.2 O corpo produzido Mirian Goldenberg reuniu em um livro o resultado de dez anos de pesquisas realizadas no Rio de Janeiro, com homens e mulheres das camadas médias urbanas, chegando à conclusão de que há um descompasso entre o quê as mulheres consideram os atrativos para conquistar um homem e o quê os homens consideram atrativos, bem diferentes dos apontados por elas. A pesquisa apresenta mundos diferentes. O que interessa aqui é apresentar as diferentes construções culturais para o corpo e os fortes papéis que exercem sobre a questão de gênero, no Brasil contemporâneo, encontrados nos relatos do livro: No que diz respeito à maneira como homens e mulheres pensam o corpo feminino também se percebe um grande distanciamento. Matéria da revista Época trouxe como título “O corpo que eles desejam... não é o que elas querem ter.” A reportagem mostra um fenômeno esquizofrênico da nossa época: mulheres querem seduzir homens com um corpo que está longe da preferência masculina. A matéria revela que o padrão de beleza desejado pelas mulheres é construído por meio de imagens da supermodelos, que se consagraram a partir dos anos 1980 e conquistaram status de celebridade nos anos 1990. Doenças como anorexia e bulimia se tornaram quase uma epidemia nos últimos anos, em uma geração que cresceu, tentando imitar o corpo de Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer e, mais recentemente, da brasileira Gisele Bündchen. Só que os homens que responderam ao meu questionário elegeram como musas Sheila Carvalho, Luma de Oliveira, Luana Piovani, Mônica Carvalho e outras “gostosas” que estão longe das medidas das modelos magérrimas das passarelas. Além desse divórcio nos discursos masculinos e femininos, observei outro fenômeno: a preocupação com um determinado modelo de corpo tem atrapalhado a vida sexual de muita gente, como revelam alguns depoimentos da minha pesquisa (Goldenberg, 2005, p.42-43). Trago dois exemplos, citados pela autora, relativos à maneira pela qual o homem vê essa mulher obcecada com o corpo: “As mulheres estão muito chatas, não encontro uma interessante. É difícil encontrar uma com quem eu possa conversar. O que é uma mulher interessante? É uma mulher que não seja igual às outras, que seja inteligente, tenha paixão pelas coisas que faz e não gaste tanto tempo com malhação e salão de beleza” (50 anos, separado, jornalista) (p.46). “Não agüento mais mulher fake. Estão todas iguais, loiras, de cabelo alisado, nariz arrebitado, peito siliconado, todas querendo ficar com a mesma cara de atriz da Globo” (46 anos, separado, fotógrafo) (p.46). “Muitas vezes estamos no meio da transa, no maior clima, e ela pergunta: estou gorda? Ou então, insiste em transar no escuro para eu não ver o corpo dela. Perco totalmente o tesão” (35 anos, solteiro, engenheiro) (p.43). Por que, então, as mulheres estão nessa obsessão? Nessa escravidão? Se ao menos estivessem fazendo por elas e para elas, mas não, o objetivo é conquistar maridos e empregos, 36 assim como suas antecessoras na década de 60, apresentadas no ilvro O mito da beleza, de Naomi Wolf, 1992, no qual ela descreve os vários estereótipos de beleza feminina, mostra inúmeros dados estatísticos de pesquisas norte-americanas para provar que a mulher vive uma obsessiva preocupação com a beleza para ser bem sucedida sexual e profissionalmente no mundo pós-liberdade sexual ou, como observou Naomi Wolf, “para manter a juventude e a formosura que lhe permitirão preservar justamente trabalho e lar” (p.23). Esta autora analisa profissões nas quais a beleza física e a juventude são armas que beneficiam e destroem a mulher; ela é culpada por ser bonita e, portanto, por ser desejada pelo empregador ou também, culpada por não ser, motivo suficiente para lhe despedirem do emprego, já que sua aparência física é um quesito determinante. Para um homem ser âncora de um telejornal, ele necessita ser um homem mais velho, pois sua credibilidade está em sua maturidade; já uma mulher, necessita apenas de sua jovialidade. Wolf aponta tal exigência pela beleza e juventude no mercado de trabalho como uma jurisprudência para proteger esse mercado, invadido pelas mulheres e em como isso se tornou uma prisão para a mulher, na atualidade. Naomi Wolf escreve pós Mística feminina, de Betty Friedan, que trouxe uma grande mudança de comportamento, que abalou o consumo de revistas femininas nos EUA, e que alterou complemente o status quo de uma sociedade, do mito de beleza, presente nas relações entre empregador e empregado, nas profissões ditas igualitárias como o jornalismo, por exemplo. A função política do mito da beleza fica evidente no ritmo de formação da jurisprudência. Foi somente depois que as mulheres invadiram o reino público que proliferaram leis tratando da aparência no local de trabalho. Que aparência deve ter essa criatura, a mulher profissional séria? O telejornalismo propôs uma resposta vigorosa. Ao paternal apresentador reuniu-se uma locutora muito mais jovem com um nível de beleza profissional. Essa imagem dupla – a do homem mais velho, distinto e com rugas, sentado ao lado de uma companheira jovem e muito maquiada, veio a se tornar o paradigma para o relacionamento entre homens e mulheres no local de trabalho. Sua força alegórica era e ainda é muito disseminada. A qualificação de beleza profissional, que tinha como primeira finalidade amenizar o fato desagradável de uma mulher assumir posição de autoridade em público, ganhou vida própria até profissionais da beleza serem contratadas para serem transformadas em apresentadoras de telejornal (Wolf, 1992, p.23). O ideal de beleza, de perfeição em nossos dias, de maneira geral (ditado pelos canais de comunicação) é o de uma mulher loira, e isso ainda significa algumas coisas como: riqueza e 37 status social. E, para alimentar essa propaganda, além de vender a imagem de uma beleza padrão, também temos que suportar um jornalismo padrão. Observei durante esta pesquisa (em revistas, jornais e canais de televisão) que a palavra “engajada”, em entrevistas com celebridades, vem quase sempre de forma sutil, para não “ferir” os ouvidos do leitor/espectador, de forma geral, de perfil conservador e avesso à palavra política. Engajado é dito como uma palavra gasta e o jornalista quando a usa pede desculpa, também porque engajamento não é muito útil para vender produtos. E, assim, nos acostumamos com pequenas ditaduras, que parecem que são inofensivas; afinal, é sempre uma “escolha”, optar pelos modelos da moda, pelo canal de tv, etc. Ninguém nos “obriga” mais a nada. Dados recentes demonstram que a brasileira é campeã na busca desse corpo perfeito (Edmonds, 2002). A revista Time chamou atenção para esse fato na capa que trouxe Carla Perez com a seguinte legenda: “The plastic surgery craze: latin american women are sculping their bodies as never beforealong Califórnia lines. Is this cultural imperialism?” A Veja confirmou com a capa “De cara nova: com operações mais baratas, alternativas de conserto para quase tudo e grandes médicos em atividades, o Brasil passa a ser o primeiro do mundo em cirurgia plástica”. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o brasileiro, especialmente a mulher, se tornou o povo que mais faz plástica no mundo: 350.000 pessoas se submeteram a pelo menos um procedimento cirúrgico com finalidade estética em 2000. Em cada grupo de 100.000 habitantes, 207 pessoas foram operadas em 2000. Os Estados Unidos, tradicionais líderes do ranking, registraram 185 operados por 100.000 habitantes no ano 2000 (sendo a renda per capita americana oito vezes maior que a nossa). Mas o que torna o Brasil especial nessa área é “o ímpeto com que as pessoas decidem se operar e a rapidez com que a decisão é tomada (Goldenberg et all., 1992, 45-46). Como dito na citação anterior, o Brasil é campeão nestas operações e a moda também tem contribuído com isso. Eu até acrescentaria que ela tem sido absolutamente cruel com as mulheres ao longo da história. Não escolhemos as roupas que queremos vestir, elas nos escolhem. Se não cabemos na calça jeans, manequim 38, emagreceremos até caber, se não cabemos no modelo de camiseta baby-look, paciência, esperamos até a próxima temporada para que os fabricantes mudem a modelagem. 38 A historiadora Ana Paula Martins25 , autora do livro Visões do feminino, discorre sobre a construção da visão do corpo feminino, a partir do saber médico dos séculos 19 e 20, e faz uma contundente constatação: Eu gosto muito do que diz a filósofa Susan Bordo, especialista em filosofia do corpo e teoria feminista, que já publicou vários livros e artigos sobre desordens alimentares. Ela diz que ‘as mulheres que estão morrendo de fome não podem fazer uma revolução cultural’. Eu complementaria dizendo que as mulheres que não conseguem ir além das academias e de enxergar seu reflexo distorcido no espelho, que são presas fáceis do consumo, que gastam demais, tempo, dinheiro e energia, para se enquadrar no rígido modelo corporal da indústria da moda e do fitness, são versões modernizadas pela tecnologia da mulher-corpo, criada pela ciência e a medicina do século 19. Ou seja, não representam ameaça alguma para os valores estabelecidos e dificilmente podem trazer alguma contribuição para qualquer processo de mudança ou de questionamento da ordem social. São dóceis 26 . Ana Martins aponta na cultura brasileira um olhar machista canibal. No Brasil é muito arraigada a imagem de mulher-comida, que precisa ser tenra, apalpada, olhada gulosamente e saboreada, mesmo que seja na imaginação. Segundo ela, é muito difícil que uma mulher brasileira alguma vez não tenha se defrontado com essa imagem da mulher-comida, seja na forma violenta da agressão verbal, física e mesmo sexual, seja pelo aspecto mais simbólico da construção da imagem idealizada da mulher bela e desejável, disseminada pela moda, pela propaganda e pelos meios de comunicação, em especial, a televisão. O problema não está em a mulher ser canibalizada, se assim pode ser o seu desejo, o problema está na ausência de outras imagens, na fixação deste modelo, o que pode tornar-se uma camisa de força para as mulheres, fonte de medo ou frustração. Lá atrás, ainda na primeira fase do movimento, várias feministas se sentiram isoladas quando tentaram ir mais além com as questões do corpo e, hoje, a questão tornou-se central (do ponto de vista do consumo), pois temos as operações plásticas com fins absolutamente estéticos, ou de aparente retardamento do envelhecimento como um sintoma da discussão que não houve há alguns anos. Como já dito anteriormente, Brasil é campeão nestas operações e a moda desde sempre, tem contribuído com isso. Percebo, portanto, que no tema “mercantilização do corpo” 25 Cito a partir da entrevista no site da Fundação Fiocruz, do dia 14/04/05. 26 Idem. 39 está embutido o desejo de rediscutir o slogan de 1960: “Nosso corpo, afinal, nos pertence?”27 . O corpo pode ter se tornado produto, fruto do acelerado poder de consumo, nada escapa ao consumo, mas também pode falar de liberdade, resta saber como. O excesso é a palavra de ordem, é esse excesso, ou seja, a multiplicação de máquinas informacionais no cotidiano urbano uma das características da pós-modernidade, tudo se torna objeto de comunicação. “A realidade é o resultado do cruzamento, da contaminação das imagens, das interpretações, das reconstruções múltiplas que a mídia distribui” (Vattimo, Gianni apud Freitas, Ricardo. In: Villaça, Nizia et all.,1999, p. 124). Estamos em plena revolução tecnológica, que é considerada tão importante e influente quanto a Revolução Francesa, na era da cirurgia plástica, das próteses tecnológicas. Perguntome: interessa pensar a liberdade que essa tecnologia também pode nos proporcionar? Em primeiro lugar, sexo e beleza deixam de ser inexoráveis na sociedade de consumo. A realização de desejos e fantasias passa a ser perseguida através destes novos simulacros. Sentimo-nos constantemente tentados a explorar a liberdade que nos é permitida; mudança de sexo, de cor, de corpo. Já não se trata da tal inteligência artificial, usada em benefício humano, mas sim, da tecnologia como forma de extensão do corpo humano (Duarte, Eunice. Acesso em 2005). Já Fred Góes, em seu artigo “Do Body building ao body modification- paraíso e perdição”, traz-nos uma visão, diria, mais positiva, em relação à era da cirurgia plástica. O Body building, ou fisiculturismo ganhou, na era pós-industrial, um espaço privilegiado, quando os antigos valores que instrumentalizavam o corpo, ou que o rebaixavam, sofreram o impacto da espetacularização que caracteriza a contemporaneidade. Até 1930, muitos dos praticantes desta modalidade eram levantadores de peso e se apresentavam em espetáculos circenses ou como modelos fotográficos. Gradualmente, porém, com o declínio do teatro de variedades, o Body building se diversifica. Góes assinala que o corpo “construído” é um conceito peculiar e relativamente moderno: o corpo vivo como objeto público. 27 Grifo meu. 40 Nos finais do século XIX, Sandow, o Magnífico, sublinha que a expressão individual veio a ter sucesso e repercussão graças a uma série de circunstâncias, entre as quais o movimento de cultura germânica, a influência do palco popular como espaço de exposição do corpo e a crescente importância da fotografia como meio de contemplação estética do corpo que estava, até então, restrito à pintura e à escultura (Villaça et all.1999, p.35). O autor traz uma reflexão em torno do tema sobre boa aparência e imagem pessoal que, aos poucos, foi trazendo as modificações que passaram a fazer parte do mundo contemporâneo. Como por exemplo, tatuagens e piercings. O corpo perfurado desorganiza o corpo estável e o seu conjunto de órgãos, que funcionava para assegurar funções vitais e, por meio destas, outras, de ordem psíquicas, sociais, políticas, etc. Góes cita o artigo de José Gil, intitulado “No pain, no Gaim”, no qual procura entender as razões que fazem do body-piercing um fenômeno urbano altamente contagioso. Para o autor, a questão é da ordem estética, psicológica, metapsicológica, social e civilizatória. O que está em jogo é detectar que corpos buscam identificação, ou se fabricam via piercing, tatuagem ou escarificações para se diferenciar dos outros grupos da sociedade. Uma vez que cada técnica se diferencia da outra, cada uma delas cria um corpo distinto. Corpos perfurados e tatuados têm em comum a busca de uma imagem individual modificada, que o distinga do corpo padrão standard, do corpo dado. Cada imagem cria um corpo distinto. O piercing funciona como elemento que desperta sentidos, que acorda e intensifica zonas corporais. A intensidade não se restringe aos fluxos de prazer ou excitação erótica, mas de sensações múltiplas de auto-poder, de soberania sobre si próprio, de invulnerabilidade. Com este artefato o corpo torna-se um mapa em que agulhas, argolas e pinos marcam lugares de intensidades únicas, singulares. São, portanto, marcas de memória. Com respeito ao corpo produzido, alterado, modificado, não podemos deixar de citar a experiência no campo artístico de Orlan: “copyright de si mesma”. Ela funde a idéia corpoperformance com corpo-produto. 41 Orlan é uma artista que emergiu nos anos 70 quando a arte estava engajada com o social, o político e a ideologia. Quis conceber uma performance, retomando esses ingredientes. Influenciada pela obra de Duchamp e pelas correntes revolucionárias do maio de 68. É professora da Escola de Belas Artes de Dijon, França, desde 1990, e viaja o mundo inteiro para fazer conferências, dar entrevistas e se apresentar em festivais. Orlan vem se submetendo a inúmeras cirurgias plásticas, através das quais procura transformar seu corpo em lugar de debate público em torno do estatuto do corpo para a sociedade contemporânea, os resíduos de suas performances, carne e sangue tornam-se produtos apresentados nas exposições. Ela revela ser seu trabalho uma luta contra o inato, o inexorável, a natureza. Trabalha performances onde seu corpo encarna e molda diferentes personagens. Para ela, interferir no corpo é blasfemar contra o que é imposto à humanidade (Villaça et all.,1999, p.40). Na experiência dessa artista não há mais lugar para se falar de um dentro nem de um fora do corpo. Este parece ter-se tornado apenas uma superfície que reúne e confunde as duas dimensões, dentro-fora, um mapa exterior (a pele) na qual circulam intensidades “interiores”. Uma gravidez extra-uterina fez com que Orlan fosse operada de emergência. Através de anestesia local, pôde ser espectadora da sua própria operação como se a parte do corpo a ser operada não lhe pertencesse. Montou uma única câmara na sala de operações e quando a primeira fita de vídeo ficou pronta foi enviada imediatamente para o Centro de Arte Contemporânea de Lion, para ser exibida numa performance quase que simultânea. Mas foi só pelo seu 43º aniversário, em 1990, que fez a primeira de nove operações da performance Reicarnação de St.Orlan28 . Através de acessórios e cenários, tinha representado as suas esculturas e performances; agora Orlan passa a esculpir na sua própria carne, agindo impiedosamente sobre ela, através de operações plásticas. Não seriam operações normalizadas feitas à porta fechada, mas sim, sob a forma de performance mediática e ensaiada, e nela se misturam música, dança e literatura, cuidadosamente estudadas e estruturadas. 28 Interessante observar os demais títulos: L’art Charnal; Changement d’identité; Rituel de passage; Ceci est mon corps, ceci est mon logicel; J’ai donné mon corps à L’art; Opération(s); Corps/status; Identité alterité; Je suis un autre, je suis au plus fort de la confrontation. 42 Orlan começa pela desconstrução da imagem mitológica feminina, construída através da história da arte. Assim concebeu um retrato feito com o nariz da escultura de Diana, a testa da Mona Lisa de Leonardo da Vinci e o queixo da Vênus de Botticelli, para citar alguns exemplos. A escolha de cada uma destas personagens tem uma razão específica: não foram escolhidas pela sua beleza artística ou pelo fato de serem mundialmente conhecidas, mas pelo peso histórico e mitológico de cada uma. Cada performance é registrada em fotos e vídeos e a partir de certa altura começa a ter transmissões diretas, via satélite, para todo o mundo. Os espectadores podem telefonar para a artista, fazendo as mais diversas perguntas. Ao misturar as personagens mitológicas faz surgir uma personagem híbrida, que não procura a beleza ou a juventude. Ao escolhê-las, Orlan não deseja entrar para o livro de recordes em operações plásticas, nem sequer ficar parecida com as personagens, elas são uma inspiração pelo seu contexto histórico e pelo seu valor representativo. Sua posição artística não é contra as intervenções plásticas, mas contra os padrões de beleza e o domínio destas ideologias que se embrenham cada vez mais na carne dos homens e mulheres. Orlan explica que com a idade se tende a estranhar a aparência no espelho: algumas pessoas não agüentam essa idéia e as operações plásticas são, sem dúvida, a melhor solução, numa sociedade que valoriza e idolatra a juventude. As operações plásticas não são naturais ao corpo humano, assim como outros medicamentos e cosméticos que acabam por ser assimilados como “extensão” e se tornam necessários à sobrevivência. Dei meu corpo à arte“e é na arte que ele ficará, já que pretendo doá-lo a um museu após sua morte, mumificado ou moldado com resina, sendo a peça mais importante de uma instalação vídeo interativa. (Duarte, Eunice. Acesso em 2005). Orlan, em seminário realizado em Paris, fez algumas observações sobre sua obra, analisando as implicações de ordem mística, artística, cirúrgica e psicanalítica de seu trabalho. Com relação ao aspecto místico, ela inicia utilizando-se das palavras de Cristo antes da Paixão: “ainda um pouco tempo, e vocês não me verão mais”. E, continuando, afirma que as manipulações genéticas e as cirurgias estéticas serão comuns, dentro em pouco, e que poderemos remodelar o corpo sem que, com isso, o céu caia na cabeça. Sua atitude desafia o pensamento 43 judaico-cristão e a psicanálise, e implica uma ruptura com a filiação: a imagem da mãe e o nome do pai. Nomeando-se sacrílega e santa, conclui sua reflexão mística, afirmando que sua performance é uma luta contra o inexorável, o programa, a natureza (Villaça et all., 1999, p.40). Seu recurso à cirurgia estética busca um confronto com o gosto da ideologia dominante, assim, em substituição ao seu nariz natural, pequeno e delicado, põe um nariz masculino e no maior tamanho que a técnica permitir. Sobre o aspecto psicanalítico, Orlan reflete, a partir do verso de Arthur Rimbaud: “je est un autre” que ela se encontra no espaço de ponte entre o eu e o outro. Desrespeitando o corpo, enquanto tabu, reflete sobre a mudança de seu trabalho, no limite de sua carne, imagens e crenças. Termina seu depoimento com uma reflexão sobre a relação especular narcísica: “Ser narciso não é tão fácil, quando não se trata de mergulhar e se perder em sua imagem, mas de ver verdadeiramente, colocando-se à distância, a fim de criar neste intervalo” (Villaça et all., 1999, p.40). Trata-se de um potencial crítico de um processo artístico de transformação física, o qual permite que todas as simulações praticadas na arte contemporânea se tornem realmente carne, assim se expondo a um risco real. 1.3 Matriz Revolta 1.3.1 A Revolta Criadora Se a criação é impossível em meio a guerras e revoluções, 44 não teremos criadores, porque revolução e guerra são o nosso quinhão. O comentário é de Albert Camus, em O homem revoltado, escrito em 1951. Bem resumidamente, a tese de Camus é a de que a revolução trai o espírito da revolta, as revoluções tendem a negar a liberdade que colocam como meta e justificativa. No prefácio desse livro, ele diz: “O Homem é o único ser que se recusa a ser o que ele é”. Essa recusa pode ter tanto um caráter criativo, como nas práticas artísticas, e pode ter também um caráter reativo, que pode levar à destruição dos outros e até de si mesmo. Creio na revolta como uma potência criativa. A arte, quando pensada como uma resistência afirmativa, torna-se uma ação política, algumas vezes transformadora, mas não necessariamente revolucionária. A arte, como manifestação de revolta, me parece um resultado da força da potência, o quinhão, com a criação que contém sutilezas e ambigüidades, contrariamente a arte dita revolucionária. Camus escreve um manifesto no momento do seu descontentamento com o Partido Comunista, criticando crimes praticados em nome da revolução e do clima de terror, espalhado por esta (e Stálin ainda nem havia morrido). É rechaçado por intelectuais importantes seus contemporâneos, como Sartre e Simone de Beauvoir, os quais, indignados, o acusam de ter escrito um ensaio de direita. Para o professor Charles Feitosa,29 o tempo mostrou que Camus estava certo; as revoluções se tornaram repressivas, institucionalizadas, exasperando e dando completude ao espírito reativo de revolta que havia nelas (Feitosa, 2004,p.5). O que seria, afinal, revolta nos dias de hoje, século XXI, época pós grandes revoluções e pós grandes guerras mundiais? Época da esterilidade (falta de perspectiva, definição de Camus para as épocas depois das revoluções). A revolta tem, predominantemente, um caráter negativo: rejeição da autoridade, oposição a um poder, desvio de uma crença, etc., mas a idéia de revolta como um “virar a face”, um “dizer não”, é enfatizada por Camus. Revoltar-se é, nesse sentido, 29 Doutor em Filosofia pela univ. de Freiburg, Alemanha; prof. Adjunto do DFCS/UNIRIO. 45 desviar-se da evolução, retornar ou trocar o sentido do movimento, virar o rosto para outro lado, rejeitar o sentido que é imposto por uma autoridade para o movimento. O dicionário define revolta como manifestação coletiva, organizada ou não, de insubmissão contra qualquer autoridade; motim, rebelião, levante. A revolta, como um dizer “não” do escravo ao seu senhor, é uma atitude presente em todas as épocas da história, entre os gregos, os índios ou os africanos. Camus está mais preocupado, entretanto, com um fenômeno da modernidade, mais precisamente a partir do século XVIII, que ele chama de “revolta metafísica”, uma espécie de “não limitado” a tudo que oprime, em nome de uma liberdade também limitada. A revolta metafísica pode ser vista, então, como recusa irrestrita e indiscriminada de tudo que seja considerado limite, constrangimento, condição, seja na forma do senhor, do rei, de deus, de destino, da verdade ou da morte. Segundo Camus, ela é um fenômeno moderno, do final do século XVII. Os gregos não a conheciam, pois acreditavam na natureza, e se revoltar contra a natureza era se revoltar contra si mesmo. A revolta, no sentido da reação contra a finitude, é uma das dimensões essenciais que caracterizam nosso momento histórico. Ela é o centro do qual nasce o niilismo contemporâneo. Revolta é matéria de todo indivíduo, a história é feita de revolta. O desejo revolucionário nada tem de niilista, o revolucionário é o que crê na mudança radical, por isso renuncia a tudo. No entanto, a revolução, ao contrário, é comprometida, precisará institucionalizar seus desejos, ao passo que a revolta é simples potência. Após cada grande movimento revolucionário da história (pensemos na Revolução Francesa) apesar de abolir a escravidão, o autoritarismo, derrotar o feudalismo, abrir os portos, possibilitar a República, criar o Código Civil etc., não pôde com a mão de ferro do Estado, e faz do desvio, a norma. O pensamento de Nietzsche nasce de uma revolta, ele é a consciência mais aguda do niilismo. Camus, após forte envolvimento político, irá constatar, com decepção, que todo processo revolucionário inevitavelmente culminará em regime autoritário, uma vez que, conquistado o poder, a utopia do revolucionário dá lugar à tirania e à ganância: 46 “A arte é também esse movimento que exalta e nega ao mesmo tempo. ‘Nenhum artista tolera o real’, dizia Nietzsche. É verdade, mas nenhum artista pode prescindir do real. A criação é exigência de unidade e recusa do mundo (Camus, 1999, p.314). Esta epígrafe nos remete à idéia que permeia todo O homem revoltado e que também encontramos nos que pensam a revolução de uma forma positiva. O sim e o não estão presentes na revolta. Em cada ação há o seu contrário, em cada revolução a contra-revolução (a tese e sua antítese, gerando a síntese). A imaginação não existe sem o real, o imaginário com o qual cada artista cria sua obra, nasce da sua realidade, é essa a primeira unidade e é com ela que irá comunicar-se com o mundo. Primeiro a Solidão, a que nega o real e coloca o artista em seu próprio mundo, depois a criação, que é comunicável, buscando uma unidade coletiva, o sim e o não, simultaneamente. Que arte está sendo pensada na época sem questão, apontada por Camus (1999)? As oportunidades de malogro, no século da destruição, só podem ser compensadas pela oportunidade do número, quer dizer, pela oportunidade de que entre dez artistas autênticos, um pelo menos sobreviva, assuma as primeiras palavras de seus irmãos e consiga encontrar em sua vida simultaneamente o tempo da paixão ou o tempo da criação. Querendo ou não, o artista não pode mais ser um solitário, a não ser no triunfo melancólico que deve a todos os seus pares. A arte revoltada também acaba revelando o “Nós existimos” e, com isto, o caminho de uma feroz humildade (p.315). O niilismo de Camus só é factível de ser comparado ao de Niestzche no que se refere à influência que seu pensamento trouxe para a filosofia existencialista, na qual a vontade (em ambas as correntes) é o princípio do conhecimento e não a razão. Em outras palavras, ambas correntes de pensamento acreditam no indivíduo como ser atuante, responsável por suas escolhas e não, vítima da vontade do outro. Partindo deste contexto, ilustraria o revoltado como aquele que sabe a época em que vive e provavelmente não cairia na armadilha de responder a pergunta: “− Mas sua atitude irá mudar o mundo?”. O revoltado responderia: “− Não, não mudaremos o mundo! Nem por isso deixaríamos de tomar atitudes. Resistiremos ao que considerarmos violência”. Em tempos de informação globalizada, a consciência é, também, adquirida, através do poder de consumo: “Eu compro, logo existo” revela Kruger, artista plástica, norte-americana 47 (Apud Grosenick, 2002, p.287). O mesmo avanço tecnológico, que auxilia a progressiva globalização, aparelha para uma resistência. Não se está disposto a matar ou a morrer pela causa, se quer apenas, com um ato de desobediência civil, atrapalhar o modelo de capitalismo global, que devora a todos. Como bem define Milton Santos: Na esfera da sociabilidade, levantam-se utilitarismos como regra de vida mediante a exacerbação do consumo, dos narcisismos, do imediatismo, do egoísmo, do abandono da solidariedade, com a implantação, galopante, de uma ética pragmática individualista (2000, p.54). Assim, como a Revolução devora o revolucionário, os artistas também são devorados pela arte e, para eles, a arte não os retira do mundo niilista, a arte não altera esse destino. A arte não seria revolucionária, pois ela não está a serviço de nada, ela e o artista estão a serviço da revolta. No filme “Edukators” (2004), de Hans Wengarntne, Alemanha, três jovens partem da revolta (uma indignação) para a ação, justamente quando tomam consciência do jogo capitalista com o qual estão sendo obrigados a conviver. Tornaram-se atores deste processo sem se preocupar em chegar a uma mudança radical no sistema. Para eles, já é o suficiente serem “educadores”, e “conscientizar” as classes dominantes com invasões domiciliares nas quais o invasor não rouba, mas demonstra sua revolta contra o luxo e a riqueza exacerbada. Protestam, à sua maneira, contra a violência do dinheiro. Não seria este um exemplo de resistência, no qual pensamento e ação não se separam? No filme, a revolução não é tratada, a alma capitalista do empresário de meia-idade já está transformada e longe demais do idealismo juvenil (que um dia já teve). Para este personagem, o fato de apenas usar as regras do jogo do capital e não ser quem as as criou, o exime de qualquer responsabilidade sobre a miséria mundial. O personagem empresário é um ex-militante estudantil de 1968, que viveu o auge da revolta deflagrada nos anos 60 e que, depois, pouco a pouco, foi se adaptando ao mundo capitalista, constituindo 48 família, trabalhando por sua segurança patrimonial, se enquadrando no sistema e votando por ele. Sua revolta e desejo de mudança morreram com o fim da sua juventude. Já os jovens, no filme “Os Sonhadores” (2004), de Bertolucci, França, ao contrário dos jovens alemães, querem sonhar que poderão mudar o mundo. Idealistas, querem mudá-lo à força, lutando contra as forças policiais, governistas. O filme aponta para a revolta como um desejo potente, que não exime ninguém de morrer pela causa, pois tal morte estará justificada pelo encantamento de seu objetivo: mudar o mundo. “Edukators” (2004) é a sua antítese, não se quer mudar nada, nem se está disposto a matar ou morrer pela causa. O que se quer, apenas, com um ato de desobediência civil (invadir uma propriedade) é atrapalhar o modelo de capitalismo global. Aí a desobediência é criativa, não é uma atitude revolucionária, de mudança imediata da sociedade. Trata-se da revolta contra o tempo que o capitalismo conseguiu escravizar, é a consciência do escravo versus a consciência do senhor, do pensamento de Hegel, que Camus traz para seu ensaio. Nada que Marx já não vislumbrasse em seu manifesto: a mais-valia; as horas extras do trabalhador, “dadas” ao capitalista para que ele assim se enriqueça. Seu desejo de uma sociedade sem classes não conquistou o mundo, pelo contrário, o mundo está cada vez mais separado entre os que acumulam mais-valia e os que a produzem. Concluiria, dizendo que toda potência é criativa e a revolta, a expressão máxima de desejo de autonomia, ainda que algumas vezes um desejo incontrolável se torne fonte de violência. 1.3.2 A sexualidade e a androginia 49 Permeia meu processo de criação uma dúvida incômoda sobre em que lugar, entre a mulher e o homem, estaria instaurado o nosso ser contemporâneo. Meu corpo percorre um percurso mutante em que as inscrições corporais masculino e feminino sofrem subversões performativas. Portanto, naturalmente me aproximei do tema androginia, pois era a marca mais inteligível, para o espectador, sobre o trabalho. No dicionário, encontro a seguinte definição sobre androginia: [...] androgyny, from the Greek andro (male) and gyne (female), has been both valorized and vilified over the years, together with its sometimes synonym, hermaphroditism, or intersexuality. Whereas intersexuality is most often understood as a relatively rare biological hybrid of male and female, androgyny usually is imagined as a potencial in all of us, a psychological composite of masculinity and femininity that for some of its advocates necessarily expresses itself in bisexuality, rather than hetero – or homosexuality. In the West, the androgyne has often figured the wholeness or totality of one who seems to transcend the limitations of having only one sex or sexuality, at once both and neither. Writers and other artists- from the romantic poets Coleridge and Shelley to feminism modernist Virginia Woolf – therefore frequently have claimed that the great mind is androgynous, rather than expressive of a single gender. Philosophers too have embraced androgyny, perhaps especially those interested in the religious occult, including traditions in which Christ is represented as having feminine as well as masculine qualities. For psychologist Carl Jung, who was fascinated by alchemy and hermeticism, the healthy psyche was androgynous, integrating female anima and male animus so as to fully realize human potencial 30 . Somos inteiramente um ser unissexuado? Esta dúvida não estava em mim, em como me apresento ou me identifico, mas estava no meu trabalho. Por quê? Para Freud (1969), os primeiros indícios de revolta encontram-se em nossa sexualidade. Aqui neste recorte, mais especificamente, a sexualidade feminina: Durante a fase do complexo de Édipo normal, encontramos a criança ternamente ligada ao genitor do sexo oposto, ao passo que seu relacionamento com o do seu próprio sexo é predominantemente hostil. No caso do menino, isso não é difícil de explicar. Seu objeto amoroso foi a mãe. Continua sendo, e, com intensificação de seus desejos eróticos e sua compreensão interna mais 30 MAGGERTY, George. Gay histories and cultures. New York: Garland, 2000. Trad. livre: “Androginia, do grego andro(homem) e ginia(mulher), vem sendo ao mesmo tempo valorizado e caluniado nos últimos anos, é também sinônimo de hermafroditismo ou intersexualidade. Enquanto que intersexualidade é mais reconhecida como raridade híbrida biológica entre o sexo masculino e feminino, androginia é sempre imaginada como um potencial pertencente a todos nós, uma composição entre o masculino e feminino sempre definido como bissexualidade, muito mais que hetero- ou homossexualidade. No ocidente, androginia é quase sempre apresentada como alguém que transcende a limitação de ter apenas um sexo ou uma sexualidade, ao mesmo tempo se tem um, ou nenhum. Escritores e artistas – dos poetas românticos de Coleridge e Shelley até feministas modernas como Virgínia Woolf – têm clamado desde então que a grande mente é andrógena, muito mais que unissexual. Os filósofos também abraçaram a androginia, especialmente os ligados a religiões ocultas, incluindo tradições nas quais Cristo é representado como tendo qualidades masculinas e femininas. Para o psicanalista Carl Jung, que era fascinado por alquimia e hermetismo, a psiquê sadia é andrógina, integrando o anima feminino ao animus masculino, a fim de preencher completamente a potencialidade do ser humano. 50 profunda das relações entre o pai e a mãe, o primeiro está fadado a se tornar seu rival. Com a menina, é diferente. Também seu primeiro objeto foi a mãe. Como encontra o caminho para o pai? Como, quando e por quê se desliga da mãe? Há muito tempo compreendemos que o desenvolvimento da sexualidade feminina é complicado pelo fato de a menina ter a tarefa de abandonar o que originalmente constituiu sua principal zona genital – o clitóris – em favor de outra, nova, a vagina. Agora, no entanto, parece-nos que existe uma segunda alteração da mesma espécie, que não é menos característica e importante para o desenvolvimento da mulher: a troca de seu objeto original- a mãe- pelo pai. A maneira pela qual essas duas tarefas estão mutuamente vinculadas ainda não nos é clara (p.233). [...] seu ressentimento por ser impedida de uma atividade sexual livre desempenha grande papel em seu desligamento da mãe. O mesmo motivo entra em funcionamento após a puberdade, quando a mãe assume seu dever da guardiã da castidade da filha (p.241). Como é dito, já na primeira fase, na infância, nossos desejos já entram em conflito, mesmo antes de sermos capazes de nomeá-los. O sentimento de revolta, talvez, já esteja presente muito antes de ser acionado. Mas intenso se revelará esse sentimento inominável quando, mulheres, crescemos tendo que lidar com as castrações de origem. Elisabeth Badinter, pensadora francesa, em Um é o outro, escrito na década de 80, nos apresenta, contrapondo-se à teoria da sexualidade de Freud, as idéias dos psiquiatras norte-americanos, Money e Stoller (gender role e gender identity, respectivamente ), nas quais inauguram a discussão sobre “sexo” biológico e o “gênero”. [...] Por outro lado, se Stoller está de acordo com K. Horney, E. Jones e G. Zilboorg, em pensar que a psicossexualidade feminina é primária e toma lugar antes do estágio fálico, contrariamente a eles, ele sustenta, como uma evidência clínica, que para a mulher o sentimento de se sentir feminina nasce independentemente da percepção dos órgãos genitais. Ele rejeita em bloco as discussões sobre a primazia da vagina ou do clitóris na determinação da psicossexualidade feminina. Nem a ausência de vagina ou de órgãos genitais internos, nem a presença de um botão genital peniforme, nem ausência de clitóris impedem a constituição de uma psicossexualidade feminina, com a condição que o meio que a cerca não tenha dúvidas sobre a feminidade da criança (p.257). Na verdade, somos todos andróginos, porque os humanos são bissexuados, em vários planos e em graus diferentes. Masculino e feminino se entrelaçam em cada um de nós, mesmo se a maioria das culturas se deleitou em nos descrever e nos querer como sendo inteiramente de um sexo. A norma imposta foi o contraste e a oposição. Cabe à educação calar as ambigüidades e ensinar a recalcar a outra parte de si. O ideal é parir um ser humano unissexuado: um homem “viril”, uma mulher “feminina”. Mas os adjetivos revelam o que se quer esconder: toda uma série de intermediários possíveis entre os dois tipos ideais. Na realidade, o adestramento atinge mais ou menos sua finalidade e o adulto guarda sempre em si uma parte indestrutível do outro (p. 236). De acordo com essa autora, é muito mais fácil para a mulher lidar com sua bissexualidade do que para os homens. Ela convive tranqüilamente com essa alteridade, alterando com facilidade papéis masculinos e femininos, dependendo do período da vida ou do momento do dia. Não há o sentimento de que sua bissexualidade seja uma ameaça para sua identidade 51 feminina. Já com os homens, não ocorre assim. Ao mesmo tempo em que, de bom grado, reconhecem a legitimidade das reivindicações igualitárias das mulheres, muitos homens sentem como uma ameaça insuportável para sua virilidade. A semelhança dos sexos, secretamente, lhes causa horror, porque vêem nesse fato a perda de sua especificidade, em proveito de uma feminilização da humanidade (p.245-249). 52 2 2.1. PERFORMANCE/AUTOPERFORMANCE Happenings e Performance Em seu artigo datado de 1962: “Happening: uma arte de justaposição radical”, Susan Sontag (1987, p.305) descreve com o olhar de um crítico do momento, aquele novo movimento das artes, ocorrendo em Nova York, liderado basicamente por pintores e músicos jovens, os quais procuravam sair do pictórico, ultrapassar a restrição espacial, compreender a música e arte de outra forma e atingir comunicação com o público. Muitos dos happenings descritos no texto de Sontag são do mesmo ano do artigo, com uma grande referência a Allan Kaprow (pintor e professor de Arte e História da Arte) por sua importante formulação e elaboração deste Gênero. O happening tem sua origem nas ArtesPlásticas; ocorria em lugares inusitados, com pequena duração e nenhuma preocupação de agradar ao público. Este gênero é sempre no presente, é momentâneo, não há uso do enredo. Surge como um protesto contra a concepção de arte de museu – coisas preservadas e conservadas, e com o forte desejo de explorar o uso de outros materiais que não somente tintas e telas, segue intenção latente de uma arte tridimensional com necessidade de artista, obra e espectador se envolverem. A este novo estilo somam-se as técnicas híbridas como assemblages, action-collag (misturas de técnicas e de materiais, colagem de impacto e criação de ambientes) e os environments, ou instalações, como conhecemos hoje. A tela e a moldura não mais satisfazem ao artista, ou seja, suas idéias e desejos não são mais compatíveis naquele espaço retangular de proporções delimitadas que é a tela, querem sair da parede, ganhar o espaço e a participação da platéia. O percurso, que é apontado no texto, deixa claro o movimento que nasce na pintura e na música norte-americanas, sai das galerias e museus e encontra espaço em teatros ou outras áreas alternativas, atinge um público de razoável ecletismo e é constituído por pessoas informadas, fiéis e que apreciam a novidade. 53 A década de 70 é para a arte da performance um momento emblemático. Influenciado pelos movimentos pacifistas de 1960, pela ruptura já declarada dos artistas do happening, este movimento coloriu o cenário das artes européias – praticamente radicada nos EUA desde que o nazismo arrasou este continente - e norte-americanas, aprofundando a idéia de arte híbrida e multicultural, época em que a noção de presente é aguda. A live-art surgida nesta época é um movimento que visa a dessacralizar a arte, tirando-a de sua função meramente estética, elitista. Duchamp, que com seus ready-mades de 1917, trazia a arte conceitual, questionava a arte, deixa duas idéias importantes para os vanguardistas de 60: sabotagem do mercado de arte e deslocamento de objetos. Jackson Pollock exaure o conceito de tela e moldura e parte para o espaço, insere seu corpo no momento da pintura e aproveita tudo o que no momento presente da pintura lhe cai às mãos, ressaltando, assim, o acidental, a imprevisibilidade e a casualidade do momento presente. Joseph Beuys, artista alemão, grande ícone deste movimento, traz eloqüência à sua obra, uma ansiedade conceitual e um exagero retórico. É tão forte sua presença que sem ela sua obra é esvaziada. A idéia é resgatar a característica ritualística das artes, tirando-a de espaços mortos, como museus, galerias, teatros e colocando-a numa posição viva, modificada (Cohen, Renato,1989, p.38). A performance cresce com a característica de arte de fronteira, que rompe com as convenções. Idéias já praticadas por Kaprow anos antes. Além da mistura de técnicas - a hibridização - surge neste momento maior aproximação e diálogo com o espectador, avança a concepção do happening, que, como o próprio nome diz, é um acontecimento. As performances, muitas vezes, são ensaiadas durante semanas ou meses e registradas, ou seja, uma arte que não tem o pretérito, aos poucos muda com a linguagem do vídeo. Muitos dos artistas da performance, cito Joseph Beuys como emblemático desta linguagem, crêem no seu papel crítico e questionador no momento em que criam suas instalações. A dedicatória de Renato Cohen, em seu livro Performance como linguagem, (1989) demonstra isso, quando escreve: “A Joseph Beuys, artista radical e humanista”. Neste livro (escrito no final da década de 80, quando enfim, 54 o gênero se tornava popular no Brasil), Cohen faz um histórico sobre a arte, que considera uma arte de ruptura. É uma expressão das décadas de 70 e 80, do século XX, que surge nos EUA com muita força e dali exporta conceitos para o mundo todo, e traz como precursores: o movimento hippie dos EUA, da década de 70; o movimento de contra-cultura dos 80 e, por fim, o movimento punk, também dos anos 80, que, ao contrário do movimento hippie, positivo, pela vida, amor e paz, é um movimento marcadamente niilista e negativo. Os anos 80 são marcados pelo niilismo, não há mais discurso a ser feito e ocorre um novo fenômeno: o esvaziamento da palavra, a falência do discurso. Cohen descreve o esquete, que gera o Happening e acaba em performance. Pois o modelo do primeiro está contido no último. Nos esquetes, não há preocupação com a interpretação, os performers estão mais preocupados com os Environments (instalações) para dar credibilidade às suas obras e fazem uso de uma linguagem hipernaturalista; aqui os performers não representam, mas apresentam suas idiossincrasias. A preocupação desta linguagem é romper com a linguagem formal do teatro comercial. Neste gênero, o diretor é substituído pela figura do encenador, que, ao contrário do primeiro, propõe uma linguagem horizontalizada - muitas vezes o encenador é o autor, diretor e intérprete do trabalho - com seu elenco. É por essa razão que, para Cohen, este gênero representa a primeira grande ruptura desta nova linguagem cênica do século XX. Happening e performance advêm de uma mesma raiz, ambos são movimentos de contestação, tanto no sentido ideológico, quanto formal; as duas expressões se apóiam na liveart, no acontecimento em detrimento da representação-repetição, uma tonicidade para o signo visual em detrimento da palavra, isto é, o tempo é marcado pelo aqui e agora diferente das imagens no pretérito como no vídeo e cinema. Num determinado momento, a tendência é que a platéia passe a observar mais como o ator está fazendo aquilo e não o porquê daquela ação. Fica claro que a habilidade é dele, do performer e não de uma personagem que esteja representando. Essa intenção reforça uma das 55 características principais, desta forma de interpretação, da arte de performance e de toda live-art, que é o de reforçar o instante e romper com a representação. Na performance vão conviver desde espetáculos de grande espontaneidade e liberdade de execução (sem final determinado) até espetáculos altamente formalizados e deliberados (a execução segue um roteiro previamente estabelecido e devidamente ensaiado). Os espetáculos de performance têm uma característica de evento, repetindo-se diversas vezes e realizando-se em espaços não habitualmente utilizados para encenações. Ideologicamente a performance incorpora as idéias da não-arte e da chamada arte de contestação. A proposta que o artista plástico Marcel Duchamp deixou como legado foi que qualquer ato é um ato artístico, desde que seja contextualizado como tal. Concluo esta parte, trazendo duas outras visões sobre a performance para enriquecer nossa discussão, definições essas bem distintas das levantadas acima por Renato Cohen e Jorge Glusberg. É a performance sob o olhar de dois respeitados professores estadunidenses, estudiosos dos significados ontológico e epistemológico do termo e que, insatisfeitos com as dificuldades geradas pela multiplicidade de aplicação do termo, passaram a ampliar o leque de análise deste objeto. São autores atentos em tentar compreender a performance um pouco mais além do sentido cênico e que levam em consideração os estudos sociais e antropológicos. Diana Taylor,31 em seu artigo “Hacia una definición de performance” (2003), considera a performance como forma de intervenção no cenário político, na qual AÇÃO e REPRESENTAÇÃO da narrativa dão lugar à AÇÃO INDIVIDUAL e INTERPRETAÇÃO, e a prática torna-se modo de transmissão, uma realização e um meio de intervir no mundo. A performance comporta a possibilidade de um desafio, inclusive, de um auto-desafio. Ação pode ser definida como um ato, um happening vanguardista, uma arte-ação, ou uma intervenção política. 31 Profa. da Universidade de Nova York; editora do Holly Terrors, uma publicação anual pela Universidade de Duke, sobre mulheres latino-americanas e performance. 56 Lê-se na Carta Capital de outubro de 2004: Uma ação organizada pelo Centro de Mídia Independente, ocorrida em São Paulo no Dia Mundial da Democratização dos Meios de Comunicação. Um grupo de cerca de 40 jovens convocava a população a um ato de desobediência: cobrir uma placa de rua. O nome coberto seria o de “Roberto Marinho” com um adesivo impresso com o nome de “Vladimir Herzog” (Sousa, Ana Paula, 2004). Este exemplo é chamado de “desobediência civil” pelos movimentos anti-globalização; também poderíamos considerá-lo um happening vanguardista, uma ação política criativa. Surgiram vários movimentos assim que faziam uso da performance como instrumento de ação, ações típicas deste novo século, que nascem como atos de resistência e, ao contrário de uma mudança radical, revolucionária, no sistema político, preferem lidar de forma lenta e contínua com relação ao sistema econômico global. “Representação”, derivando do verbo representar, evoca noções de mímesis, de uma quebra entre o real e sua representação, performance e performar. Entretanto, já não indicam a mesma coisa. Apesar de terem sidos termos alternativos à palavra estrangeira, eles também vêm carregados de significação cultural. Diana Taylor propõe uma mudança desta palavra de origem européia para alguma de origem indígena (Nahúatl, Maya, Quechua, Aymara): Olin en Nahúatl significa movimento, no calendário mexicano, é nome de um mês e representa especificidades temporais e históricas. Em seu artigo, explica que o termo performance na América Latina não tem equivalente nem em espanhol nem em português, o que traz duas acepções da palavra por conter artigos: a performance ou o performance. A primeira está ligada ao campo da arte ou dos esportes, e a segunda, ao mundo da política e dos negócios. Diana Taylor (2003) conclui seu artigo, trazendo uma interessante questão: “Este obstáculo desafía no sólo a los hablantes de español o portugués que se enfrentan a una palabra extranjera, sino a los angloparlantes que creían que compreendían lo que significaba performance”(p.17-24). E diz Richard Schechener (2003): Performances artísticas, rituais ou cotidianas – são feitas de comportamento restaurados, ações performadas que as pessoas treinam para desempenhar, que têm que repetir e ensaiar. Está claro que fazer arte exige treino e esforço consciente. Mas a vida cotidiana também envolve anos de treinamento e aprendizado de parcelas específicas de comportamento e requer a descoberta de como ajudar e exercer as ações de uma vida em relação às circunstâncias pessoais e comunitárias. O longo período da infância e da adolescência característico da espécie humana consiste em um extenso período de treinamento e 57 ensaio para favorecer uma boa performance da vida adulta, sendo consagrada por cerimônias e ritos iniciáticos em diversas culturas e religiões (p.27). Da mesma forma, Richard Schechner32 aponta para o reconhecimento de uma infinita gama de possibilidades de hibridizações, na qual todos os aspectos – vida e arte- se misturam. Para Schechner, a performance é um termo inclusivo e o teatro é apenas uma das formas desta manifestação. O autor organizou seu trabalho prático e teórico, baseado na idéia de um leque e de uma rede (the fan and the web), de um lado o estudo da performance compreende várias correntes: ritos; cerimônias de chamanismo, a performance do dia-a-dia, o teatro e a ritualização (o leque) e do outro lado, a idéia da rede (web), onde todos os aspectos se misturam. A idéia da rede é a de que não há limite para as inúmeras possibilidades de se estudar o objeto performance. Schechner lista oito situações, algumas vezes distintas, outras vezes sobrepostas para indicar o largo território coberto pela performance: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. na vida diária, cozinhando, socializando-se, apenas vivendo nas artes nos esportes e outros entretenimentos populares nos negócios na tecnologia no sexo nos rituais sagrados e seculares na brincadeira Até mesmo noções de história e cultura são culturalmente específicas, jamais universais. É impossível tomar um objeto para estudo, sem partir da própria origem cultural do observador (Schechner, 2003, p.30). Seu pensamento parece estar de acordo com o de Diana Taylor quando afirma ser importante considerar a performance também como um estudo cultural, de costumes. Para ele, há um conflito permanente na vida do adulto que é a aceitação da sociedade tal como ela é e a rebelião. Portanto, podemos considerar que atos sociais e políticos, protestos, revoluções e coisas são ações coletivas em larga escala, seja para manter o status quo, seja para mudar o mundo. Em sua visão, toda ação, não importa quão pequena ou avassaladora, consiste em comportamentos duplamente exercidos. 32 Professor da Universidade de Nova York (NYU), diretor de teatro, fundador e editor da Drama Review, publicada pela NYU. 58 Como pesquisadora, é necessário reconhecer que a performance como arte e a performance não só como arte, defendida pelos dois últimos autores, se complementam e são ricas para que os estudos nessa área não sejam limitados, porém, ousaria afirmar que, para o espectador, tais visões são completamente distintas e nada têm de complementares. Como espectadora assisto a uma cerimônia de Candomblé – para citar exemplo de uma cerimônia religiosa e ritualística- com compreensão muito diferente da que assistiria à performance de Linda Montano 33 , ou, performances em teatro com uso de tecnologia, ou uso do nu. No Candomblé, posso perceber a riqueza do ritual, reconheço a origem, a tradição, mas não percebo se os atores desse ritual estão tendo a consciência do que estão apresentando, e, não reconhecendo a consciência, não posso identificar objetivo nesta manifestação, ou seja, se há objetivo maior do que se unir em torno de uma comunhão entre pessoas e cumprimento de promessas para os orixás. Não estou afirmando que para que eu reconheça tal ato como performance necessite perceber o trabalho intelectual de seus atores, não, porém concordo com a afirmação de Jorge Glusberg de que é necessário retirar o espectador de seu lugar cotidiano e apresentar-lhe um corpo que transgrida ou altere sua realidade, na qual pertença “a realidade operativa”, usando de suas palavras. O necessário para reconhecer um ato de performance, a meu juízo, é a dúvida que fico como espectadora entre o real e o ficcional onde este último tem bastante importância. 2.2 33 Autoperformance Linda Montano (1942), artista de Live-art e performer feminista. 59 Pode-se afirmar que um dos traços principais do gênero performance é seu caráter autoral. Na cena teatral, o que se tem é um personagem já escrito que é trazido à vida por um ator; a natureza fictícia do personagem e de suas ações é evidente. Ana Bernstein(2001), no artigo “A performance solo e o sujeito autobiográfico” para a revista Sala Preta, descreve três trabalhos solos, ressaltando um aspecto importante para essa pesquisa: a influência da teoria e das práticas feministas como inestimáveis na arte da performance nos Estados Unidos, nas últimas décadas, e que vem intervindo politicamente de maneira significativa e constante na esfera pública. Nos trabalhos das três artistas norteamericanas Karen Finley, Peggy Shaw (que também será analisada em um capítulo à parte) e Penny Árcade, todas estudadas por Bernstein, está presente o forte caráter público. Seus trabalhos engajam sujeitos divididos, cujas identidades são marcadas por raça, classe, gênero e sexualidade. O que me chamou atenção aqui foi o ponto de vista pelo qual esta pesquisadora analisou a performance solo; evidenciando que tanto a autobiografia quanto a performance são processos abertos. A performance solo, autobiográfica, tem, de fato, desempenhado uma função crítica na criação de um espaço discursivo para minorias que não se enquadram na normatividade do discurso ideológico dominante(Bernstein, 2001, p. 92). O solo se tornou um meio privilegiado para investigações que se referem a aspectos autobiográficos, abrindo novas possibilidades de representação do sujeito, como pode ser percebido na declaração de Penny Arcade: “Eu não conto tudo como alguém faria numa confissão, eu conto apenas aquilo que me ancora ao mundo, aquilo que me torna semelhante aos outros, não aquilo que me faz diferente” (p.92). A maneira como Finley emprega o material autobiográfico não se enquadra na definição de autobiografia e do pacto autobiográfico, de Philippe Lejeune. De acordo com o teórico francês, autobiografia é uma “prosa narrativa retrospectiva, escrita por uma pessoa real a respeito de sua própria existência, onde o foco se encontra na sua vida individual, na história particular de sua personalidade” (Lejeune apud Bernstein, 2001, p.93). 60 O intenso interesse pela autobiografia, demonstrado pela performance, particularmente em trabalhos solos, pode parecer, a priori, apenas um sintoma da profunda preocupação com o sujeito que marca a modernidade. A autobiografia é geralmente entendida como algo privado, como um olhar que se volta para o interior de si mesmo. A performance solo, autobiográfica, no entanto, como pretendo demonstrar nesta apresentação, possui um forte caráter público, contrariamente à idéia de uma armadilha em auto-absorção, que é definida como “narcisismo” e que leva à inação do corpo social. Pelo contrário, na análise de Ana Bernstein, o corpo torna-se o ponto de mediação entre uma série de relações binárias de oposição, como o interior e o exterior, sujeito e mundo, público e privado, subjetividade e objetividade. O corpo é o lugar em que essas contradições ocorrem (p.92). Segundo a autora, a forte ligação que o meio teatral teve na sua origem com as artes plásticas possibilitou, ao longo das últimas décadas, uma performance mais orientada pela narrativa e marcada pela função crítica na criação de um espaço discursivo para minorias influenciadas. Segundo ela, pela teoria e práticas feministas. Para muitos especialistas, a autoperformance é uma apresentação concebida e performada pela mesma pessoa e que também se refere a aspectos autobiográficos ou é o trabalho de um artista que vivencia seu próprio trabalho, na forma de uma performance. A noção de ser sujeito do seu tempo, do seu momento, é o que norteia a performance solo, retirando-a do caráter íntimo e colocando-a no espaço público. A narrativa de uma vida exemplar permite aos leitores/receptores reconhecer o particular no universal, a humanidade no sujeito individual. Por trás desta idéia está a suposição de que o sujeito em questão é um sujeito universal. As vidas de Karen Finley, Peggy Shaw e Penny Arcade, dificilmente, poderiam ser descritas como exemplares, ou como modelos que podem servir de espelho universal para a humanidade. Mulheres, lésbicas e artistas não correspondem exatamente à definição do sujeito universal que, de maneira geral, é construída como um sujeito masculino, branco e europeu (Lejeune apud Bernestein, 2001, p.102). 61 Na descrição de American Chesnut, de Karen Finley, a atriz entra vestida de noiva, a mais idealizada imagem feminina para sempre cristalizada. A longa cauda do vestido, porém, está embrulhada no seu braço, que a carrega como se fosse uma sacola de compras, enquanto ela limpa o espaço com um aspirador de pó durante sua entrada. De pé, bem próxima à primeira fileira de espectadores, ela desliga o aspirador e dá início a uma digressão sobre o perfil psicológico sadomasoquista de Winnie the Pooh e sua turma, estabelecendo uma empatia imediata – e uma certa intimidade- com o público. Servindo como contraponto para sua fala, o aspirador de pó é ligado e desligado, criando pausas, marcando o início de uma nova passagem ou a retomada de um pensamento. A fragmentação deste momento ilustra o espírito do trabalho. The American Chestnut, o penúltimo trabalho de Karen Finley, é uma colagem de vários monólogos que se juntam para formar um todo orgânico. O caráter de assemblage do trabalho não nos deixa esquecer que Finley é também uma artista plástica que trabalha com instalações. Nesse sentido, vídeo e projeção de slides, possuem tanta importância para a composição do trabalho quanto o corpo nu ou seminu da performer; são todos elementos da mesma linguagem. O trabalho de Finley é ao mesmo tempo extremamente pessoal e profundamente político. Grande parte de seus textos segue uma linha confessional e é escrita, portanto, freqüentemente na primeira pessoa do singular. Frases do tipo: “Deixa eu lhe contar a respeito...”, “Eu sonhei...”, “Eu me lembro...” ou “Eu fiz...” são tão recorrentes em seu trabalho que se tornaram uma de suas características mais distintivas (p.93). Já no trabalho de Peggy Shaw, Menopausal Gentleman, que se baseia no que parece ser, a princípio, uma contradição em termos, enunciada pelo provocativo título; enquanto o primeiro termo designa um fenômeno biológico geralmente relacionado no imaginário do público ao sexo feminino, o último, se refere a uma qualidade associada exclusivamente à masculinidade. O solo descreve um comportamento (especialmente em relação às mulheres) que está de acordo com um conjunto de regras representativo dos altos preceitos da sociedade. Nesta performance, porém, gentleman está associado a um tipo diferente de masculinidade, a do sapatão, geralmente considerado ultrajante pelo normativo heterossexual. 62 Peggy está vestida com uma calça de homem com suspensórios, mas sem camisa, deixando à mostra seus seios nus. Sua mão direita está enfiada por dentro da calça surgindo através do zíper aberto, parando em frente ao seu sexo, enquanto a mão esquerda descansa em sua coxa, por sobre a calça. Essa imagem se abre a diferentes interpretações: a mais óbvia é a imagem da mulher fálica, na qual a mão emerge da abertura do zíper como um pênis. No clássico discurso psicanalítico, é a imagem da lésbica que abertamente se apropriou do pênis sem se preocupar em disfarçar o fato por meio de uma máscara de feminilidade. Ao mesmo tempo, sugere um gesto auto-erótico, o ato de tocar em si mesma por prazer, afirmando, portanto, o desejo sexual. É possível lê-la ainda como cobrindo o seu sexo: um sexo que não pode ser visto, sugerindo, simultaneamente, a invisibilidade da mulher (que não é senão espelho do homem) e a invisibilidade da sexualidade lésbica, fundida aqui sob o signo de “sexo”. Uma fusão produzida pelos vários significados da palavra sexo, usada para denotar tanto o sexo biológico quanto identidades de gênero e práticas sexuais. Em Menopausal gentleman, Peggy Shaw descreve uma tal transformação, nos seguintes termos, como abertura de sua performance: Eu estava andando e me encontrei abraçada a uma árvore no centro da cidade. A árvore se chocou contra meu peito e fez com que eu perdesse o fôlego. Antes de cair, antes que eu diminuísse o passo por meio da pancada com a árvore, eu aparentava ser perfeitamente normal. Há maneiras melhores de se diminuir o passo (Shaw apud Bernstein, 2001, p.95). A colisão com a árvore é uma metáfora, escolhida por Shaw, para descrever o impacto e o caráter inesperado de uma experiência de vida transformadora e de uma literal transformação interna: menopausa. Peggy Shaw examina o que significa ser sapatão – ou, como diz o título, um gentleman - e passar pelo inevitável processo menopausal; o que significa vivenciar uma violenta mudança física. Perturbadora e problemática para a maioria das mulheres a menopausa pode ser ainda mais estressante para o sapatão que, a despeito do sexo biológico, marca seu gênero sexual como masculino. “É difícil ser um gentleman em menopausa”, Peggy confessa ao público. 63 As estórias da vida artística de Penny Árcade, de acordo com o texto de Ana Berstein, são entrelaçadas com a transformação social e política da cena cultural de Nova York, resultante de uma política conservadora de direita. Penny faz a crônica do fim de Nova York como capital cultural e o surgimento da capital do shopping mall. Bad Reputation é o relato de Penny, de como ela foi rotulada como bad girl aos treze anos e acabou fugindo de casa, indo parar no reformatório aos quatorze anos. Ela narra como foi estuprada por um velho “amigo” aos dezesseis e sua mudança para Nova York aos dezessete, onde foi adotada pelas drag queens do East Village. A estrutura do trabalho, porém, relaciona constantemente suas anedotas pessoais com o quadro social mais amplo. Ela fala de todas as garotas rotuladas de bad girl, que eventualmente acabaram viciadas em drogas ou prostituídas, e de todas as mulheres abusadas sexualmente. Ela anuncia que sua performance é sobre a nobreza do fracasso e seu lento declínio. Porque “é importante fracassar em publico”. Ela se declara uma perdedora, diz que vem de uma longa linha de perdedores: “Na América, dizem a todo mundo que eles vão vencer, mas todos não podem vencer! Algumas pessoas têm que perder!” (Apud Bernstein, 2001, p.101). Outras artistas, também dos Estados Unidos, dentro do panorama de trabalho solo a que me reporto, são as artistas Carolee Schnnemann, pintora, (já citada anteriormente), e Linda Montano, reconhecida artista da performance feminista contemporânea. Trabalha ativamente com Live-art, desde de 1960, investigando a arte e a vida nas cerimônias. Alguns de seus trabalhos duram mais de 7 anos. Interessada na forma do ritual artístico, encontrado nas interações individuais ou colaborações em worshops, possibilita que se modifique e altere a vida pessoal, criando oportunidades para que se crie um estado de energia espiritual, de silêncio, desaparecendo o limite entre arte e vida. A performer californiana, Linda Montano, tem por característica usar fatos biográficos, de sua vida recente e/ou passada em seus trabalhos. “Mitchell’s Death” é de 1977 e fala da morte de seu ex-marido, em conseqüência da ferida provocada pela bala da arma com a qual tentara se 64 matar. A obra consiste na leitura de um texto logo após a morte dele. Ela lê sem pausa, sem inflexionar, e em ritmo que remete ao de uma canção, com sua voz também gravada em uma fita que, com o atraso, cria uma sensação de eco. O trabalho consiste em uma descrição do dia em que ela viu o corpo do marido em uma sala de necrotério. O impacto deve-se ao fato de o público reconhecer que aquela história é real e não ficção, se não fora real não causaria o mesmo interesse. Portanto, a performance ganha força por não se parecer com uma performance teatral e o público saber do envolvimento da artista no fato descrito. Ressalto essa performance de Montano por outro aspecto, que também caracteriza o trabalho solo: a arte confessional ou testemunhal que parece querer expurgar culpas e provocar identificações coletivas. Rebecca Schneider (1997) observou um movimento forte em torno da questão do corpo feminino quando analisou trabalhos reunindo artistas plásticas e atrizes do cinema pornográfico (o post-porn modernist movement). Essas artistas tinham em comum o desejo de questionar uma visão totalmente falocêntrica com que os críticos, os movimentos artísticos e, conseqüentemente o público, analisavam seus trabalhos. Em face dessa análise, resolveram explicitar, elas mesmas, seu próprio corpo, sem interlocutores, o emblema do feminismo das décadas 60 e 70: “meu corpo é meu templo!”, é utilizado por Verônica Vera, atriz pornô, em 1989. Com esse lema, a ex-estrela do cinema pornográfico, na época uma recém “artista de performance” divulga seu trabalho “Marty and Verônica”, fotografado por Robert Mapplethorpe, em 1982. Desta forma, se vê a discussão entre conteúdo e forma ganhando espaço. Since the early 1960s women have been involved in performance art and have worked to “liberate” the body marked female from the confines of patriarchal delimitation. In the later 1980s and early 1990s, the clash of the rubrics “porn” and “art” manipulated by artists such as Vera, Anne Sprinkle [...] would complicate the already embattled debates about the terms of that liberation.34 Usando da estratégia da arte, a foto é feita por um famoso fotógrafo e não há cena de sexo explícito contida, Verônica, uma ex-atriz pornográfica rompe, de certa maneira, a fronteira entre arte e pornografia. Vemos aqui uma junção da mulher política, pública e puta que surge no 34 Trad. livre: Desde o início dos anos 60, mulheres estavam envolvidas com a arte de performance, para “liberar” o corpo da marca do feminino da sociedade patriarcal. Em fins de 1980, início de 90, o encontro das marcas “pornô” e “arte”, promovido por artistas como Vera, Anne Sprinkle [...], vinha a complicar ainda mais o embate já estabelecido sobre os termos dessa liberação.(p.12). 65 encontro entre a tomada de consciência e arte, já explicitado quando ela mesma se apresenta como artista de performance e desenvolve, mais tarde, trabalhos com Anne Sprinkle e Linda Montano. Surge uma arte pornográfica apenas reconhecida porque a abertura do gênero performance permitiu. Há uma interessante argumentação trazida por Schineider sobre arte e pornografia, que vale a pena apontar já que trouxemos ex-atrizes do cinema pornográfico para nossa discussão sobre solo e performance. A distinção entre “arte” e “pornografia” na raiz greco-romana é nenhuma. A origem latina de Prostituição (prostituere) é colocar-se à frente, expor-se. Mesmo após o triunfo do cristianismo, e de sua moralidade na Idade Média, expressar explicitamente a sexualidade era considerada arte. A palavra pornografia, que aparece pela primeira vez no dicionário Oxford, em 1857, se refere originalmente a termos de regulamentação da prostituição do século XIX, e estava associada à democratização da cultura e à forma de fiscalizar as fronteiras entre os domínios do público (masculino) e o privado (feminino). A necessidade era a de regular social, política e economicamente as distinções entre gêneros, raças e classes (Schneider, 1997, p.20). Em 1987, com a ajuda de Sprinkle e Vera, Linda Montano foi transformada de artista e ex-freira em uma Pin-up, no seu trabalho Summer Saint Camp, como parte dos seus sete anos de projetos de Living Art. Montano publicou imagens e texto sobre sua mais nova aproximação, e cruzamento, entre a fronteira da arte/ pornografia, aparecendo como rainha pornô, que se apresentou como Madre Superiora, em uma performance de 1989. E finalmente, faço as seguintes perguntas: de que maneira o público/receptor assiste à performance solo? Quando é que, para o público, se rompe o privado e torna um assunto íntimo em algo com valor público? 2.3 Mulher performer: a experiência com Peggy Shaw 66 Peggy Shaw cresceu na década de 50, de família pobre, numerosa, protestante, na conservadora Belmont, no Estado de Massachusetts, EUA. Aos 31 anos era uma artista em Nova York, além de assistente-social e mãe. Foi então que conheceu o grupo de performance de rua os Hot Peaches (grupo de drag queens), juntou-se a eles e saiu em turnê pela Europa por alguns anos. A partir deste contato, Peggy aprofundou seu trabalho de performer e nunca mais parou. What a time that was to be throwing up blood and stealing food. They didn’t shoot you for being poor then. Now it’s a crime to be poor. But in Europe in the 70s, after black liberation came gay liberation and consciousness raising and going through hell together. It was such an amazing time. Europe had thousands of theater companies. We traveled and toured and did festivals.35 Quando voltou da temporada na Europa, em 1978, foi convidada a tomar parte do teatro feminista “Spiderwoman”, um grupo nova-iorquino que começou em 1976, formado por sete mulheres com diferentes identidades; negra, indígena, branca, com mais de cinqüenta, com menos de vinte-cinco, gay. Assim definiu o grupo, a atriz Muriel Miguel: We were young, we were old, we were black, we were Indian, we were gay, we were straight, fat, skinny, short. It was really sad when it broke up. My feeling was that the pressure of the white women in the group got too much for me. The pressure was: you do things this way, you don’t do things this way. 36 Em 1981, Peggy Shaw, Lois Weaver e Deborah Margolin, dissidentes do “Spiderwoman”, fundaram “Split Britches” (companhia de teatro lésbico e feminista37 ) e permanecem juntas até hoje, criando e dando workshops para estudantes em universidades nos Estados Unidos e na Inglaterra. O interesse do grupo é trabalhar em suas performances: racismo, misoginia e homofobia, sem nunca prescindir do humor. Conheci Peggy Shaw e Lois Weaver, sua parceira e companheira há pelo menos 20 anos, em 2002. Na ocasião, fui chamada por Paul Heritage, então presidente da Ong PPP (People’s 35 Trad. livre: “Era uma época de dar o sangue e roubar comida. Não se matava por ser pobre. Hoje é um crime ser pobre. Mas na Europa dos anos 70, pós movimento negro, veio o movimento gay e junto com isso a consciência e tudo explodindo junto. Foi uma época incrível. Na Europa havia milhares de companhias de teatro e nós viajávamos e nos apresentávamos nos festivais”. Disponível via: www.bombsite.com/archives/shaw/index.html. Acessado em 2005. 36 SCHNEIDER. Op. cit. Trad. Livre: “Nós éramos jovens, éramos velhas, negras, indígenas, gays, heteros, gordas, magras, baixas. Foi muito triste quando isso se rompeu. Tenho a sensação de que a pressão das brancas foi muito para mim. A pressão era a seguinte: faça coisas dessa maneira, não faça as coisas dessa maneira” (p.166). 37 Com base em Nova York e Londres, objetiva repensar a política e a semiótica da representação da mulher no palco, visando a construção de uma visibilidade lésbica no teatro. Embora seja um grupo conhecido por tratar da identidade lésbica, uma das integrantes, Deb Margolin, é heterossexual. 67 Projects Palace), para ser a tradutora e intérprete das duas atrizes em um projeto de direitos humanos, no presídio feminino Nelson Hungria, no qual vinha trabalhando desde 1997, realizando o projeto da Uni-Rio “Teatro nas prisões”. Foram duas semanas de intenso trabalho. O objetivo deste primeiro contato era incentivar as presidiárias a criar (desenhos, pinturas, textos, esquetes teatrais) a partir de suas histórias. Fornecíamos papel, lápis, tintas e Lois comandava uma oficina lúdica com muito riso e descontração, em que o essencial era dar abertura à imaginação, e o menos importante, era que as histórias fossem verossímeis, pelo contrário, os exercícios de Lois incentivavam o surreal, o ilógico. Na conclusão dessa oficina, apresentamos um pequeno cabaré, a partir das histórias levantadas e dos figurinos trazidos por Lois e Peggy. Lois apresentou uma de suas personagens de cabaré; uma cantora de música country, com sotaque do interior dos EUA, que se vestia de rosa, dos pés à cabeça, tipo sonhadora e que falava abertamente de suas namoradas. No ano seguinte, 2003, continuamos a parceria na penitenciária Talavera Bruce, em Bangu e, ao final, realizamos um grande evento; “In the house, messages from women prisoners” (na casa, mensagens de mulheres presas). Desta vez, o trabalho era mais complexo. As atrizes traziam na bagagem, as experiências com prisioneiras no Reino Unido (HMP Highpoint, YOI Bullwood Hall). O objetivo era fazer uma aproximação entre as histórias dos dois grupos. Elas traziam na mala, além dos desenhos das inglesas (que seriam presenteados às brasileiras), vídeos que documentavam o trabalho na Inglaterra. A imagem de Peggy causava espanto e curiosidade, pois como ela mesma se descreve: “Sou alta, cabelos curtos e vermelhos, tenho cinqüenta e dois anos e me pareço com Sean Penn”. 68 Não era de se estranhar, portanto, os olhares espantados de todos que, ao cruzar com ela, assumiam que se tratava de um homem, quando se certificavam que não era, espantavam-se e ficavam confusos, sem saber como tratá-la. Venho sido acusada de ser masculina, gosto de falar sobre isso de homem para homem. Ser masculina é parte do pacote da experiência teatral. Sempre fui uma espécie de drag queen. Drag é a mágica do teatro. O público fica excitado quando você aparece de outra forma... quando aparecemos de um jeito diferente do que somos. Há sempre uma mágica, algo de vulnerável. 38 Diariamente, ao passar pelo portão da penitenciária, o guarda comunicava ao rádio: “Está entrando três mulheres e um sapatão!”. Peggy sorria sem entender, e eu, envergonhada, (acreditando que se tratava de uma ofensa), traduzia o que ele acabara de dizer, mas ela continuava a sorrir, estava já bastante acostumada com a estranheza que causava. Afinal de contas, como é descrito na performance “Menopausal gentleman”, Peggy se veste como um homem e marca seu gênero como masculino, apesar de preferir ser reconhecida como uma mulher, diferente, mas uma mulher. Eu estava apenas começando a conhecer aquela importante figura do teatro queer (gay e lésbico), nova-iorquino, que iria provocar, em pouquíssimo tempo, bastante mudança de comportamento naquele presídio. O que era explorado nessas oficinas, sutilmente, era o contraste das duas artistas, uma de identidade Butch (fanchona na linguagem brasileira de prisão) e a outra Femme (mulherzinha ou, na cadeia, fitinha). Na prisão feminina, é bastante comum a presença dessas identidades femininas, butch e femme, são geralmente as mais masculinizadas que impõem moral, algumas 38 Cito através da internet http// peggyshaw. Acessado em 2005. 69 vezes são elas as líderes de rebelião, algumas vezes são apenas as que, na relação homossexual, assumem o papel de homem. Não é incomum mulheres heterossexuais iniciarem romances neste ambiente e mudarem suas opções sexuais ou, pelo menos, enquanto estão confinadas e sem direito a visita conjugal. A imagem de Peggy e Lois, na prisão, se apresentando como casal fiel, tanto no trabalho como na relação amorosa, obviamente movimentou a penitenciária em Bangu. Aos poucos, as mulheres também foram se revelando e, no final, tínhamos no grupo, vários casais que foram tornando públicas suas histórias. A partir deste encontro, se mostravam respaldadas, seguras com suas escolhas. O que as duas representavam (não foi algo abertamente intencional, ocorreu) franqueou uma abertura de comportamento na prisão. Houve muita transformação. Se por um lado, muitas mulheres se sentiram confiantes e encorajadas a assumir uma nova identidade, por outro, algumas animosidades também tornaram-se mais evidentes (algo percebido apenas no dia da avaliação, quando foram expostas algumas rixas antes não percebidas): “I love teaching, and I’m trying to teach self-scripting and performance... The hardest thing to teach people is to trust instinct rather than what anybody tells you is a plot” 39 . A apresentação extra-muro Realizamos duas apresentações; uma na própria penitenciária, no dia da visita dos parentes, e outra além muros, na casa do Teatro do Oprimido, na Lapa. Na apresentação interna, apresentei-me junto com Peggy para traduzi-la simultaneamente. Ela representou um pequeno número sobre a questão da identidade butch. (mulheres com características masculinas). Ela falava em inglês e eu repetia com a mesma entonação –e gesticulação corporal- em português. Para a apresentação na Lapa, organizamos também uma exposição. Armamos um mural do lado de fora da casa com mensagens de mulheres presas, no Brasil e no Reino Unido. 39 Trad livre: “Amo ensinar, estou tentando ensinar a construção de auto roteiro e auto performance, o que é mais difícil ensinar às pessoas é a confiarem em seus instintos, mais do que o que o outro diz sobre o que é um roteiro.” Em http://www.bombsite.com/archive/shaw/shaw1.html. Entrevista concedida a Craig Lucas. 70 Chamamos de “o dia internacional da roupa suja e lavada”, um dia para usar a arte de pendurar roupa e enviar mensagens sobre mulheres, mulheres aprisionadas e sobre direitos humanos. Entregamos um roteiro (elaborado por Peggy e Lois, baseado na forma como trabalham suas performances) a todos os convidados para construirmos a criação do mural. Nos convites, vinha impressa a seguinte instrução: Modo de fazer: 1. Levar uma peça de roupa, um lençol, uma toalha de mesa ou um pedaço de papel. 2. Gravar com mensagens de carência, estatísticas de abuso, documentação sobre sucessos, histórias de esperança e fantasias sobre o futuro. 3. Pendurar a roupa lavada no varal 4. Pendurar o varal em um lugar público 5. Tirar fotos e mandar para a página feminina do seu jornal local e oficiais do governo As mensagens eram escritas em pequenos papéis recortados em forma de peças de roupas íntimas e pregadas no mural do lado de fora da casa. Também preparamos uma mesa de discussão entre prisioneiras, artistas e ativistas. Participaram desta discussão Bárbara Musumeci Soares e Julita Lemgruber40 , além do diretor da penitenciária Talavera Bruce, Marcos Pinheiro da Silva. Durante todo o tempo uma instalação com os vídeos dos workshops nos dois presídios (Talavera Bruce, Brasil, High Point, Inglaterra) ocorria simultaneamente pelos espaços da casa. Como a idéia era fazer um evento de apenas uma noite, os trâmites burocráticos, que foram muitos, acabaram por nos atrapalhar, o juiz não permitiu a saída das presas para participar do evento, foi uma ausência muito sentida. Dias depois, a fim de fazermos uma avaliação conjunta, fomos até o presídio conversar com elas. Saí da reunião de avaliação com a sensação de deixar na prisão uma chama ardendo. Além das farpas lançadas entre o próprio grupo, algumas também eram dirigidas à instituição prisional brasileira, faziam isso tendo em mente o vídeo que assistiram das presas no Reino Unido e pelo que julgaram ser a as condições dos presídios de lá. O trabalho com as presas 40 Bárbara Soares é mestra em Antropologia, doutora em Sociologia, subsecretária de Segurança da Mulher no Estado do R.J. no gov. Benedita da Silva. Julita Lemgruber é socióloga, coordenadora do Centro Estudos de Segurança e Cidadania, Univ. Cândido Mendes (CESeC). De 1991 a 1994 foi diretora geral do DESIPE (Departamento do Sistema Penitenciário). 71 continuou, mas com o trabalho voluntário de alunos estadunidenses, já que não havia mais a verba da Ong inglesa para continuar. Ainda recebi por uns meses cartas e presentes de algumas das participantes, depois de um tempo o contato foi desaparecendo. Depois desse trabalho, Lois voltou para as suas aulas na Universidade de Londres (Queen Mary) e Peggy para Nova York para a criação de suas performances. Nunca mais tivemos contato, fora eventuais mensagens eletrônicas, trocadas com Peggy Shaw. Guardo na lembrança uma temporada inesquecível, recheada de cumplicidade, tanto no ambiente de trabalho como fora dele. Um dos assuntos que discutia com Peggy e que ficou sem resposta foi sobre quando eu defendia as marcas de gênero, explicitadas nos substantivos e nomes próprios da língua portuguesa, ela discordava e dizia que tais marcas não cabiam mais no mundo de hoje e que deveríamos superar esse pensamento binário homem-mulher e pensarmos em outras novas identidades. Judith Butler faz referência ao que algumas feministas pensam sobre o poder da linguagem, já que grande parte da teoria e da literatura feministas supõe, todavia, a existência de um “fazedor” por trás da obra. Para Luce Irigaray, a possibilidade de outra linguagem ou economia significante é a única chance de fugir da “marca” do gênero, que, para o feminino, nada mais é do que a obliteração misógina do sexo feminino. A teoria radical de Monique Wittig41 ataca claramente a idéia de um poder da linguagem de subordinar e excluir as mulheres. Para Wittig, a linguagem é um instrumento ou utensílio que absolutamente não é misógino em suas estruturas, mas somente em suas aplicações. Inspirando-se claramente na crítica de Beauvoir, em O segundo sexo, Wittig afirma que “não há escrita feminina”. A linguagem é um instrumento ou utensílio que, absolutamente, não é misógino em suas estruturas, mas somente em suas aplicações (Wittig apud Butler, 2003, p. 49, 50). Já Irigaray critica precisamente o tipo de posição humanista, aqui característico de Wittig, que afirma a neutralidade política e de gênero da linguagem. No final do capítulo “Sujeitos do 41 Feminista francesa. Colaborou com Simone de Beauvoir e Christine Delphy no jornal Questions Feminists. Professora de francês e italiano, na Universidade do Arizona, EUA. 72 sexo/gênero/desejo”, no livro já citado de Butler (2003, p.48), ela nos faz esta afirmação: “Não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero; essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias ‘expressões’ tidas como seus resultados”. 3 42 PROCEDIMENTO CRIATIVO42 fotos de Henrique Pereira. 73 Quem realmente exerce poder sobre nosso corpo? Aqui o orçamento de uma operação de silicone. O é natural é inexorável? A que território pertencemos? As fronteiras são marcas físicas ou imaginárias nos continentes? Ruptura com a filiação: a imagem da mãe e o nome do pai 74 Este corpo é feminino ou masculino? A identidade de quem o carrega é feminina, porém sua forma e como se apresenta aqui é masculina. Seu nome é o único que prova tratar-se de um ser feminino, mas a foto não tem legenda e nem tampouco fala, comunica-se pela imagem e a imagem é tida como masculina para nossos padrões brasileiros. A forma começa a mudar, e o corpo, por baixo da suposta identidade masculina, aparece. Os seios aparecem; é o suficiente? Talvez, ainda não. Vivemos a era do body modification e o corpo, antes modificável por tatuagens e piercing agora o é por cirurgias. Um homem pode virar uma mulher, e uma mulher, um homem. 75 É então que se afirma: ... trata-se de uma mulher. Feminino não é a forma, é a marca desta forma, são suas identidades, são suas identificações. As fotos acima foram criadas para serem “resíduos” do trabalho, faziam parte de uma exposição montada no hall do teatro Cacilda Becker, mas fui, aos poucos, colocando-as na cena, manipulando-as e, por fim, o que era um resíduo tornou-se a cena inteira. Neste capítulo, procuro transcrever a transformação do trabalho (de espetáculo para performance) apontando como se deu a eliminação de luz e as marcas em função dela; a eliminação de elementos cenográficos e em como o corpo assumiu o figurino como objeto de manipulação e transformação. Com isto, o manifesto que era representado pela fotografia, passou a ser representado pelo corpo ao vivo. O tempo, é representado por um timer e marca um limite. Em primeiro lugar, este instrumento cumpre a função do diretor – talvez de um diretor lacaniano - daquele que diz: “Tempo! Fiquemos por aqui, isso já está suficiente”, para que eu não me perca na imensa liberdade de um ensaio solitário. Dividir o “tempo” é também a principal marca do modo de produção capitalista, “time is money”, jargão tão presente neste nosso moderno mundo globalizado, o timer , tornouse um forte emblema em meu trabalho, é o tempo o elemento que rompe com os momentos de espetáculo e introduz o caráter de performance no espetáculo. 76 3. 1 Uma experiência em Belo Horizonte Durante o encontro do GT “Política de Gênero em performance Transnacional/local” no 5º encontro do Instituto Hemisférico, ocorrido em Belo Horizonte, em março de 2005, ao qual compareci pelo programa de Teatro da Uni-Rio, escrevi esta parte do trabalho. Minha primeira intenção era articular as questões abordadas pelo nosso grupo de trabalho, formado por quatro professoras de universidades norte-americanas, com identidades culturais bastante heterogêneas. Leslie Damasceno, estadunidense da Universidade de Duke, especialista em Teatro Brasileiro Contemporâneo e Teatro e Filme Latino-Americano; Francine Aness, britânica, da Universidade de Darmouth; Laura G. Gutiérrez, chicana, da Universidade de Iowa; Berverly R. Singer, indígena, professora da Universidade do Novo México; um artista-plástico indígena-canadense, Kent Monkman; outro estadunidense, estudante de performance da Universidade de Nova York, Joseph Mc Carthy; e eu, a única brasileira do grupo. O tema deste V Encontro era “Performances e Raízes, práticas indígenas contemporâneas e mobilizações comunitárias”. Raiz era tema que me mobilizava bastante durante os dez dias que durou o encontro e se tornara o eixo central de minhas inquietações. Por isso, se fez necessário apontar as origens dos meus colegas de grupo. No final de uma semana, cada GT apresentava a todos os outros participantes do congresso as conclusões das discussões. Nosso grupo resolveu fazer uma performance coletiva. Formulamos vinte e duas questões relacionadas à nossa discussão. Transcrevo aqui as mais significativas: 1. O que tem a ver gênero com a humanidade? 2. Quando gênero é invisível? 3. Quais as fissuras ou limites de gênero? 4. Como você apresenta a feminilidade e a masculinidade? Na entrada da sala pedíamos ao público que tirasse suas marcas de gênero43 e as deixassem na porta, enquanto eu apresentava a performance El Segundo Sexo e 43 Uma mulher deixou um pedaço de sua unha, e um homem, um fio do pêlo do peito. 77 concomitantemente, o estudante Joseph Mc Carthy44 projetava a travesti Bárbara Her na parede; os outros participantes entregavam às pessoas uma cesta, contendo todas as vinte e duas perguntas e pediam que respondessem, dando-lhes um tempo a ser cronometrado para isso (medido por um timer). A performance ao vivo, tendo atrás a imagem da travesti Bárbara Her, com volumosos seios de silicone, projetada na parede, chamava a atenção dos que entravam na sala e, por este motivo, a maioria preferia escrever suas respostas a interromper a performer. Tudo durou exatos 30 minutos, tempo suficiente para que, pelo menos, nosso grupo pudesse expor nossas principais inquietações. A seguir, procurarei fazer uma articulação entre a experiência vivida nesse encontro (levando em conta o tema central) e o assunto principal deste trabalho, cujo título já indica a mistura das duas questões – os conceitos de transnacionalidade e de gênero. Para discutir esses conceitos, valho-me das teses levantadas no livro Da diáspora, identidades e mediações culturais, de Stuart Hall, 2003. A hibridização e a “impureza” cultural Arrisco dizer aqui que somos americanos, e, pela primeira vez emprego este termo acreditando realmente no sentindo que tem, pois durante este encontro pude perceber que a maioria aqui presente é de raiz latina e/ou nativa-americana ou, tem, pelo menos, metade de sua origem na América Latina, ou seja, assim como nós, os norte-americanos também têm uma mesma ascendência miscigenada. Disto isso, me encontro então diante de duas dificuldades: a de definir uma unidade nacional e, conseqüentemente, definir a local. Hall (2003) afirma: Nossos povos têm suas raízes nos – ou, mais precisamente, podem traçar suas rotas, a partir dos – quatro cantos do globo, desde a Europa, África, Ásia; foram forçados a se juntar no quarto canto, na 44 Graduou-se em espanhol e teatro, Univ. Ann Arbor, Michigan. Hoje dedica sua pesquisa à construção e performance da identidade, particularmente, a relacionada à performance de gênero. 78 “cena” primária do Novo Mundo. Suas “rotas” são tudo, menos “puras”. A grande maioria deles é de descendência “africana” – mas, como teria dito Shakespeare45 , “norte pelo noroeste”i . Sabemos que o termo “África” é, em todo caso, uma construção moderna, que se refere a uma variedade de povos, tribos, culturas e línguas cujo principal ponto de origem comum situava-se no tráfico de escravos. No Caribe, os indianos e chineses se juntaram mais tarde à “África”: o trabalho semi-escravo (indenture) entra junto com a escravidão. A distinção de nossa cultura é manifestamente o resultado do maior entrelaçamento e fusão, na fornalha da sociedade colonial, de diferentes elementos culturais africanos, asiáticos e europeus (p.31). Para ele, as culturas têm seus locais, mas já não é mais tão fácil apontar de onde elas se originaram. A partir daqui gostaria de, baseando-me nas afirmações acima de Hall, discutir o título desta primeira parte, a hibridização ou “impureza” cultural que vai de encontro à idéia de uma política identitária de reivindicação. Joseph McCarthy (meu companheiro de grupo), ao observar seu objeto de estudo, a drag queen Bárbara Her, constata: “ela apresenta sua des-identificação com o Bronx, onde cresceu e para onde deseja nunca mais voltar.” As duas drag-queens de seu estudo têm em comum, além da comum origem porto-riquenha, a vontade de realizar duas mudanças físicas; em seus corpos (prótese de silicone por todo o corpo) e física, de deslocamento na cidade (do bairro pobre do Bronx para o rico Chelsea), tudo para que possam esquecer o que as identifique como pobres, pretas e porto-riquenhas. Com esta mesma idéia de romper com sua identificação, temos a obra de Kent Monkman, artista-plástico e cineasta, um nativo-canadense, de mãe européia e pai cree (tribo canadense), é membro da Fisher River Band no norte da Manitoba. Sua obra (tanto suas pinturas como seus filmes) é uma rica e interessante provocação, a de interferir em pinturas do século XIX, paisagens românticas dos pintores norte-americanos Albert Bierstadt, Thomas Cole, George Catlin e Paul Kane. Obras em que se pode reconhecer a idéia de “América imaculada” do colonizador. Monk interfere nas pinturas com sua personagem Miss Share Eagle Testickle (lê-se “miss egotistical”), seu alter-ego, uma imagem meio-indígena, um pouco andrógina, inspirada na Cher, cantora estereótipo hollywoodiano. Seu personagem se aproxima da imagem de uma Drag-Queen, está sempre calçando imensos saltos altos, constantemente representada em cenas 45 Em Hamlet, Ato II, cena 2, o príncipe dá as boas vindas a Rosencrantz e Guildenstern. Este afirma: “meu tio-pai e tia-mãe estão enganados [...] Só sou louco norte-noroeste: quando o vento vem do sul, distingo bem um falcão de um serrote”. Ou seja, sua loucura é circunstancial. 79 de sexo com o homem branco. Com isso, Monkman, ao mesmo tempo que macula a origem da pintura do século XIX, macula a sua própria, representando um indígena longe de uma imagem ostensivamente viril, os macho-man que povoam nosso imaginário coletivo, um imaginário já traduzido e difundido ao restante dos continentes pelos estúdios de Hollywood. Para mim, este artista foi capaz de ir um pouco mais além da questão identidade nacional e, ao invés de uma arte reivindicatória por suas primitivas origens, fugiu desta homogeneidade incluindo Cher forçosamente como representante de uma cultura que não aceitaria outro homem, que não o macho-man. O artista se aproveita da herança de seus colonizadores, a pintura clássica, bucólica, e, não a destrói, marca sua interferência. Liv Sovik, na apresentação do livro de Hall, afirma que o autor é antropófago, no sentido oswaldiano do termo: Os Estudos Culturais teriam origem, inclusive, brasileira. O recuo de Hall é indicação de uma atitude peculiar diante do trabalho intelectual, pela qual os antepassados e contemporâneos teóricos são, a um só tempo, aliados, interlocutores, mestres e adversários, de cuja força Hall se apropria, sem se preocupar em denunciar pontos fracos ou demonstrar devoção filial às suas idéias. No melhor sentido brasileiro, Hall é antropófago (p.9). Por essas razões, o discurso que permeia sua obra parece estar na contramão da idéia da pureza das etnias, parece-me apontar para a questão: já que a história colonial de nossos países não pode ser modificada, por que não tiramos proveito realmente da nossa miscigenação, em nossos estudos culturais e acadêmicos? Em seu filme Blood River, Monkman dá uma idéia clara da sua proposta antropofágica, ao retratar um acontecimento recente na história de seu país, quando, na década de 60, crianças indígenas eram adotadas por famílias ricas e brancas. A personagem principal é uma adolescente que procura sua mãe biológica, mas quando se depara com seus parentes indígenas entra em conflito e decide continuar com sua família adotiva. Concluo, dizendo que para compreender o tema Gênero, é necessário, antes de mais nada, confrontarmos nossos conceitos de identidade e origem para que possamos pensar Gênero dentro da enorme diversidade que este substantivo implica e que, definitivamente, não está apenas 80 circunscrito na questão das minorias sociais. Hall, por exemplo, constata que o movimento feminista da década de 60, que começou como um movimento dirigido à contestação da posição social das mulheres, expandiu-se para incluir a formação das identidades sexuais e de gênero. 3.2 Experiência em congresso feminista Também pelo programa de mestrado, compareci ao 10º Encontro Feminista Latinoamericano e Caribenho, realizado em Serra Negra, São Paulo, de 9 a 12 de outubro de 2005. Além de querer conhecer de perto as discussões feministas mais atuais, e de meu país, tinha o objetivo também de apresentar ao vivo, ou em vídeo, a performance À Simone da bela visão. Ao vivo, não foi possível, devido às condições físicas e estruturais. Não era um congresso preparado para apresentações culturais, não havia espaços para isso, além de ser um encontro com mais de 1.200 participantes, todas concentradas em painéis e plenárias. Consegui, no entanto, uma sala para apresentar o vídeo e eu mesma espalhei cartazes escritos à mão por todo o hotel. Foi uma experiência inesquecível, pois, ao contrário do que eu imaginava, pouquíssimas mulheres gostaram do que viram, a maioria saía da sala na cena em que dou gargalhadas como uma louca, ali nem estava dançando, nem interpretando um texto, o que fazia, então? Poucas vieram falar comigo, mas as poucas que o fizeram pareciam muito envolvidas com o que haviam visto (anexo o texto de uma delas, Helen Dixon, escritora britânica que vive na Nicarágua). Houve uma segunda apresentação do vídeo, desta vez sem a minha presença. Soube depois que quem estava na sala perguntava: “O que é isso??”; “Não estou entendendo, sobre o que ela está falando?? ”. Para acalmar as presentes, alguém apanhou a capa do vídeo e leu em voz alta o que eu havia escrito na contra-capa. Achei muito interessantes essas questões e ainda bem que não estava lá para respondê-las. Não acredito que a recepção seria diferente se a 81 performance fosse apresentada ao vivo, acho que as perguntas continuariam sendo iguais, mesmo que eu ouvisse palmas ao final da apresentação. Afinal, estávamos todas ali há quase uma semana, desenvolvendo mais nossa intelectualidade do que nossa sensibilidade. Além do mais, eu trazia elementos de uma encenação moderna, fora do padrão de reconhecimento do que é arte para a maioria, isto é, tempos longos durante a cena, falta de cenografia e figurino, despojamento da cena, falta de luz, de sonoplastia – definitivamente, uma encenação desviada de um padrão de fácil reconhecimento. Todas ali estavam interessadas em discutir políticas que as auxiliassem em questões identitárias, no máximo com abertura para discutir o lesbianismo, mas não algo tão fora da realidade imediata como aquele vídeo. O importante desta experiência foi perceber que, às vezes, o imaginado nem sempre tem o alcance pretendido, isto é, a percepção daquilo que está sendo observado vai ser sempre determinado pelo indivíduo que a interpreta, de uma maneira própria, de acordo com suas próprias referências. A motivação era apresentar-me para uma platéia especial, formada só por mulheres reunidas por propósitos comuns, mas as minhas referências não eram as mesmas e isso dificultava o diálogo. Na abertura, as organizadoras anunciaram que na última plenária, votaríamos a entrada de homens feministas e transgêneros, pois vinham recebendo muitas solicitações. Era uma questão para refletir e aproveitei a ocasião para ver o que sentia em relação a isso. Discutia com outras participantes, qual seria a vantagem de pensar feminismo em um mundo à parte como aquele em que estávamos, sem homens. No último dia, plenária convocada, a surpresa foi geral. Quase todas levantaram a mão para rejeitar a entrada de homens no congresso, mas sobre transgêneros houve um debate caloroso. Sobre a presença masculina, eu havia chegado a uma conclusão: se ainda seria necessário ou não, debatermos o feminismo isoladamente não sei, porque acredito que o feminismo mudou a história e não apenas as mulheres ocidentais; não obstante, ainda creio ser necessário isolar certos domínios patriarcais de comportamento para que a discussão seja mais profunda e livre, 82 entre as mulheres. Um encontro dessa natureza, fechado, é a única visibilidade para as mulheres lésbicas, para as mulheres sindicalistas, que competem no grito com seus companheiros machistas. Para as mulheres indígenas e operárias, todas que sofrem no dia-a-dia repúdio e preconceito, e até mesmo, para as que não estão identificadas com nenhum desses grupos e convivem com homens “feministas”, é o único lugar em que podem ousar quebrar seu padrão de comportamento social, ditado, normalmente, por uma idéia de cultura patriarcal, branca e heterossexual, na qual gênero significa ser feminino ou masculino. O debate em torno dos transgêneros foi polêmica. Para muitas, homens transformados em mulheres não são mulheres, nem nunca serão, portanto, jamais poderão entender o que passa uma mulher. Afirmação contestada pelo grupo de defensoras, lembrando que quem passa pela operação recebe um laudo médico, comprovando a mudança de sexo, logo, deixa de ser homem. “Não olho embaixo da saia; o importante é quem se define como mulher feminista”, comentário de uma participante diante da plenária. “E o que fazemos com mulheres que viraram homens?”, outra comentou. Afinal, manteve-se apenas a decisão de abrir o próximo encontro, no México, em 2008, a transgêneros. Outro momento importante para mim, neste congresso, foi o encontro com a Rede Brasileira de Prostitutas, aproximação maior com a representação do Rio de Janeiro, a Davida (ONG fundada por Gabriela Silva Leite para defender direitos civis, saúde e legalização da prostituição). O grupo das prostitutas da rede estava ali para, entre outras coisas, demonstrar que feminismo e prostituição não constituem contradição (ao contrário da maioria, que vê a prostituição como uma forma de opressão do homem sobre a mulher, reproduzindo assim um discurso moralista, assunto bastante discutido pelo movimento feminista). “Sou prostituta e sou feminista” - frase dita em alto e bom som por uma importante liderança, Nanci Feijó, da Associação Pernambucana de Profissionais do Sexo (APPS). Mas essa não era a única presença. Havia as prostitutas da Pastoral da Mulher Marginalizada (PMM), que com faixas espalhadas pelo hotel, dizendo: “Prostituição: não condene. Busquemos juntas uma solução”, 83 estavam ali para manifestarem repúdio ao projeto de lei do deputado Fernando Gabeira pela formalização da profissão de prostituta. No último painel, houve o confronto dos dois grupos, as prostitutas da PMM iniciaram um discurso de autodesqualificação, de si e do ofício, que também desqualificava o movimento, e identificava apenas a Igreja, ao menos em São Paulo, como parceira das prostitutas. Logo foram confrontadas pelas mulheres da Rede, que fizeram um histórico do APPS, sua visão sobre a prostituição e manifestaram apoio ao projeto de lei de Fernando Gabeira. De todos os painéis, foi este o que mais me interessou. Identifiquei as questões levantadas com minha pesquisa: a aproximação de meu tema com a sexualidade, fantasia, liberdade e revolta. O que é essa prostituição? Prostituição é um conceito, um xingamento. A palavra puta produz muitos efeitos, que vão da excitação à ofensa. Onde isso mexe nas mulheres? Isso mexe em algo que é quase um malabarismo para uma mulher quando ela tem que sair do olhar do pai e se dirigir a outros homens. Acontece um momento de dúvida: o que eu posso oferecer ao meu amor? Se a conclusão for "eu posso me oferecer enquanto corpo, da mesma forma que as prostitutas se oferecem”, é possível acontecer a entrega. Se esse tipo de dinâmica não ocorre, a entrega sexual, e é o caso de muitas mulheres, é extremamente dolorosa, extremamente despedaçante porque não tem nada que determine por que essa entrega está acontecendo. O que chamo de fantasia de prostituição é isso: a possibilidade de dispor do seu corpo de uma forma indeterminada, incondicional, sem que haja para isso nenhum motivo. Nós mulheres, devemos às prostitutas a capacidade de fantasiar. Elas são a representação da fantasia de liberdade e entrega do corpo para todas nós, desde sempre46 . Já chegando ao fim dessa dissertação e tendo passado por temas aparentemente tão distintos (feminismo, sexualidade, prostituição), sou levada a refletir sobre o processo criativo e chego à conclusão de que ele nada mais é que dispor do seu corpo de uma forma indeterminada, incondicional, se me perguntassem se minha criação é artística ou acadêmica; diria que não saberia fazer tal distinção. Quando abro a sala de ensaio para o público, percebo que aquilo por onde ele se identifica é pela subjetividade do trabalho, agrada-lhe e interessa-lhe muito mais saber da dor individual que da dor coletiva; interessa-lhe observar que aquele corpo por si só já faz um 46 CALIGARIS, Eliana dos Reis. Entrevista a Flávia Fontes para revista virtual No Mínimo, sobre Prostituição: o eterno feminino. 2006, livro que nasceu da dissertação ( Mestrado) da psicanalista Calligaris: 46 anos, 25 de clínica. Concluído em 1992, só agora editado, lança luz sobre algo delicado: a relação das mulheres com o pai é tratada como ponto de partida para a fantasia feminina da prostituição. 84 discurso. Essa é a platéia que vai assistir a uma cena. Mas quando essa mesma cena sai deste lugar e vai para outro, com uma mesa, microfone, auditório, esse corpo prepara-se para outra performance, em que a fala (com o discurso lógico, coerente )e a voz tornam-se os elementos primordiais da apresentação. As atenções neste caso são ao contrário; o coletivo é mais importante do que o individual. 3.3 Diários de um solo Dos conteúdos “El Segundo Sexo” à “À Simone da bela visão” Ao elaborar a imagem, o artista avalia constantemente o seu fazer. Há nele uma espécie de bússola que lhe diz: “está certo”, “está errado”, “falta algo”, “é demais, “continue”, “pare aqui”. Assim ele vai fazendo e refazendo e re-avaliando contextos e componentes, sempre uns em função dos outros, até finalmente encontrar na composição um estado de totalidade completa em si mesma, onde nada falta e nada é demais, um estado de equilíbrio global. Ou seja, até encontrar uma ordenação formal que corresponda ao seu próprio senso íntimo de equilíbrio e justeza (Fayga Ostrower. A sensibilidade do intelecto). No início, a tal bússola descrita por Fayga Ostrower (1998), estava para mim como um “grilo falante” que vinha com perguntas mais relacionadas a “certo” ou “errado”, do quê e como fazer. Estava diante do caos descrito pelos matemáticos; momento não de confusão, mas sim de imprevisibilidade e indeterminação dos possíveis resultados, ou dos acontecimentos. Fayga Ostrower descreve o processo artístico como o momento de entrelaçar acasos com nossas tendências seletivas ao longo do processo criador. Da sensibilidade do indivíduo- ela afirmaresultam “sugestões” intuitivas (p.54). No resultado deste processo, estarão manifestas – traduzidas em aspectos formais- as possibilidades sensíveis e intelectuais, nossas necessidades afetivas e também nossos conflitos vivenciais (p.58). Ao longo do percurso foram escritos cinco diários (algumas páginas desses diários estão anexadas para ilustrar) nos quais, além de descrever aspectos emocionais, afetivos, eu também 85 descrevia como estava sendo o processo prático da dissertação que levaria à construção da nova linguagem cênica. Anotava ali os questionamentos de cada ensaio e o modo como eu os resolvia. Criei um pequeno método de trabalho, a saber: 1. Não repetir muito cada descoberta para não transformar os movimentos em coreografias. Ensaiar, mas evitando cristalização de seqüências. 2. Não usar gestuais. 3. Aproveitar o estados emocionais do dia: mau-humor, tristeza, alegria. 4. Manter a constância dos ensaios (duas vezes na semana) independentemente do desejo ou cansaço, para o corpo não esmorecer e perder os registros corporais. 5. Abrir o ensaio ocasionalmente para dialogar com interlocutor (es). 6. Anotar sempre os acasos, as reflexões e as sugestões de mudança. O caderno com a escrita à mão era a forma de trazer os pensamentos cotidianos, ainda sem elaboração, para um espaço de reflexão: a escrita, que mais adiante tornar-se-ia importante para a formulação de uma teoria que marcasse a intrínseca relação entre racionalidade – assuntos para tratar e a sensibilidade – o ato de praticar. O fato físico do fazer transcorre em dimensões diferentes do imaginar. Há uma grande distância entre o imaginar e o fazer concreto (p.57). A primeira questão a ser resolvida, logo no início do processo, era que rumo tomar após haver esgotado a linguagem do solo El segundo sexo, criado em 2003, para o evento promovido pelo Fórum das Artes47 , lançando a campanha “1% para a cultura”, e que utilizava uma linguagem mais marcada pelo gênero teatral, cuja direção era assinada por outro artista, João Carlos Artigos.48 Durante os anos de 2003 e 2004, procurei dar uma característica cômica, leve, ao solo. Essa idéia, porém, se esgotou a partir de uma apresentação em setembro de 2004 no teatro Cacilda Becker. Resolvi mudá-lo radicalmente e retirar o humor do trabalho, porque não estava 47 Um movimento que reunia semanalmente no Teatro Sérgio Porto, em 2003, artistas de todas as áreas para discutir o futuro das políticas culturais de todas as instâncias públicas: municipal, estadual e federal. 48 João Carlos Artigos é ator, palhaço, e diretor de produção do Teatro de Anônimos. 86 provando ser exatamente o que eu desejava, e eu buscava o efeito cômico de modo inadequado: cortinas, chão e figurino preto, uma linguagem leve em um ambiente soturno não poderia dar certo. Foi a partir desta observação (feita através das imagens em vídeo) que a luz do espetáculo mudou. Antes, as falas cômicas tinham, para mim, um papel político de marca de posição, depois, as marcas políticas deixaram de estar no discurso e passaram a se localizar no corpo. Tirar a camisa em cena, por exemplo, pode dizer mais que a frase “O casamento é muito bom, sabe para quem? Los hombres!!!49 ”. Ambas são posições contundentes vindas de uma profunda reflexão e observação, porém a primeira provoca no espectador algum tipo de questionamento, e a segunda é uma declaração. 49 Frase que faz parte do solo El Segundo sexo ( textos de minha autoria em anexo), uma metáfora encontrada para a fantasia masculina de que ter uma mulher ajuda a organizar melhor suas vidas. 87 Havia perdido sentido dizer aquele discurso, e o sentido tinha se perdido para mim em cena, em uma noite de espetáculo, bem diante da platéia. Eu reconhecia a objetividade do trabalho, mas onde estaria a subjetividade? Percebi que oferecia ao espectador apenas duas maneiras de ver meu trabalho: 1) tomando como verdade tudo o que dizia e; 2) identificando-se comigo e com as problemáticas que apresentava. O discurso objetivo muitas vezes se forma veículo de uma verdade e isso é o que menos importa neste processo de criação. Percebi que falhava o discurso cênico da primeira versão do solo ao mesmo tempo que falhava o discurso singular e de identidade proposto no espetáculo. Necessitava a partir de então tornar meu corpo um meio de reflexão e procurar entrelaçar questões sobre as várias representações de gênero que já carregamos com a vontade de ultrapassá-las e foi na linguagem da performance que encontrei essa possibilidade. El Segundo sexo continha uma profunda vontade de ser compreendida, de mostrar indignação e de refletir questões contemporâneas. A diferença entre essa forma de trabalhar o solo e a de trabalhá-lo com suporte acadêmico equivale àquela entre a linguagem falada e a escrita. Enquanto a primeira é prolixa, a segunda tende à síntese. Apresento nos diários minhas reflexões sobre este percurso: a saída de uma posição de conforto para outra de incertezas e precariedade (o momento presente da performance, sem o a priori ). No espetáculo solo El Segundo Sexo, com duração de trinta minutos, ora com dança, ora 88 com palavras, eu exprimia a revolta de ter que me tornar para o mundo exterior, aos trinta anos, uma “Mulher-maravilha”, ou seja, ter resolvido, e com sucesso, questões como carreira e matrimônio, e pior, perceber que a nossa realização pessoal ainda estava intrinsecamente ligada à maternidade - embora tal questão não seja abertamente declarada por minha geração. Tentando desconstruir o primeiro formato do trabalho, sua estética, porém mantendo o mesmo conteúdo, formulei durante os ensaios a segunda versão do trabalho prático, com mais elementos da performance do que de espetáculo. Percebi esse momento como o de um escultor que recebe uma peça bruta e, de tanto esculpi-la, vê surgir uma imagem, a imagem que é o resumo de sua percepção intuitiva. Em cena, apenas meu corpo e a forma como ele se apresentava. A imagem durante este novo trabalho ora é andrógina, quando estou vestida em roupas que retiram as formas (as mesmas roupas que durante trinta minutos são transformadas em várias peças), ora feminina - quando assumo para a platéia os seios, marca da feminilidade (e sexualidade), que quase passaram por uma inclusão de prótese. O corpo incorpora o figurino como um objeto e transforma-se em ator contracenando comigo. Batizei este novo trabalho de À Simone da bela visão, para Simone de Beau ( bela ) voir (visão ). 50 O título continuava mantendo a mesma homenagem àquela que desde muito tempo é um ícone do movimento, fazendo ao mesmo tempo referência à primeira versão. Com o trabalho de descrição dos ensaios, pretendia refletir e procurar uma linguagem mais apropriada ao que desejava, mas que fosse criada a partir do meu corpo, com o 50 Tradução livre e poética. 89 armazenamento de informação que ele tinha adquirido até então, e não fazer com que ele apenas demonstrasse uma linguagem aprendida. Tornava-se fundamental neste momento procurar o que era essencial de tudo o que tinha sido levantado na primeira versão. O processo de comentar cada ensaio evidenciava o rumo que o trabalho estava tomando, e como eu gostaria que fosse visto a partir de então. Foi assim que optei por não ter a figura do diretor e quis transformar o trabalho em uma autoperformance. ´Auto´ significava não apenas que trabalharia a partir de temas de minha biografia, mas também dirigir-me em cena. Para tanto, procurei do segundo caderno em diante, o que era essencial, absolutamente essencial ao trabalho. As respostas para minhas questões, encontrava-as à medida que despetacularizava cada parte do trabalho e o tornava mais próximo à performance, pois era nesta linguagem que imaginava poder me despir das convenções do espetáculo. A pergunta que hoje coloco ao público ao final do trabalho: “Por que para sentir prazer a gente tem que sentir dor?” é a referência aos momentos de tensão antes de entrar em cena por estar carregada de expectativas e recear a desaprovação da platéia, ou de não “errar” nas convenções teatrais. A angústia sempre passava quando o espetáculo já estava quase chegando ao fim. Constatei que uma vez em cena, depois que desaparecia a tensão de entrar nela, aquele lugar se tornava prazeroso, pois eu recuperava o porquê de me colocar diante do público. 90 a) Os códigos estéticos A primeira eliminação que fiz foi a da fala. Eu não via mais sentido em ter que falar alguma coisa em cena (tal discurso havia congelado em algo do passado que não tinha mais a ver comigo), queria transformar o dircurso falado em movimento para fugir de palavras que facilmente se tornam anacrônicas, por corresponder a um momento específico. Por este motivo, decidi buscar caminhos mais subjetivos, com códigos de significados subjetivos (secretos), por uma linguagem mais poética e menos objetiva. Reduzi a fala ao que era para mim essencial: contar a história de um corpo que quase se submeteu a uma cirurgia de prótese mamária e os significados por trás de tal decisão. Por conseguinte, a movimentação também foi se tornando essencial. Não me inspirava mais temas externos à dança como, por exemplo, criar a movimentação não a partir de estímulos corporais, mas de idéias, histórias externas. Procurei me ater a impressões, sensações e gestos, abrindo espaço para os improvisos e acasos. Da sensibilidade e não do intelecto, surgiram todos os movimentos que podem ser vistos na segunda versão. Qualquer evento físico ou mental pode tornar um acaso significativo, entretanto, o papel dos acasos é mais amplo e mais profundo. Há que entendê-los não apenas como inerentes ao fazer, eles são inevitáveis no criar51 . 51 Cf. OSTROWWER, Fayga. Op. Cit. pág. 56 91 Elementos cênicos também foram perdendo o sentido. Banco, cabides e cartazes ilustravam e sublinhavam meu discurso, ao apontar um caminho de mão única para o espectador. Como não intenciono sublinhar ou marcar mais nada, o palco agora está nu. Entro no espaço cênico com uma sacola colorida pintada com o rosto de uma mulher muçulmana, dentro os cds, corda de pular, garrafa de água, o timer (o gravador é o único elemento cênico que já está na cena quando entro). De dentro da sacola saem todos os outros objetos usados em cena e para lá retornam quando a cena termina. Queria chegar a uma cena em que não houvesse nada mais importante que meu corpo e a motivaçã que o levava a mover-se. Não queria nenhum tema externo a esse fazer. b) Códigos secretos A trilha musical inicialmente era composta por um bolero, um rock cantado em espanhol e um pop-rock brasileiro. As primeiras músicas eram em espanhol, para marcar o tema ainda presente da identidade continental. A última música, em português, sublinhava as palavras de Rita Lee, cantadas por Maria Rita com acompanhamento de jazz, que diziam: “meus peitos não são de silicone”, óbvia alusão a todo o tema que eu levantava. Na nova versão, utilizo o rock de Bob Dylan para o aquecimento, a canção conta história do pugilista Hurricane, que, por racismo, é encarcerado por 20 anos, no auge de sua carreira nos Estados Unidos, às vésperas de tornar-se um campeão mundial do boxe. Assim, como na primeira versão (na qual mantive o espanhol 92 como marca identitária), a música de Dylan também mantinha essa idéia, porém por outro motivo: criar dificuldade, para mim, em definir uma unidade continental. O boxe e Bob Dylan são símbolos importantes de resistência na história da cultura popular dos EUA, marcam a referência que muitas vezes guiou este trabalho (no início, procurando negar essa cultura, no final, incorporando-a). Escolhi esse esporte como a técnica corporal para o trabalho, a principio, para adquirir força e resistência física (ideal para conquistar a energia necessária ) para a cena, quase sem pausas, de 30 minutos, depois, esta também se tornou uma técnica com a qual eu procurava vencer meus limites físicos e exaurir-me, com o objetivo de produzir além da capacidade. A segunda música é original, composta especialmente para o trabalho, é uma faixa que não sublinha, não conta história, nem ilustra a movimentação, permitindo assim os acasos da movimentação. Criei os movimentos para mostrar ao público a série de fotos (apresentadas no início deste capítulo) “resíduos” do primeiro trabalho. Depois de criados os movimentos, retirei o suporte (as fotos) e ficou a movimentação. Por último, utilizo um rock, criando um estímulo para a movimentação alcançar seu ápice, para que um corpo atacado por letargia consiga movimentarse até a exaustão corporal, e então dizer seu último discurso, objetivo desta última seqüência. No final da performance, exausta, cronometro três minutos de fala, cruzando números do orçamento de silicone, com tentativas de relatar o que acabou de acontecer. “Por que será que a gente começa de um jeito e termina de outro?” Esta é a frase com a qual tento entender a experiência temporal, isto é, de como entramos com um estado emocional na cena, e, aos poucos nos modificamos até tornarmo-nos uma pessoa diferente da que entrou. Vivenciamos, em curto espaço de tempo, sensações de presente e passado.52 . 52 Rosalind Krauss cita o crítico de arte Michael Fried sobre a questão da experiência estendida do tempo, presente no teatro e ausente nas artes -plásticas. No teatro, por exemplo, temos a fusão entre a experiência temporal com o temp o real. Michael Fried criticava a teatralidade nas artes-plásticas, dizia que a teatralidade tinha invadido as artes quando, para ele, esta tinha que se bastar por sim mesma, por seus suportes, porque o conceito de teatralidade está ligado a uma noção de tempo estendido, de ação que se prolonga. Rosalind cita o exemplo das colunas do Robert Morris que levam três minutos e meio para cair e isso dá ao trabalho uma característica teatral. In: KRAUSS, Rosalind. Balés Mecânicos. In: caminho da escultura moderna. São Paulo. Martins Fontes, 2001.pág.244.. 93 Quem realmente exerce poder sobre nosso corpo? Nosso corpo é privado ou é público? São as outras perguntas surgidas durante o processo de criação, o rápido discurso, que não obedece uma seqüência lógica, e sim, um fluxo de pensamentos encerra o trabalho, apresentando ao público as questões que me moveram e o que ficou de essencial de todo o discurso presente em El Segundo Sexo. Não queria eliminar de vez a palavra. Por último, o figurino: antes um vestido preto com um furo no meio (irreverência em relação aos decotes, a Sofia Loren, que valorizam as mulheres com colo e que estão na moda), que se tornou mais despojado: uma calça de ensaio e uma blusa preta larga. Agora a roupa é interlocutora, contracena comigo. Da mesma maneira que o figurino era um elemento forte na primeira versão, pois marcava a revolta com a moda, o segundo figurino oferece não uma, mas várias imagens femininas e andróginas. Em um ano de pesquisa e do exercício prático, o solo havia se transformado, estava tão diferente que não poderia mais ser chamado El Segundo Sexo, passou a ser À Simone da bela visão. Mantive alguns códigos estéticos: a busca da naturalidade em cena, irreverência quanto ao conteúdo e comunicação direta com a platéia. A naturalidade que buscava na primeira versão estava no ato de beber água em cena, calçar os sapatos e re-arrumar o cenário. Já na segunda, procurei a radicalização deste despojamento. Troco a música em cena, fico imóvel na cena, sem deixar de estar presente, apenas ocupando o espaço e percebendo a platéia, espero o timer dar o 94 tempo das ações independentemente do meu ritmo interno (normalmente mais acelerado), tudo isso obriga-me a vivenciar o presente da cena. c) Referências externas O segundo caderno é uma coleta de informações. Recheei-o com programas de espetáculos, noticias de jornal e de exposições de arte tudo o que, de alguma maneira, se realcionava ver com a linguagem que eu estava procurando construir. Queria encontrar meus pares. Esses espetáculos tinham em comum o fato de se comunicarem com a platéia, cada um à sua maneira, desformalizando a relação entre artista e platéia, e formularem a pergunta: o que é real ou ficcional? Idéia que me atraía muito53 . É neste caderno que descrevo o momento em que resolvii romper com a direção e procurar eu mesma trilhar o caminho para a auto-direção. Guardo também a correspondência com uma atriz de São Paulo, Silvana Abreu54 , que mantive durante vários meses, via correio eletrônico (e alguns encontros no Rio e em São Paulo). Ela apontava para a timidez do corpo em cena e a economia de energia. Conversávamos sobre a crítica, em como isso podia influenciar ou não o processo de amadurecimento do trabalho artístico. Escolhi esse trecho de uma das cartas e tornei minha suas palavras: Em relação à crítica, para mim é um aprendizado de humildade. A gente nunca vai agradar todo mundo e o nosso trabalho também não é a maior maravilha do mundo. A maioria passa sem ele. Tem gente que não vai gostar mesmo, não há o que fazer, não adianta se matar por causa disso. Há gente que vai gostar, que vai entender, e são com esses que a gente deve se comunicar e aliar. Sucessos e fracassos são ambos tempos de ilusão. Não podemos e nos permitir sermos tímidos e ficar constrangidos. Se você não der o recado ali, com teu máximo, sem econimizar, sem timidez, onde você fará isso? Conseguir trabalhar sem a idéia de sucesso, de agradar, e não confundir o trabalho artístico com dom, mas tomá-lo como ofício, é um exercício muito gratificante e muito difícil. 53 A título de ilustração cito quatro espetáculos de estéticas diferentes, mas que têm em comum a desespetacularização: A falta que nos move, direção de Christiane Jatahy; Falam as partes do todo?, cia. De dança Dani Lima; Titânio, Fernando Kinas e Almas berrantes, teatro de anônimo, direção Sidnei Cruz. 54 Artista integrante do Projeto Solos do Brasil, sob coordenação de Denise Stoklos. 95 Esmiuçar um trabalho não corresponde à expectativa desta época, de consumo rápido, quase instantâneo. Os ensaios passaram a ser periodicamente abertos aos artistas mais próximos da linguagem que eu buscava55 . Isto fez com que eu orientasse o trabalho para onde ele chegou neste momento, funcionou como uma co-direção. Foi durante uma dessas aberturas que fui questionada sobre o porquê de mostrar fotos minhas, nua e não ficar nua realmente em cena - a partir dessa observação, o que vinha fazendo deixou de ser demonstrativo e cada ato passou a ser vivido. Munida deste dever, todo o trabalho passou a ser alcançar o estado emocional que propunha e não demonstrá-lo. Do terceiro caderno em diante, já tinha todos os elementos da versão, transformados nos movimentos e da segunda versão. Apresento o roteiro das imagens de À Simone da bela visão apresentando de forma sintética o caminho percorrido, no qual a cada momento uma figura feminina/ masculina se constrói através de códigos subjetivos. Consolidei finalmente o elemento tempo como um novo marco para o trabalho. O timer em cena, para mim, significa romper com a linguagem do espetáculo em alguns momentos do solo. Ter este objeto é ter um relógio em cena, marcando o tempo real, aquele que tanto eu como a platéia estamos vivendo, rompendo com o tempo do espetáculo, o tempo da música imodificável, e que não é vivenciado da mesma maneira (há uma tensão, que só vivenciamos quando não temos o tempo musical nos protegendo). d) Imagens de À Simone da Bela Visão: Quadro 1: Entra em cena a pessoa comum, Helena, e aos poucos, vai ocupando seu lugar como artista diante da platéia. Há um jogo de aquecimento com o público; ao mesmo tempo que ela aquece, observa qual é o público presente. Para a platéia fica a dúvida se a performance 55 Alguns dos artistas que compareceram aos ensaios: Michel Groisman, Marco Veloso, Eduardo Bonito, Eduardo Flores (artista de performance no México), Dani Lima, Dani Fortes, Claudia Müller. 96 começou ou não, se é apenas um simples aquecimento ou se aquilo faz parte da cena. Não é um momento que deva ser solene. Quadro 2: O momento mudou e agora não há mais dúvida entre se é real ou ficcional. A artista apresenta os seios, aponta em seu corpo a marca que faria se fosse operá-los e como eles ficariam depois. Quadro 3: Apresenta sua história. Apresenta as fases de seu corpo, desde o masculino – movimentos retilíneos - até as curvas do feminino. Procurando dar pausas e ouvir o movimento, para que acasos sejam possíveis. Quadro 4: Ícones universais. Traz várias mulheres para a cena: a mulher sem rosto, sufocada, enforcada; a mulher judia, ortodoxa ou muçulmana, com véu escondendo os cabelos. Ambas simbolizando a mulher de uma sociedade dominada por homens, em que há poucos recursos e proteção contra atos individuais e de violência. Durante a cena com o véu, ocorre uma transmutação: dança do tronco para baixo com força masculina (braços de pugilista, de halterofilista ) e na cabeça a blusa formando um xador. Quadro 5: O xador se transforma em um turbante e aparece um fluxo de imagens: a mulher louca, que vive na rua, a vedete e a burguesa. Apresento os corpos dessas mulheres, sendo motivada pelo som e movimentos, que saem da região abdominal do corpo durante a risada. Já consolidado, o novo trabalho, o quinto e último caderno, traz um novo questionamento: o tempo. O tempo foi, aos poucos, sendo plenamente conquistado, por fim gerou a dúvida se não havia se esgotado a questão que eu tinha em relação à performance, de preencher o espaço e o tempo presentes, sem movimentos demonstrativos, mas vivenciados. Não teria chegado finalmente o momento de tentar recomeçar uma linguagem de espetáculo, em que pudesse voltar a usar a teatralidade? 97 98 Considerações finais Os caminhos da criação não são previsíveis nem programáveis. Não transcorrem em linha reta. São caminhos cheios de dúvidas e hesitações, de desvios e retomadas. É justamente o que está fora do alcance de um programa de computação: eventualidades imprevisíveis, a distinção entre o justo e o exato (nem sempre o exato é justo), a capacidade de surpreender-se ante o próprio fazer, ante os fatos que surgem e se apresentam diferentes daquilo do que se havia imaginado. No entanto, ao surpreender-se, o artista pode vislumbrar de repente novas coerências e pode reformular tudo a partir desta visão (Fayga Ostrower. Criatividade e processos de criação) Espero haver conseguido expor este projeto com clareza. Tenho consciência de que apenas iniciei o desenvolvimento do tema e que dois anos não seriam suficientes para esgotá-lo. Foi o primeiro exercício, deixando para o futuro a tarefa de aprofundá-lo. Procurei demonstrar com o trabalho que intitulei À Simone da bela visão, como conflitos de um indivíduo com seu próprio corpo refletem a complexidade de questões que envolvem as definições de corpo feminino e masculino (em como podemos encontrar também marcas coletivas na representação subjetiva de um indivíduo). Gênero (palavra que grifo para chamar atenção ao termo) não era o tema que me propunha quando aqui entrei, mas ao longo da pesquisa provou-se, para mim, um elo forte entre prática e teoria, talvez por ser esse o recorte mais preciso que pude dar para discutir corpo, sexualidade e revolta, questões que se constituíram matrizes deste trabalho. Após alguns exercícios de fazer, desfazer e refazer, a pesquisa assim se desenhou: Gênero; o tema, performance; o “gênero teatral” escolhido, o corpo; o suporte e revolta; a motivação mais profunda. Alinhavando esses elementos, o desejo de realizar um trabalho atravessado por um sentido político. Interessou-me trazer um pouco da história do feminismo para este trabalho por um motivo muito simples: o movimento, que atravessou o século 20 como um dos mais revolucionários movimentos sociais, começou não com bandeiras retóricas, mas com revolta 99 pessoal. O feminismo moderno ainda é um questionador incansável dos padrões estabelecidos nas relações sociais e comprometido com o rompimento dos papéis rígidos sexuais como possibilidade para a construção de uma nova sociedade. A problemática desta pesquisa estava em como combinar prática com um memorial não apenas poético. Ao mesmo tempo em que é a universidade um espaço plural por excelência espaço comprometido com a inteligência, com a política (política como aquilo que modifica) não comprometido com o imediatismo, com o público -também é um local no qual é necessário que se instaure a interlocução entre pares, onde se possa discutir forma, conceitos, autores. Combinar caminhos que não são previsíveis, nem programáveis, com o necessário rigor do texto acadêmico e a responsabilidade de deixar aqui o que será lido no futuro, não foi tarefa fácil. Como conseguir isso sem suficiente distância entre você e seu objeto? Não tomei isso como um desafio, com o objetivo de provar algo, mas como uma boa e profícua problemática para a pesquisa. Dos meus cadernos de campo, diários propriamente ditos, escritos com paixão e sem preocupação com o discurso lógico, deveriam sair todos os porquês da desconstrução de uma linguagem e construção de outra. Fiz uso de um pequeno gravador para registrar as eventualidades imprevisíveis, o chamado caos artístico: essa foi a metodologia encontrada para transformar e cristalizar o processo de criação. Mas os elementos empíricos e espontâneos na parte prática são poucos. O recorte desta investigação buscou fazer do corpo do ator um meio poético para vivenciar as diversas representações de gênero, naturalizadas na vida cotidiana, com o objetivo de ultrapassá-las, teórica e artisticamente. O rosto coberto, o turbante à Carmem Miranda, o rosto enforcado, a mulher de longas tranças, são identidades surgidas com a pesquisa teórica, representam ícones importantes para um trabalho que discute gênero. Revelam minha preocupação com a representação da identidade atribuída e o conflito disso com as múltiplas identidades. O figurino, aliás, sempre foi meu 100 primeiro interlocutor: na primeira versão, a camisa com furo no meio marcava revolta contra um novo paradigma de beleza; na segunda versão, mais amadurecida graças ao suporte acadêmico, o figurino ganhou a função de apagar as marcas de gênero e trazer para a cena a androginia presente em todos nós. Foi observando essa imagem vestida e despida que o diálogo começou. A energia do masculino não ocorreu ao acaso, eu precisava dela para o discurso que preparava. Esta energia está presente no aquecimento de um pugilista, na escolha do rock “n” roll, no uso da força dos braços e do abdômen para provocar uma prontidão física mais firme e densa, contrapondo-se ao tronco frágil e ao rosto sereno. Por fim, a escolha do timer para quebrar a noção de um tempo imutável e impor um ritmo na fala final. Procurei um elemento que marcasse a experiência temporal vivenciada na cena, que reforçasse o instante e tentasse romper com a representação. Haver me debruçado sobre as teorias e práticas feministas auxiliou-me não apenas no ato performático como também na compreensão do espaço discursivo das minorias. Procurei responder, ao longo do trabalho, a algumas questões investigadas, como por exemplo, se o trabalho falaria sobre o feminino, ou sobre o feminismo, o que de início me parecia inquestionável. Ora, o feminino estaria implícito na pesquisa, por tratar-se de uma autora e não de um autor! Mas, ao final, percebi que não, que feminino pode ou não ser tematizado em um trabalho de um homem ou de uma mulher, que masculinidade e feminilidade não são atributos referentes apenas ao sexo, pois, afinal, como procurei demonstrar durante a pesquisa, sexo e gênero são coisas distintas. Fazer uso do termo “feminismo”, no entanto, significaria dar uma direção política ao trabalho, desde que, com o passar dos anos, apesar das conquistas sociais desse movimento, o termo (talvez por não mais dar conta das diferentes correntes feministas) tornou-se quase anacrônico e obsoleto e, o que é pior, passou a ser visto de forma preconceituosa. Haver conseguido produzir um ato performático, alimentado e entrecruzado pelas teorias feministas, começando pelo enunciado histórico até chegar às teorias mais contemporâneas, trouxe luz a 101 algumas questões iniciais. Quanto ao uso de próteses e tecnologia para transformar o corpo humano, retardando seu envelhecimento e/ou adequando-o aos padrões estéticos ditados pela moda, vejo minha conclusão apontada, simbolicamente, quando, durante este trabalho, ao citar dois slogans feministas, tomei a liberdade de fazer minha opção. De “Meu corpo é meu templo” para “Nosso corpo, afinal, nos pertence?”. As bandeiras políticas, carregadas de certezas, calaram-se, deixando o incômodo da dúvida sobre qual seria, então, o lugar desse corpo, na era da cirurgia plástica, e se seríamos seres tão unissexuados assim. A luta política – não mais referenciada pela disputa do aparelho de Estado – precisa ser empreendida em todos os campos do corpo social. A luta feminista, hoje tão reconhecida pelas sociedades ocidentais e capitalistas, até já bastante naturalizadas pelas novas gerações, terá chegado ao fim? O que talvez não tenha ficado evidente é que em nenhum momento achei que estava expondo meu corpo e minha vida pessoal, sou muito mais introspectiva, reclusa, que extrovertida, embora tenha a característica de ser espontânea, daí algumas pessoas acharem que oscilo no trabalho, entre uma confissão franca e uma encenação estética, que convido para uma revelação íntima, mas esta revelação não acontece. Não procurei ser sujeito e objeto de uma mesma pesquisa, não acreditei que isso seria possível. A ordem do discurso para mim era outra: muitas de nossas questões contemporâneas, tanto na arte quanto na política, me motivavam, eu queria abordar alguns temas e optei por tratá-los a partir do exercício prático. Finalmente, creio que esta pesquisa apontou para novas questões: quais seriam os postulados morais das relações de prazer do corpo e de que maneira se exerce o controle sobre as individualidades e coletividades. Até que ponto o consumo da exaltação do belo, do corpo sempre jovem, pode significar uma escolha individual, livre, exercida sem o controle da indústria da beleza. 102 Bibliografia a) Livros ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. São Paulo: Brasiliense, 1985. ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. Lisboa: Moraes, 1971. BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado, o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. ______.Um é o outro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. ______.O que é uma mulher? Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1989. BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. BOURGEOIS, Louise. Destruição do pai reconstrução do pai. Cosac e Naify, São Paulo,2000. BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,1999. BLASI, Iwonka; RIGLER, Cristina. Os grandes mitos da feminilidade. Rio de Janeiro: Rosa dos ventos,1996. BRANCO, Lúcia Castello. O que é escrita feminina. São Paulo: Brasiliense, 1991. BURIN, Mabel; MELER, Irene. Gênero y família. Buenos Aires: Paidós, 1998. BUTLER, Judith. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. CAMUS, Albert. O Homem revoltado. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 1999. CALLIGARIS, Eliana dos Reis. Prostituição: o eterno feminino. Rio de Janeiro: Escuta, 2006. CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas. São Paulo: Edusp, 2003. COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1989. ______. Work in progress na cena contemporânea. São Paulo: Perspectiva, 1998. CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática.1995. CHOMSKY, Noam. 11 de setembro. Rio de Janeiro Bertrand Brasil, 2002. ______. “A nova guerra do terror”. In: Estudos Avançados 16 (44), 2002/1. DEL PRIORE, Mary (Org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: UNESP,1997. HOBSBAWM, E. J. A revolução francesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. FRIEDAN, Betty. Mística feminina. Petropólis: Vozes, 1997. GOLDENBERG, Miriam. A arte de pesquisar. 3aed Rio de Janeiro/São Paulo: .Record,1999. 103 ______.De perto ninguém é normal- Estudos sobre corpo, sexualidade, gênero e desvio na cultura brasileira. Rio de Janeiro:Record, 2004. ______. (Org.). Novos desejos, das academias de musculação às agências de encontros. Rio de Janeiro: Record, 2000. ______; TOSCANO, Moema. A revolução das mulheres, um balanço do feminismo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1992. GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. São Paulo: Perspectiva, 2003. GUTIÉRREZ, Rachel. O feminismo é um humanismo. São Paulo: Antares, 1985. GROSENICK, Uta. Women Artists. Lisboa: Taschen, 2002. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 9ed., Rio de Janeiro: DP e A, 2004. ______.Da diáspora identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Humanitas/UFMG., 2003. HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Tendências e impasses, o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. JEUDY, Henri-Pierre. O corpo como objeto. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. MILLET, Maria Alice. Lygia Clark: obra-trajeto.São Paulo: Edusp.1992. MUSACHI, Graciela. Féminas. Colección orientación lacaniana. Buenos Aires: Paidos, 2000. OSTROWER, Fayga. A sensibilidade do intelecto. Visões paralelas de espaço e tempo na arte e na ciência. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1998. ______. Criatividade e processos de criação. Editora vozes, Petrópolis, 2004. PAGLIA, Camille. Vampes e vadias.Rio de Janeiro. Francisco Alves, 1994. ______. Sexo, arte e cultura americana.São Paulo. Companhia das letras, 1993. ______.Sexual Personae. New York: Yale University Press London and New Haven, 1990. SASSON, Jean P. Mayada, filha do Iraque. Rio de Janeiro: Best seller, 2005. SANTOS, Milton. Por uma globalização do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2000. STOKLOS, Denise. Teatro essencial. São Paulo: Denise Stoklos Produções, 1993. SCHUMAER, Schuma; BRAZIL, Érico Vital. (org.). Dicionário mulheres do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar., 2000. SCHWARZER, Alice. Simone de Beauvoir hoje. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. SCHNEIDER, Rebecca. The explicit body in performance.. Nova York/ London: Routledge, 1997. SONTAG, Susan. Contra a interpretação. Tradução de Ana Maria Capovilla. Porto Alegre: LLPM, 1997. 104 TENDLARZ, Silvia Elena. Féminas. Buenos Aires: Paidós, 2000. TIBURI, Márcia; MENEZES, Magali de; EGGERT, Edla. “As mulheres e a filosofia”. São Leopoldo, RS: Unisinos.2002. In: VALLE, Bárbara. O feminino e a representação da figura da mulher na filosofia de Kant, 2002. VILLAÇA, Nízia; GÓES, Fred; KOSOVSKI, Éster. Que corpo é esse? Rio de Janeiro, RJ: Mauad, 1999. WOLF, Naomi.O mito da beleza. Rio de Janeiro: Rocco,1992. WOLF, Virginia. Kew Gardens. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra. 1996. ______. Um teto todo seu. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. b) Internet www.fiocruz.org.br: Ana Martins. Arquivo consultado em 2005. www.theory.org.uk/ctr-butl.htm: Judith Butler. Arquivo consultado em 2005. www.cddc.vt.edu/feminism.Irigaray.: Poststructualist Feminist Theory. “This Sex Which is not one”. Acesso em 2005. www.orlan.net e bocci:ubi.pt/pag/ Duarte-eunice-Orlan.html. Monografia: Orlan do outro lado espelho de Duarte, Eunice Gonçalves: Orlan. Acesso em 2005. www.bombsite.com/archives/shaw/index.html: Peggy Shaw in menopausal gentleman www.edelmangallery.com/shaw.html: Peggy Shaw. Acesso em 2005. what.org/peggylip.htlm: Passing on her butchness. Acessado em 2005. ig.nominimo.com.br: Eliana Reis Calligaris. Nota sobre Prostituição: o eterno feminino. Arquivo consultado em 2006. en.wikipedia.org/wiki/John_Money. John Money. Acessado em 2005. www.columbia.edu. Robert J. Stoller. Acessado em 2005. c) Artigos em revistas BERNSTEIN, Ana. “A Performance solo e o sujeito autobiográfico”. Revista Sala Preta. São Paulo Eca-USP. 2001, Ano1, n.1. FEITOSA, Charles. “Revolução, Revolta e Resistência”. Publicação prevista para março 2006. In: Daniel Lins (Org.): Nietzsche e Deleuze - Arte e Resistência. Novembro de 2004. SOHAIT, Rachel. Revista Nossa História, Ano I, n3, jan.2004. 105 KRAUSS, Rosslyn. “Balés mecânicos: luz, movimento e teatro”. In: Caminho da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2001. SONTAG, Susan. “Happenings: uma arte de justaposição radical”. In: Contra a Interpretação. Porto Alegre, LP&M, 1987. SHANK, Theodore. “Linda’s Montano autobiographical performance”. In: The Drama Review auto performance issue. V.23, n1. Nova York, 1979. SCHNEIDER, Rebecca. The explicit body in performance.. Nova York/ London: Routledge, 1997. SCHECHNER, Richard. “The fan and the web in performance theory”. Routledge. Nova York/ Londres.1988. p. 12-15 ______. “O que é performance?” In: Revista O Percevejo,n.12, p.25-50. Rio de Janeiro, 2003. WOLF, Naomi.O mito da beleza. Rio de Janeiro: Rocco,1992 WOOLF, Virginia. Kew Gardens. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra. 1996 ______. Um teto todo seu. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.. 198 d) Dissertações de mestrado: MOURA, Cristiane. Solidão anárquica- vocabulário de atitude essencial de Denise Stoklos. 1997. Dissertação (Mestrado em Teatro). Faculdade UNI-RIO, Rio de Janeiro, 1997.146 páginas. YÁÑEZ, Lucía. Relações e tensões entre performance e artes cênicas no trabalho de Gilberto Gawronski. Rio de Janeiro, Uni-Rio, 2003.173 páginas. e) Jornais PAGLIA, Camille. Caderno Mais!Folha de São Paulo, 15 de outubro de 2000. SCOFIELD, Gilberto Jr .“A cultura dolorosa da beleza”. Segundo Caderno. O Globo, 9/07/2005. MORRIS, Desmond. “A mulher está nua”. Revista O Globo. 22/05/2005. BOURGEOIS, Louise. “A mulher-aranha” entrevista com. Segundo Caderno/O Globo, 11/01/2005. OLIVEIRA, Roberta. “Sem medo de ser Gilberto Gawronski”. Segundo Caderno/ O Globo, 17/02/2005 “O que há de errado no casamento gay?” O Globo, 27/12/2004. 106 JABOR, Arnaldo. “Mulher não é conteúdo, é forma?”.O Globo, 20/11/2004. “Teologia indecente”. Entrevista com Marcella Althaus-Reid. Revista Época, 6/09/2004. “Maximização das minorias”. Caderno Ela/O Globo 13/11/2004. “Feministas se unem contra eleição de Bush”. O Globo, 15/09/2004. “Miss silicone”. O Globo 18/12/2004. “O estigma das feministas”. Opinião/ O Globo 13/05/2005. “Vem aí a terceira mulher”. Entrevista de Gilles Lipovetsky. O Globo, 20/08/2005 “Lei do aborto deve ser revista”. O país/ O Globo, 9/12/2004 “Revisão crítica do feminismo”. Resenha sobre livro de Elisabeth Badinter. O Globo, 22/10/2005. “A colunista política que se tornou uma arma ruiva na guerra dos sexos”. O mundo/O Globo, 20/11/2005. 107 ANEXO 1 Texto do espetáculo El segundo sexo I Eu tenho uma coisa muita séria para dizer a vocês, muito séria.... Eu tenho um nome muito grande! Me chamo Helena com H, de Castro, Amaral, Vieira. É demais, não é? O pior é que lá em casa cada um é uma coisa. Meu irmão? (mostra uma foto) Amaral como meu pai (outra foto). Minha irmã? Castro (uma foto), sobrenome da minha mãe (outra foto). E eu? (uma foto) escolhi Vieira, também do meu pai. O que tem de sério nisso? Minha gente, é muito sério! Deu um problema danado lá em casa! Minha mãe acha que sou uma filha sem mãe. Mas mãe!!! (À parte ): minha mãe é a única que manteve todos, é Castro Amaral Vieira, mesmo já não sendo casada com nosso pai, diz que é para não acharem que os filhos não são dela. (Voltando): Mas mãe!!! é muito nome e eu pus o que é mais sonoro para uma Helena com “H”. Para platéia: Afinal, meu nome é coisa muito chique, vem da Grécia, berço da civilização ocidental. Se eu coloco Castro, vai lembrar Inês de Castro, princesa portuguesa, ou o Fidel Castro, cubano e comunista (pequena pausa, vira a bolsa típica do movimento estudantil) e aí um dia se eu tiver que lavar pratos em algum país invadido, INVADIDO, pelo El Grand Império, podem me descobrir e eu to, ó, fudida! (faz um sinal com as mãos de ok), não é mesmo? Mais que raios de tradição portuguesa é essa!?? Pra que tantos nomes!? E mãe !! logo o nome da mãe antes, que é o primeiro que dispensam na chamada, vão logo ler o último, é obvío! E eu, garota anos 70, com tanta convicção antimachista, renegando logo quem? A mãe! II Sabe qual é o primeiro problema que uma menina enfrenta? Seus peitos. É, é verdade, vocês pensam que não?? Eu, por exemplo, fui muito precoce. Antes de completar 11 anos, lá estavam eles, dois carocinhos nascendo...e num dia de verão, muito, muito quente, eu cursava a 4ª serie primária, a professora determina que todos tirem suas camisas. Eu me recusei, é claro. E ela forçando, forçando. Resultado: um grupo de meninas e meninos, sem camisa, e eu a única diferente, todos me olhando, espantadíssimos, com os olhos assim, arregalados, sem conseguirem despregar os olhos de mim. Silêncio mortal na sala. Depois, eles finalmente cresceram e eu tive que escondê-los dentro dos ombros, eu andava assim ó....(imita o andar com os ombros totalmente encolhidos) se não, era só passar por uma obra que Batata! lá vinham os engraçadinhos, e foi assim a adolescência inteira. Horrível, traumático, pois cadê que consegui tirá-los de dentro dos ombros novamente?? E eles foram diminuindo, diminuindo... e hoje isso é quase inadmissível. A mulher brasileira tem peito!!! As que não tinham, colocaram, e as que tinham, passaram a expô-los feito Sophia Loren (imita os seios fartos, saindo pelo decote). Eu saio nas ruas, eu me espanto, é peito por todo lado, nos anúncios, nos outdoors, ônibus, revistas. Na TV, então, nem se fala... Tomara que a Carolina Ferraz, resista e não ceda à moda, se não, quem irá defender “as despeitadas”??? 108 III Eu tô impressionada...entra milênio, sai milênio e o nosso tema é sempre o mesmo: Quando iremos ter filhos? “Ocê já tá ficando velha, hein?”. Disse o doutor. Velha? Eu? aos 30?? Como assim? (Imita a fala do doutor): “É, a mulher tem uma curva de ascendência, o melhor período para engravidar é até os 24, depois, vem o processo de envelhecimento e declínio da fertilidade”. Sinto muito doutor, mas essa não é a minha realidade, não conheço quase ninguém mãe, antes dos 30, e depois, esses são justos os melhores anos para se ser solteira e sem filhos ... Bom, como se isso já não bastasse, depois vem o pai moderno, cabeça ótima, no dia que você arma um jantar para ele conhecer seu príncipe consorte, o cara mal abre a boca para explicar que gosta muito da filha e ele já vem com essa: - Olha, quem tem que gostar de você é ela, só quero uma coisa; netos!!!Me dêem netos!! Sabe qual é a conclusão a que cheguei? Olha, já me chamaram de feminista e sexicista, depois dessa, mas é só uma constatação, não é inexorável: o casamento é muito importante sabe para quem?? Los hombres... IV Eu agora, passadas as indignações que contei para vocês, eu vou contar uma incompreensão: Por que uma mulher ameaça à outra? Estava na Venezuela, numa cidadezinha, Santana de Coro, vocês vizualizam assim, o mapa da America do Sul, ali no cantinho esquerdo, tá a Venezuela e no fim, há um pescocinho e um continente, o Caribe Venezuelano! Eu caí de pára-quedas na casa de uma família que se preparava para uma festa de quinze anos. Eu não tinha alternativa, ou ia com eles ou ficava sem nada para fazer e era minha primeira noite na cidade. Criei coragem e perguntei: - “Nacho, puedo irme con ustedes, también? Todos se entreolharam, principalmente as mulheres. - Pero, tienes ropa? Ele perguntou. É claro que tinha, estava próximo do meu aniversário e, por via das dúvidas, eu levara uma roupa para a ocasião. A menina, filha do dono da casa, ficou horas de frente para a penteadeira, se enfeitando, eu em cinco minutos, estava pronta. Minha roupa era muito simples, muito discreta: um longo laranja, colado no corpo com um rasgo da coxa até o pé. Tratei de ir na frente com os homens, não queria aquele olhar desconfiado para cima de mim. Chegamos na festa... uma cena indescrítivel...todos queriam homenagear a brasileira!!! Que vergonha... da Venezuela, eu não sabia nada... Foi preciso as torres gêmeas caírem para eu me dar conta de que era Latino-americana e até samba no pé, ao som de Aquarela do Brasil, eu tive que mostrar... É, esse sambinha desajeitado mesmo, que mostrei, 30 anos de praia de Ipanema, nascida na terra do samba e nada no pé. Eu dizia que era por causa do balé, quebrei a cara quando vi Ana Botafogo, sambando e na ponta!!!. Mas, tudo bem, estava na terra da salsa, meu sambinha mequetrefe enganava e nos divertíamos. Mas aconteceu que o namorado da menina ciumenta, aquela da penteadeira, não parava de querer conversar comigo, não largava do meu pé, e a menina só de rabo de olho, controlando todos os meus movimentos, e o pior é que falávamos de política!!e eu: - “Sai daqui menino, volta para sua namorada, sai!!!” Resultado: as mulheres da casa não me dirigiram mais a palavra, nem sequer o olhar! Eu me senti a verdadeira gata borralheira. 109 V Vou abrir essa maleta e mostrar a vocês os meus segredos, vou mostrar tudo o que me inspirou escrever essa história toda. Em primeiro lugar: O orçamento de uma operação de silicone (abre a folha e mostra), R$3.500,00 sem recibo, R$ 4.500,00 com recibo. O livro O Segundo Sexo de Simone, de Beauvoir, depois eu conto a frase que mais me motivou...Uma piada que meu diretor, o João, me deu de presente, vou contar pra vocês, embora não seja muito boa nisso, é mais-ou-menos assimDois homens se encontram faz as diferentes vozes). ABAB- Fala, Vagabundo! E aí, filho -da –puta! E aí, viadinho, e a gostosinha da tua irmã, como tá? Vá te fudê! Cada uma segue seu caminho A- Porra, que cara manero ! B- Me amarro no cara, de graça. Duas mulheres se encontram (outras vozes). ABABA- E aí que-ri-da? Como “cê vai? Nossa! Como “cê tá linda!!! Que nada, são teus olhos. É você que tá ma-gér-ri-ma! Mas e a tua epiderme, tá um escândalo! AH! Deixa disso, bondade tua. Se separam.... B- Valeu querida, nos vemos. Perua! Falsa pra caramba. A- Que mo-cré-ia, crente que tá abafando. Bom, e por último, o momento 0300, o diretor detesta, eu adoro, acho a parte mais importante. Eu criei esta camiseta e a Luísa Marcier, uma amiga estilista, produziu, esta à venda em todas as lojas “A Colecionadora” (que só tem uma). Eu vou aqui explicar a importância e como usar. Veja bem, é mais econômico que colocar silicone e todas as mulheres despeitadas poderão se sentir também uma Sophia Loren. Veja como é simples. Agora eu explico os efeitos: para quem tem um fisique de rôle, assim como o meu, é um sucesso! Você sai nas ruas, pelo menos no Rio, e os homens metem o olho no buraco, amigas e amigos, com mais intimidade, metem o dedo, dá um maior barato, “cês nem acreditam, portanto, comprem a camiseta e promovam o movimento M.D – Mulheres despeitadas – salve uma perto de você! 110 Anexo 2. Textos dos espectadores. 1. De Helen Dixon En medio de 1600 feministas latinoamericanas caribeñas, brasileñas, en serra negra, busqué la soledad de un pasillo angosto acompañada por una amiga para quedarme en una sala de video allá la obra de helena vieira me tomó por asalto... así como los fragmentos de mi memoria así la impactante obra de helena... el cuerpo descontruido-reconstruido desnuda arropada neutro absolutamente de mujer no fue danza sí fue también movimiento fue cuerpo música teatro al final fue símbolo fue signo tras signo de un lenguaje conocido fue un texto escrito con tu cuerpo helena doloroso enorme generoso cuerpo pequeño expresión gigante... primero la monótona rutina de una cuerda calentamiento de boxeo con la música de dylan recordatorio no intencional (me dijo después) del la búsqueda de una corporalidad masculino pero desde un cuerpo nada boxeador de un chico ¿o era chica? ¿o era la que introdujo rapidísima el video y desapareció al rabillo de mi ojo? para que viéramos su cuerpo ambiguo en camiseta floja y pantalón buzo ella marcando el tiempo el ritmo poniendo la música el reloj escenario desnudo de toda muleta teatral solo ella el espacio y el tiempo cuerpo que se reclama entre los detalles de una operación quirúrgica operación en que ella desconstruye los significado inscritos en ese cuerpo... cuerpo que nace, se asume juego se conoce seno desnudo a la mirada pequeño expresivo deseoso como globo vuelto frágil como costilla apenas cubierta pecho de helena seno de seña anónima de cualquiera de nosotras que jala la camiseta sobre su cabeza máscara donde la muerte ya no se esconde sino se convierte en el inevitable momento jala tu pelo que se tuerce dando vueltas y vueltas sobre sí para ahorcarse finalmente cuerpo esqueleto la muerte colgada frente a nuestros ojos no respiro ahí está el dolor colgado sobre la orilla... y deja la escena y vuelve revive baila flota sale alivia me acaricie con movimientos suaves como lluvia como viento me permite pero solo por un momento porque regresa flash de memoria de bandas negras sobre su cuerpo desaparecidas como banda del censor bandas de moda tipo bikini después me hostiga risa terrorífica que me persigue eco del vacío femenino en pose tras pose esa risa insoportable del infierno risa-máscara risa que recuerda y que se estira la boca enorme y grotesca de la amnesia impuesta risa que no me deja olvidar risa-grito que corre a algunas de la sala que hace burla rostro tan cotidiano reconocible como el grito-risa encubierto pose en el piso patético que desploma contra paredes... y juega con el tiempo aceleración el reloj siempre correo la música cambia pero rompe tu necesidad porque querés contarte el cuento y no te deja porque aquí no hay cuento aquí sólo el flash en serie aleatoria pasaje accidentado desnudo que no te deja salida fácil no hay una lógica muleta sino ella su cuerpo en movimiento desviste tu propia mirada comienza el texto lo deshace para dejarte igual explorado tu cuerpo cuerpo de ella tu lengua texto que te habita ahora deshecha desnuda no lo podés negar y termina con un texto simple operación quirúrgica plasma con toda certeza el cautiverio porque te vuelve al presente al inicio con otros ojos yo exhausta con el dedo en tu propio pulso en tu propio cuerpo que es y no es cuerpo de ella ella que es tu espejo, que te abraza con toda su fuerza hasta los huesos... helen dixon 111 2. De Giselle Ruiz À SIMONE DA BELA VISÃO Concepção e interpretação de Helena Vieira Ao assistir ao ensaio aberto do trabalho-solo de Helena Vieira, em Setembro de 2005, foi inevitável a comparação com a primeira apresentação da sua proposta, em meados de 2004. Embora o conteúdo de ambas seja bastante semelhante, o que de imediato chama a atenção do espectador são o crescimento e o aprofundamento do tema na versão mais atual. Numa época em que, na maioria das criações, predomina a expectativa do sucesso fácil e imediato, como é gratificante e raro perceber, ao longo do tempo, a seriedade e o amadurecimento cênico de uma proposta! Excelente intérprete, Helena vive intensamente cada momento em cena. Vive e dança diferentes mulheres. Seu corpo é um instrumento altamente treinado para expressar-se de forma precisa e sofisticada, tanto por movimentos como através de palavras. No palco, a partir da história da própria Helena, são colocadas questões sobre a condição feminina contemporânea. É curioso que, mais de trinta anos depois dos movimentos feministas que marcaram politicamente várias gerações, o tema suscite tantas questões na atualidade. A partir dos conflitos de Helena com seu próprio corpo, passamos a refletir sobre os corpos femininos, hoje, no Rio de Janeiro e por que não, sobre a complexidade de questões que envolvem os corpos femininos? Se considerada em seu aspecto acadêmico, ou seja, como um estudo, a abordagem autobiográfica de Helena evidencia a microanálise enquanto possibilidade metodológica que, partindo de uma opção pelo individual, tem a capacidade de fazer ressaltar novos pontos de vista. O enfoque microanalítico pode vir a iluminar aspectos aparentemente isolados para, em seguida, delinear a sensibilidade própria de todo um contexto. Em relação ao feminismo, hoje, me parece 112 fundamental retomar questionamentos, e bastante corajoso, expor seu próprio corpo como objeto de estudo. Parabéns, Helena! Rio, 18 de Dezembro de 2005 Giselle Ruiz (Mestre em Teatro pela UNIRIO) 113 3. de Ivana Menna Barreto : TRÊS PERGUNTAS NO MESMO CORPO Quando assisti pela primeira vez ao trabalho de Helena Vieira, no Teatro Cacilda Becker, vi uma estória sendo contada em palavras, e um corpo que se movimentava como parte integrante dessa estória, francamente autobiográfica: a intérprete questionava a necessidade de uma mulher se adaptar aos padrões físicos de uma sociedade como, por exemplo, ter seios maiores. A cena se dispunha frontal em relação ao público e eram utilizadas algumas fotografias para fortalecer o que era dito, como uma exposição, por vezes irônica. Parecia haver um desejo de deixar muito clara e explicitada aquela indignação: por que um corpo não pode ser diferente do outro? A idéia de um corpo bem formatado para servir aos ideais estéticos de determinada sociedade está ligada à arte, mas também à medicina e ao direito, como diz Michel de Certeau : Milhares de lâminas afiadas e sutis se ajustam às infinitas possibilidades que lhes oferece a mecanização do corpo. Mas a sua proliferação por acaso modificou o seu funcionamento? Mudando de serviço, passando da “aplicação” do direito à de uma medicina cirúrgica e ortopédica, o aparelho dos instrumentos mantém a função de marcar ou conformar os corpos em nome de uma lei. Se o corpus textual (científico, ideológico e mitológico) se transforma, se os corpos se tornam sempre mais autônomos em face do cosmos e assumem a figura de montagens mecânicas, a tarefa de articular o primeiro com os outros continua de pé, sem dúvida, exorbitada pela multiplicidade das intervenções possíveis, mas sempre definida pela escritura de um texto sobre os corpos pela encarnação de um saber. (...) Estranha inércia funcional desses instrumentos, no entanto, sempre ativos para cortar, apertar, modelar as carnes interminavelmente oferecidas a uma criação destinada a fazê-los corpos em uma sociedade. (CERTEAU, 1994, p. 234/235) Essa idéia dos instrumentos sempre ativos para cortar, apertar, modelar as carnes é identificada na questão inicial do espetáculo: uma mulher que pensou em fazer uma cirurgia plástica para se adequar aos padrões estéticos sociais. Esta idéia fala de um pensamento, sendo escrito sobre esses corpos, da escritura de um texto sobre os corpos pela encarnação de um saber. E poderia também ser lida na própria concepção estética do espetáculo, em que um texto conduz os movimentos do corpo. Parecia haver, nos dois casos (sociedade x indivíduo/ pensamento x corpo-em-cena), uma submissão do corpo (à tradução de um ideal de beleza / à tradução de um pensamento). Não era visível, naquele momento, uma autonomia do corpo em relação àquele discurso, uma possibilidade de tomar iniciativas para mudar os rumos daquela narrativa. Um ano depois, presenciei uma palestra/performance de Helena, no Centro Coreográfico do RJ, em que ela falava sobre mudanças feitas no trabalho, agora objeto de sua dissertação no 114 mestrado da Uni-Rio, e percebi que tinha se tornado um outro trabalho. A própria maneira de expor a narrativa havia se modificado: o que havia então era uma conversa com o público, falando de suas inquietações não só com o modelo de beleza, imposto pela sociedade, mas também, quebrando uma forma de representação: não havia mais um espetáculo onde o público paga/assiste e o intérprete representa. No meio da conversa, a intérprete despiu-se do casaco que vestia e exibiu uma blusa com um recorte na altura do peito. Neste momento, houve uma quebra na forma palestrante/platéia e o público ficou mais próximo da intérprete, que mostrou então um vídeo com algumas imagens de seu solo, com movimentos que adquiriram uma potência e dispensavam palavras. Essa ruptura na forma parece ter sido fundamental para expor uma dimensão do humano, irrompendo numa sala formal de conferências, equipada com uma iluminação neutra e convencional. Retornando a Michel de Certeau , pode-se falar aqui de um grito abafado pelos instrumentos sociais de repressão, e que sai como uma diferença do corpo: Pois onde é que há, e quando, algo do corpo que não seja escrito, refeito, cultivado, identificado pelos instrumentos de uma simbólica social? Talvez, na fronteira extrema dessas escrituras incansáveis, ou furando-as com lapsos, exista somente o grito: ele escapa, escapa-lhes. (CERTEAU, 1994, p. 240) Onde há algo do corpo que não seja escrito, refeito, cultivado, identificado pelos instrumentos de uma simbólica social? O que sai do quadro, o que foge, não cabe na forma? Essa parecia ser uma questão importante naquele momento, naquela sala de conferências. Alguns meses depois, vi uma outra versão do mesmo trabalho, agora não mais em forma de “conversa”, mas como apresentação no festival Panorama Rio Dança, numa sala do Sesc Copacabana, que propunha uma intimidade maior com o público em sua configuração: as arquibancadas estavam bem próximas à intérprete. Nesta apresentação, o movimento adquiriu uma autonomia e podia-se ver diferentes qualidades nas formas, várias mulheres na mesma. Não havia mais um discurso, antecipando um conteúdo. As pausas tornaram-se relevantes nas passagens de diferentes retratos e ritmos. O questionamento sobre se conformar ou não a um padrão estético tornou-se menos importante, a 115 questão agora era uma maior exploração dos próprios seios como objeto e matéria do movimento. Houve então um deslocamento de uma questão que inicialmente era fortemente social, de gênero, para um campo também estético. Nesta nova proposição, os seios servem para embalar, num movimento inicial de extrema delicadeza, acompanhados pelos braços; ou mostram uma força quase masculina, ao serem expostos, pequenos e fortes, com uma das mãos manipulando uma camiseta que se torna máscara, escondendo o rosto como algumas milícias armadas fazem nos morros cariocas; ou ainda cobertos por um sutiã bem-comportado, e então, a camiseta vira turbante, como uma mulher que saiu do banho, deslocada do fazer/produzir do mundo, um pouco envergonhada de um feminino que parece só existir na intimidade da casa. A sequência final é mais vigorosa, com quedas e recuperações num movimento obsessivo, que se impõe com mais agressividade no espaço. A pausa em seguida, pela exaustão física a que leva o movimento final, vem com duas perguntas: “por que é que a gente sempre começa de um jeito e acaba de outro?” e “por que é que, pra sentir prazer, a gente também tem que sentir tanta dor?” O corpo que se mostra mais potente é o mesmo que deixa vazar essas perguntas carregadas de fragilidade. Uma fragilidade (força) presente nas três versões do mesmo trabalho, no percurso de uma investigação que não se contentou com uma única resposta. É um corpo de metamorfoses, que para expressar-se, precisa também expor seus erros com seu próprio fazer. Assim a questão inicial sobre o tamanho dos seios vai-se tornando menor, e outras faces e partes do corpo são também potencializadas. O trabalho mostra, com seu percurso, uma recusa a uma conformação não só social, mas também a nível da concepção estética, em seu conjunto de três diferentes versões. Na verdade, não parece ser a última versão a mais verdadeira, ou a mais completa, como se ao longo de todo o processo se chegasse enfim ao melhor resultado. A última versão é uma parte de tudo o que foi feito, sendo a primeira e a segunda igualmente importantes para serem vistas como faces do mesmo prisma. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano. 1. Artes de Fazer. 2ª ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 116 Anexo 3. Cadernos de campo. 117 118 119 120 121
Download