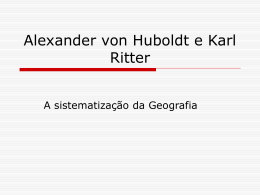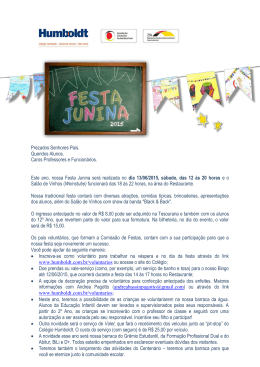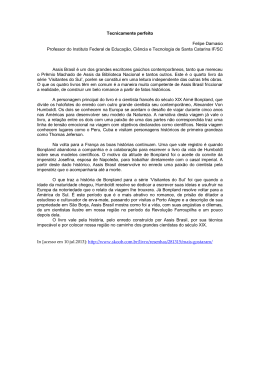HumBOLDt 107 PASSAgENS umA puBLICAçÃO DO gOEtHE-InStItut Humboldt 107 / PAssagens Editorial Johannes Ebert 03 Ulrike Prinz e ISabel Rith-Magni A CAMINHO… PELA ÚLTIMA VEZ… 05 Héctor Abad Faciolince A ÚLTIMA VIAGEM DO NAVIO FANTASMA 07 Antonio Skármeta UMA CANÇÃO PARA HUMBOLDT 09 Ottmar Ette O PENSAMENTO NÔMADE 11 Tobias Kraft NO INÍCIO dE UMA viagem digital 14 Laura Restrepo TERRORES E MILAGRES DA GRANDE VIAGEM 16 Óscar Calavia Sáez OS “SELVAGENS” VIAJAM 19 Hans-Jürgen Heinrichs E Nina Aydt ESPAÇOS E TEMPOS SOB O SIGNO DA AMEAÇA E DA NOSTALGIA 22 Natalie Göltenboth MESTRES DA DESORDEM 25 Sergio Vega O PARAÍSO NO NOVO MUNDO 28 Isabel Rith-Magni A RECUPERAÇÃO DO ASSOMBRO 32 Christoph Otterbeck SOBRE EXPEDIÇÕES CIENTÍFICAS E EXPERIMENTOS ESTÉTICOS 35 Verena Kast LUGARES DO ANSEIO 38 Germán Kratochwil A MIGRAÇÃO ONTEM E HOJE 41 Esther Andradi A PALAVRA VIAJADA 44 Ulrike Prinz EM BUSCA DE REASTROS 47 Rike Bolte transversalia 50 Bernardo Carvalho O EFEITO PARADOXAL DO DISCURSO SOBRE A VIAGEM 53 Martin Meggle Pontos de fuga paradisíacos 55 Christina Michahelles ENTRE ESCRITURA E TRADUÇÃO 59 Berthold Zilly NO PRINCÍPIO ERA A VIAGEM 63 Mario Cámara Afinidades eletivas entre a Alemanha e o Brasil 66 Sylk Schneider O PASSEIO IMAGINÁRIO DE GOETHE SOB AS PALMEIRAS DA AMÉRICA DO SUL 69 EXPEDIENTE 72 Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Johannes Ebert Passagens 3/72 Editorial O atual número, intitulado “Passagens”, é o último a ser lançado em versão impressa. Com sua presença exclusiva na internet sob o endereço www.goethe.de, a partir de 2014, HUMBOLDT continuará ligada à tradição de quem lhe dá o nome, Alexander von Humboldt. Vamos partir com HUMBOLDT para uma nova era! Cristina Barroso (1958, São Paulo, vive em Stuttgart), “Flugrouten” (Rotas Aéreas), 2013. © Cristina Barroso. Foto: Cortesia de Cristina Barroso Na qualidade de revista cultural do Goethe-Institut, HUMBOLDT configura e fomenta o diálogo cultural entre a Alemanha e a América Latina, Portugal e Espanha. Evoca a figura de Alexander von Humboldt, que, com sua pesquisa do continente latinoamericano, estabeleceu os fundamentos de um vivo intercâmbio entre as nações e se tornou símbolo de uma estreita ligação entre a Alemanha, a Europa e a América Latina. Da mesma maneira que seu inspirador, HUMBOLDT também vai a fundo nas questões: duas vezes ao ano, em espanhol e português brasileiro, seus números dedicam-se a um tema central de arte, cultura e sociedade. São premissas da revista a abertura e o interesse por outras culturas, bem como a pretensão de abordar temas sociais de relevância global e de refletir a respeito deles sob diferentes perspectivas. E continuarão sendo, ainda que não mais em formato impresso. O atual número, intitulado “Passagens”, é o último a ser lançado em versão impressa. Johannes Ebert Editorial Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens Quando o primeiro número de HUMBOLDT foi publicado, em 1960, a internet não era sequer sonhada. Hoje ela é em Copyright: todo o mundo um elemento imprescindível do cotidiano, e sua Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion propagação, ilimitada. Por isso, HUMBOLDT quer otimizar as Junho 2013 possibilidades do diálogo multimídia e permitir aos leitores virtuais uma maior participação na elaboração do formato digital, Autor: no endereço www.goethe.de/humboldt. Pois, no que diz respeito Johannes Ebert es Secretario general del Goethe-Institut. a alcance, atualidade e interatividade, a internet oferece muito mais opções que uma edição impressa. O espectro literário desta revista cultural é muito amplo: em suas páginas manifestaram-se importantes personalidades, como Gabriela Mistral, José Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges, Camilo José Cela ou Ramón Menendez Pidal. Outros artigos, por sua vez, vieram das penas de Wolfgang Borchert, Walter Höllerer, Ernst Jünger, Heinrich Böll ou Friedrich Dürrenmatt. No início, HUMBOLDT era publicada pela Editora Übersee, de Hamburgo e, a partir de 1972, pela Editora Bruckmann, de Munique. Foi concebida como meio contra o totalitarismo e, ao mesmo tempo, como uma centelha de esperança: um empreendimento nada fácil diante da situação política de então na América Latina e na Península Ibérica. Seu fundador foi o historiador da arte, tradutor, professor universitário e jornalista Albert Theile (1904– 1986). Opositor do regime nacional-socialista, ele emigrara para o Chile via Noruega, França, Índia, China, União Soviética e Estados Unidos. Em 1952, retornou do exílio e estabeleceu-se na Suíça. Depois de HUMBOLDT, fundou ainda a revista irmã Fikrun wa Fann, dedicada aos países de cultura islâmica. Em 1989, a responsabilidade editorial passou do jornalista Werner Karsunky, sucessor de Theile, para a equipe formada pelas romanistas Brigitte Simon de Souza (até 1993) e Margarete Kraft (até 2007). Desde 1993 até o presente, a historiadora da arte Isabel Rith-Magni é codiretora da redação, primeiramente ao lado de Margarete Kraft, e desde 2007 com a etnóloga Ulrike Prinz. No princípio, a revista era distribuída comercialmente, antes que o patronício fosse assumido pela organização mediadora Inter Nationes, financiada pelo Departamento Federal de Imprensa e Informação e pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Após a fusão de Inter Nationes com o Goethe-Institut, em 2001, HUMBOLDT passou a ser uma das duas publicações suprarregionais dessa instituição cultural internacional da República Federal da Alemanha. Ao longo desse tempo, HUMBOLDT sempre soube conectar o efêmero da resenha de eventos culturais no país e no estrangeiro com o caráter perdurável do impresso. Com sua presença na internet sob o endereço www.goethe. de, a partir de 2014, HUMBOLDT continuará ligada à tradição de quem lhe dá o nome, Alexander von Humboldt, demonstrando interesse, enveredando por novos caminhos e proporcionando uma importante contribuição para o intercâmbio cultural entre os continentes. Vamos partir com HUMBOLDT para uma nova era! < Johannes Ebert , secretário-geral do Goethe-Institut 4/72 Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Ulrike Prinz e Isabel Rith-Magni Passagens 5/72 A CAMINHO… PELA ÚLTIMA VEZ… No princípio era a viagem. A partida para o desconhecido, a odisseia, o grand tour, o hajj, a viagem de descobrimento... e a narrativa a seu respeito. Uma introdução ao dossiê “Passagens”. Seleção de capas e nomes de autores de HUMBOLDT em mais de cinco décadas No princípio era a viagem. A partida para o desconhecido, a odisseia, o grand tour, o hajj, a viagem de descobrimento... e a narrativa a seu respeito. Bruce Chatwin anotou em seus aponta mentos que “os melhores viajantes são os analfabetos; não nos aborrecem com recordações”. E asssim, nós tampouco nos perdemos em lembranças, e em vez de uma retrospectiva da história da publicação da edição impressa de HUMBOLDT, cuja viagem conduz agora ao digital, escolhemos o tema da transição, aquela forma do estar a caminho que conecta a despedida com a chegada, sendo ela própria uma passagem. Contemplamos neste número a viagem sob as perspectivas etnológica, filosófica, psicológica, da históra da arte e da história da cultura, com contribuições vindas como sempre dos dois lados do Atlântico. O tema central é uma homenagem ao patrono de nossa revista, a Alexander von Humboldt e sua lendária viagem à América do Sul com a qual “tudo” começou. Muito aconteceu desde então. A ele, o viajante por excelência, Ottmar Ette descreve como um nômade, cujo modo de pensar e de fazer ciência se caracterizava por um movimento constante, o que torna sua abordagem tão moderna. Os artistas a seu redor tinham a missão de documentar o desconhecido até o último detalhe; depois a fotografia assumiu Ulrike Prinz e Isabel Rith-Magni A caminho… pela última vez… Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 6/72 pouco a pouco essa tarefa. Christoph Otterbeck descreve a libertação da pintura de viagem do espartilho do documental e Copyright: seu desenvolvimento para a visualização de impressões e efeitos Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion bem mais efêmeros. Por sua vez, a fotografia artística de viagem Junho 2013 de um Axel Hütte ou Andreas Gursky contrapõe, numa época do turismo de massas em que já se conhece e se fotografou tudo, Tradução do alemão: um outro olhar ao antigo repertório exótico. Laís Helena Kalka “A vida é uma viagem experimental, feita involuntariamente”, como Fernando Pessoa formulou com acerto em seu Livro do Autoras: desassossego. Laura Restrepo dedica seu ensaio à viagem invo- Ulrike Prinz é etnóloga, especializada em etnologia da arte e luntária dos desterrados, mas também aos que partem voluntaria mitologia, redatora e autora. De 2001 a 2004, deu aulas sobre mente em busca de uma vida melhor, “porque a humanidade está temas latino-americanos na Universidade Ludwig Maximilian de a caminho, em um planeta onde o que flui é permanente e o Munique. De 2004 a 2006, foi assessora do Goethe-Institut de sedentário não passa de miragem”. E enquanto nós procuramos Munique e, desde outubro de 2007, é redatora responsável da rio acima o primigênio, talvez o inamovível, o mais normal é revista HUMBOLDT. que os objetos do afã científico etnológico – como Óscar Calavia constata em relação aos indígenas amazônicos – já estejam em Isabel Rith-Magni é historiadora da arte, especializada em arte direção contrária a caminho da próxima cidade. moderna e contemporânea europeia e latino-americana. Desde A viagem, essa grande metáfora, abrange muito mais: a 1993 é redatora responsável da revista HUMBOLDT. Desde 2004 viagem interior, a viagem ao além e as passagens para outros leciona no Instituto de Tradução e Comunicação Multilíngue da mundos, mundos do sonho e lugares paradisíacos almejados. A Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia e, desde 2012, própria escrita, assim como a atividade artística, é um movi também na Universidade Alanus de Arte e Ciências Sociais. mento constante e um estar a caminho entre os mundos, àst vezes também em ligação com uma ideia de cura. Joseph Beuys, por exemplo, considerava a arte o melhor dos meios para impulsionar processos de cura sociais, tal como Nathalie Göltenboth descreve a trajetória dos artistas xamãs. A viagem, portanto, também como imagem de rupturas, imersões, cruza mentos de fronteiras, encontros e transformações... de passa gens de toda espécie. O atual Ano da Alemanha no Brasil e o fato de o Brasil ser o país convidado da Feira do Livro de Frankfurt deste ano nos serviram de ensejo para, no contexto das “passagens”, dar especial atenção à literatura brasileira em seu modo específico de estar a caminho. Caminhemos juntos, portanto, rumo a um futuro que sempre nos reserva surpresas. Despedimo-nos com agradecimentos de todos os autores, artistas, fotógrafos, de nossa equipe de tradutores e revisoras, que durante anos acompanharam e contribuíram para dar forma à revista. < Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Héctor Abad Faciolince Passagens 7/72 A ÚLTIMA VIAGEM DO NAVIO FANTASMA Uma saudação poética e melancólica a um projeto cultural soçobrante e outros navios fantasmas que sulcam os mares do mundo. William Turner (1775–1851), “Barco em chamas”, 1830, Tate Gallery, Londres. Foto: wikimedia Common Talvez a mais misteriosa e a mais bela de todas as narrativas tradicionais espanholas seja o “Romance del Conde Arnaldos”. O enredo é muito simples: o encontro fortuito do infante Arnaldos com um navio fantasma, com uma galera de quimeras que vem “sobre as águas do mar” e “em terra quer chegar”. O barco é maravilhoso: “Suas velas são de seda / as cordoalhas de ouro tal / âncoras feitas de prata / tábuas de fino coral. / Marinheiro que a guia / vem entoando um cantar / que faz o mar acalmar / os ventos faz amainar / as aves que vêm voando / sobre o mastil vêm posar / peixes ao fundo nadando / acima ele os faz boiar”. O infante gostaria de aprender a canção fantástica que entoa o marinheiro e lhe pede para ensiná-la. A resposta do marinheiro é uma das mais formosas da língua castelhana: “A minha canção não digo / senão a quem vem comigo”. Muitas pessoas que vivem no litoral (pelo menos no exuberante Mar do Caribe) viram ou ouviram histórias de barcas fantasmas que passam ao longo da costa sem ninguém ao leme, com as luzes acesas e as velas içadas, ou – pelo contrário – mais fantasmagóricas ainda, sem luzes acesas, nem velas içadas. Na época de Humboldt, quando as longas viagens se faziam por mar, não era raro encontrar navios à deriva: um barco era um micromundo e, às vezes, seus tripulantes adoeciam da mesma enfermidade e a epidemia matava marinheiros e passageiros, ou um motim de escravos matava tanto negros quanto negreiros, e o Passagens Héctor Abad Faciolince A última viagem do navio fantasma Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 barco seguia flutuando à deriva, com sua carga de sombras, anos a fio, em meio ao oceano e às vezes ao longo do litoral. Quem melhor narrou a travessia fantástica de uma dessas maravilhas foi Gabriel García Márquez em seu conto “A última viagem do navio fantasma”. Convém lê-lo na íntegra, mas só o começo já nos deixa fascinados: Agora vão ver quem sou eu, disse, com seu novo vozeirão de homem, muitos anos depois que vira pela primeira vez o imenso transatlântico, sem luzes nem ruídos, que certa noite passou em frente ao povoado como um grande palácio desabitado, mais vasto que todo o povoado e muito mais alto que a torre de sua igreja, e seguiu navegando no breu até a cidade colonial fortificada contra os bucaneiros do outro lado da baía, com seu antigo porto negreiro e o farol giratório cujos lúgubres fachos de luz a cada quinze segundos transfiguravam o povoado, transformando-o em um acampamento lunar de casas fosforescentes e ruas de desertos vulcânicos, e embora ele fosse na época um menino sem vozeirão de homem mas com permissão da mãe para ficar escutando até muito tarde na praia as harpas noturnas do vento, ainda podia se recordar como se estivesse vendo que o transatlântico desaparecia quando a luz do farol batia no flanco e tornava a aparecer quando a luz acabava de passar, de modo que era um navio intermitente que ia aparecendo e desaparecendo até a entrada da baía, buscando com a hesitação de um sonâmbulo as boias que sinalizavam o canal do porto, até que algo deve ter falhado em suas agulhas de orientação, porque derivou até os escolhos, chocou-se, rompeuse em pedaços e afundou sem um único ruído, embora semelhante encontrão com os arrecifes devesse produzir um fragor de ferros e uma explosão de máquinas que fariam pasmar de pavor os dragões mais adormecidos na selva pré-histórica que começava nas últimas ruas da cidade e terminava no outro lado do mundo, de modo que ele mesmo achou que fosse um sonho, sobretudo no dia seguinte, quando viu o aquário radiante da baía, a desordem das cores dos barracos dos negros nas colinas do porto, as goletas dos contrabandistas das Guianas recebendo seu carregamento de papagaios inocentes com o bucho repleto de diamantes, pensou, adormeci contando as estrelas e sonhei com esse barco enorme, claro, ficou tão convencido que não contou a ninguém nem voltou a se lembrar da visão até a mesma noite do mês de março seguinte, quando estava procurando nuvens de golfinhos no mar e o que encontrou foi o transatlântico ilusório, sombrio, intermitente, com o mesmo destino equivocado da primeira vez... Um barco é muito mais propício que um avião para as efusões fantásticas e os maravilhosos exageros do cancioneiro ou dos romancistas. Mas também nos aviões podem suceder essas viagens poéticas, mesmo que sejam mais breves e produzam menos imagens quiméricas. Há alguns anos, li a notícia de um avião particular que ultrapassou a altura permitida para seu modelo. Sofreu uma despressurização súbita, levando todos os tripulantes a perder a consciência e depois a vida, por falta de oxigênio. O avião continuou voando, com o piloto automático, a quinze mil metros de altitude, com sua carga de passageiros mortos, como um navio fantasma, até que acabou a gasolina e ele despencou por terra, certamente com a mesma emanação de luzes com que o navio de García Márquez se estilhaçou contra o povoado. Uma revista, um projeto cultural ambicioso que une países, línguas e continentes, uma aventura de tanta envergadura, uma viagem de ideias inspirada em um dos maiores viajantes da história, Alexander von Humboldt, muito se assemelha a um navio que navega e sulca as águas do oceano, ida e volta, com mercadorias culturais, com palavras que vão e vêm e conversam e discutem entre si. Os marinheiros dessa galera fantástica, com velas de seda e âncoras de prata, vão cantando suas canções, e nota-se enlevo nos leitores, que já não sentem as ondas, nem o enjoo, nem o tédio, nem a angústia. Se alguém de fora perguntasse qual é o segredo de tanta magia, os marinheiros bem poderiam dizer que, para entender essa canção, seria preciso embarcar: “A minha canção não digo / senão a quem vem comigo”. Os que estão fora dessa aventura dificilmente a entendem. Como não a entendem, suspendem as provisões, a água doce e o alimento fresco. Os marinheiros seguirão cantando, todavia, até o último suspiro, e a revista se tornará um navio fantasma à deriva, com sua carga de sombras, e é possível que afunde “sem um único ruído”, mesmo que esse naufrágio devesse provocar “um fragor de ferros e uma explosão de máquinas que fariam pasmar de pavor os dragões mais adormecidos”. Os que virem da margem passar esse navio maravilhoso de outros tempos, com suas velas içadas, ainda que rasgadas e maltrapilhas, com suas tábuas de coral, com suas cordas trançadas de ouro, mas já à deriva, já sem direção, já muda, a ponto de se chocar contra os arrecifes, com todos os marinheiros mortos, pensarão, ah, como é possível que deixem naufragar esta maravilha, como é possível que não vá sobrar nada das tantas canções que eles cantaram para acalmar as águas, os ventos, os voos, as feras. Mas restará algo, sim, algo que é muito mais do que nada, na realidade, pois sobrevive aquilo que já foi feito: centenas de barcos à deriva, centenas de revistas fantasmas que passarão ao longo de litorais desconhecidos, mesmo que só de vez em quando, para fascinação dos meninos que conservem os olhos e a curiosidade de folheá-las e lê-las, alguma noite, fascinados, em cima de uma montanha ou à beiramar. < 8/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Héctor Abad Faciolince (1958, Medellín, Colômbia) é escritor e jornalista. Publicou vários livros de narrativa, entre os quais Angosta (2004), El olvido que seremos (2005; em português A ausência que seremos, 2011), El amanecer de un marido (2008) e Traiciones de la memoria (2009). Seu último livro publicado é de poesia: Testamento involuntario (2012). É colunista do El Espectador e comentarista esporádico do Neue Züricher Zeitung. Tradução do espanhol: Simone de Mello Antonio Skármeta Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens UMA CANÇÃO PARA HUMBOLDT O escritor chileno despede-se da revista HUMBOLDT com um poema em homenagem ao seu patrono intelectual, Alexander von Humboldt. Johann Moritz Rugendas, “Descanso noturno a caminho do pico do Popocatépetl”.© Kupferstichkabinett, SMB. Foto: Volker-H. Schneider. Sign.: Rugendas Inv. VIII E. 2494 9/72 Antonio Skármeta Uma canção para Humboldt Alexander von Humboldt nome sonoro e profundo Na corrente do Pacífico soube confundir dois mundos A América ancestral prodigiosa rendida à deusa de sua curiosidade Europeia. Não o mero devaneio de botânicas longínquas Mas o afano da viagem e do perigo Dos rios que nutrem a América de sentidos sem revelar De deuses e mares de montanhas e astronomia Toda essa vida fervente que Humboldt sente Não se pode classificar a planta sem tocá-la Não se pode entender o Orinoco Sem ter se afundado um pouco em suas águas Nisto se assemelham O sábio e o poeta Ambos podem construir um cosmos Onde palpitam em uníssono a flor e a estrela O livro e a galáxia a medição e o desatino O castelo da Prússia E o alto templo andino Com muita paciência fez ciência do viver E da ciência vida que se multiplica Humboldt, nome sonoro e canto profundo. Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 10/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Antonio Skármeta é escritor chileno. Entre 1973 e 1989 exilouse em Berlim. Foi embaixador do Chile na Alemanha (2000– 2003). Seus romances foram publicados em mais de trinta idiomas e alguns deles, como O carteiro e o poeta, deram origem a filmes de grande sucesso internacional. Entre as distinções mais importantes que recebeu, encontra-se o Prêmio Planeta (Espanha) por seu romance O baile da vitória. Tradução do espanhol: George Bernard Sperber Informações adicionais sobre a ilustração: Arte inspirada por Humboldt. Viagens de estudo pela América Central e do Sul No século XIX, os pintores Johann Moritz Rugendas, Ferdinand Bellermann e Eduard Hildebrandt fizeram viagens extensas pela América Latina. Com os esboços de viagem e os estudos naturais ali realizados, as representações do subcontinente sul-americano experimentaram um auge notável em toda a Europa. Os três pintores mantiveram um estreito contato com Alexander von Humboldt, que os aconselhou e incentivou. Ele via neles um grande talento e os mencionou elogiosamente no segundo volume de seu Kosmos. Considerava possível unir arte e ciência e que isto contribuiria, para além da observação exata da natureza tropical, para uma renovação da pintura paisagística europeia. (Sigrid Achenbach, extratos de um texto sobre a exposição “Arte inspirada por Humboldt. Viagens de estudo pela América Central e do Sul”, que teve lugar no Kulturforum de Berlim em 2009–2010.) Ottmar Ette Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 11/72 O PENSAMENTO NÔMADE Alexander von Humboldt pode ser compreendido como um nômade da ciência em constante movimento. O caráter móvel marcou seu estilo de pensar e de fazer ciência de um modo igualmente intenso como marcou seu estilo de vida. Eduard Hildebrandt, “Tamandatuy”, 1844. © Kupferstichkabinett, SMB. Foto: Jörg P. Anders. Sign.: SZ O pensamento de Alexander von Humboldt jamais foi monádico, mas desde o princípio nomádico. Nascido em 1769, o mais novo dos dois irmãos Humboldt não correspondia de modo algum ao tipo do erudito caseiro voltado para dentro de si mesmo e que se ocupava apenas consigo e com sua própria disciplina, mas era antes interessado de um modo absolutamente vital no mundo e em todas as suas dimensões: em movimento constante, quase irrequieto. E assim, Humboldt confessou em um pequeno texto escrito em francês em 1806, ao qual deu o insinuante título de Mes confessions (Minhas confissões), aludindo autoironicamente a Jean-Jacques Rousseau, o criador da primeira autobiografia no sentido moderno do termo: “Cheio de inquietude e excitação, eu jamais me alegro com aquilo que foi alcançado e só fico feliz quando faço algo novo, sempre umas três coisas ao mesmo tempo. É preciso que se veja nesse espírito de inquietude moral, consequência de uma vida nômade (vie nomade), os motivos principais da grande incompletude de minhas obras”. Depois da viagem é sempre antes da viagem Se nas linhas citadas a autoironia se mescla à autocrítica, isso sucede apenas para arrancar do ato aquela energia indômita que durante mais de sete décadas de constantes viagens e escritos o animou e estimulou. Alexander von Humboldt trabalhava sem parar em Ottmar Ette O pensamiento nómada Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 12/72 si mesmo. Escreveu as referidas linhas depois de sua grande desdobram um pensamento nômade que é fundamental à nossa Viagem às regiões equinociais do Novo Continente (Voyage aux sobrevivência hoje em dia: um pensamento multilógico, que se régions équinoxiales du Nouveau Continent), que o levara junto fundamenta na sustentabilidade. com Aimé Bonpland ao mundo por ele ardentemente amado dos trópicos americanos, entre os anos de 1799 e 1804. Mal retornou O pensamento nômade Mas o que se pode entender por à Europa dessa grande viagem, no entanto, ele já planejava a um conceito como o do “pensamento nômade”? O autor das próxima, que o levaria às profundezas mais interiores da Ásia Vues des Cordillères et Monumens des Peuples Indigènes de em 1829. Depois da viagem era sempre antes da viagem para l’Amérique não cessava de apontar para a inconclusibilidade Alexander von Humboldt. do saber e da ciência, vinculando a ela o caráter aberto de seu Uma “consciência de mundo” real, conforme a detalhou próprio pensamento e de sua própria escrita. Os plurais dos mais tarde em sua suma operística Kosmos não podia ser títulos de várias de suas obras apontam para o fato de novas adquirida, para Humboldt, sem a experiência, sem a Erfahrung, “vistas e quadros da natureza”, novas “visões da cultura” sempre a experiência através da viagem [o substantivo alemão traz a voltarem a se sobrepor de modo a fazer com que surjam imagens viagem de forma bem visível em seu radical linguístico. N.T.], e literárias do movimento. O caráter móvel do saber como projeto sem a vivência de viagens sempre novas. A visão de mundo de de construção. Humboldt se fundamentava na visão do mundo, na observação do mundo. Territórios do saber Pensar a partir do movimento através do movimento no espaço, no entanto, é, ao mesmo Escrever (n)a modernidade Para Humboldt viajar era, tempo, um pensamento a partir do movimento através das mais portanto, muito mais do que apenas movimento empírico no diferentes regiões do saber. Já no ano da revolução de 1789 espaço a ser medido. Correspondia indubitavelmente a seu o então rapaz de 20 anos caracterizava a si mesmo como um “espírito de inquietude moral” (esprit d’inquiétude morale), porém “estrangeiro” entre as ciências, uma vez que já bem cedo atuou não apenas transferia o movimento interno ao externo, mas sim não apenas como filólogo e historiador cultural, mas também transformava ambos em uma escrita incessante que permeou como matemático e botânico, e conquistou sucessos rápidos toda sua vida. nos mais diferentes âmbitos de uma paisagem científica que se Se toda escrita – conforme nos ensina tanto a epopeia de diferenciava. Falar em “estrangeiro”, nesse caso, deixa claro que Gilgamesh quanto o Shi Jing – desde o princípio é uma viagem na para Alexander von Humboldt não podia haver um território qual os movimentos da mão sobre a superfície e os movimentos “próprio”, nenhuma “disciplina pátria” em si. Apenas quando dos olhos dos leitores se sobrepõem, e na qual ao mesmo tudo podia ser ligado a tudo é que um todo podia ser pensado. tempo as motions se combinam com as emotions, então a escrita Os interesses científicos persistentes iam da antropologia à humboldtiana é movimento potencializado, uma vez que sempre americanística antiga, passando pela geologia e pela geografia, abre as próprias viagens e as viagens alheias em direção a novos pela climatologia e pela teoria da cultura, pela física e pela movimentos, a novas viagens. Todos os textos de Humboldt se botânica até chegar à história da linguística, à vulcanologia e à abrem constantemente a novos horizontes, novas pesquisas, zoologia, em um cientista que, na condição de viajante através novas paisagens da teoria. O caráter aberto justamente de suas das ciências, desdobrou um conhecimento transdisciplinar e, no obras principais é, segundo esse ponto de vista, ao mesmo mais multifacetado dos sentidos, um conhecimento nômade. tempo proposta científica e sinal de honestidade intelectual. Assim como um nômade, Humboldt não buscava tomar posse Como ele poderia concluir o que para ele mesmo continuava de um território nem destruí-lo: não é de admirar, portanto, que sempre em movimento? Como ele poderia conceder à sua “vida tenha se tornado cofundador de um pensamento ecológico ou de nômade” um sedentarismo que para ele na realidade jamais geoecológico. existiu? Humboldt escreveu e publicou suas obras tanto em alemão A escrita humboldtiana é uma escrita na modernidade e quanto em francês. Prussiano? Francês? Europeu, com certeza. uma escrita da modernidade ao mesmo tempo. Os escritos Ele não podia de forma alguma ser usado para objetivos de Humboldt – e também isso é uma característica central da nacionalistas. Em seus diários de viagem encontramos, além do modernidade – não trazem apenas os rastros da história, mas, latim e do espanhol, um grande número de outras línguas que o ao lado das espacializações de sua literatura de viagem, também tecnólogo de minas formado na Academia Mineira em Freiberg as marcas da temporalização de toda experiência, de todo o (Saxônia) soube usar para se comunicar tanto no “Velho” quanto acervo de conhecimento, de toda a compreensão. “O ser”, assim no “Novo” Mundo, tanto em regiões subterrâneas quanto nos ele escreveu em Kosmos, “será reconhecido completamente em mais altos cumes dos Andes. O mundo, Humboldt sabia disso, não sua amplitude e em seu ser interno apenas quando já tiver sido.” podia ser compreendido a partir do ângulo visual de uma única Esse ter-sido histórico da escrita humboldtiana e da ciência língua. As línguas indígenas com as quais ele cruzou deixavamhumboldtiana se abre mais do que nunca ao nosso presente e no tão fascinado quanto as línguas da ciência. Seu pensamento ao nosso próprio futuro. Os escritos de Alexander von Humboldt não poderia ser compreendido sem os constantes processos peregrinam e atravessam o tempo – e no decorrer dos últimos de tradução, sem as transferências e as transformações que 25 anos voltaram visivelmente a ganhar importância. Não necessariamente andam de mãos dadas com elas. porque se tornaram clássicos e se cristalizaram, mas sim porque Passagens Ottmar Ette Pensamiento nómada Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Vida nômade O pensamento desse primeiro teórico da globalização no sentido mais genuíno do conceito é um pensa mento nômade: entre as línguas, entre as ciências, entre os mundos. Assim como sua écriture, qualquer que fosse a língua que usasse, é uma escrita translingual sem endereço fixo, assim também seu pensamento é nomádico de um modo basilar: indubitavelmente marcado pelo pensamento ocidental e unindo de forma assaz pronunciada a ética e a estética, mas ao mesmo tempo sempre variando os pontos de vista a partir do movimento e no movimento, na tentativa de pensar o mundo de um modo novo e impulsionar uma consciência de mundo de múltiplas perspectivas. Seu objetivo era a politopia no sentido de uma pesquisa e de um pensamento a partir de vários lugares. Em outras palavras: Alexander von Humboldt compreendia sua atividade como a tentativa de criar o maior número possível de perspectivas, de vínculos inovadores e interações entre as disciplinas que se diferenciavam cada vez mais, mas também entre as línguas e as culturas. Não estar em casa em lugar nenhum na condição de estrangeiro foi para ele, durante sua vida inteira, o mesmo que a ânsia e o empenho de estar em casa por toda parte na condição de nômade. Assim Alexander von Humboldt pode ser compreendido como um nômade da ciência em constante movimento. O caráter móvel marca seu estilo de pensar e de fazer ciência de um modo igualmente intenso quanto marca seu estilo de vida. E se projeto científico e projeto de vida condizem de um modo tão fascinante em Humboldt como em poucas outras pessoas, são deveras justificados os motivos que tornam adequado falar em uma ciência vivida: exatamente como ela força passagem para se expressar em Mes confessions e no discurso da própria “vida nômade”. Se nós provavelmente desenvolvemos a necessária sensibili dade apenas sob os augúrios de novas e transdisciplinares concepções científicas para compreender o esboço da ciência humboldtiana como uma ciência profundamente transdisciplinar, também compreendemos melhor hoje em dia porque se mal versa seu pensamento – e no pior dos sentidos – de um modo acadêmico, quando se acusa o autor de Kosmos de não ser um especialista de verdade em nenhuma área, em nenhum território. Pois para Humboldt não se tratava de uma especialização, fosse qual fosse, que seria capaz de dialogar apenas de modo fragmentário com outros especialistas, mas sim de um conhecimento nômade, que graças a redes de correspondentes estendidas pelo mundo inteiro e a uma capacidade incansável de trabalho sempre mantém aberta a possibilidade de argumentar ao mesmo tempo a partir de diferentes pontos de vista disciplinares. Mas não nos esqueçamos que Humboldt era animado por um esprit d’inquiétude morale, para o qual também as fronteiras do transdisciplinar de longe também teriam sido demasiado estreitas. O pensamento nomadizante e impossível de ser disciplinado por qualquer disciplina típico de Alexander von Humboldt nos permite algumas visadas à figura do moderno intelectual, que já começava a se desenhar na época de Humboldt, e que justamente não se sente restrito às fronteiras do discurso científico. Se ele por isso durante sua vida inteira exerceu funções que permitem reconhecer nele um intelectual avant la lettre, isso se vincula a uma prática científica não apenas experiente, no sentido de erfahren, ou seja, experiente através da viagem, mas sim também vivida em um sentido bem fundamental, que não apenas investiga sustentabilidade, mas também age de modo sustentável. A época de Humboldt é parte da história, mas seu pensamento nômade não: pois em seus escritos ele permaneceu mais vivo do que nunca – graças ao vigor de mover nossa própria vida. < 13/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Ottmar Ette (1956) é catedrático de Letras Românicas da Univer sidade de Potsdam. Seus campos de interesse como docente e pesquisador incluem: Alexander von Humboldt, as ciências literárias como ciências da vida, a convivência e TransArea studies. Recebeu diversos prêmios por sua obra científica. Desde 2010 é membro da Academia Europaea e, desde 2012, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. Tradução do alemão: Marcelo Backes Informações adicionais sobre a ilustração: “Tamandatuy”, de Eduard Hildebrandt, pertence à coleção do museu de arte gráfica Kupferstichkabinett de Berlim, que conta com um grande número de trabalhos que testemunham a estada de três anos de Johann Moritz Rugendas no México (1831–1834), o período de Ferdinand Bellermann na Venezuela (1842–1845) e a primeira viagem de Eduard Hildebrandt ao Brasil (1844). A maioria dos trabalhos foi adquirida por Frederico Guilherme IV para o Kupferstichkabinett por mediação de Humboldt. Todos eles constituem o cerne de uma coleção excepcional de representações da natureza de países distantes, sobretudo dos trópicos, promovida por Humboldt, que possivelmente tinha em mente uma descrição do mundo – comparável à de seu Kosmos – através de imagens. (Sigrid Achenbach, extratos de um texto sobre a exposição “Arte inspirada por Humboldt. Viagens de estudo pela América Central e do Sul”, que teve lugar no Kulturforum de Berlim em 2009–2010.) Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Tobias Kraft Passagens 14/72 NO INÍCIO dE UMA viagem digital A agenda de Alexander von Humboldt, um exemplo precoce de sistema social e rede de informação complexos. A agenda de Alexander von Humboldt. Staatsbibliothek zu Berlin, PK / C. Seifertt “O senhor de cada um é quem possui o poder de conservar ou afastar as coisas desejadas ou não desejadas por cada um. Então, quem quer que deseje ser livre, nem queira, nem evite o que dependa de outros.” Alexander von Humboldt estava muito familiarizado com estas palavras do Encheirídion. O famoso naturalista e viajante pelas Américas levava sempre consigo o manual do filósofo estoico Epicteto com conselhos para uma vida feliz, quando atravessava a passos largos as ruas de sua prussiana Berlim a caminho de seu próximo compromisso. O pequeno livro foi um presente que lhe dera o seu amigo físico e astrônomo francês François Arago, por ocasião de sua última visita a Paris, em 1847. Junto ao manual de Epicteto, havia outro livro que Humboldt costumava ter sempre às mãos, em sua última fase produtiva, de 1840 a 1850: sua agenda. Ela é talvez um dos comprovantes mais reveladores do seu cotidiano, marcado pelo trabalho incansável, pela correspondência com a elite intelectual, pelos esforços ininterruptos para manter-se sempre atualizado e ativo. Nas 204 páginas da pequena caderneta, totalmente preenchidas com a caligrafia ligeira de Humboldt, encontram-se em ordem alfabética os nomes de quase novecentos correspondentes, contatos e amigos. É um compêndio da vida intelectual, artística e política de sua época, o ponto nodal na rede de conhecimentos de Alexander von Humboldt. Em 2012, a agenda foi manchete em toda a Alemanha, por que desde então passou às mãos do Estado. Não é de admirar que o público tivesse que esperar tanto tempo por um objeto de tamanho valor. Assim como muitos outros documentos do espólio de Humboldt, a caderneta, adquirida em 2012 pela Biblioteca Estatal de Berlim junto com o Encheirídion, tem uma história altamente movimentada. Após a sua morte inicialmente Tobias Kraft No início de uma viagem digital em posse de seu camareiro Johannes Seifert, os dois documentos foram vendidos em 1929 junto com outras preciosidades do espólio ao colecionador berlinense Arthur Runge. Durante a Segunda Guerra Mundial, Runge tentou resguardar a sua coleção depositando-a no cofre de um banco em Frankfurt, mas isso não evitou sua destruição quase total com a invasão do Exército Vermelho. Por sorte para os pesquisadores, Runge guardou alguns objetos consigo. Deles fazia parte, além do manual, a agenda. O trabalho de pesquisa vai a todo vapor. Desde 2012 a biblioteca trabalha em cooperação com o Departamento de Pesquisa Alexander von Humboldt da Academia de Ciências de Berlim-Brandemburgo, para concluir a transcrição da agenda ainda no corrente ano. Mas como disponibilizar esse tipo de texto ao público? O ganho seria pequeno se fosse apenas publicado ou colocado na rede. Porque, como objeto da história da ciência e da cultura, a agenda é muito mais do que o simples texto nela contido: é a expressão da prática de vida e do método de trabalho de uma personalidade berlinense do século XIX, ao mesmo tempo um suporte de dados extremamente dinâmico contendo informações sobrepostas e altamente heterogêneas. O fato de se ter acesso a um documento tão valioso no início do século XXI pode ser qualificado como uma grande sorte para a história das ciências. Nunca a ciência e o público estiveram tão sensibilizados para as questões de organização e acesso a complexas redes de informação e sistemas sociais como agora, em tempos de Google, Wikipédia e Facebook. E nunca as possibilidades tecnológicas e intelectuais foram maiores para lidar com essas relações de forma historicamente adequada. Nesse contexto a agenda de Alexander von Humboldt presta-se especialmente como tema de pesquisa das ciências humanas digitais, já que estas, como desenvolvimento metódico e organizado de maneira transdisciplinar das ciências culturais voltadas tanto para o texto como para o objeto, parecem possibilitar um acesso especial a um objeto tão complexo e impregnado da ideia de rede. O projeto é ambicioso: já que a agenda é uma espécie de ponto nodal para a exploração visual da rede de pessoas e correspondentes de Humboldt, toda sua correspondência conhecida deve ser catalogada e, paulatinamente, digitalizada no âmbito de sua transcrição. Junto com a catalogação de todas as cartas escritas e recebidas por seus correspondentes, pode-se – esta é a ambiciosa meta do processo de digitalização – por meio virtual compor uma ampla rede intelectual da primeira metade do século XIX que, partindo de Alexander von Humboldt, produziu e refletiu para muito além dos limites de Berlim, da Prússia e da Europa um conhecimento do mundo em todas as suas conexões globais. Nesta incursão promissora em uma nova prática científica com viés transdisciplinar e genuinamente digital, figura e obra de Alexander von Humboldt parece ser um objeto de pesquisa ideal e aponta para o futuro de uma área científica que começa a se desenvolver. < Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 15/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Tobias Kraft (1978, Colônia) estudou em Bonn e Potsdam e desde 2008 é colaborador científico no Instituto de Romanística da Universidade de Potsdam. Como diretor do projeto www.avhumboldt.de, desenvolveu em 2009 “Humboldt Digital”. Atualmente está preparando um projeto de pesquisa sobre o futuro do livro digital. Tradução do alemão: Maria José de Almeida Müller Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Laura Restrepo Passagens 16/72 TERRORES E MILAGRES DA GRANDE VIAGEM Um ensaio breve sobre as grandes viagens, voluntárias e involuntárias, em nosso planeta. Emigrantes centro-americanos aguardam a chegada de um trem de carga em Arriaga para viajar aos Estados Unidos nos tetos dos vagões. Da série fotográfica de Kadir van Lohuizen “Via PanAm”: migrações nas Américas. O rastro dos emigrantes, Guatemala / México, novembro de 2011. © kadir van lohuizen / NOOR Eu os vi. Os que empreendem a Grande Viagem, eu os vi. Vêm subindo, e são milhares: fazem parte da migração que começa no princípio dos tempos e se perde de vista adiante. Porque a humanidade está a caminho, em um planeta onde o que flui é permanente e o sedentário não passa de miragem. Você pode comprovar isso no litoral do Golfo de Áden, ao sul do Iêmen, observando como o Chifre da África vai subindo – somalis, etíopes, eritreus –, em busca de um lugar onde a vida seja pos sível. Ali vi as mulheres que não se deixam atemorizar, apesar de saberem que muitas morrerão no trajeto e que outras terão que deixar ali seus filhos, enterrados. Mas sua decisão está tomada e não se deterão até chegar, custe o que custar, seja como for, em barquetas, de pés descalços pelo deserto, mendigando pelas cidades antigas, passando pelo pior e esperando o melhor. Como disse Steinbeck, os homens em êxodo, fugindo do terror […] sofreram coisas estranhas, algumas cruelmente amargas, mas outras tão belas que a fé se lhes reanimou para sempre. Os desterrados por violência interna, esses também pude ouvir. Aconteceu numa zona petroleira e florestal entre a Colômbia e a Venezuela, quando fui despertada, de manhã, pelo estrépito de latões e pelo martelar das tábuas e dos papelões com que os recém-chegados armam suas moradias provisórias, permitindo-se uma paragem e um descanso em meio a uma viagem de muitas partidas e chegada alguma. Foi lá que escutei sua lida e percebi, à medida que avançava o dia, que os barracos erguidos se tornavam cada vez mais frágeis, quase imateriais, e – ao chegar a noite – pareceriam construídos no ar, feitos apenas de anseio, de puro martelar. Passagens Laura Restrepo Terrores e milagres da grande viagem Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Também os vi rindo e brincando. Foi nas cercanias de Tijuana, na linha eletrificada que corta a América em dois, onde um grupo de meninos do bairro pratica o esporte de cruzar a fronteira por uma falha do Muro, sem documentos de identidade e com uma bola de futebol na mão, apenas para jogar uma pelada do lado gringo e depois voltar para casa, desafiando assim a violência dos Border Patrols e o racismo assassino dos Minute Men, ludibriando milhões de dólares investidos pelos Estados Unidos para impedir que o Sul os invada. Apaixoneime pela irreverência lúdica desses meninos de Tijuana, que me fizeram ver com novos olhos o drama dos migrantes sem documentos: não só como crise humanitária – algo que não deixará de ser –, mas também como desafio, audácia, afronta, sede de vida e vocação para a dignidade. Eles me mostraram que a viagem pode ser uma aventura desafiante, que o viajante é capaz de transpassar os limites, burlando essa imposição brutal de impedir que os seres humanos circulem por seu planeta e de dividi-los com muralhas e com leis para seres de primeira e seres de terceira categoria. E também é capaz, o viajante, de desafiar a fome e a guerra que o expulsam do lugar onde sua vida tem significado e sua pessoa goza de respeito, onde pode ensinar a seus filhos o enraizamento e uma língua, onde pode celebrar os acontecimentos de sua história e venerar as tumbas de seus ancestrais. Ao contrário da opinião dos racistas de todo gênero, a Grande Viagem, a viagem da humanidade em marcha, a dos deslocados e migrantes, o êxodo mítico, teve e continua tendo um caráter claramente fundacional, por difundir a cultura, gerar novas civilizações e funcionar como motor para que o mundo prossiga. Por isso, esse é o tema central das grandes gestas dos povos, desde a Eneida, que relata como Eneas foge de uma Troia derrotada e destruída, levando sobre os ombros seu pai e na mão seu filho, e após superar as penúrias e os perigos do desterro, consegue fundar Roma. Também deslocado, Moisés, expulso da pátria e empreendedor de uma viagem repleta de emboscadas, sim, mas ao mesmo tempo propiciador de uma fé que lhe permite adoçar as águas amargas, a fim de que seu povo não morra de sede, fazer chover maná, para que seu povo não morra de fome, e encaminhá-lo a uma terra prometida que, no final das contas, ele, Moisés, não chegará a ver. Outro peregrino é São Tiago, que percorre a pé uma Via Láctea terrena em busca da estrela, até chegar a Compostela, lugar ideal que talvez signifique justamente isso, campus stellae. E assim como São Tiago, também são viajantes em busca da estrela aquelas costas molhadas que o cineasta Fernando León de Aranoa viu atravessar, à noite e a nado, o Río Grande del Norte, sem contar com outro guia a não ser a luz de neon de uma grande estrela que servia de anúncio a um cassino da margem oposta. E viajante por excelência é Noah, protagonista de As vinhas da ira e membro de uma de muitas famílias pobres de colhedores de uva que, durante a Grande Depressão, foram expulsas de suas casas na Califórnia em decorrência da seca e da industrialização da agricultura. Steinbeck se refere da seguinte forma a Noah: ... fazia tudo, mas parecia que nada lhe importava. Sentia apenas indiferença para com as coisas que as pessoas desejavam e necessitavam. Vivia numa estranha casa silenciosa, da qual olhava para fora com olhos tranquilos. Era um estranho para o mundo... Assim é o viajante – chame-se ele Ulisses, Eneas ou Moisés –, e também extracomunitário, ilegal, exilado, sem documento, costas molhadas ou Noah. Qual será seu destino, o final de sua viagem, a utopia que persegue sem ter obtido de ninguém uma promessa nesse sentido? Nos territórios antípodas às cidades amuralhadas, que servem de resguardo aos que têm muito contra os que não têm nada, a utopia resplandece como uma terra de perdões, onde seja possível recomeçar. Um lugar livre de culpa e de rancor, onde todos caibam e onde se possa dizer, como o fez Descartes, que “o mundo sempre está começando”. Perdoar, aos outros e a si mesmo, como ponto de chegada, depois de ter-se aberto à suspeita de que talvez haja outro caminho, diferente do gargalo da garrafa ou do sem sentido do labirinto. Perdoar como ato moral total, ou obrigação universal, segundo propõe Stanislas Breton: uma espécie de atividade de perdoança, com caráter mais cósmico que moral. O final da viagem seria então um santuário ou círculo de proteção, um refúgio aonde não chegue o castigo, a vingança ou a mão do Poder. Quasimodo, tentando proteger Esmeralda nas altas abóbadas da catedral, grita essa palavra, santuário, apelando assim a um acordo ancestral entre os homens, segundo o qual existe no mundo um lugar único e inviolável onde o perseguido, o fraco, o ferido, o desarmado, o doente, o faminto, a mulher, a criança e o ancião podem se salvar dos impiedosos e dos violentos. Ou talvez o final da viagem seja uma porta aberta, a da solidariedade e do acolhimento, a porta aberta da confiança e do fim do medo do outro, como mostra William Saroyan em sua Comédia humana: — Mamãe – disse –, alguém está sentado nos degraus do nosso alpendre. — Bem – disse a senhora Macauley –, sai e diz para entrar, seja quem for. A viagem como nostalgia, que vem do grego nostos, regresso, e algos, dor, sendo – portanto – a tristeza pelo não retorno, saudade de casa. Mas a viagem também é Fernweh, esta palavra que só existe em alemão, creio eu, e que designa a saudade, não do lugar que se teve, mas sim daquele que ainda não se tem. Anseio de países distantes: o que os portugueses chamam, com tanta beleza, de saudades de longes terras. Segundo Jung, quando a viagem é interior e individual, desloca-se em direção às terras do sonho; quando é coletiva e exterior, entra no território do mito. E aí, entre o sonho e o mito, se encontra a Grande Viagem, a iniciática, a fundacional, aquela que parte da nostalgia para chegar ao Fernweh, e que em algum ponto do trajeto propicia a revelação: esse instante privilegiado e luminoso que, para os religiosos, é sentimento místico e, para os leigos, sentimento oceânico. E que para outros, ainda, viria a ser yugen, termo japonês que indica a autoconsciência inefável do universo. Não é à toa que o Livro do Graal – o da eterna busca e do permanente círculo entre perda e encontro – anuncia a travessia com esta lenda: Aqui começam os terrores, aqui começam os milagres. < 17/72 Laura Restrepo Terrores e milagres da grande viagem Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autora: Laura Restrepo escritora colombiana, autora de doze romances, foi traduzida para mais de vinte idiomas e agraciada com vários grandes prêmios internacionais, entre os quais o Alfaguara de Novela, na Espanha e América Hispânica; o Prix France Culture, prêmio da crítica na França; o Grinzane Cavour, na Itália. É ainda jornalista e professora universitária. Tradução do espanhol: Simone de Mello Informações adicionais sobre a ilustração: “Via PanAm”: migrações nas Américas “Cruzar todo o México é o primeiro obstáculo que os emigrantes da América Central precisam superar em sua viagem aos Estados Unidos. Percorrem o país de ônibus, a pé ou em cima de trens de carga. É uma viagem perigosa. Ilegais e, portanto, sujeitos a humilhações, estes emigrantes, quando tentam evitar as autoridades, correm o risco de se tornar vítimas do tráfico humano, objetos de roubos, violações ou assassinatos. E, apesar de tudo, continuam cruzando diariamente a fronteira mexicana, buscando um lugar nos trens em direção ao norte.” É assim que comenta sua fotografia o fotógrafo Kadir van Lohuizen (Países Baixos, 1963), que fez a cobertura de conflitos na África e em outros lugares, mas é provavelmente mais conhecido por seus projetos de longa duração sobre os sete rios do mundo, a indústria do diamante e a migração nas Américas. Para sua série fotográfica “Via PanAm”, viajou durante um ano (2011–2012) pela Panamericana, desde a Terra do Fogo na Patagônia até Deadhorse no Alasca. Recebeu numerosos prêmios e galardões no campo do jornalismo fotográfico. Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 18/72 Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Óscar Calavia Sáez Passagens 19/72 OS “SELVAGENS” VIAJAM Não há um grau zero da viagem, nenhum paraíso do absolutamente local; toda pátria tem algo de porto. Kadir van Lohuizen, da série fotográfica “Via PanAm”: migrações nas Américas. Vida indígena em Lima, Peru, maio de 2011. © kadir van lohuizen / NOORt Um dos primeiros – e melhores – romances de Alejo Carpentier relata a odisseia de um músico à procura de raízes. Deixando para trás um mundo de orquestras sinfônicas e de rádios estridentes, remonta o Orinoco reencontrando-se com formas tradicionais – depois arcaicas, depois primitivas – da sua arte. Melodias de um folclore mestiço, violeiros que narram os feitos de guerreiros ou bandidos, ou atabaques que celebram os deuses da África. Por fim, perto das fontes do rio, o músico descobre índios nus, cantos e flautas em que identifica a expressão mínima e originária da música. Rio acima Poderíamos imaginar um final alternativo para o romance de Carpentier. O viajante, depois da sua singradura águas acima, chega na aldeia primigênia e a encontra vazia: os músicos primordiais foram a Berlim, gravar um disco em parceria com uma estrela do rock. Isso poderia acontecer a qualquer um, e de fato aconteceu comigo: quando da minha pesquisa de campo entre os Yaminawa, esforçava-me a procurá-los na sua aldeia, perto das fontes do rio Acre, e custava-me aceitar que eles estivessem quase sempre na cidade, ou em outra aldeia, ou em qualquer outro lugar, de passagem. Selvagem é um belo nome que não merece ser usado como insulto; na sua origem, designava o morador das selvas, e há muito tempo sabemos que este pode ser mais gentil e discreto que o morador da cidade. Mas pensamos ainda que ele seja mais simples, e também que ele seja imóvel. Nos depararmos com ele longe da selva continua a nos parecer um paradoxo, e teimamos em acreditar que isso se deva a um acidente. Deve ter sido expulso de suas terras, deve estar à procura de bens e serviços que lhe são necessários. Se estar fora é um acidente, a essência deve consistir em ficar, ficar no recôndito da selva, quieto. O progresso tem sido muitas vezes descrito como uma capacidade crescente de se mover, que começa com passos hesitantes e acaba num vai e vem ensandecido de um extremo ao outro do planeta. Para que todo esse agito tenha sentido, é necessário imaginar um ponto de referência que não se desloca, um ser humano perfeitamente Passagens Óscar Calavia Sáez Os “selvagens” viajam Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 local, fundido com seu meio ambiente. É imaginar demais. Os selvagens sempre viajaram, e nem sequer se pode dizer que tenham sido os primeiros: animais e plantas viajaram muito antes que eles, e até as massas continentais moveram-se. O sonho da pátria imóvel sempre à nossa espera é na verdade um fruto da fadiga de viajar. Mais corriqueiramente, os índios viajantes são a imagem da exclusão; porque os direitos de que dispõem são os de um ente imóvel, caducam nas fronteiras de sua aldeia. Longe dela, não é possível caçar, tomar banho no rio ou levantar um abrigo para passar a noite, e tudo tem seu preço: a comida, a água, até o lugar onde se dorme devem ser pagos com dinheiro – o dinheiro, esse viajante por excelência. Os índios viajantes costumam ser descritos pelos jornais com outro nome: mendigos. É um destino comum, porque no mundo dos brancos viajar, antes de ser o luxo por excelência, foi a maldição por excelência. Adão e Eva saem caminhando do Paraíso, e Caim é um andarilho. O Holandês Errante ou o Judeu Errante são os protótipos tristes do frequent traveller das companhias aéreas. O viajante é um despossuído; é esse estrangeiro para o qual a Bíblia recomendava que se deixassem no campo (também para o órfão e a viúva) algumas espigas e alguns cachos sem coletar; tornar-se-á rico de algum modo se conseguir voltar à casa e desfrutar dos ganhos, do seu prestígio ou de sua experiência. Nem todos conseguem. Nas memórias de expoentes do movimento indígena que começaram a ser publicadas recentemente – livros tão diferentes como o de Raoni e o de Davi Kopenawa –, as viagens ocupam boa parte do texto. E incluem uma advertência: eles foram recebidos por reis, presidentes e celebridades do espetáculo, mas isso é a exceção, de modo que o melhor é evitar o deslumbramento e se entrincheirar na própria terra, nas tradições próprias, no saber antigo; permanecer amparados pelas raízes. Essa não é a voz da tradição ancestral, mas a de uma nova experiência, porque esse lema tão badalado da terra sem fronteiras é enganador: as fronteiras se multiplicaram. Se perderam força entre os Estados cá ou lá, é porque quase tudo foi delimitado por fronteiras privadas, e não se pode mais ir cortando a selva ou o campo ou a cidade. Embora seja ainda possível viajar como o faziam os selvagens – vivendo sobre o terreno, entre amizades e hostilidades, e em suma em intimidade com o caminho –, isso é cada vez mais difícil. Viagens (dos) selvagens Se os povos da Amazônia – quase que os últimos representantes do selvagem – nos pareceram imóveis durante um par de séculos, foi porque nós mesmos os imobilizamos. Pelo mal, cercando o seu espaço com ameaças que preferiam não enfrentar, ou pelo bem, garantindo-lhes territórios ancestrais dos quais seu desejo, supomos, é nunca se afastarem. Por isso, cada vez que se encontra um nativo longe de suas terras o comum é se surpreender e perguntar-lhe, ou pelo menos perguntarmo-nos, o que está a fazer lá. A melhor resposta é a mais simples: lá está porque os selvagens viajam, e sempre viajaram. Cada vez que os primeiros exploradores espanhóis do Amazonas perguntavam a seus anfitriões – voluntários ou à força – obtinham respostas sobre reinos longínquos, não relatos sobre como o mundo foi criado lá mesmo. Toda a mitologia do Alto Rio Negro, que trata precisamente da criação, a descreve sob a forma de uma viagem, a da Grande Cobra primordial, rio acima. A América é, em geral, um continente pouco fértil para as fábulas da autoctonia – essa pretensão de que os homens estão no seu lugar porque alguma vez brotaram do próprio chão. Os arqueólogos, desde o primeiro, sempre supuseram que os índios tinham chegado lá desde outras terras, e não poucas lendas locais dizem o mesmo. E não se trata apenas de migrações de todo um povo. Uma mitologia mais modesta, como a dos Yaminawa, nos fala sempre do que acontece a sujeitos que se deslocam: curtos ou longos, os caminhos são o cenário dos dramas humanos. Viaja-se à procura de esposo ou esposa, viaja-se para fazer a guerra, ou viaja-se sem motivo nenhum; curta ou longa, a viagem é sair do lar para se expor ao imprevisto. A famosa busca da Terra sem Mal, tão cara aos etnólogos, desdobra-se quando se olha mais de perto a prática concreta dos Guarani, numa multidão de viagens entre aldeias, que passam pelo incômodo das estradas e das cidades antes de acabar em reencontros, infortúnios ou descobertas; quiçá um novo lugar melhor para viver. Na Amazônia são numerosas as etnias comerciantes como os Ingarikó ou os Piro; ou os outrora chamados Campa, que realizavam séculos atrás expedições de centenas de quilômetros águas abaixo do Ucayali nas suas canoas para comerciar com o sal que apenas eles possuíam. E isso numa economia onde em princípio nenhum elemento importado, nem sequer o sal, seria imprescindível; caberia se perguntar se a viagem era um meio para o comércio, ou o comércio era um pretexto para ver o mundo. Fronteiras privadas Para alguns povos da Amazônia, esse sal tem sido substituído pela autenticidade: quanto mais autóctones eles sejam, quanto mais isolados no seu canto de floresta pareçam, mais fácil será que sejam chamados ao outro extremo do mundo para mostrá-lo, para exibir suas máscaras, seus rituais e suas danças. Mas essa é a aristocracia das viagens indígenas, a que costuma interessar a jornalistas e etnólogos. 20/72 Rio abaixo O burburinho das viagens de negócios e turismo tende a ocultá-lo, mas os seres humanos estão mais localizados que nunca, e se muito se deslocam é porque as distâncias foram anuladas: viaja-se por corredores bem definidos e com marcos reconhecíveis – um caixa eletrônico, uma cadeia de restaurantes conhecida, esses aeroportos que são iguais em toda parte. Reservam-se com antecedência as noites, tenta-se garantir que sempre seja possível voltar à casa no dia seguinte, e em geral tudo é preparado para que na viagem nada aconteça. Os índios, na sua maior parte, estão bem longe de poder viajar assim, ou, o que é mais importante, de desejá-lo. Ninguém que tenha organizado uma viagem de músicos ou artistas indígenas a outro continente deixa de ter sua história, por exemplo, sobre aquele que se desgarrou do grupo enquanto olhava fascinado uma banca de laranjas. A disposição a procurar ou a se deslumbrar continua a ser irresistível. É uma esperança para os que meditam tristemente sobre o ocaso das viagens; talvez nós não esperemos mais nenhuma revelação rio acima, mas eles, quem diria, continuam a encontrá-la com facilidade rio abaixo. É a nossa vez de parecer autênticos. < Óscar Calavia Sáez Os “selvagens” viajam Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Óscar Calavia Sáez (1959, La Rioja, Espanha), antropólogo e romancista, é professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em etnologia amazônica. Entre seus livros de pesquisa, destacamse Fantasmas falados (1996) e O nome e o tempo dos Yaminawa (2006). Publicou três romances, La única margen del río, Las botellas del señor Klein (XXXI Prêmio de Novela Tigre Juan de Oviedo) e Amazonia-China: dos viajes de vuelta (VII Prêmio Eurostars de Narrativa de Viagens). Tradução do espanhol: o autor Informações adicionais sobre a ilustração: Vida urbana indígena Há alguns anos, uma dezena de famílias shipibas da província de Ucayali, a mais de 800 km ao nordeste da capital, se transladaram da Amazônia oriental peruana para Lima. Foram parar no bairro urbano de Cantagallo, no meio da cidade e muito próximo da rodovia Pan-americana. “Os Shipibo não são proprietários da terra onde ergueram suas moradias. A autorização que o governo deu para o assentamento às margens do Rímac era apenas provisória. Em qualquer momento eles poderiam ser expulsos de suas casas, mas reclamam seus direitos como povo indígena. Em 2011, apresentaram à cidade uma proposta para um projeto de desenvolvimento de sua comunidade e de suas moradias como atração turística. Desta maneira, poderiam obter também os direitos de propriedade.” É assim que comenta sua fotografia o fotógrafo Kadir van Lohuizen (Países Baixos, 1963). Para sua série fotográfica “Via PanAm”, viajou durante um ano (2011–2012) pela Panamericana, desde a Terra do Fogo na Patagônia até Deadhorse no Alasca. Recebeu numerosos prêmios e galardões no campo do jornalismo fotográfico. Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 21/72 Hans-Jürgen Heinrichs e Nina Aydt Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 22/72 ESPAÇOS E TEMPOS SOB O SIGNO DA AMEAÇA E DA NOSTALGIA Sobre a viagem como o espaço entre os espaços e o tempo entre os tempos. Michael Rakowitz, detalhe da instalação “What dust will rise?”, 2012 © Michael Rakowitz. Foto: Fabian Fröhlich A pergunta da redação da HUMBOLDT era: Você gostaria de escrever sobre a viagem como o espaço entre os espaços e o tempo entre os tempos? A pergunta toca os lugares reais e que povoam a fantasia, aqueles que se procura com ansiedade quando se está de viagem, e sua ameaça fundamental. Partimos da situação real e nos pomos em busca de espaços e tempos (“entre os espaços e os tempos”) que não estão sob ameaça imediata da destruição: a imaginação, o mito, o sonho. De forma que a atmosfera é bastante diversa: primeiro de opressão, aí mais alegre, e de uma vez, no fim, seguimos a viagem como ela começou na infância, sendo então obrigada a processar os mitos e as decepções. Às vezes o próprio mito volta então. Viajar sob o signo da ameaça O viajar continua atrelado à fantasia e à nostalgia, à imaginação e ao imaginário – mesmo quando os lugares aos quais as fantasias podem se dirigir diminuam ou até se encontrem sob ameaça de desaparecer. O espaço da fantasia do estar a caminho e do desejo de trans formação e mudança continua intacto. Tomemos o exemplo das viagens atuais ao mundo árabe. A Revolução Árabe fez surgirem novas grandes visões e, já depois de pouco tempo, destruiu muitas dessas visões e, com elas, a fantasia e a euforia. A destruição afeta as pessoas do mundo árabe. E ela atinge as pessoas do mundo ocidental não apenas politicamente em seus desejos de democracia, mas também emocionalmente. Passagens Hans-Jürgen Heinrichs e Nina Aydt Espaços e tempos sob o signo da ameaça e da nostalgia Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Quando nos deparamos emocionalmente com a violência incessante nos países árabes, nos confrontamos com o sofri mento das pessoas, com a situação dramática de vida, é então permitido ou é cínico que lamentemos posteriormente nossas fantasias e anseios das cidades e paisagens tal como as conhecemos uma vez? Que sonhemos com o exotismo, ou seja, com a exaltação individual de outras formas de vida? Ou está exatamente nessa lembrança e fantasia a força para protestar, de fora e de longe, contra essa degradação, e para nos engajarmos? Alguns países que, graças à Primavera Árabe, conseguiram se libertar de seus dominadores despóticos, vivenciaram também destruições e ameaças de seu patrimônio cultural e religioso. E as imagens que chegam a nós da Síria sob o governo Assad vão além das possibilidades de nos debatermos emocionalmente com cada destino individual das pessoas, das cidades ou dos monumentos. O lendário e antiquíssimo bazar na síria Aleppo, edificações de mais de 2.000 anos, mais de 1.500 lojas, um patrimônio cultural da humanidade foi destruído, tendo-se falado até mesmo de um enterro. O petróleo que se vendia ali fez do incêndio um inferno. E os moradores não tiveram nem mesmo forças suficientes para o luto, relata a escritora síria Maha Hassan. Ou tomemos as viagens atuais à África. O Mali, por exemplo, é para mim uma catástrofe praticamente inconcebível, de tal forma que me pareceu quase impossível acompanhar as notícias sobre o golpe violento, a destruição assassina de monumentos culturais, mesquistas e mausoléus com picaretas, machados e outras armas pesadas. Nos anos 1970, vivi nas cidades míticas Gao e Timbuktu e nas paisagens que agora presumivelmente fazem parte de um Estado islâmico radical. Como no caso de Aleppo, o luto de muitos moradores era tamanho que as pessoas nem mais conseguiam chorar. Há, na história da humanidade, realmente um desenvolvimento linear rumo à civilização e à humanização do homem? Depois da destruição dos Budas milenares de Bamiyan, de diversas cidades antiquíssimas, museus e jazigos no Iraque, Egito e na Líbia, e agora também no Mali e em Aleppo, é preciso questionar essa premissa. Mas será que não precisamos nos ater a nossas fantasias, visões e anseios exatamente quando a violência e a destruição são tão fortes? O que foi feito dos tuaregues (com sua cultura, sua língua enigmática, o tamaxeque, e seu alfabeto de hieróglifos, o tifinagh)? Sem eles não posso nem imaginar minha vida, minha partida em fins dos anos 1960 para os mundos opostos à Alemanha do pós-guerra: o espaço africano, árabe, asiático e da Oceania. Em relação ao tempo, o sonho tem algo de libertador. Também nos estados de êxtase – ou seja, quando se está fora de si – a consciência de tempo não é desligada, mas modificada. Consta que no êxtase ritualizado xamânico, com suas formas e performances pré-teatrais, em estados hipercinéticos a separação entre o céu e a terra pode ser superada através de uma viagem ao além. Os xamãs retomam a ligação com o além, que foi rompida num tempo mítico. Não seria este nosso estado natural? E também o estado que nos está disponível quando estamos a caminho de mundos opostos? Olhar para os ciclos de grande formato nos ajuda, ante as ameaças e destruições atuais? Os mitos narram a respeito de grandes ciclos e a respeito de um tempo ao qual a história não chega, de um tempo primordial, de um tempo dos começos. Este tempo dos primórdios é o que se tenta renovar nas culturas e nos ritos. Os mitos narram “como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir [...].É sempre, portanto, a narrativa de uma ‘criação’ [...] o mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente”. Com essa argumentação provocante, Mircea Eliade constata que os mitos (ao contrário das lendas) são “histórias verdadeiras”, que tratam de uma realidade, de algo que se manifestou amplamente, de algo que se revelou. A história “verdadeira” e “sagrada” de todo mito remete sempre a realidades: “O mito cosmogônico é ‘verdadeiro’, porque a existência do mundo aí está para proválo; o mito da origem da morte é igualmente ‘verdadeiro’, porque é comprovado pela mortalidade do homem, e assim por diante”. A linguagem da Bíblia, das sagas, fábulas e dos mitos eleva o pensado e o imaginado a uma esfera atemporal, a espaços imensuráveis. Mircea Eliade fala, com relação ao tempo presente, de “traços de um ‘comportamento mitológico’” e do desejo “de reencontrar a intensidade com que se viveu, ou conheceu, uma coisa pela primeira vez; de recuperar o passado longínquo, a época beatífica do ‘princípio’ [...], a mesma esperança de se libertar do peso do ‘tempo morto’, do tempo que destrói e que mata”. Se separamos rigidamente o histórico do pré-histórico e confrontamos um com o outro, perdemos a percepção de que também os mitos têm um contexto social e histórico e que, como expressou Bronisław Malinowski, “os mitos dominam e regulam muitos fenômenos culturais, formando a espinha dorsal da chamada civilização primitiva”. O conteúdo atemporal dos mitos é invocado pelas pessoas em meio a um tempo histórico para pôr fim a divergências. O mito é também uma representação do “infinito no finito”. Lugares sem tempo Mas esse mundo oposto está ligado a lugares reais em seu contexto histórico em mudança constante? Dependemos do tempo e do espaço em nossas visões, fantasias e imaginações? Há lugares sem tempo? Qualquer pessoa sabe como os conceitos de espaço e tempo deixam de vigorar nos sonhos. O sonho se estende em todas as direções ao mesmo tempo, no ontem e no hoje; e pessoas há muito desaparecidas, mortas ou banidas estão com frequência presentes nos acontecimentos do sonho. A viagem que começou na infância No dia em que completei 13 anos, ganhei de presente um romance com o qual, ainda na tarde daquele dia, me retirei para ler em meu quarto. Junto com os protagonistas, saí numa viagem de aventuras a cenários dos quais, até aquele momento, eu pouquíssimo sabia da existência. Mergulhei num mundo que me pareceu estranho, surreal, mas ao mesmo tempo familiar, até mesmo palpável. No papel de observador, fui me tornando, a cada página que lia, parte daquela história. Assim me sentia um aventureiro 23/72 Hans-Jürgen Heinrichs e Nina Aydt Espaços e tempos sob o signo da ameaça e da nostalgia audacioso, que cruzava totalmente sozinho, a pé ou no lombo de um camelo, a imensidão infinita do Saara e constatava com surpresa a diversidade da paisagem que se escondia por trás de cada duna. Qual equilibrista sobre a corda bamba, eu me movia entre um polo e outro de minhas vivências: passeando comodamente, pulando, dançando e às vezes também com pressa. Quanto mais eu viajava e assimilava aquele mundo estranho, mais eu começava a compreender que estranheza e beleza viviam dentro de mim. Pois era eu quem determinava o mito, o espaço de fantasia de cada lugar por onde passava. A essa experiência inicial associamos nossas viagens posteriores. Convertemos cidades como Veneza ou Paris em lugares tão míticos, que estamos sempre ameaçados de perder o equilíbrio na tentativa de experimentar também fora de nós o mítico que carregamos em nosso interior. Assim como os palazzi do outro lado do canal se tornam novamente visíveis, quando a névoa se dissipa, os lugares marcados pelo mito também reaparecem na lembrança depois da viagem, quando não conseguimos preenchê-los na própria vida da forma como a imaginação nos fizera supor. Por exemplo essa formação frágil de pedra, água e lama, os passeios pelas ruelas estreitas e sobre as pontes, as viagens no vaporetto. Ali estava ele de novo: o mito, fantasmagórico como numa aquarela, pronto para desaparecer a qualquer momento. Viajando e escrevendo, tentamos conceder a ele uma duração e convertemos aquele tempo num tempo de agora. < Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 24/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autores: Hans-Jürgen Heinrichs é etnólogo e autor de numerosas bio grafias, escritos de teoria da cultura, trabalhos em prosa e livros sobre viagens, entre os quais Das Feuerland-Projekt, Die geheimen Wunder des Reisens e Der Reisende und sein Schatten. Nina Aydt é escritora. Atualmente está escrevendo seu primeiro romance. Tradução do alemão Soraia Vilela Informações adicionais sobre a ilustração: Michael Rakowitz: “What dust will rise?” Os 33 livros de pedra são reproduções de valiosos manuscritos históricos queimados totalmente ou danificados pelo fogo ou pela água em 1941 na biblioteca do Fridericianum, em Kassel, entre os quais a Canção de Hildebrando, do século IX, o mais antigo poema épico germânico já encontrado. Para a dOCUMENTA (13), o artista de origem judaico-iraquiana Michael Rakowitz, nascido em Nova York em 1973, mandou talhar os livros perdidos em travertino proveniente de uma pedreira da província de Bamiyan. Desse modo, carregava de significado também o material, já que em 2001 duas estátuas gigantescas de Buda do século VI foram destruídas em Bamiyan (Afeganistão) por talibans. O tema principal, “a destruição por motivos religiosos”, esteve presente também nas vitrines em volta dos livros em Kassel, através de peças encontradas em Bamiyan e em outros lugares destruídos, como um fragmento do piso de granito do World Trade Center ou munições e cartuchos da Segunda Guerra Mundial. A instalação ilustrou que em todos os casos os ideais de guerra foram mais importantes que a preservação dos bens culturais. Ao final resta a pergunta: “What dust will rise?” – Que poeira ressuscitará? (Texto baseado em fragmentos ligeiramente modificados da interpretação da obra de Julia Geiger em http:// vermittlung-gegenwartskunst.de/) Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Natalie Göltenboth Passagens 25/72 MESTRES DA DESORDEM Artistas e xamãs como mediadores entre os mundos. O que significa para a arte a identificação do artista com o xamã, a transferência do conceito de xamã ao artista? Representación de una transformación: hombre-jaguar. Mitla, Oaxaca, México. Foto: Bildarchiv Staatliches Museum für Völkerkunde de Múnich Eles dedicam seu tempo a um grande número de ações lentas que, face a considerações racionais a respeito da relação custobenefício e explicações científicas, parecem apenas absur das. Assim como Teresa Pereda, carregam terra de um canto do mundo a outro, peregrinam por esse mesmo mundo e documentam seus vestígios, como faz Richard Long, falam com animais mortos, como faz Joseph Beuys, coletam, como faz Nikolaus Lang, as sobras de uma vida passada para assemblagens, ou ficam durante dias nus em florestas, como faz Chloé Piene, para descobrir sua natureza animal. Contramundos na arte Com seus trabalhos, os artistas partem de coordenadas que muitas vezes se localizam além da escala de valores social. A arte está fora do contexto das construções cotidianas de realidade, ainda que jamais seja apenas a questão meramente individual de um artista e sempre esteja em diálogo com necessidades e experiências sociais, e dessa forma também visualize realidades sociais. Muitas vezes, ações artísticas abrem caminho a uma outra realidade, a um contramundo que parece estranho e às vezes até bizarro. Um campo de novas experiências possíveis, de novos modos de ver e conhecimentos que acabam atuando retroativamente sobre o observador. Os construtores e mediadores desses contramundos muitas vezes são estilizados, eles mesmos, em figuras de oposição, ou adotam essa posição. No decorrer da história intelectual europeia os artistas esboçaram autorretratos a partir da autocompreensão cambiante do que significa artista, retratos estes que envolviam sofrimento, inspiração e sensibilidade, e com isso se posicionaram, eles mesmos, à margem da sociedade Passagens Natalie Göltenboth Mestres da desordem Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 que ainda assim esperavam influenciar positivamente com suas obras. E nesse aspecto o xamã ofereceu sempre uma figura de identificação ideal e idealizada que parecia reunir em si os aspectos centrais do conceito de artista. A figura central nesse discurso seria Johann Gottfried Herder, que defendia o sentimento e a magia como possibilidades de ganho de conhecimento contra o paradigma da pesquisa objetivística, e que acreditava ter descoberto no xamanismo o germe da criatividade humana conforme o mesmo também se expressa em obras artísticas. A imagem da prática xamânica culminou, em Herder, na figura de Orfeu, que através de suas artes de cantor se comunica com os animais e faz uma viagem ao submundo, e com isso se torna aquele que traz de volta a alma e viaja a outras dimensões da existência humana. Orfeu – e com ele o artista xamã – se transformou em figura de contraposição ao Iluminismo e seu acesso racionalista ao mundo. Encantamento do mundo Com os primeiros relatos de viajantes acerca das práticas espirituais de grupos populacionais na Sibéria, o acervo de conhecimentos etnológicos acerca do xamanismo principiou a circular na sociedade ocidental. A etnologia foi a iniciadora de um conceito que abriu caminho no mundo da imaginação ocidental em diversas ondas e lá foi transformado e adaptado de diferentes formas. Se no princípio do século XVII ainda se via o xamã como um charlatão, como um histérico ártico ou até mesmo como um sacerdote de satã, esse ponto de vista – distorcido fundamentalmente pelo espírito do Iluminismo – acabou adquirindo, com a prática religiosa no Romantismo e sua ideia do reencantamento do mundo, uma fascinação cada vez maior. É interessante observar que acabam existindo alguns paralelos entre os conceitos que cunharam a imagem do artista e aqueles que abriram caminho ao fascínio em relação ao xamanismo. Ambos se fundamentam em modelos de realidade e imagens do ser humano que – partindo da Antiguidade – se fixaram no pensamento europeu até a Idade Moderna. Possessão sagrada O discurso de Platão acerca da alma humana (psyché), que é apresentado em seu escrito Fédon, marca uma mudança decisiva que deve ser vista como cons titutiva da imagem humana até a contemporaneidade. A alma é contemplada ali como um cerne humano independente do corpo. Plotino, por sua vez, assume a união dessa alma indivi dual com a alma universal e com isso admite pela primeira vez a posição mediadora da alma entre um mundo material e um mundo divino-espiritual. Platão situa o artista, que compõe música ou faz poesia levado pela inspiração divina, no âmbito dessa noção. Ele compara a inspiração poética com a possessão sagrada durante as festas dionisíacas. Também o ideário do Renascimento, no qual já se formaram os pensamentos básicos da Idade Moderna, encontra-se sob a influência dessas tradições intelectuais antigas. O neoplatonismo retomou as concepções de alma formuladas por Platão e Plotino: o homem, que através da participação de sua alma no divino deve ser visto ele mesmo como divino, não necessita da mediação de um deus existente fora dele. Aceitando essa premissa, o pensamento autonomista do humanismo da Idade Moderna, que dava ao indivíduo criador e autodeterminado uma grande importância, pôde se desenvolver: ele passou a poder atuar criativamente a partir de então não apenas através da inspiração divina, mas também de talentos próprios. Participação na alma universal A concepção antiga de alma, que identificava uma alma individual que é parte da alma universal e assim tem acesso aos nexos cósmicos, cunhou as noções tanto do xamã quanto do artista como “mediadores entre os mundos”. No campo de tensão entre o Iluminismo e o Romantismo, o desencantamento e o reencantamento do mundo, a figura do xamã de repente passa a alcançar importância. 26/72 A arte cura o mundo Um artista que retoma esses pontos de vista e em cuja pessoa a figura dupla do artista como xamã se tornou realidade de um modo especialmente intenso foi sem dúvida alguma Joseph Beuys (1921–1986). Beuys é tido como um dos mais importantes artistas alemães do período pós-guerra. Em suas criações artísticas, ele perseguiu uma abordagem de pretensões universais que esboroava conscientemente as fronteiras do conceito convencional de arte e via a arte como o meio adequado por excelência para encaminhar processos de cura sociais – uma pretensão que constitui um aspecto essencial do xamanismo em Beuys. Um acontecimento central na biografia do artista, que escla receria sua inclinação ao xamânico, se deu no inverno de 1943. Nascido em Kleve, Beuys serviu como piloto de bombardeiros de voo picado depois da prova de conclusão dos estudos préuniversitários e acabou caindo na Crimeia em um acidente. Gravemente ferido – conforme os relatos conhecidos –, ele foi tratado por tártaros nômades da Crimeia. A analogia dos ossos quebrados e ferimentos de Beuys com o esquartejamento e a experiência da morte dos iniciandos no ritual xamânico é patente. E, de fato, a temática da crise transformadora tem um papel central tanto na vida de Beuys como também em sua filosofia. O motivo do curandeiro ou xamã, que pode mobilizar apenas através da própria experiência do sofrimento e da proximidade da morte forças curativas que então passam a estar também à disposição de outras pessoas, certamente também tem um papel importante nisso. Numerosas obras – Haus des Schamanen (Casa do xamã, 1959), Schamane I (Xamãs I, 1961), Werkzeuge des Schamanen (Ferramentas do xamã, 1962) – testemunham o confronto de Beuys com essa figura. São também dessa época as primeiras publicações etnológicas de Mircea Eliade e Hans Findeisen sobre o tema do xamanismo. O motivo da cura de processos sociais, da nova ordenação de forças que passaram a estar desequilibradas, o trato com poderes e a visualização de suas constelações são critérios essenciais da ação xamânica. Esses elementos podem ser encontrados tanto em quadros e desenhos quanto em objetos materiais e instalações de Beuys, e são sobretudo motivações essenciais para suas performances e atividades políticas. Escultura social Os dois polos calor e frio são elementos centrais da teoria da escultura de Beuys e, associados a eles, movimento, intuição e vivacidade de um lado, paralisia, Passagens Natalie Göltenboth Mestres da desordem Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 pensamento e morte do outro lado. Beuys caracterizou o status quo da sociedade ocidental como “escultura fria”. Com isso, ele expressa que o organismo social se encontra em crise devido à dominância do materialismo e do conceito reducionista de ciência. O pensamento meramente intelectual que assim acaba imperando é caracterizado por Beuys como frio, mortal e cristalino. As consequências disso são, segundo Beuys, estranhamento, pobreza espiritual, destruição do meio ambiente, guerras e ditadura da economia. O estado ideal da escultura social a ser alcançado foi chamado por Beuys de “escultura quente”; quer dizer, uma sociedade na qual as formas paralisadas do pensamento são postas em movimento através da ação do calor humano – equiparado ao amor –, uma energia que Beuys caracteriza como impulso crístico. Beuys compreendeu a figura do xamã, que interfere de forma curativa nos processos sociais, não apenas como um representante de modos de existência não ocidentais, mas como um ator que provoca transformações que buscam uma união entre formas de conhecimento racionais e intuitivas. No fundo, portanto, o xamã era, para Beuys, uma figura que pode integrar abordagens científicas e artísticas. forças e à sua visualização. Cura e canonização se encontram no fim desses processos. A associação do artista com a figura do xamã afirma que a arte, assim como a religião, se ocupa das questões existenciais do ser humano e produz ações, e por isso não deve ser compreendida como mera estética ou como mundo imagístico desprovido de sentido. < Mestres da desordem O que significa, no entanto, a identificação do artista com o xamã, a transferência do conceito de xamã ao artista, para a arte? Parece que está implicada nisso uma duplicação do significado de arte. Como se a arte apenas pela arte não fosse suficiente, como se o mundo moderno buscasse um sentido existencial que ele acredita vinculado à viagem a outros mundos e à visão de outras realidades e conexões vinculadas a ela. Em 2012 a união entre arte e xamanismo pôde ser con templada mais uma vez na exposição parisiense “Maitres du Désordre”. Em seis salas, com o título programático de “Ordem imperfeita”, “Poderes do caótico”, “Ativação das forças”, “Mediadores entre os mundos”, “Iniciação e viagem cósmica”, “Bazar das forças” e “Doença e exorcismo” estavam representadas, além de objetos de poderes mágicos, vestimentas de xamãs e máscaras de diferentes culturas do mundo, também posições de artistas modernos que em seu trabalho tematizam os âmbitos mencionados. A instalação de Thomas Hirschhorn apresentou a vulnerabilidade do mundo na forma de numerosos globos cobertos de bandagens. Em uma gravação em vídeo, era possível ver Beuys em sua performance Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt (Como explicar as pinturas ao coelho morto). A dançarina Anna Halprin gritou abertamente seu câncer em uma dança exorcista de vários dias de duração – uma performance artística que teve efeito semelhante ao das séances dos xamãs, pois Halprin, assim se disse, saiu curada dela. A figura do xamã e todas as noções e discursos vinculados a ele, ainda que talvez repousem em parte nas construções de homens ocidentais que veem incorporado nos xamãs tudo aquilo que parece ter escapado a eles próprios, empresta ao artista uma dimensão que de resto seria difícil de afirmar: a dimensão do existencial. O artista xamã opera com as forças poderosas do caos, e suas ações – executadas com lentidão e sem dar importância à eficiência científica – servem à organização dessas 27/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autora: Natalie Göltenboth é etnóloga, redatora e colaboradora científica do Instituto de Etnologia da Universidade Ludwig Maximilian de Munique. Tradução do alemão: Marcelo Backes Informações adicionais sobre a ilustração: A figura zapoteca (Mitla, Oaxaca, México, 7,7 cm de altura) representa a transformação de uma pessoa (provavelmente sacerdorte, curandeiro/a, xamã ou especialista reiligioso/a) em jaguar, revestindo-se da pele completa e da cabeça de um jaguar morto. Está agachada, como um felídeo pronto para o salto. Uma concavidade nas costas pode ter servido de recipiente. Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Sergio Vega Passagens 28/72 O PARAÍSO NO NOVO MUNDO No século XVII, León Pinelo localizou geograficamente o Jardim do Éden na América do Sul. Seguindo seus vestígios, o artista Sergio Vega desenvolveu um projeto multimídia que confronta os mitos do paraíso e as metáforas do inferno com a realidade atual. Sergio Vega, instalação no pátio do Landesmuseum de Münster, 2008. De “Paradise in the New World – On the Mimetic Faculty”, 2008. Foto: Cortesia de Sergio Vega Introdução Certa vez, encontrei um livro velho e mofado abandonado nas prateleiras de baixo de uma estante em uma biblioteca de ciências políticas. Tratava-se de uma edição dos anos 1940 de um manuscrito de 1650, publicada pelo governo do Peru por ocasião da celebração do aniversário de quatrocentos anos da descoberta do rio Amazonas. A última vez que o livro foi emprestado foi na década de 1970, mas ninguém realmente o leu antes já que, como percebi, a maioria das páginas sequer foram abertas. O título era: Paraíso no Novo Mundo, Comentário Apologético. História Natural e Peregrina das Índias Ocidentais, Ilhas e Terra Firme do Mar Oceano, pelo licenciado Don Antonio de León Pinelo, do Conselho de Sua Majestade e ouvidor da Casa de Contratação das Índias, que reside na cidade de Sevilha. Eu me lembro da ansiedade que senti quando carreguei os dois volumes pesados para casa. Nunca podia ter imaginado que um achado ocasional como esse determinaria o rumo da minha vida e do meu trabalho nos próximos anos. O mito da América do Sul como “paraíso encontrado” começou com Colombo quando ele, em uma carta à rainha de Castilha, assegurou que a entrada para o paraíso terrestre se encontrava na foz do rio Orinoco. Colombo viajava com um exemplar de As viagens de Marco Polo. O golfo de Paria era semelhante à Passagens Sergio Vega O paraíso no novo mundo Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 descrição de um lugar na Ásia que o veneziano havia confundido com o Jardim do Éden. A confirmação de um texto anterior é parte substancial da descoberta, que faz com que o que foi recentemente descoberto não seja exatamente novo. A tese de Pinelo baseava-se nas rearticulações de várias teorias anteriores sobre a localização do Éden. Em 1629, o tratado Saincte Geographie, de Jacques de Auzoles, localizava o Éden no centro da América do Sul. Na versão de Pinelo, o Éden não era um jardim retangular, mas um território circular de 160 léguas (aprox. 891 km) de diâmetro, e o Paraná, o Amazonas, o Orinoco e o Magdalena eram os quatro rios do paraíso. O texto de Pinelo refletia as transições intelectuais do século XVII: ele tentava reconciliar a abordagem teológica da criação com uma visão científica da natureza derivada da disciplina recémdesenvolvida da História Natural. Quando decidi embarcar à busca do paraíso de Pinelo somente carregava um exemplar do seu livro, um mapa do Éden desenhado por Pedro Quiroz em 1617 e uma passagem de avião. Estava destinado a chegar ao coração da América do Sul e viver para contar o que vira. Assim, minha viagem de descoberta tornou-se a confirmação de um texto antigo, sendo que ele mesmo era uma revisão de um mais antigo, e por aí se foi em uma vasta e interminável cacofonia de ecos que passou por Dante e Marco Polo até chegar ao Bereshit, o primeiro livro da Torá. O Éden acabou ficando no Brasil. A área do paraíso cobre uma parte do estado de Mato Grosso com floresta tropical, rios, pantanais, montanhas, sítios arqueológicos, reservas indígenas, favelas e cidades, inclusive a capital Cuiabá. Esses lugares diversos, com suas histórias e lendas, forneceram as referências materiais para meu projeto, do qual HUMBOLDT mostra aqui uma seleção. O empirismo, contrastado com pesquisas históricas e teóricas, resultou em obras de arte concebidas para ativar a experiência sensorial como também o exame crítico do discurso do tropicalismo. Todas as fotografias foram tiradas in situ e devem ser interpretadas como representações do paraíso. Os textos contam a descoberta do jardim mítico de Pinelo em forma de um diário de viagem escrito por mim. lugares, onde a dúvida não pode ser evitada, a percepção entra em um mundo barroco de espelhos, um mise en abyme onde a mudança constante de aparências encontra a seu incorporação paradigmática como natureza virgem. Não há nada inocente ou franco nessa virgindade, ela é pura duplicidade. Este “inferno verde” da natureza atormentava os conquistadores espanhóis até o nível do desespero. Engolidos por essa massa vegetal, inúmeras pessoas perderam suas vidas. Se há um padrão inteligente atrás de tudo isso: por que disfarçar? Por que desorientar? O mesmo medo de se perder que obcecou Carpentier na selva perseguiu Borges no interior do labirinto de seus sonhos. Refletindo sobre o poder do imaginário para formar a realidade, Borges perguntava: por que alguém construiria um lugar com o propósito de se perder nele? Os caminhos da Amazônia implicam uma viagem de volta ao passado, todo o caminho leva ao ventre materno, à vitalidade difusa do lugar primevo. Antes de nascer, somos somente um magma coletivo de entropia, uma imanência autônoma fechada em si, sem transcendência ou individuação alguma, evanescência absoluta de uma consciência subjetiva para dentro do paradigma químico da não existência. Mas a selva também é o lugar de nascimento, de exu berância e de ordem. A vitalidade brilhante de energias tropicais improvisadas aspira à luz em busca da sobrevivência. O que vemos simplesmente como “verde” denota a precariedade das nossas limitações sensoriais e culturais para entender o significado contido nesse conceito. Como a palavra “branca” para os povos Inuit e Yupik do Polo Norte, os Tupi-guarani têm (como muitas outras tribos também), no mínimo, nove nomes diferentes para o que no nosso mundo nomeamos de “verde”. Nesse universo verde, encontrei uma gama de formações espontâneas que apresentam semelhanças com a arte: as combinações de cores, formas e texturas de paradigmas modernistas, a sensualidade da arquitetura orgânica com suas acumulações sem forma de matéria, a luz mística do romantismo, a voluptuosidade retorcida e o desafio da gravidade típicos da escultura do barroco, o contraste e o intimismo de sua pintura, a monumentalidade da arquitetura gótica. Uma das primeiras e mais evidentes constatações com a qual os seres humanos se deparam na selva é a de tomarem consciência de que são comida para outras espécies. Igualmente chocante é o encontro com insetos, pássaros, répteis, mamíferos e até peixes que mostram formas imprevisíveis de empatia em relação aos seres humanos. Muitas vezes, sinto-me cético em relação ao problema do quanto disso pode ser traduzido nas artes visuais. O desafio não é como melhor representar a selva como uma imagem, mas sim como transmitir a experiência de ser humano dentro da selva. No interior da selva “A selva era o mundo da mentira, da cilada e do falso semblante. Ali tudo era disfarce, estratagema, jogo de aparências, metamorfose.“ (Alejo Carpentier, Os passos perdidos, 1953) A estimulação sensorial vivenciada dentro da floresta amazônica é quase impossível de ser reproduzida em uma forma que se aproxime verdadeiramente da experiência de “estar lá”. Espaços são ambíguos, muitas vezes caracterizados por fortes contrastes: enquanto folhas translúcidas refletem a luz do sol, a maioria da vegetação fica na escuridão quase total, criando silhuetas sobrepostas e sombras que se multiplicam em padrões aleatórios e rítmicos. Inevitavelmente, a floresta é vista através de formas que revelam tanto quanto escondem. Na floresta, a mais penetrante sequência de funções miméticas encenase através de planos inesgotáveis. Atrás da superfície existe um universo no qual tudo atua como algo diferente. Nesses 29/72 Novo Mundo Chegando ao Novo Mundo, nos deparamos com um campo queimando ao lado da estrada. As chamas já tinham baixado um pouco e havia agora mais fumaça e cinzas em brasa. Os vizinhos da fazenda do outro lado da estrada tinham trazido um tanque com água e com mangueiras regavam troncos enormes parcialmente consumidos que jaziam no chão. A densa toxidade no ar anunciava o presságio dantesco de uma tragédia Passagens Sergio Vega O paraíso no novo mundo Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 que eu conseguia ler na expressão de seus rostos. Eles sabiam que suas chances eram pequenas, mas mesmo assim esperavam poder apagar o fogo antes que atravessasse a estrada e se espalhasse pelas suas plantações de café. Se o vento decidisse retornar, as chamas estariam em toda parte. A comunidade Rochedo, no município de Novo Mundo, constitui-se de algumas centenas de fazendas familiares. Essas famílias instalaram-se com suas pequenas fazendas no local durante os últimos cinco anos para tentar a sorte na agricultura orgânica e no gado. No caminho, encontramos Sebastião Roberto Soares, líder da comunidade, que nos levou à fazenda onde seu irmão José morava com a esposa e os três filhos. O campo inteiro estava queimado exceto a casinha onde moravam, um barraco com ferramentas e alguns galinheiros. José nos contou do evento trágico com sobriedade estoica. Aproximamo-nos de uma área de floresta onde o fogo estava fora de controle. As chamas espalhavam-se rapidamente na nossa frente queimando, em segundos, arbustos inteiros de folhas de um verde fresco. A força desatada do fogo devorando uma floresta inteira revelou um espetáculo inesperado de nuvens de fumaça coloridas. Os sfumatos abstratos de Turner, que fundem distintos pigmentos em combinações etéreas, nunca foram tão vívidos como ali. Montei o tripé para capturar a paisagem quando o sol da tarde de repente rasgou as nuvens grossas. Como previsto por Tiepolo, Apolo apareceu anunciado por raios de sol majestosos e cavalgando sua triunfante carruagem de cavalos dourados sobre as nuvens robustas da destruição. O espetáculo visual não foi seguido por trompetes angelicais, mas rompido pelo som inquietante de galhos estalando no fogo em toda parte. Dada a proximidade do incêndio, a respiração tornava-se extremamente difícil, também porque enxames de insetos de todos os tamanhos passavam por nós, picando-nos na fuga estrondosa. No caminho de volta, uma grande árvore havia caído queimando no meio da estrada. As chamas e a noite estavam se aproximando rapidamente e fomos forçados a cortar um caminho por meio de arbustos espinhosos para o carro poder passar. Nos anos 1970, o desflorestamento da Amazônia tornouse o primeiro pecado contra a natureza a ser repudiado em escala global. Quarenta anos mais tarde, essa mesma floresta continua em chamas, queimando mais rápido do que nunca. subjuga drasticamente a forma. As casas não são feitas de tijolos, mas sim de caixas de papelão, cartazes de propaganda, placas de rua, caixas industriais descartadas, pneus, galhos de árvores e forros de plástico. O happening orgânico dessas moradias procede de maneira fragmentária, e mesmo elas sendo feitas de materiais descartados, nada realmente é descartado já que tudo é transitório.* A natureza cria semelhanças. Precisamos apenas pensar em mimetismo. Porém, a maior capacidade para produzir semelhanças vem do homem. Seu dom para descobrir similitudes não é outra coisa senão um vestígio da compulsão poderosa do passado por tornar-se ou comportar-se como algo diferente. Talvez não haja função superior do homem na qual sua faculdade mimética não exerça papel decisivo (vide Walter Benjamin, “On the Mimetic Faculty”). Mascarando presença, o ato de personificar outra coisa serve à finalidade de construir um sinal de normalidade, uma forma de falsa integração com o entorno. A maioria das espécies camufla-se para evitar ser identificado como predador ou presa. A precariedade artesanal de uma favela poderia dar lugar a uma vasta gama de inovações. Não vai demorar muito antes de vermos como as favelas copiarão formas arquitetônicas e critérios estéticos das classes superiores. Revirando os ossuários das ideias modernistas, uma cultura global de favelas poderia emergir com o ímpeto de uma vanguarda pós-colonial. Imagino que a graça materialista e ambiental dessa van guarda das favelas se basearia no ato benigno de dar uma segunda chance aos ready-mades abandonados. Desafiando seu status ontológico de escombros ao reciclá-los em moradias, esse ato criativo sublimaria sua existência permitindo-lhes uma nova vida dentro do reino inclusivo do collage. < Saído da Toscana Depois do café, peguei um circular que me levou com uma agonia ensurdecedora pelos subúrbios empoeirados da cidade. Desembarquei em uma favela que se estendia por um vale ocre e laranja, cores de um cartão-postal do interior da Toscana. A vizinhança era rodeada por uma série de prédios de classe média em cima de um morro paralelo a uma grande avenida no outro lado. Longe de ser idílico, esse panorama refletia uma lógica social incorporada na topografia de uma paisagem em uma maneira literalmente vertical: as casas dos ricos estavam no topo, as casas dos pobres ficavam em baixo. A estratégia antiestética do barraco é uma perversão do collage, uma lógica pragmática na qual a urgência da função 30/72 * O autor estabelece uma analogia entre o caráter fragmentário das construções de barracos e a estrutura retórica do collage. Se a lógica da arquitetura moderna é primeiramente cartesiana, a condição ontológica de uma favela é, pelo contrário, póscartesiana ou ainda de um caos posterior à ordem. Seus materiais foram retirados do lixo descartado por outra classe social. Sergio Vega O paraíso no novo mundo Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Sergio Vega (1959, Buenos Aires) participou do Independent Study Program do Museu Whitney e obteve o título de Master of Arts da Escola de Belas-Artes da Unviversidade Yale. Desde 1999 é professor de Fotografia, Escultura e Instalação da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Flórida. Tradução do inglês:: Anna-Katharina Elstermann e Douglas Valeriano Pompeu Informações adicionais sobre a ilustração: Sergio Vega vem trabalhando há 18 anos em seu multifacetado diário de viagem “Paradise in the New World”, no qual adota uma postura crítica a respeito do mito do paraíso como âmbito de beleza e salvação. Seu enfoque sensualista combina de forma lúdica teoria, mito, experiências empíricas e crítica social, numa montagem de discursos que revela o modus operandi das ideologias colonialistas. Algumas partes desde work in progress, que vem sendo desenvolvido desde 1995 e inclui toda uma série de meios, como texto, fotografias, vídeos, dioramas, maquetes e instalações, já foram apresentadas em exposições internacionais. Por exemplo, em sua instalação no museu Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL), em Münster, em 2008, ocupou um lugar de destaque um barraco construído com materiais descartados, que Vega queria que fosse visto como “reflexão crítica de nosso presente colonizado”. Leia mais em http://paradiseinthenewworld.blogspot.de e http://www. sergiovega-art.net Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 31/72 Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Isabel Rith-Magni Passagens 32/72 A RECUPERAÇÃO DO ASSOMBRO As fotografias de viagem de Axel Hütte e Andreas Gursky constituem um modelo alternativo diante da estranheza perdida em tempos de turismo de massa e avalancha de instantâneos turísticos. Axel Hütte, “Cayo-1, Belize”, 2007. Cortesia de Axel Hütte e Galerie Nikolaus Ruzicska, Salzburgo De como se perdeu o assombro Antes, uma imagem de “terras estrangeiras” era uma preciosidade rara para ser admirada. No século XIX, quando a fotografia começou a se desenvolver, fotos de viagem eram exemplares únicos e caros, produzidos e vendidos como lembrança no local por fotógrafos profissionais. Para o grosso dos viajantes, seria muito complicado transportar o equipamento próprio, do aparato que consistia de tripé, placas de vidro, produtos químicos até a câmara escura portátil. A imagem do estranho ainda não era um bem comum, o estranho ainda era estranho. Hoje, no entanto, uma fotografia feita durante a viagem requer um esforço mínimo. A consequência é que a safra global Passagens Isabel Rith-Magni A recuperação do assombro Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 dos cliques de câmaras digitais abarrotou as memórias. A reação a bilhões de fotos postadas no Facebook se reduz a apertar – por puro reflexo – o botão “curtir”. Acabou-se o assombro. de viagem, ainda se tratava de conhecer o que é estranho e apropriar-se desse estranho pela via iconográfica, agora se busca o oposto... pelo menos se consideramos a posição de Andreas Gursky ou Axel Hütte representativa. Ambos pertencem à chamada Escola de Düsseldorf, de cujos iniciadores, Bernd e Hilla Becher, foram alunos na Academia de Artes daquela cidade. Ambos são fotógrafos de viagem que não medem esforços para encontrar a imagem desejada ao redor do globo. E têm mais uma característica em comum: não trabalham como documentaristas. O olhar induzido em tempos de turismo de massa Não admira, pois, que seja impossível simplesmente ver a olho nu um motivo clássico como a troca da guarda em frente ao Palácio de Buckingham devido à aglomeração de gente que quer registrar aquele “momento especial” erguendo suas câmaras digitais, a fim de contemplá-lo depois na tela. Na foto, antes prova indiscutível de um “testemunho ocular”, vemos o que poderia ter sido visto, se as hordas de turistas não seguissem sempre as dicas dos guias para a melhor foto no melhor momento e no melhor lugar. O problema é que é difícil conciliar o anseio de exclusividade de um olhar individual com uma viagem em grupo sem percalços. Nesse sentido, o turismo promove a percepção seletiva, redu zida a alguns highlights, ou “lugares dignos de ser vistos”. Surge assim um cânone reduzido de motivos iconográficos, fotografados a partir de uma perspectiva convencional. A estranheza perdida da imagem Com a enxurrada de imagens – cuja produção, hoje, parece fazer parte das obri gações de qualquer viajante moderno – não apenas se perde a “aura” no sentido de Walter Benjamin; ocorre também uma transformação na categoria que, por falta de um termo mais apropriado, chamaremos de “estranheza”. O que não pode ser captado com as categorias da percepção convencional – o que escapa ao cotidiano, coisas inéditas, surpre endentes, não usuais – torna-se algo pseudoconhecido por causa da reprodução em milhões de vezes da imagem. A dimensão do incompreendido e estranho, em forma de imagem, torna-se “transportável” e se dissolve em algo puramente “pitoresco”. Em uma época em que imagens do mundo todo são disponibilizadas gratuitamente na mídia de massa, perdemos o assombro diante do “estranho”. Arte fotográfica enquanto estratégia de estra– nhamento Naturalmente, não podemos equiparar a mencionada mania de clicar em viagem – até certo ponto, um efeito estético colateral do turismo de massa – com as fotos de viagem artísticas, mesmo se as fotos dos leigos até podem tocar mais a emoção do que uma imagem cuidadosamente composta. O viajante que fotografa e o fotógrafo profissional que viaja seguem parâmetros fundamentalmente distintos. Para o clique rápido, as considerações estéticas são de importância secundária, pois a prioridade é o valor de recordação. Mas como a fotografia de viagem pode conservar sua dimensão estética nas nossas abarrotadas memórias, eletrônicas e humanas? Como uma imagem consegue não deixar de ser vista na torrente do que é pseudoconhecido? Para suscitar uma reflexão mais profunda, basta a exclusividade que uma foto de arte sinaliza por estar numa galeria, em um museu ou em um livro de arte, quem sabe magnificada em formatos monumentais? Seria uma explicação insuficiente. A resposta seria: é preciso restituir a estranheza ao que é supostamente conhecido. Se, nos primórdios da fotografia 33/72 Axel Hütte: “Em terras estranhas” Consta que Axel Hütte (nascido em 1951 na cidade de Essen) prepara meti culosamente suas viagens. A câmara escura móvel, que antes era levada para revelar as fotos, em seu caso consiste em um vasto conhecimento específico das diferentes regiões, que ele adquiriu anteriormente nos mais diferentes campos. O desafio consiste em dar ao olhar o frescor da primeira impressão, apesar – ou melhor: com ajuda – dessa ingenuidade voluntariamente perdida, para além de todos os clichês midiáticos e da préseleção daquilo que, supostamente, vale a pena ser fotografado. O próprio Hütte expressou isso em uma entrevista em 2006: “Sou mais um viajante que viaja através do tempo e do espaço. O que me dá o enfoque é a viagem. Faz anos que me dei conta de que teria que viajar 3.500 quilômetros para conseguir a imagem que procurava. Uma vez que chego a um lugar, penso quais as imagens são familiares e foram reproduzidas infinitas vezes, porque é exatamente o que não quero fazer. Uma das razões que me movem a fazer uma foto é que algo me pareça estranho”. O desejo de se contrapor a um motivo estereotipado ou a uma perspectiva previsível parece ter sido o estimulo para a série En tierras extrañas, nascida em viagens realizadas entre 2004 e 2008. Abrange fotos feitas na Espanha e nas Ilhas Canárias, assim como Belize, México, Novo México, Equador, Venezuela e Chile. O próprio título já indica que o tema é a estranheza desses lugares. Hütte busca explorar figurativamente a essência do mundo nos panoramas de zonas montanhosas áridas, bosques encobertos pela névoa, desertos infindáveis, cavernas fantásticas, pântanos tropicais e geleiras gigantescas. Não é acaso que suas paisagens ermas, nas quais o observador se perde, lembrem Caspar David Friedrich. Assim como os românticos, Hütte busca a expressão poética de uma paisagem atemporal. Se evita que se possa localizar exatamente a sua posição geográfica, isto se deve provavelmente ao fato de que o inspira a busca pela essência de uma paisagem, encenada por ele como uma espécie de “visão meditativa“. Na época da fotografia digital, Axel Hütte adota uma singular ambiguidade, pois suas fotos, embora tiradas com equipamento analógico, dão a impressão, como diz Nikolaus Ruzicska, “de manipulações digitais da realidade”. Andreas Gursky: “Bangcoc” Assim como Hütte, Andreas Gursky (nascido em Leipzig em 1955) também emprega o local onde surgiram suas fotos como título para suas composições, como fez em sua série de nove fotos Bangcoc. A perspectiva a partir de um ancoradouro ou uma ponte sobre os reflexos Isabel Rith-Magni A recuperação do assombro luminosos de uma água turva e viscosa, onde flutua todo tipo de lixo civilizatório, é apresentada ao espectador de uma forma parcialmente estilizada que lembra quadros dos expressionistas abstratos. Imaginamos, em função do título da série, que seja o rio Chao Phraya que atravessa a capital tailandesa, mas nada permite verificar essa suposição. Uma melhor localização por meio de características geográficas é impossível, e iria de encontro à essência dessas imagens, que condensam o “mundo”. São fotografias fluviais no duplo sentido: fotografias de (qualquer) rio e fotografias do fluxo da transitoriedade e do tempo. As fotografias convidam à livre associação. Não admira que um crítico de arte se lembrasse da mais existencial de todas as viagens: “O Chao Phraya, que desemboca no mar, também leva a uma fronteira, a fronteira da própria vida. Plúmbeo, ameaçador, turvo, é também um rio mítico. Na Antiquidade, recebeu o nome de Estige e separava o mundo dos vivos do reino dos mortos”. (Andreas Rossmann) Na série Bangcoc, o processamento manipulador das foto grafias digitais constitui um elemento essencial do processo criativo, mesmo se o seu ponto de partida tenha sido uma ou várias fotos instantâneas. Nesse sentido, nessas composições a realidade captada (representação) se interpenetra indis soluvelmente – dentro de certos limites técnicos – com a criação livre (ficção). Isso é novo, já que a foto pré-digital de tempos passados registrava uma dada situação, não aceitando – com exceção de alguns retoques cosméticos – ser modificada substancialmente a posteriori ou mesmo construída, ou seja, inventada. Representação e imaginação, o segredo daquilo que é digno de ser visto As fotografias de viagem de um Andreas Gursky e um Axel Hütte têm outra função do que documentar terras longínquas, como se fazia nos séculos XIX e XX. Não relatam, mas “poetizam”, no sentido da palavra alemã dichten, que contém a dimensão da densidade. Talvez esteja aqui o segredo do estranhamento fotográfico. Não se trata da categoria “recordação”, e sim “imaginação”, não se trata de chamar à memória algo que já foi visto, e sim despertar o que não foi visto. É o que torna essas fotografias, que não mostram nenhum highlight, sejam elas próprias highlights, ou seja, dignas de ser vistas. < Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 34/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autora: Isabel Rith-Magni é historiadora da arte, especializada em arte moderna e contemporânea europeia e latino-americana. Desde 1993 é redatora responsável da revista HUMBOLDT. Desde 2004 leciona no Instituto de Tradução e Comunicação Multilíngue da Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia e, desde 2012, também na Universidade Alanus de Arte e Ciências Sociais. Tradução do alemão: Kristina Michahelles Informações adicionais sobre a ilustração: Axel Hütte – “Em terras estranhas” “Ainda que o título mencione na maioria dos casos o lugar em que cada obra foi realizada, as fotografias de Axel Hütte não são reproduções de paisagens manifestas, ou seja, da realidade factual; são antes fantasias desfocadas que confiam na imaginação do observador. Desse modo, a arte de Axel Hütte conduz também à questão da relação entre a realidade, a percepção individual e a imagem fotográfica.” (Nikolaus Ruzicska) A fotografia foi realizada em viagem à América do Sul e Central e fez parte da exposição “En tierras extrañas”, apresentada na Fundación Telefónica, de Madri (2008), e no Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), de Valência (2009). Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Christoph Otterbeck Passagens 35/72 SOBRE EXPEDIÇÕES CIENTÍFICAS E EXPERIMENTOS ESTÉTICOS Imagens de viagens às Américas. Um breve apanhado da história da arte. Grete Stern, “Mujer chorote” Tartagal, Salta, 28 de agosto de 1964; Coleção Matteo Goretti. Foto: Cortesia de Matteo Goretti e Fundación CEPPA, Buenos Aires A partir do início da Idade Moderna, começaram a surgir na Europa folhetos, escritos e livros com imagens e relatos sobre os países da África, Ásia e das Américas. Ao contrário dos autores dos textos, os criadores das imagens foram durante muito tempo artistas gráficos que nunca haviam saído da Europa. Eles transfiguravam os exemplos que conheciam, no sentido daquelas ideias que tiravam da leitura dos textos, às vezes com a ajuda de esboços e objetos que tinham sido trazidos para a Europa. Uma descrição figurativa exata das regiões não europeias do mundo não fazia parte das aspirações culturais centrais da Europa. Os poderosos, ricos e cultos do Velho Mundo saciavam a curiosidade em relação ao “exótico”, ou seja, ao novo que vinha de longe e era até então desconhecido, colecionando provas da existência do Novo Mundo, artefatos, bem como animais, plantas e minerais. Ao grupo em constante crescimento dos viajantes que seguiam para além-mar, os artistas agregaram-se consideravelmente tarde, bem depois que comerciantes, mercenários, colonos e missionários já haviam estado ali. Os pintores Albert Eckhout e Frans Post, por exemplo, acompanharam ao lado de alguns cientistas o governador holandês Maurício de Nassau, que dirigiu a filial brasileira da Companhia das Índias Ocidentais entre 1637 e 1644. Eckhout e Post trabalharam na documentação em imagens da colônia, com seus moradores, flora e natureza circundante. No grupo Passagens Christoph Otterbeck Sobre expedições científicas e experimentos estéticos Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 em torno de Maurício de Nassau, já vigorava a combinação típica de interesses políticos, econômicos e científicos, que se tornaria mais tarde típica do colonialismo. A maioria dos artistas em viagens para lugares longínquos, a partir de então, fornecia suas imagens com base em sua experiência como participantes de expedições em contextos como este. Uma exceção foi Maria Sibylla Merian, cujo sério interesse pela natureza e pela observação exata do reino dos insetos levou-a a uma viagem ao Suriname. de ver o próprio mundo ao redor com outros olhos. Na era do desenvolvimento rápido de estilos de vanguarda, os artistas na Europa passaram a usar a estética de culturas não europeias como inspiração, mas independentemente de terem realizado viagens a tais destinos. A gama de exemplos seguidos ia de trabalhos sofisticadamente ornamentados, como por exemplo em metal ou cerâmica, até obras de formas elementares em pedra e madeira. Os artistas dedicados aos experimentos do início do século XX entusiasmavam-se com grande fascínio pelas formas de todos os tempos e povos que não estivessem atreladas às premissas da estética acadêmica. Ninguém que estivesse envolvido nesse processo fecundo de criação intercultural de formas tinha, para isso, que fazer viagens a lugares distantes. As coleções de seus lugares de origem pareciam já conter todos os recursos necessários. O auge do modernismo nas artes transcorreu paralelamente ao auge do colonialismo. No chamado primitivismo da modernidade, manifestava-se uma crítica ao estado da própria cultura. Ao mesmo tempo, os artistas modernos participavam, com suas apropriações das estéticas de outras culturas, das práticas de exploração generalizadas e vistas como óbvias. Mais uma vez, ficava evidente a ambivalência fundamental do exotismo. Embora no início do século XX incontáveis artistas modernos europeus tenham feito viagens para além das fronteiras do próprio continente, eles não tiveram suas vivências estéticas decisivas durante essas viagens que, por exemplo, levaram Henri Matisse, Wassiliy Kandinsky e Paul Klee a países do Oriente, Klee e Macke ao Norte da África ou Emil Nolde e Max Pechstein aos Mares do Sul. Essas viagens geraram certamente seus frutos, e seus resultados foram assimilados com sucesso pelo mundo da arte. No entanto, a estilização de tais viagens, que escritores e especialistas tentaram apontar como pontos de mudança centrais do desenvolvimento destes artistas, não pode ser constatada quando se analisa a obra dos mesmos com maior precisão crítica. Tem-se muito mais a impressão de que o forte interesse pelos quadros então surgidos se devia sobretudo à atratividade do universo de motivos. Entre centro e periferia Até fins do século XVIII, os artistas só deixavam a Europa em casos excepcionais. Dentro do velho continente, restava sobretudo um tipo de movimento dominante: quem quisesse ser bem-sucedido, aspirava a uma viagem a um centro artístico, ou seja, a um principado ou a uma grande cidade comercial. Durante muito tempo, uma viagem à Itália era vista como encerramento pomposo da formação acadêmica e mais tarde até mesmo como forma de autoconhecimento. No decorrer do século XIX, orientar-se pelas novas tendências dos acontecimentos das artes em Paris foi se tornando cada vez mais importante. E na esteira de um colonialismo mais acirrado, cada vez mais artistas europeus passaram a fazer viagens para países distantes. Eles acompanhavam a expansão política e documentavam a posse de terras. Principalmente imagens do Oriente Médio e da Índia despertavam grande interesse nas exposições das metrópoles dos impérios coloniais. No geral, contudo, encontram-se antes de Eugène Delacroix e Paul Gauguin poucos nomes entre os artistas que viajaram para terras distantes – um sinal claro de que o circuito das artes de então não via nenhuma relevância na realização dessas viagens. Ou seja, elas eram possíveis, mas não necessárias. Estímulos importantes para os pintores em viagem vieram do pesquisador da natureza Alexander von Humboldt. Ele tinha esperanças de que a pintura de paisagens atingisse um novo tempo áureo, caso os artistas se aventurassem mais por viagens pelos trópicos. Para Humboldt, a tarefa mais importante neste contexto era juntar os detalhes e fragmentos a essas alturas já conhecidos em imagens completas coerentes. Seu ideal era uma combinação de exatidão na observação de formas individuais e autenticidade nas grandes composições que eram criadas a partir destas formas. O resultado artístico final, para ele, dependia do sucesso de duas fases: durante as viagens, reuniam-se esboços, impressões e estudos; depois do retorno, as obras iam sendo criadas até nos mínimos detalhes, a partir da reunião deste material. Humboldt encorajou e incentivou diretamente alguns artistas que escolheram destinos de viagem na América Latina, entre eles Johann Moritz Rugendas, Ferdinand Bellermann, Eduard Hildebrandt e Albert Berg. Caminhos rumo à modernidade No decorrer do século XIX, a evolução da história da arte distanciou-se, contudo, das aspirações de Humboldt. A fotografia passou a assumir cada vez mais as tarefas documentais. O olhar sobre o detalhe foi sendo gradualmente relegado a segundo plano em prol da visualização de uma impressão fortuita ou de uma atmosfera característica. A representação de novos e distantes horizontes passou a entusiasmar menos a maioria dos artistas do que a possibilidade 36/72 Fuga da Europa Um movimento grande, decisivo para muitas biografias de artistas, intercultural e muitas vezes transatlântico, se deu a partir de 1933, com a fuga e expatriação de uma parte significativa da vanguarda artística da Europa em consequência do regime nazista na Alemanha. Marc Chagall, Salvador Dalí, Max Ernst, László Moholy-Nagy, Piet Mondrian e muitos outros seguiram para os Estados Unidos. Alguns dos artistas emigrados se envolveram intensamente com as culturas indígenas. Josef e Anni Albers, que haviam antes dado aulas na Bauhaus, fizeram diversas viagens ao México e a outros países latino-americanos, a partir dos EUA, durante as quais fotografaram a arquitetura pré-colombiana e coletaram objetos arqueológicos, além de tecidos. A linguagem das formas inspirou parte das obras gráficas e de pintura abstrata criadas por Josef Albers, bem como as tecelagens de Anni Albers. Outros artistas voltaram seus olhos mais para as mani festações contemporâneas das formas de vida indígenas. Grete Stern, fotógrafa emigrada para a Argentina, havia estudado na Christoph Otterbeck Sobre expedições científicas e experimentos estéticos Bauhaus e se dedicado na Europa tanto às artes publicitárias quanto a composições fotográficas livres e naturezas-mortas. Na América, ela se voltou com mais afinco ao retrato e à fotografia arquitetônica e de paisagens. Mas sua mais completa documentação fotográfica foi feita voluntariamente, sem qual quer incumbência externa, sobre a população indígena do Chaco argentino, numa série de mais de mil fotos. Este trabalho foi realizado a partir de uma motivação tanto política quanto estética. Grete Stern quis mostrar aos argentinos que havia uma parte indígena do país e em que condições precárias muitas dessas pessoas viviam. Ao mesmo tempo, ela prestou um tributo às habilidades artesanais e artísticas da população indígena, especialmente nos setores de cerâmica e tecelagem. Os objetos por ela fotografados são marcados por uma estética elementar, que parece semelhante àquela das obras dos artistas da Bauhaus. Imagens de um outro mundo No imaginário europeu, a “América” surgiu há séculos como alternativa inesperada. Desde os primeiros encontros, medos e esperanças foram canalizados para o novo continente. As imaginações associadas a isso são até hoje eficazes, muita vezes alternadas com imagens concretas cada vez mais profusas. A frequência das viagens aumenta. Isto possibilita aos europeus uma inversão da perspectiva corrente, aliada a uma percepção mais intensa da arte e da história da arte dos atores não europeus. < Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 37/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Christoph Otterbeck é historiador da arte e diretor do Museu de Arte e História da Cultura da Universidade Philipp de Marburg. Escreveu, entre outras, a obra Europa verlassen (2007), que se ocupa das viagens de artistas no início do século XX e, juntamente com Angela Weber, o artigo “Vom Bauhaus nach Argentinien”, sobre Grete Stern e sua documentação fotográfica das culturas indígenas do Gran Chaco (1958–1964). Tradução do alemão Soraia Vilela Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Verena Kast Passagens 38/72 LUGARES DO ANSEIO Viagens dos sonhos e sonhos de viagem: como interpretar psicologicamente a sede do desconhecido e sua contrapartida, a saudade de casa? Dias & Riedweg, “Água de Chuva no Mar”, captura da videoinstalação. © 2012 Quem nunca experimentou isto? O nome de um lugar provocando uma atração mágica. Às vezes basta uma palavra interessante: Timbuktu, Zanzibar, Ilha de Páscoa, Uagadugu. Pelo menos uma vez na vida temos que viajar para lá – ou não. Afinal, viajar para algum desses lugares pode ser motivo de decepção. O lugar não faz jus ao que tínhamos imaginado. Com nossos lugares dos sonhos, fazemos associações precisas. É que criamos essas localidades justamente por meio de nossa imaginação, e quando temos uma capacidade imaginativa viva, chegamos até mesmo a “conhecer” o cheiro do lugar. E também sabemos como nos sentiremos lá – simplesmente felizes; às vezes até sabemos quem encontraremos lá. Esses lugares aspirados têm uma correspondência em pro cessos psíquicos que adquirem – por meio do anseio – uma forma mais ou menos real. É por isso que eles têm uma ligação ora maior ora menor com o lugar concreto no mundo real no qual esse anseio é projetado e que possibilita situá-lo. Algumas pessoas também vivenciam esses lugares do anseio em sonho. De repente a pessoa está em sua casa de férias, decorada de modo característico, no alto de um rochedo sobre o mar. No sonho, a pessoa fica feliz de revisitar esse espaço que ela conhece muito bem, a não ser por um detalhe mínimo que chama sua atenção: aí tem algo de errado... Ao acordar, constatamos que essa casa não é nossa, que uma casa assim nem poderia existir, mas mesmo assim temos a convicção de que é a nossa casa: a casa do anseio, que já se materializou, que pode ser imaginada e preenchida com emoções bem especiais, como a sensação de regressar ao lar, encontrar paz, conquistar a alegria... A casa é um símbolo de nós mesmos, da nossa situação específica de vida. Passagens Verena Kast Lugares do anseio Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Nostalgia e anseio O que move o ser humano é o anseio. As pessoas estão sempre em movimento e, portanto, sempre a caminho. O anseio nos mostra direções nesse movimento. É uma forma de relação com o futuro, transcende em grande medida o aqui e o agora, pois imaginamos algo que está no futuro e ainda bem distante. Esse anseio vive da imaginação. É nele que se revelam nossas possibilidades de desenvolvimento, nossos potenciais, mas também aquilo que está pendente, que ainda não se realizou e que falta para uma vida que nos parece plena e significativa. Se conseguíssemos conquistar o que esse anseio nos faz aspirar, então não teríamos mais anseios. Mas podemos ter certeza de que, enquanto vivermos, sempre faltará alguma coisa, que sempre haverá algo a se realizado, que o anseio sempre permanecerá, mesmo que o objeto da nossa aspiração venha a mudar ao longo do tempo. A vida é finita – o anseio, contudo, quer o infinito, a plenitude. Trata-se de uma busca e de uma vontade de algo que preencha plenamente; é a ponte que liga o aqui e o agora ainda incompletos a um “depois” concebido como pleno. E esse “depois” pode se concretizar quando fazemos uma determinada viagem, quando conhecemos realmente um lugar bem específico no qual também nos vivenciamos de modo diferente e aprendemos a nos apreciar e amar. Em geral, as aspirações que temos são menos definidas do que uma viagem concreta: anseio de amor, do longínquo, do estrangeiro, da vastidão, de um lugar originário e aconchegante, de liberdade interior, anseio de ser uma pessoa completamente diferente, de ter uma vida “totalmente outra”, de ter sentimentos impetuosos, anseio de intensidade, de sentido – ou simplesmente de tranquilidade. E os alvos do anseio se conectam uns aos outros. Em alemão o anseio está associado à dor [Weh, em alemão], o que se manifesta em palavras como Heimweh [saudade de casa] ou Fernweh [sede do desconhecido]: ou em casa – algo que ainda deve ser encontrado – ou em algum lugar longínquo, achamos poder encontrar o que nos tornará “inteiros”. Sabemos que o anseio como um todo nunca será realizado. Se os nossos anseios se vincularem a imagens concretas, então surgem certos desejos. A isso está ligada a expectativa de que esses desejos precisam ser realizados, a fim de que a vida possa ser considerada bemsucedida. Em certas circunstâncias a pessoa se vê, no entanto, obrigada a constatar que não encontrou o que procurava – mesmo que não se torne muito nítido o que, de fato, almejava. Após uma viagem que sempre quisemos fazer, chegamos à conclusão de que não era bem aquilo que realmente buscávamos. De qualquer forma, temos sempre aquela alegria antecipada, e psicologicamente esta é a alegria mais intensa que se pode ter. A alegria prévia é algo que ninguém pode tirar de nós, a não ser nós mesmos, quando – por medo de decepção – não nos permitimos senti-la. Às vezes vinculamos a decepção a certas circunstâncias, ao tempo, aos companheiros e companheiras de viagem. Mas por trás disso há algo mais: uma nova meta tem que ser definida, um novo desejo tem que ser seguido, na esperança de que seja isso que – meio inconscientemente – buscamos de fato. Também pode acontecer de não alcançarmos o nosso objetivo e não preenchermos a nossa expectativa, mas mesmo assim considerarmos positivo o caminho e o avaliarmos como uma boa experiência de vida. Afinal, tivemos um contato profundamente tocante com as pessoas, um contato que talvez tenha até mudado as nossas vidas. No entanto, o anseio não deixará de ter outros destinos. Do ponto de vista psicológico, trata-se de fantasiar possibilidades que poderiam estar ligadas ao nosso self. Não existe apenas um self que já desenvolvemos – também existe um “self possível”, que se revela em nossas expectativas e por meio de uma visão inspiradora de uma outra vida que também poderia ser nossa. Nas diferentes expectativas, são estabelecidas por assim dizer metas em etapas. O anseio é uma expressão de que sempre estamos nos esboçando de modo novo tendo em vista o futuro, que estamos em um desenvolvimento contínuo no qual sempre vêm se ativar novos âmbitos de vida. O anseio atribui uma forma imaginativa aos temas da vida. O interesse, quando passional, impulsiona, proporciona que realizemos concretamente os temas da vida ao longo do tempo e que encontremos para eles lugares de vida habitáveis. A esperança e o entusiasmo proporcionam que os temas da vida sejam guiados para o melhor, apesar das resistências e do medo. 39/72 A viagem exterior, o caminho interior — ou viceversa O anseio – como o descrevi até então – nos conduz a uma via de desenvolvimento e nos mantém em movimento. Sempre estamos a caminho. Por vezes, achamos que chegamos de vez, descansamos, apreciamos a situação, e então partimos de novo. O que parece ser etapas de uma viagem também pode ser entendido como uma dinâmica interior do ser humano, como movimentos que são próprios de nós humanos. Certas pessoas percorrem esses caminhos sobretudo no mundo exterior, mudam a si mesmas por meio de viagens, conhecem países estrangeiros e forasteiros, e assim entram em contato com facetas da própria psique que ainda desconheciam. Por meio daquilo que projetamos no que nos é estranho e nos estrangeiros, o estranho em nós se torna visível e pode vir a se tornar familiar. Esses trajetos no mundo exterior voltam a influenciar nossas imagens interiores, nossos sonhos e imaginações – a saber, como fantasias de partida, de buscar o caminho e encontrá-lo, ou não. Imaginamos em sonho o medo de nos perder, ou alívio quando o caminho se abre; entusiasmo, quando encontramos um lugar que promete aconchego ou é muito bonito; ou desespero, quando um caminho termina em um precipício, um beco ou na escuridão. As experiências em sonho não são tão diferentes daquelas que fazemos ao partir e viajar de fato. Afinal, o sonho também trata da vida cotidiana, daquilo que é fundamentalmente importante para as pessoas. Quando dormimos, contudo, as experiências e as imagens podem ser conectadas de um modo complexo, algo que não conseguiríamos na vigília. Diferentes sistemas de memória podem interagir, possibilitando que se engendrem no sonho associações criativas, peculiares. Numa viagem real, quando – por exemplo – não há mais meios de transporte disponíveis, quantas vezes desejamos que tudo seja apenas um sonho, pois então daria pelo menos para acordar e apenas refletir sobre o significado do sonho. Podemos vivenciar medo, ou pelo menos apreensão e alegria esporádicas, em viagens – em sonho mas também na realidade. Na realidade, entretanto, partimos do pressuposto de que uma Verena Kast Lugares do anseio viagem nos traga sobretudo alegria. Alegria é uma emoção que sentimos quando a vida é melhor, mais bela, mais intensiva, mais harmônica do que se esperava. E na alegria também estamos em conformidade conosco, com as outras pessoas e com o mundo enfim. E esse sentimento – que nos proporciona uma boa experiência interior, que nos ajuda a lidar melhor com as adversidades – é justamente o sentimento que buscamos. E de vez em quando realmente o encontramos... muitas vezes após termos passado por uma fase de inquietude. Na alegria que vivenciamos, encontramos de fato um lugar que almejávamos. Então chegamos concretamente ao nosso destino de viagem. < Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 40/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autora: Verena Kast (1943 Wolfhalden, Suíça) é psicoterapeuta, pro fessora do Instituto Carl Gustav Jung de Zurique e presidente da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica. Tradução do alemão: Simone de Mello Informações adicionais sobre a ilustração:: “Água de chuva no mar” O vídeo do duo artístico Mauricio Dias (1964, Rio de Janeiro, Brasil) e Walter Riedweg (1955, Lucerna, Suíça) foi realizado em Salvador da Bahia, na favela Unhão, e mostra conversas com mulheres negras que passaram a vida lavando e passando roupa para os brancos de classe média da Bahia. São uma parte, quase invisível mas fundamental, do sistema de exploração que caracteriza a sociedade oligárquica do Nordeste do Brasil. No candomblé, na festa da deusa da água Iemanjá, que pode se revelar nos sonhos, a água se converte em força e metáfora principal da mudança social e da espiritualidade na vida, e com isso em fio condutor do andamento narrativo da história. Germán Kratochwil Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 41/72 A MIGRAÇÃO ONTEM E HOJE A dor “amadurecida” da partida e seus paliativos na era digital. Buenos Aires, Hotel de Imigrantes em torno de 1905. Foto © Coleção Deutsches Auswandererhaus Viagem e migração “Das Wandern ist des Müllers Lust...”*, cantam as crianças, que animadas pela mãe atravessam os bosques e prados, sempre em direção ao Castelo Kreuzenstein, orgulho de seu pequeno povoado natal nos arredores de Viena. Mas logo irão fugir dos soldados russos, refugiar-se numa aldeia distante na região da Estíria, fingir que são bons católicos para não serem hostilizados pelos nativos, até que sua alegria de andarilho se converta em emigração. A bordo de um navio, embalados pelo barulho de gente e línguas estranhas, partem de Gênova numa volta ao mundo, cruzando o Atlântico, até chegar num país distante, que as crianças conhecem apenas de um selo: uma pequena mancha branca, cujas bordas lembram uma casquinha de sorvete. Uns parentes abastados enviaram as passagens da Argentina para os famintos da Áustria pós-guerra predizendo um futuro pacífico e promissor na nova pátria. As crianças logo aprenderam o espanhol, mas a mãe ciosa não queria que desaprendessem a língua materna, esquecessem sua origem. Reprovava a maneira como muitos imigrantes de língua alemã se excediam no afã da integração – a uma nação tão incoerente que afirmava sem constrangimento que sua população mista desembarcara dos navios. E decidiu que elas tinham de ler autores alemães e austríacos como Karl May, Bruno Brehm ou Peter Rosegger. Desse tesouro da juventude, ficou gravado na minha memória o conto de Friedrich Gerstäcker “Germelshausen”. Um jovem pintor encontrou durante suas andanças na saída de uma aldeia uma jovem muito bonita. Ele a acompanhou até a praça central, onde havia uma animada festa. Mas ele desconhecia a lenda da aldeia amaldiçoada que emergia a cada cem anos do pântano para submergir novamente, após a meia-noite. Assim aconteceu, Passagens Germán Kratochwil A migração ontem e hoje Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 de repente, e como ao despertar de um sonho o apaixonado se viu em meio ao pântano, solitário, lembrando-se com uma dor profunda da sua perda. Somente muitos anos depois, descobri o comentário do filósofo alemão Ernst Bloch sobre este conto em Spuren (Vestígios, 1969): “Não conheço nenhuma história mais bela sobre a partida, sua melancolia precisa, seu possível declínio, ou mesmo o amadurecimento sonhador de suas imagens”. Referese a isto com as tocantes palavras: “Partir é sentimental em si. Mas sentimental com profundidade, um trêmulo indiferenciável entre aparência e profundidade”. Há pouco tempo me dei conta então por que a história de Gerstäcker me acompanhou com tanta insistência: ela expressava a dor do partir. O momento da nossa partida fora um burburinho de atividades e vivências novas. Só o posterior amadurecimento sonhador transformou a viagem em emigração. Naquele mo mento, contudo, não podia imaginar como estes processos mudariam em nosso século. Viagem e migração são conceitos que só se diferenciaram em um longo processo histórico. Depois teve início uma enxur rada de obras de emigrantes, especialmente crônicas e cartas. Os motivos são repetidos infinitamente, a descrição do sofrimento e da alegria, do sucesso e do fracasso dos personagens. Tudo se passa naquele estrangeiro ameaçador, prometedor e, no final, tão cotidianamente banal. Mais tarde veio a fotografia, multiplicaramse os semblantes pálidos, melancólicos, cujos nomes logo caíram no esquecimento. E a documentação atingiu o auge patético com os primeiros filmes, onde os movimentos entrecortados dos migrantes pareciam conferir dramaticidade a seus passos. exilaram Erik na distante América do Sul, porque, segundo as explicações do casal Jens, ele “contraíra dívidas [em apostas de corridas de cavalos], saldara com notas promissórias sem fundos e por fim empenhara as joias da família”. Mas pouco tempo depois, as notícias que chegavam sobre Erik eram preocupantes. Sem vacilar, a senhora Pringsheim embarca no Cap Arcona. Chegando ao destino, mãe e filho percorrem os pampas, empreendem a difícil travessia dos Andes de trem e mula até o Chile. Erik compra finalmente uma fazenda na distante província de San Luis. Com grande sentimento de incerteza, a mãe retorna a Munique. E em breve chega o fatídico telegrama: Erik morreu. De insolação, após uma cavalgada selvagem? Envenenado? Perguntas a que poderíamos ter encontrado respostas em Thomas Mann, mas o seu romance Felix Krull, em que ronda o fantasma de Erik, ficou inacabado. Aimé Bonpland e Erik Pringsheim: duas histórias de migração Dessa torrente caudalosa de obras, mencionarei aqui apenas duas histórias. A primeira remonta a janeiro de 1817, quando Aimé Bonpland desembarca do bergantim francês Sainte Victoire e galga a margem enlameada e íngreme até Buenos Aires. De novo no continente, desta vez, sozinho. Seu famoso companheiro na viagem científica por regiões da América do Norte e do Sul, o barão Alexander von Humboldt, brilha soberanamente em Paris e Berlim. Mas ele – o jardineiro de Malmaison, o confidente da abandonada imperatriz Josefina – traz no bolso somente um contrato público duvidoso e busca, como outros compatriotas depois da queda de Napoleão, um solo hospitaleiro. Bonpland veio para ficar – e fica até a morte, quarenta movimentados anos depois. Primeiro é feito prisioneiro durante dez anos pelo paranoico Supremo do Paraguai, Gaspar Rodríguez de Francia. Suspeitou-se que era um espião e agente perigoso que viera para acabar com o monopólio paraguaio da erva-mate. Assim que é solto, desenvolve o primeiro cultivo industrial de mate na Argentina, lança-se ao árduo trabalho pioneiro em um leprosário numa ilha no rio Uruguai e se transforma, finalmente, em próspero criador de gado. A segunda história é a chegada a Buenos Aires, noventa anos depois de Bonpland, de Hedwig Pringsheim em busca de seu filho Erik (o irmão mais velho de Katia, esposa de Thomas Mann). Pringsheim registrou as peripécias de sua viagem a partir de Munique em 1907–1908 em um diário vivaz, resgatado por Inge e Walter Jens em seu livro de 2006 sobre o tema. Os pais 42/72 Emigrante e imigrante, morte e nascimento Expulsão, exílio, asilo político, seus encargos financeiros, intelectuais, pessoais e sociais, embora todos sejam fenômenos migratórios e possam ser vistos como variantes patológicas dos traslados normais, eles transcendem para outros campos de análise. Um escritor multifacetado e brilhante como Hans Magnus Enzensberger só tratou brevemente desses temas e centrado em referências etimológicas no ensaio A grande migração (1992). No exílio, se misturam a tristeza, a paixão, a dor por sofrer um destino injusto com expressões de indignação cega até a autocompaixão, como documentaram León e Rebeca Grinberg em 1984: o exílio pode ser visto como o nódulo dramático no tecido migratório entre as nações. E em nenhuma parte do mundo, as normas e a prática do exílio chegaram a ter um tratamento mais sensível, cuidadoso e favorável do que na América Latina: a possibilidade do exílio e a prática inversa do asilo político constituem ali os poucos momentos de luz e esperança no panorama do tratamento intolerante e egoísta geralmente pres tado às correntes migratórias entre sociedades e nações. Ao contrário do exilado, o emigrante aceita se transformar em imigrante: o “de onde” e o “para onde” definirão para sempre a sua personalidade. O exilado pode sentir o ostracismo como uma morte, para o imigrante isso pode significar um segundo nascimento. Ele elabora uma nova identidade, um patchwork nem sempre coerente, feito de retalhos da procedência e da chegada. No seio da cultura familiar dos imigrados, estes contrastes podem ser discutidos e reelaborados por gerações a fio. Então, a origem pode se transformar em mito e a chegada em epopeia. Aquele menino que eu fui, que cantava durante suas excursões pelo mundo, se vê depois trabalhando em Genebra, na Organização Internacional para as Migrações (IOM), que se ocupa das variantes e dos problemas da migração internacional. E seja de forma voluntária ou forçada, legal ou ilegal, sob governança ou em condições caóticas, mais de 200 milhões de pessoas – metade mulheres – em todo o mundo vivem em estado migratório, dez por cento ilegais, 16 milhões como asilados. E este panorama inclui o tráfico de pessoas, deportações, deslocamentos violentos, escravidão – ações criminosas que movimentam mais dinheiro que muitas multinacionais –, Germán Kratochwil A migração ontem e hoje e as explosões de intolerância racial, religiosa e política entre migrantes e populações locais que envenenam a convivência em muitos centros urbanos. Geralmente as políticas se seguem aos fatos, com atraso, desorientadas e tolas. Talvez o perito possa destacar alguns aspectos mais positivos, como as remessas de uns 440 bilhões de dólares anuais, enviados pelos migrantes a seus países de origem, um fluxo de divisas que em vários deles supera a soma de suas exportações. Distância geográfica e proximidade virtual Mas, além disso, na migração internacional aparecem novas tendências, vinculadas aos múltiplos processos de globalização. Como mostra Saskia Sassen em Territory, Authority, Rights (2006), as redes globais das megacidades, cada vez mais homogeneizadas tecnológica e culturalmente, a ampliação do alcance de normas do direito internacional, os mercados de trabalho transnacionais e a globalização de muitos conteúdos culturais produzem novas – e melhores – condições para a circulação de pessoas. Este mundo em surgimento e expansão foi explorado por Ulrich Beck e Elisabeth Beck-Gernsheim em seu recente estudo Amor a distância (2012), onde eles se perguntam como será a circulação das pessoas e a migração nos tempos do ciberespaço. O homem se descobre como um ser vivente capaz de satisfazer uma grande quantidade de necessidades no espaço virtual por ele criado. Estas condições novas afetarão a migração. Por exemplo, as “famílias mundializadas” dos Beck sofrem menos com a multiplicidade cultural e os movimentos territoriais, frustramse menos com problemas de comunicação. As distâncias se reduzem graças aos modernos serviços eletrônicos. E, com a aproximação e homogeneização dos conteúdos culturais, di minuem as incertezas, os medos e desconcertos perante o estrangeiro. Especialmente as novas gerações se deparam cada vez mais no estrangeiro com o conhecido e resolvem com maior simplicidade a problemática da busca da identidade. Onde a criança migrante antes sofria com a dor da partida, hoje ela encontra a alegria com um iPad ou smartphone. Só é preciso tê-los. Se antes os imigrantes faziam esforços para se adaptar, hoje estes foram substituídos pela exigência de parti cipar. Ao tocar a tela de seus aparelhos, a dor de sua partida diminui ante o encontro com um mundo virtual familiar. < * “Caminhar é a alegria do moleiro...”, antiga canção alemã cantada pelos aprendizes viajantes que percorriam a Europa, completando o ciclo de sua formação como artesãos. Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 43/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Germán Kratochwil (1938, Korneuburg, Áustria) emigrou na infância para a Argentina. Vive em Buenos Aires e na Patagônia. Em 1973 doutorou-se em Ciências Sociais em Hamburgo e trabalhou para diversas organizações internacionais na América Latina e na Alemanha. Seu primeiro romance, Scherbengericht, indicado para o Prêmio do Livro Alemão, foi publicado em Viena em 2012; em janeiro de 2013, seguiu-se o romance Río puro. Tradução do espanhol: Maria José de Almeida Müller Informações adicionais sobre a ilustração: O cartão-postal pertence ao acervo do Deutsches Auswanderer haus Bremerhaven Este museu na cidade de Bremerhaven mostra mais de 300 anos de história da imigração e emigração. A partir de biografias reais, o visitante pode colocar-se no lugar das pessoas que partiram para o Novo Mundo ou chegaram à Alemanha confiando num futuro mais próspero. Reconstruções fidedignas, como a entrecoberta de um barco a vela de 1854 ou a estação de imigração de Ellis Island de 1907, convertem uma volta por suas salas numa viagem através do tempo. Assim, este museu, premiado como o Melhor Museu Europeu do ano de 2007, entrelaça o passado e o presente da história europeia da migração. http://www.dah-bremerhaven.de/ Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Esther Andradi Passagens 44/72 A PALAVRA VIAJADA Há viagens e viagens. A viagem das palavras e das coisas. Tópicos possíveis de um mundo em movimento que nos interpela, nos observa e nos interroga. Se estivermos dispostos a escutá-lo... “Maletas”, Galeria Nacional de Arte Moderna de Roma, 2010. Foto: Enrico De Vita © 123RF Queiramos ou não, a vida é uma viagem com ponto de saída e ponto de destino. Lá pelos meus 20 anos, eu iniciei minha primeira viagem como mochileira. A mochila era tão pesada que quando eu sentava me custava horrores me levantar. A palavra sentada parece muito com sedentária, o contrário de nômade. E não obstante, creio que tanto um quanto outro conceito, mais do que interferirem entre si, se complementam. Desta forma aprendi que, para viajar menos sedentariamente, na vida é necessário levar pouca equipagem material. Nessa viagem de mochileira conheci um homem de baixa estatura, que dirigia um enorme caminhão. A viagem era, para ele, a vida em si. O importante não era o ponto de chegada, mas o caminho. Foi um ensinamento muito bom, certamente, embora em seu momento, ansiosa como era, eu suspirava a cada parada no caminho, pensando, como as crianças, quando chegamos. Mais tarde, cada vez que me sentia impaciente, me punha a caminhar. Comecei a caminhar metodicamente faz alguns anos, e, ao contrário da história daquele conto, sigo no mesmo lugar. Passagens Esther Andradi A palavra viajada Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Fisicamente, quero dizer, porque há viagens e viagens. A viagem das palavras e a das coisas. A viagem das comidas. O idioma do caminho. Todos tópicos possíveis de um mundo em movimento, que nos interpela, nos observa e nos interroga. Se estivermos dispostos a ouvi-lo. Hoje estou de viagem no país de minha infância e minha juventude. E por momentos me parece habitar um sonho. Estou na mesma paisagem onde nasci, na infância, na escola, com minha mãe e as suas milanesas. E a cidade onde fui à univer sidade, onde tive 17 anos, me interroga. Me perguntam os amigos de então. Onde estivemos; de que lugar viemos, aqueles que fomos embora? Transformados e eloquentes, cabisbaixos ou perplexos, levados e trazidos por um rolo do tempo, como dizem os físicos, alguns ainda seguimos sustentando na mão o sonho de nossos 20 anos como um balão de festa infantil. Nas paredes está escrito: Sonhar acordado: isso é a realidade. E o país em movimento fala de direções, de estratégias do caminho, de sapatos mais ou menos flexíveis. A flecha foi disparada, e não há volta, como gosta de dizer meu amigo Raúl, o marinheiro. Não há volta? Há viagens e viagens. Viagens que duram um dia e outras que duram toda uma vida. Viagens turísticas e viagens permanentes. A viagem turística é a aventura em cápsulas para o sedentarismo. Algo de nomadismo sempre cai bem. O sedentarismo trouxe consigo todas as pautas de segurança necessárias para conter o movimento em espaços que se imaginam eternos e incólumes. Nada mais desestabilizador que o movimento. Então, a comprar seguros. Assegura-se tudo. Até o idioma, que aspira a ser único, simples, elementar. Um código de barras para compreender e comunicar-se com o mundo. Lá pelos anos 1940, o designer italiano Ernesto Nathan Rogers escreveu que bastaria contemplar um objeto para descrever a sociedade que o tinha produzido. Agora, com as coisas tão globalizadas como estão, não é fácil dizer quem ou qual sociedade desenhou tal ou qual objeto, porque tudo parece estar em interdependência. Os idiomas também. As línguas se sustentam no tempo umas às outras com um balanço entre protecionismo e liberalismo, mas o que as define não é a regulação delas por meio das academias, mas, antes, a persistência de quem as fala em mantê-las vigentes e levá-las consigo a toda parte. Assim, ao todo, nos últimos anos, vem-se reduzindo notavelmente o número de línguas faladas no planeta. Segundo o físico inglês Freeman Dyson, a extinção paulatina de algumas das línguas no mundo faria desaparecer também os neurônios da espécie humana que se tinham formado ao longo dos anos para interpretá-las, estudá-las e falá-las. Ao contrário do que se poderia esperar, menos línguas só seriam úteis para a burocracia, mas, por outro lado, tornariam a comunicação entre as pessoas cada vez mais elementar. É tão agudo este princípio, porque resulta difícil de se imaginar que o complicado possa simplificar as coisas. Quer dizer que a complexidade é o que nos levou à evolução, e não ao contrário. Então, a língua só se salva sendo nômade. Viajada. Quanto mais gente a falar, tanto mais os destinos de seus falantes, mais os estudos de seus pesquisadores. O viajante, muitas vezes sem sabê-lo, vai à busca destas alegorias e ficções, destes alegados e circunstâncias, abrindo caminho no matagal para rubricar uma pauta. Um conhecimento. Uma distorção. Os alemães inventaram recentemente a palavra Migrations hintergrund – que significa algo assim como pano de fundo migratório – para classificar a origem das pessoas neste mundo em movimento. Definição exigente a partir de qualquer ponto de vista, porque é quase impossível a existência de alguém que careça de pano de fundo migratório. Alguém que não tenha um nômade, um viajante em seus genes. Porque desde Lucy, que faz milhares de anos foi africana, até aqui, as pessoas não fizeram outra coisa do que se movimentar. Movimentar-se e pretender se fixar. Insistir em levar consigo o próprio e protegêlo do outro. Do alheio. Do impróprio? O que a gente carrega durante uma viagem? A mala interna traz idioma e sabores, histórias e consolos, medicinas e rituais familiares para compor a música do caminho. Nem sempre aquilo que se traz na bagagem se adapta, a começar pela comida, que, segundo o ditado popular, viaja mal. Porque a comida, como a gente e as palavras, também se modifica. A viagem das palavras permite que elas também se impregnem do mundo em que vamos caminhando. Os registros familiares falam de perdas e desgraças, dramas de adaptação e tragédias de desenraizamento. Tudo se transforma no choque da carícia, do olhar, da guerra, da fúria ou do encontro amoroso com o outro, e há um medo diante desta transformação, porque aquilo que se transforma deixa de nos pertencer tal como o conhecemos, assim como nós também não somos os mesmos depois de uma viagem iniciada na infância, quando chegamos ao final do percurso. E temos medo. Medo de perder. Medo de ganhar? Seja como for, neste caminho cheio de altos e baixos, de retornos não desejados, de sonhos escondidos, de comidas temperadas com o amor do que perdemos, nutrese a manada espiritual da qual procedemos. Como espécie, não já como indivíduos. E aí está nosso desassossego, nosso desequilíbrio cotidiano, nossa melancolia de séculos concentrada num sonho, numa instância diferente. A consagração de nossa mudança. Essa mudança que nos transtorna e desequilibra. Então se inventam palavras para defini-lo, sem pensar que talvez o que marca este movimento é a indefinição permanente. Quando já tudo está perdido, fica a língua materna, insiste Hannah Arendt. E ela sabia do que estava falando, submergida na língua franca do inglês, seus conceitos não conseguiam se encontrar. Trata-se, pois, da língua em viagem. De trasladar aquilo que se tem. Como conviver com isso na terra dos outros? Como usar as palavras conhecidas para definir aquilo que não se conhece? Aquilo para o que não há palavras? Assim foi o que ocorreu com a escrita emigrada através dos séculos, remexendo noutras línguas até transformar as palavras na própria. Como Ovídio, que continuou cantando Roma e seus vitimizadores em latim, perdido entre os bárbaros. Como Alexander von Humboldt, que percebeu em alemão e formulou em francês sua experiência nas colônias espanholas. O tio Eusébio sofria da enfermidade da viagem. Depois de um tempo, não importava sob quais circunstâncias, ele sentia um formigamento persistente nos pés que somente amortecia caminhando. Melhor dito, correndo, e então, partia. Conta a família que a mãe do tio Eusébio estava grávida quando se mudaram 45/72 Esther Andradi A palavra viajada de um campo a outro, e que então sentiu um formigamento no ventre e o parto acabou sendo prematuro. O tio Eusébio nasceu assim, com a cruz da viagem sobre seu destino. Somente saindo era capaz de retornar, de se comunicar, de existir. Este parente longínquo, porque sempre andava por lugares ignotos, mas que não perdia nenhuma das peregrinações, na quele tempo numerosas, foi o mito da minha infância. Também eu, obrigada a partir durante minha juventude, depois de algum tempo e agora já sem motivo aparente, sinto a compulsão de abandonar o lugar onde estou, para me perder noutro lugar, noutras circunstâncias, noutros mundos. Só por um tempo, eu me prometo. Mas até agora continuo sem cumprir minha promessa. Quando estiver regressando o saberei. Entrementes continuo andando. Como me disse aquele homem que conheci quando eu era mochileira. O gosto está no caminho. < Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 46/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autora: Esther Andradi escritora argentina, reside em Berlim e Buenos Aires. Publicou testemunhos, contos, microrrelatos, poesias e romances. Seus ensaios literários circulam em diferentes meios culturais da América, Espanha e Alemanha. É autora do romance Berlín es un cuento (2007).. Tradução do espanhol: George Bernard Sperber Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Ulrike Prinz Passagens 47/72 EM BUSCA DE REASTROS Relatos de viagem na era da globalização. “Humboldt 2.0”. Concepção: Fabiano Kueva. Esq.: Retrato de Alexander von Humboldt de Friedrich Georg Weitsch. Captura de vídeo: Mayra Estévez Trujillo, 2012 © Fabiano Kueva O processo da globalização abocanhou a dimensão do estran geiro, tornando obsoletos os populares relatos de viagem, aquela literatura que apaziguava a nossa nostalgia e, ao mesmo tempo, incitava o desejo de conhecer outras plagas. Acabou-se a viagem a novas terras, a descoberta de paisagens “desconhecidas”. Pois em lugares antes esquecidos, em que agora pulula o turismo de massa, todos os caminhos já foram desbravados e quase não existe mais paisagem que não tenha sido “n” vezes digitalizada, sua descrição se torna supérflua. Do sofá da sala, podemos ir zapeando às regiões mais distantes da Terra e acompanhar na TV os jornalistas do canal National Geographic explicando os grandes mistérios do planeta. Esse “aniquilamento” midiático não deixa mais espaço algum para aventuras. Por isso, no final dos anos 1980, as ciências literárias de língua alemã declararam a morte do relato de viagem. No entanto, para nossa surpresa, há alguns anos constatamos a volta de uma nova literatura de viagem. Seus autores seguem os vestígios de seus modelos famosos ou esquecidos, confrontando-se com seus relatos e experiências ao refazer velhas rotas na vida real. Literatura da busca de rastros Talvez eles todos tenham lido Bruce Chatwin, cujo primeiro texto longo em prosa publicado, Na Patagônia, foi um livro cult do final da década de 1970 e dos anos 1980. Sua ideia mestra era o conceito do nomadismo e a motivação para a sua nostalgia, o pedaço de pele guardado no armário com porta de vidro da sala de sua avó, “espesso e áspero, com tufos de um pelo avermelhado, grosso”. Chatwin carregava em sua bagagem cultural antigos relatos de viagem e textos científicos; a eles, associava a sua fantasia da Patagônia. Enquanto viajante literário, buscava rastros e dominou tão bem a arte de entreligar textos próprios e estranhos que foi acusado de que a Patagônia em si não aparecia em seu livro. Era difícil classificar as obras de Chatwin segundo as categorias existentes: relatos de viagem ou romances? Também no caso da moderna literatura de viagem aqui descrita, uma categorização se faz difícil. Pois o seu espectro, bem como as intenções de seus autores, que aqui quero apresentar com quatro obras, são amplos: vão do jornalismo investigativo ao entrelaçamento habilidoso de fatos e ficção. O que têm em comum é a frequência de referências metatextuais e intertextuais, complementadas e renovadas pela realidade experimentada. A grande atração desses textos é refazer fisicamente uma viagem famosa que, por sua vez, influencia o escrito. Se os autores do relato de viagem tradicional se concentravam em primeira linha em descrever o estrangeiro ou se colocar em cena enquanto descobridores, os novos “investigadores” não Passagens Ulrike Prinz Em busca de reastros Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 objetivam apresentar nada inédito. Entretecem as histórias de seus predecessores famosos ou enigmáticos com as experiências de sua própria viagem. Sua literatura permanece em terreno conhecido, eles não penetram no “coração das trevas”. Raramente nos apresentam descobertas. São autores para quem seguir os rastros dos predecessores é programa, epígonos, possivelmente, que compreendem o passado e querem tornálo compreensível. Geralmente, a busca pelos rastros fracassa, o que não chega a ser um problema, pois nesse tipo especial de literatura de viagem, a meta é o próprio caminho. Os sucessores são confrontados com o fato de chegarem atrasados. Viagem através do tempo Jürgen Neffe, por exemplo, doutor em Biologia e jornalista científico, embarca em um navio de contêineres e no colchão mais duro de sua vida a fim de refazer a rota de viagem de Charles Darwin, 175 anos depois da legendária travessia de cinco anos no navio Beagle. Seu relato de viagem Darwin. Das Abenteuer des Lebens (Darwin, a aventura da vida, 2006) é entremeado por fragmentos e reflexões dos diários de Darwin. Neffe conduz seus leitores a uma prazerosa viagem através do tempo em que nos aproxima da pessoa de Darwin e tenta nos fazer entender suas teorias. Neffe deseja que a natureza fale com ele, experiência extremamente subjetiva que é difícil revestir de palavras e que resta reservada ao próprio viajante. Em seu relato “falam” principalmente os muitos textos dos predecessores. Enquanto viajante culto, Neffe não apenas segue os caminhos de Darwin – o qual, por sua vez, já seguira os rastros de Alexander von Humboldt –, mas também revela um traço que o impressionou desde os seus tempos de escola: a fotografia das marcas de mãos, de dezenas de milhares de anos de idade, que conhecera no livro de Chatwin e, em sua cabeça, estava intimamente ligada ao nome Patagônia. Encontrar esses rastros é, ao mesmo tempo, a realização de um sonho pessoal. “Como poderia sair dessa região sem ter visto as mãos?” O movimento de refazer a viagem no espaço geográfico também deve ser visto como tentativa de se aproximar do modelo, seguir seu exemplo ou mesmo entrar em sua pele. A busca interior, pessoal, associada ao motivo da viagem, pode se tornar uma espécie de peregrinação. Afinidade de alma A empatia e a identificação pessoal também caracterizam a reportagem de Karin Ceballos Betancur, Auf Che Guevaras Spuren. Lateinamerikanische Reisenotizen (Nas pegadas de Che Guevara, anotações de viagem latinoamericanas, 2003), em que, cinquenta anos depois, a autora retoma o trajeto de seu ídolo, levando suas Notas de viagem embaixo do braço. Enquanto refaz o trajeto histórico de 16 mil quilômetros em busca de evidências pessoais de seu herói, persegue acima de tudo a questão de como as condições polí ticas e sociais se transformaram no espaço de meio século – problemas que também impulsionaram seu ídolo, tornando-o um revolucionário. A sua reportagem liga as reflexões e ideias de Guevara ao espaço geográfico, leva-a de volta às suas origens e checa as condições atuais com sua percepção pessoal. No fim, Karin Ceballos apresenta o encontro com o companheiro de viagem de Che, Alberto Granado, em Havana, que recusa ser entrevistado. A mola propulsora de encontrar as últimas testemunhas é parte obrigatória dessa busca de rastros. No final, decepção e continuar a luta “hasta la victoria” – às vezes. 48/72 À procura da verdade no Xingu Traços podem se apagar e os segredos são levados para o túmulo. É o que adverte o jornalista e escritor brasileiro Bernardo Carvalho em Nove noites (2002), o livro no qual reconstrói o suicídio do antropólogo norte-americano Buell Quain. Sessenta e dois anos depois de sua morte cruel, Carvalho busca os motivos. O tema da viagem ao Xingu é elaborado literariamente, tornandose movimento interior rumo ao “Xingu da infância” e revelando uma forte identificação do autor com o antropólogo cansado da vida. Em sua habilidosa narrativa, Carvalho mistura pessoas e eventos históricos e inventados. Coloca ao lado do jornalista narrador um amigo fictício do falecido que o adverte: “Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade”. Nem toda investigação de rastros é bem-sucedida, e alguns caminhos terminam na selva. Suspeita é antes a reportagem que encena o investigador como descobridor e apresenta resultados duvidosos, como faz David Grann em Z, a cidade perdida – A obsessão mortal do coronel Fawcett em busca do Eldorado brasileiro, 2009. O repórter nova-iorquino alega estar revelando o segredo do último grande cavalheiro explorador, Percy Fawcett, desaparecido de maneira misteriosa há 86 anos em busca da cidade submersa Z. No embate com o “inferno verde”, Grann, o habitante desajeitado da cidade grande, salva-se por um triz dos jacarés e das piranhas e se vê entregue a “antiquíssimos rituais indígenas”. Novamente, não pode faltar a conversa com a última testemunha viva, e Grann leva suas pesquisas a um ápice que revela ser uma “barriga” jornalística: a “descoberta” dos campos de escavação arqueológica dirigida por Michael Heckenberger, que apontam para uma área densamente habitada no Alto Xingu entre os séculos XIII e XVII e cuja existência já era conhecida entre especialistas desde os anos 1990. A sua reportagem, que não deixa de ser construída com muito talento, é a tentativa de voltar aos grandes descobridores, ainda que através de uma autorrepresentação elaborada com ironia. Ela revela os limites da literatura da busca de rastros. As exigências à moderna literatura de viagem mudaram nitidamente na era da globalização. Hoje praticamente não se fazem mais descobertas durante viagens. O sucesso dessa literatura da busca de rastros com caráter de reality show reside antes em uma hábil reatualização dos textos dos predecessores. Surpreendentemente, o caminho dessa literatura não termina na virtualidade, diante da TV e na internet, mas sim na renovação constante, reconstituindo fisicamente a viagem e vinculando o passado com a experiência pessoal < Ulrike Prinz Em busca de reastros Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autora: Ulrike Prinz é etnóloga, especializada em etnologia da arte e mitologia, redatora e autora. De 2001 a 2004, deu aulas sobre temas latino-americanos na Universidade Ludwig Maximilian de Munique. De 2004 a 2006, foi assessora do Goethe-Institut de Munique e, desde outubro de 2007, é redatora responsável da revista HUMBOLDT. Tradução do alemão: Kristina Michahelles Informações adicionais sobre a ilustração: Humboldt 2.0, uma ficção digital A instalação em DVD multicanal de 7 minutos com 3 projeções e som, que o artista multimídia e produtor de rádio e sonoro Fabiano Kueva (Quito, 1972) chama de “Humboldt 2.0” em alusão à lendária viagem de Alexander von Humboldt, é um trabalho multimídia baseado em algumas estratégias discursivas dos cientistas viajantes do século XIX. Fabiano Kueva tematiza a caminhada, o mapeamento, o diário de campo, o inventário, as notas, a correspondência, colocando-se na pele do viajante e relator. Com imagens em vídeos simultâneas, paisagens sonoras e narrações, próprias ou baseadas na correspondência de Humboldt ou nos escritos de Walter Mignolo, Silvia Rivera Cusicanqui ou Peter Handke, dota essas viagens de outro significado, dando-lhes assim um novo sentido. Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 49/72 Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Rike Bolte Passagens 50/72 TransVersalia Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. Ilustração Mónica Alvarez Herrasti, 2011 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Redação e seleção:: Rike Bolte (1971) vive em Berlim, leciona Literatura Francesa, Espanhola e Latino-americana na Universidade de Osnabrück e é tradutora, bem como fundadora e organizadora do Festival Itinerante de Poesia Latino-Americana “Latinale”. Publicou várias antologias de literatura jovem da América Latina, como Transversalia. Horizontes con versos/Horizonte in verkehrten Versen (2011), a primeira grande coleção de Transversalias, juntamente com Ulrike Prinz. Autor: Ricardo Domeneck (1977) deixou São Paulo e se estabeleceu em Berlim em 2002. Publicou cinco coletâneas de poemas, e seus textos foram traduzidos e incluídos em antologias em cinco idiomas. Ele próprio traduziu Hans Arp, H.C. Artmann, Thomas Brasch, Jack Spicer, Frank O’Hara e Harryette Mullen, entre outros. Como videoartista e sound-performer, apresentou projetos em vários museus modernos. Em 2013 foi lançado seu poemário Körper: ein Handbuch. Tradução: Marcelo Backes Autora: Sabine Scho (1970) vive em Berlin e São Paulo. Publicou as coletâneas de poemas Album (2001) e farben (2008), bem como Frauenliebe und leben (2010), uma repoetização de uma ciclo de canções de Adelbert von Chamisso. Em 2012, foi agraciada com o prêmio Anke Bennholdt-Thomsen (Schillerstiftung). Recebeu vários prêmios e distinções, entre outros uma bolsa da Villa Aurora, Los Angeles.. Tradução: Ricardo Domeneck Rike Bolte TransVersalia Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 51/72 Ricardo Domeneck Alienações fiduciárias Alienaciones fiduciarias Voltar à casa, para quê? Aproveita a viagem, Odisseu. Ninguém sabe o que houve em Ítaca durante a tua ausência. Por ora, tens a atenção de Circes e de cíclopes e de sereias. Uma nau, um fantasma cego para o diálogo. Provável, neste mundo com ânsia por notícias e vício em atualizações, ao chegar à casa homem muitíssimo inferior a ti agora seja rei e Penélope esteja no quinto marido. Teu cão. morto. Tuas pelancas geriátricas tenham já tornado irreconhecível a cicatriz ou tua ama em estágio avançado de um Alzheimer sequer diagnosticável em tua época. Casa? Sempre foi tolice investir no setor imobiliário. Retornar dá trabalho. Permanece à deriva. Volver a casa, ¿para qué? Aprovecha el viaje, Odiseo. Nadie sabe lo que pasó en Ítaca durante tu ausencia. Por ahora tienes la atención de Circes y de cíclopes y de sirenas. Una nave, un fantasma ciego para el diálogo. Es probable, en este mundo con ansia de noticias y el vicio de actualizarse, que al llegar a casa un hombre muchísimo inferior a ti sea rey ahora, y Penélope ande ya por el quinto esposo. Tu perro, muerto. Tus pellejos geriátricos habrán vuelto irreconocible la cicatriz o tu nodriza en estado avanzado de un alzhéimer si fuese diagnosticable en tus tiempos. ¿Casa? Siempre fue disparate invertir en el sector inmobiliario. Regresar es laborioso. Sigue a la deriva. ///// Telegrama de Scho a Domeneck // A caminho, em trânsito, adiante, estar aqui, estar ali, adiante. Despedida, retorno, um outro. Quando eu era criança, tinha a certeza de um lar e não fazia a ideia do dilaceramento interior daqueles para os quais isso já não valia mais nem naquela época: trabalhadores imigrantes, exilados, e o bilinguismo ainda era algo que marcava os estrangeiros e não a postura poliglota. A literatura é viagem, é partida, desde os primeiros épicos, uma noção tateante de que nada permanece como era, nem mesmo para os que ficam, ainda que talvez não de um modo tão manifesto. // Em busca do tempo perdido, finitude, tentativas vãs de encontrar apoio naquilo que passou e naquilo que passa. Hic et nunc. Viva o aqui agora! Mas onde fica isso para um ser humano dotado de memória que se recorda no aqui e no agora? Do lar, da mulher, da ama, do cachorro, da própria posição. Então quer dizer que talvez seja rei aquele que tem um lar ou uma memória não tão boa assim? Quem ainda se lembra de ti, Odisseu, se tudo que dá testemunho da tua identidade é uma cicatriz, que uma ama de leite doente por causa do esquecimento não reconhecerá e que há tempo já desbotou? Tu não existes mais como aquele que foi, portanto não existes mais como aquele que pode voltar. Retorne como outro. Mas teu cão, Odisseu, deverias tê-lo levado junto! // Rike Bolte TransVersalia Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 52/72 Sabine Scho ekballein, wo fährt der dämon ein? ekballein, ¿dónde se cuela el demonio? filum terminale it’s always hit me from below sie halten mich aufrecht, das schon aber sie machen mich flieger besteigen und sagen, schau, man zeigt lohn der angst solaris und champagner gibt es, um zu vergessen, wo du eigentlich wohnst dein ziel wirst du vermutlich erreichen aber du kannst dich nicht erinnern warst du bei christi beweinung? situations have ended sad du kannst dich nicht erinnern man verteilte vielleicht ein glückshormon? man könne dich nur schlecht erreichen es ist nicht so, dass ihr nicht miteinander könntet, du und dein dämon, nur der form halber bestehst du noch drauf, es sei eigentlich folgendermaßen gewesen, und dass du dich gegen derlei intervention, allein weil du das wort nicht mögen würdest im prinzip gern verwehrtest, aber dir sei klar ohne seine mechanik fehle dir wohlmöglich jede motivation, er hält dich am laufen und würde letztlich auch nur vermitteln bei einer provision an spinalen nerven und etwas sitzfleisch. man könne im duty free auch noch einen schladerer kaufen an austreibung sei da nicht mehr zu denken yer gonna have to leave me now, i know filum terminale it´s always hit me from below me mantêm ereta, isso sim mas me fazem embarcar em aviões e dizem, veja, assiste-se a salário do medo solaris e há champanhe, para se esquecer onde você na verdade mora você chegará a seu destino supõe-se mas você não consegue se lembrar você foi à lamentação do cristo? situations have ended sad você não consegue se lembrar distribuiu-se talvez um hormônio da alegria? podia-se alcançá-la apenas muito porcamente não é bem assim, que vocês não possam um com o outro, você e seu demônio, só a forma você meio que insiste ainda, teria sido de tal maneira, e que você teria, só porque não gostava da palavra em princípio, resistido com prazer a tal intervenção, mas a você estava claro que sem a sua mecânica lhe faltaria possivelmente qualquer motivação, ele a mantém funcionando e por fim seria apenas intermediário numa comissão de nervos espinhais e certa attention span. alguém poderia comprar ainda no duty free um schladerer e aí não seria mais o caso de pensar em exorcismos yer gonna have to leave me now, i know ///// Telegrama de Domeneck a Scho // Eu sinto estar no meio de uma espécie de ginástica odisseica, quando contemplo a maneira como Sabine Scho e eu cruzamos o Charco Atlântico em direções contrárias, sendo que, o que para ela é a viagem de retorno de Ulisses, é para mim a viagem longa até Troia. Minha Troia é sua Ítaca, minha Ítaca é sua Troia. Talvez nossa casa seja cada vez mais no barco entre as duas margens, ou deveria dizer no avião, com filmes sobre desastres ou histórias de superação, em que uma personagem passa e trespassa e atravessa um vale de agruras para chegar a ser quem deve ser, ou já é, quiçá sempre foi? Eu, que há muito tempo percebo a noção de nacionalidade como uma abstração difícil demais de gerenciar, sinto-me pertencer cada vez mais a duas cidades, a pólis como aglomerado de desejos mais concretos, de carne e osso, e vejo então como Sabine Scho e eu dividimos entre duas pólis nossas separações e encontros, entre nossa Berlim e nossa São Paulo. Se ao menos o duty free oferecesse os poemas que precisamos para encontrarmos a morada na cidade seguinte. Se não houvesse o risco das expulsões de uma fronteira a outra, e se nosso daemon viesse a cada viagem com dicionário e curso embutido para compreender que cada país gerencia de forma distinta nossos dramas. Ekballein, ekballein, o outsider torna-se meteco, o marginal define o centro, e a separação, diria Simone Weil, é também uma forma de conexão. // Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Bernardo Carvalho Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 53/72 O EFEITO PARADOXAL DO DISCURSO SOBRE A VIAGEM Para continuar viajando (e escrevendo), agora eu preciso mais do que nunca escapar à viagem. Cristina Barroso, “Terra Roxa”, 2012. © Cristina Barroso. Foto: Cortesia de Cristina Barroso Até muito recentemente eu repeti que a viagem era fundamental para o meu trabalho, porque me deslocava das identificações fáceis e imediatas, me confrontava com o que eu não com preendia, criava desconforto, fazia de mim um estrangeiro permanente, mesmo no meu país, me deixava mais vulnerável e mais permeável ao que não faz parte da minha vida, ao que em princípio eu não viveria se tivesse que corresponder apenas ao que se espera de mim e da minha experiência de autor, circunscrita à minha biografia, à minha nacionalidade, à minha sexualidade, à minha língua. Repeti a mesma história, até cansar de me ouvir e entender que também era isso o que, de um jeito ou de outro, repetiam outros escritores em congressos, feiras e encontros literários mundo afora, sempre que procuravam tecer uma teoria sobre si mesmos ou construir uma autoimagem literária respeitável. Nenhum escritor vai dizer que busca o lugar-comum. Nenhum escritor vai fazer o elogio da mesmice, do sedentarismo e do imobilismo. Todos dizem que buscam o desconhecido. Mesmo se não buscam. De um jeito ou de outro, todo mundo repete a mesma coisa. Uma nova consciência É verdade que não há muito a dizer além disso. E confesso, encabulado, que, a certa altura, na minha ignorância arrogante, cheguei a achar que estava sendo imitado, usurpado de um pensamento pessoal, e como vingança Bernardo Carvalho O efeito paradoxal do discurso sobre a viagem Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 imaginei a história de um escritor que já não escrevia, cuja obra se reduzira ao que ele repetia da boca pra fora em congressos, feiras e encontros literários nos quais passava a vida, até terminar entendendo, horrorizado, que o discurso que havia considerado tão original e pessoal não passava do mesmo que todos os outros escritores repetiam (e sempre repetiram) nos mesmos congressos, feiras e encontros literários mundo afora. Por meio desse personagem que de certa forma representou uma nova consciência para mim, entendi que, se por um lado o que tenho a dizer sobre as viagens é (e talvez sempre tenha sido) um lugar-comum, por outro o repúdio ao clichê contido nesse pensamento me faz voltar, num movimento circular e paradoxal, ao que originalmente nele me seduzira. A viagem para mim é simplesmente um modo de escapar. A pergunta principal que se deveria fazer aos escritores é: “Se ninguém lesse, você parava de escrever?”. Se a literatura for sinônimo de mercado e depender apenas de uma relação de oferta e demanda, a resposta é óbvia e a pergunta nem precisa ser feita. Mas para quem insiste, como eu, em pensar que a literatura está além do mercado, por mais contraditório que isso seja num mundo que já não se distingue do mercado, fazer literatura é se colocar fora desse mundo. Daí o significado da viagem. ou religião, que só podem ser reveladas pelo próprio texto. Como se o texto escrevesse o que eu penso antes mesmo de eu pensar. É claro que esse gênero de afirmação se presta a um monte de fetichismos e imposturas, nos levando de volta aos clichês e à fabricação da autoimagem do escritor, da qual eu tentava escapar. Mas é curioso que, sendo um homem tão pouco apegado às religiões e até bastante anticlerical em algumas circunstâncias, eu tenha acabado por atribuir ao texto literário um poder quase místico. Demorei a perceber o efeito imobilizador que é produzido pelo discurso sobre a viagem como deslocamento permanente, como um ideal jamais alcançado, que é no fundo o que todo escritor busca sem precisar dizê-lo ou anunciá-lo. O problema é começar a falar e se tornar profeta de si mesmo e da sua própria obra, como o escritor que eu havia imaginado e que já não escrevia, só falava, só se explicava. O que me fascina na literatura é a ambiguidade, essa zona de dúvida que não permite esgotar uma obra numa única interpretação nem circunscrevêla a um único lugar. Me fascina o sonho de textos capazes de criar religiões de um homem só, sem igreja nem seguidores. E é por isso que, para continuar viajando (e escrevendo), agora eu preciso mais do que nunca escapar à viagem. < A recusa das identidades e definições prévias Entretanto, me dei conta de que, ao repetir à exaustão o mesmo discurso sobre a viagem como modo de escapar às identidades, eu apenas criava mais uma identidade. Através do elogio do movimento e dos deslocamentos, eu apenas me tornava mais e mais sedentário, construía uma imagem que me paralisava e me petrificava num determinado lugar, me condenava a ser um certo tipo de escritor, à maneira de um produto de marketing. Haveria alguns meios para tentar escapar a esse círculo vicioso. Pelo silêncio. Ou pela contradição e pelo paradoxo de uma obra que não se deixa reconhecer, quando tudo o que um artista (e um escritor) quer é ser reconhecido. Durante muito tempo, repeti que o que mais me encantava na ideia de viagem era não saber exatamente para onde eu ia, como agora, neste pequeno texto de autorrepúdio ou autocrítica, guiado apenas por um horror a pertencer ao que quer que seja, a fazer parte, a corresponder a definições prévias, impostas inclusive por mim mesmo. É lógico que não faltou quem me acusasse de voluntarista, como se eu acreditasse que tudo depende unicamente da minha vontade. Mas como esse voluntarismo correspondia antes a um espírito de porco, a um espírito de contradição, nunca levei essa crítica muito a sério. Por outro lado, ela me fez pensar no que é que me causava (e ainda causa) tamanho horror a pertencer – e se isso não se resumiria apenas a uma vontade de ser original. A revelação no texto Por que essa obsessão? Em primeiro lugar, sempre quis dizer coisas que eu não sei bem o que são e que intuo não poderem ser ditas por nenhuma outra forma além da contradição e do paradoxo. Coisas sobre as quais, ao contrário de cientistas e filósofos, eu sei praticamente nada e que eu teimo em acreditar, como em algum tipo de mágica Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 54/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Bernardo Carvalho (1960, Rio de Janeiro) é romancista, dramaturgo, tradutor e jornalista. Escreveu, entre outros, os romances Nove noites, Mongólia e O filho da mãe. Martin Meggle Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 55/72 Pontos de fuga paradisíacos Um diálogo com Alberto Dines, decano da imprensa brasileira, a respeito do mito do Brasil como “país do futuro”, sobre Stefan Zweig, antissemitismo e sobre a “monotonização do mundo”. Stefan Zweig nos jardins do Hotel Atlântico (Monte Estoril, Lisboa), em janeiro de 1938, examinando os originais de “Coração inquieto”. Foto: “Diário de Notícias”, Lisboa. Cortesia do Acervo Casa Stefan Zweig, Petrópolis Alberto Dines completou 80 anos de idade em 2012. Todas as semanas ele ainda faz ouvir sua voz pelo rádio, aparece na TV como moderador, escreve para a imprensa. Ele gosta mesmo de se imiscuir na realidade brasileira, fortificar a oposição à opinião pública corrente, criticar a ingenuidade política ou a burrice oportunista predominante, questionar o teor de verdade de muitas matérias publicadas na imprensa e, com não menor insistência, exigir a nítida separação entre Igreja e Estado. No Brasil e no mundo inteiro. Este senhor bem apessoado, de cabelo grisalho, sempre disposto a comprar uma boa briga, tem uma missão. É a missão do pensamento crítico, da liberdade de espírito. Dines faz parte da rara espécie daqueles jornalistas que, no Brasil, ocupam a posição de reconhecidos críticos da mídia. Os fãs de seu programa e de seus artigos mordazes amam-no como uma espécie de Dom Quixote brasileiro, que luta também contra os moinhos de uma crescente comercialização e banalização dos meios de comunicação pública no Brasil. Mas há outros, porém, entre eles também antigos colegas do setor da mídia, que veem Dines como um encrenqueiro, um predicador moralista ou como alguém que cospe no prato em que comeu. Em todo caso, como um chato, de quem se pode abrir mão sem remorso. Já na década de 80 Dines diagnosticava uma deficiente autopercepção e autorreflexão da imprensa brasileira. Este debate levou Dines a se perguntar a respeito da consciência que a cultura brasileira em geral tinha de si mesma. E a cons tatar mais uma vez o fato de o Brasil ter tido sempre que ser vir aos europeus como tela para a projeção de promessas paradisíacas. Dines não pode aceitar, dentro de sua missão de ser um porta-voz do Iluminismo laico, tal enfática invocação de ilusões paradisíacas. Por outro lado, justamente esta visão de um paraíso chamado Brasil sempre o atraiu irremediavelmente e com ela, paradoxalmente, ele se digladia até hoje. Morte no paraíso (1981) é o título de uma biografia de sua autoria, que trata da última estada de Stefan Zweig e de sua mulher no Brasil, e de seu trágico fim. Escorraçado pelo terror Martin Meggle Pontos de fuga paradisíacos Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 nazista e pelos excessos ideológicos da Europa do seu tempo, Zweig achou poder reconhecer na cultura brasileira um modelo para um futuro humanista da humanidade. Nesse mesmo Brasil, contudo, por ele imaginado como um barco salva-vida para toda a humanidade, Stefan Zweig cometeu suicídio, junto com sua mulher, na noite de 22 a 23 de fevereiro de 1942. O jornalista alemão Martin Meggle conversou em São Paulo com Alberto Dines, espírito mentor do projeto que levou, em julho de 2012, à inauguração da Casa Stefan Zweig (www. casastefanzweig.org), um centro de documentação criado para honrar a memória do escritor austríaco. Alberto: A questão central reside no fato de que essa forma de falar do país do futuro no fundo era vista no Brasil, mais especificamente entre nós, brasileiros, como uma maldição, ou como uma promessa vã, e não como talvez Zweig a entendia, como uma gigantesca promissão. Também os jornalistas brasileiros consideravam, via de regra, o seu próprio país como um empreendimento fracassado, sobretudo porque o bem-estar de amplos setores da população brasileira, sempre prometido em altos brados pelos políticos, nunca tinha se transformado em realidade no presente. De fato, os brasileiros não têm, em geral, uma imagem positiva de sua própria civilização e costumam menosprezá-la. E justamente por estes motivos era inevitável que surgissem problemas, quando Zweig, com o seu livro, entoou esse hino em louvor da nossa cultura brasileira, justamente no início dos anos 40. O senhor diria que Stefan Zweig não captou os altos e baixos da autoconsciência dos brasileiros, melhor dizendo, a sua falta de consciência de si mesmos? Alberto: Disso Zweig não tinha a menor ideia! Zweig quase não conhecia o Brasil, quando ele escreveu o livro. É claro que o pouco tempo que ele ficou no Brasil não foi suficiente para ele realmente chegar a conhecer os aspectos mais profundos e sutis da nossa cultura. O livro foi mal planejado e Zweig não teve tempo para desenvolvê-lo com calma. Ele escreveu o livro depressa e ganhou das autoridades, como recompensa, um visto permanente, para poder ficar no Brasil. Foi, por assim dizer, uma questão de business. Mas nessa situação de necessidade, não era legítimo para um autor judeu, durante a perseguição nazista, chegar a um porto seguro através desse meio? Alberto: Evidentemente era algo legítimo. Zweig tinha medo de que os nazistas o perseguissem até na América do Sul. A teoria de Zweig sobre o Brasil também se baseava, além disso, em premissas históricas errôneas. Ele achava que o Brasil tinha sido poupado de guerras e revoluções e nutria grandes esperanças a respeito de um futuro pacifista. Mas na verdade houve fases belicosas na história do Brasil, houve até mesmo a Inquisição. O senhor acha que Zweig, de quem se sabe que ele simpatizava com a monarquia austro-húngara, também tivesse simpatia pelo passado imperial do Brasil? Alberto: De fato. Zweig admirava o imperador brasileiro Dom Pedro II, que foi uma pessoa muito culta e, como Zweig, tinha antepassados austríacos. Dom Pedro II foi um monarca perfeito, que confiava na força de uma imprensa livre, que era capaz de resolver os seus próprios problemas sem a intervenção do governo, sem que o governo se imiscuísse em tudo. Foi somente 308 anos depois do descobrimento que, com a vinda da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro, em inícios do século XIX, o Brasil começou realmente a se desenvolver. O país começou a acordar lentamente. O intercâmbio entre universidades portuguesas e brasileiras começou a se configurar. Também a imprensa brasileira começou a se desenvolver pela primeira vez depois do ano-chave de 1808. E é bom que se saiba que durante os séculos anteriores não existiu nenhum jornal no Brasil. A ideia de festejar o Brasil como sendo um país do futuro atingiu, portanto, nos anos 40, um ponto nevrálgico. Houve Martin Meggle: “This is a country of the future no more. The people of Brazil should know that the future has arrived.” Com estas palavras audaciosas o presidente americano Obama recorreu, quando de sua mais recente visita ao Brasil, a um tópos arquiconhecido. Alberto Dines: Hoje em dia ninguém mais reflete antes de denominar ou caracterizar o Brasil como “país do futuro”. A ideia de que o Brasil tem que ser um “país do futuro” há muito tempo se tornou algo corriqueiro, um lugar comum. Em que contexto nasceu este tópos? Alberto: No fundo, quem está por trás dele é o escritor austríaco Stefan Zweig. Zweig escreveu durante a Segunda Guerra Mundial um livro intitulado Brasil, um país do futuro. A primeira edição em língua alemã foi lançada pela editora Bermann-Fischer, de Estocolmo, em 1941. O livro tornou-se logo um best-seller internacional. Antes do texto hínico de Zweig sobre o Brasil, já existiam livros que poderiam ser considerados também como instauradores do mito a respeito do glorioso futuro da cultura brasileira? Alberto: Já há perto de quatrocentos anos – em 1618 – o portu guês Ambrósio Brandão publicou um livro com o título Diálogos das grandezas do Brasil. A grandeza do Brasil refere-se, neste texto precoce dos tempos da colônia, à incomensurável riqueza da natureza brasileira, riqueza em matérias-primas, tais como ouro, prata e outros minérios. Mas se refere também à forma de vida especialmente calma e pacífica dos brasileiros. Internacionalmente este livro de Zweig sobre o Brasil foi parar na lista dos best-sellers. Mas na imprensa brasileira choveram as críticas negativas. Por quê? Alberto: Imagine só um estrangeiro chegando ao Brasil, e ele escreve, nos tempos da ditadura, um livro sobre a sua cultura e chama este país de “um país do futuro”. Era previsível que, quando foram publicadas as primeiras resenhas, se suspeitasse que ele tivesse sido pago pelo Estado repressivo, ou mesmo por alguém do exterior, para escrever uma descrição tão extre mamente positiva da cultura brasileira. Ele tinha chegado a este país nutrindo um incrível entusiasmo pelo Brasil. Zweig dizia que ele andava pelas ruas e não via nem brancos nem negros, mas mulatos, mulatos e mais mulatos. O fenômeno da mistura de raças o entusiasmava, sobretudo porque ele vinha de uma Europa onde, em 1935, um ano antes de sua primeira vinda ao Brasil, tinham sido promulgadas as leis raciais de Nuremberg. A ideia central de Zweig, de que o Brasil seria um país do futuro, corresponderia, em sua opinião, a uma alucinação? Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 56/72 Martin Meggle Pontos de fuga paradisíacos Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. algum pensador que inspirasse Zweig decididamente para ele criar sua fé no futuro do Brasil? Alberto: Zweig começou a se interessar pela América do Sul sob a inspiração, entre outros, dos trabalhos do filósofo Hermann Keyserling. Keyserling era um conde prussiano que criticava o nacional-socialismo, embora inicialmente tenha nutrido alguma simpatia por Hitler. Zweig conhecia o livro de Keyserling Medi tações sul-americanas e ficou profundamente impressionado por sua ideia de que a América do Sul pudesse ser a herdeira do humanismo europeu. Acho que Zweig não nutria apenas a esperança de uma América do Sul humanista. Ele também pensava, se não me engano, numa “unidade espiritual do mundo”. Alberto: Correto. A respeito dessa “unidade espiritual do mundo” Zweig já falou em 1936 no Rio de Janeiro, onde ele participou de uma conferência internacional. Essa palestra, contudo, nunca foi publicada. Falar de uma unidade espiritual do mundo pouco tempo depois da irrupção da Guerra Civil Espanhola e ainda durante os tempos marciais da Segunda Guerra Mundial era, para muitos dos seus contemporâneos, um testemunho da ingenuidade do escritor austríaco. Mas se a gente ler esse texto hoje, no contexto da crise global, é possível ter a impressão de que essa tese não deixa de fazer sentido. No Brasil, Zweig falou em público sobre os perigos do antissemitismo? Alberto: Não. Mesmo que naquela época, no Brasil, começasse a se espraiar muito abertamente um terrível antissemitismo. Durante os meus estudos sobre a história da imprensa brasileira eu pesquisei, entre muitas outras coisas, como a mídia brasileira refletiu, em 1933, o fato de Adolf Hitler assumir o poder. As primeiras páginas dos jornais dedicavam-se exclusivamente a esse tema da assunção do poder, e numerosas informações sobre o pano de fundo desse acontecimento foram sendo publi cadas. Ao que tudo indica, nos anos 30 o Brasil era um país muito mais bem informado do que hoje possa parecer. Quem estava por trás do antissemitismo brasileiro durante os anos 30? Alberto: Havia um partido fascista no Brasil, que não se esfor çava em ocultar o seu antissemitismo. Esse partido era também clerical, ou seja, orientado para o catolicismo, e ocupava a extrema direita no espectro político brasileiro. Eu nasci em 1932 e os vi marchando, vi-os desfilando nas ruas com bandeiras desfraldadas, os jovens antissemitas aderentes desse partido que se chamava Ação Integralista Brasileira. Mas Stefan Zweig foi muito reticente em fazer declarações políticas claras diante da opinião pública brasileira. Onde o senhor vê as raízes desse comportamento? Alberto: Quando H itler chegou ao poder, Zweig não saiu às ruas para protestar contra Hitler, porque ele não confiava na maioria da oposição contra Hitler, que era constituída pelos comunistas, e não queria apoiá-los. Embora ele tivesse ficado entusiasmado com o nível do teatro russo, da sua literatura e de seu cinema. Mas quando ficou sabendo das execuções de opositores em nome da revolução cultural, Zweig ficou totalmente desiludido. Ele não apenas perdeu a sua fé na política partidária, mas aca bou tendo, no fundo, um verdadeiro horror a ela. Mas no que diz respeito às questões ético-filosóficas de seu tempo, Zweig nunca ocultou as suas opiniões, pelo contrário, sempre falou em termos muito explícitos. Stefan Zweig era um idealista. Já nos anos 20 Zweig constatou uma tendência global para o nivelamento das diferenças culturais. Isso é algo que pode ser extraído, entre outras coisas, do seu ensaio “A monotonização do mundo”. Alberto: Com esse ensaio Zweig, no fundo, visava muito preco cemente o fenômeno da globalização. Zweig esteve em muitos aspectos bem adiante do seu tempo. Muitas de suas observações só puderam ser entendidas a longo prazo, por assim dizer. Zweig tinha, ao que tudo indica, uma visão extremamente crítica da cultura dos EUA. Ele até mesmo a acusou de ser responsável pela assim chamada monotonização do mundo. Nesse ensaio ele diz: “De onde vem essa terrível onda que ameaça arrastar consigo e tirar das nossas vidas tudo o que tem uma cor própria, uma forma própria? Todos os que já estiveram por lá, o sabem: ela vem dos Estados Unidos”. Como o senhor julga essa postura antiamericana? Alberto: Quando, durante a sua fuga dos nazistas, ele conheceu os Estados Unidos, Zweig ficou decepcionado e rejeitou a cultura dos EUA. Ela era materialista demais para o seu gosto. Sentia falta, naquela burguesia, de um senso pelas questões culturais abrangentes, tal como o conheceu em Viena, quer dizer na Áustria, assim como na Alemanha. Zweig não era senão um filho de uma burguesia empreendedora, que sabia cultivar um ar mundano, tinha necessidade de manifestações culturais e que era poliglota. Durante a sua fuga dos nazistas, Zweig acabou procurando no Brasil essa pátria burguesa, culta e inspirada pelo humanismo. Não obstante as catástrofes da Segunda Guerra Mundial, Zweig previa a unificação da Europa. Alberto: De fato. Zweig era um europeu convicto pelos quatro costados. A sua confiança num futuro pacífico na Europa era extraordinária. Na sua carta de despedida, ele afinal não fala, por exemplo, da paisagem de escombros alemã ou austríaca, mas da europeia. O pacifismo que Zweig defendia e pelo qual tentou lutar, era sempre de natureza europeia. Na sua carta de despedida, Zweig escreve: “A cada dia aprendi a amar este país mais e mais e em parte alguma poderia eu reconstruir minha vida, agora que o mundo de minha língua está perdido e o meu lar espiritual, a Europa, autodestruído”. Alberto: A sua carta de despedida tinha apenas uma página e, no fundo, foi feita sob medida para ser publicada. Ao que tudo indica, Zweig imaginava muito bem como apareceria na imprensa a notícia de sua morte, depois do seu suicídio. Ele redigiu duas versões. Uma delas tinha 21 linhas, e deveria ser reproduzida em fac-símile em todos os jornais. Se a carta tivesse sido mais longa, os redatores dos jornais não teriam podido reproduzi-la por inteiro. Ele, de fato, pensou em tudo, preparou tudo, porque nada devia ser deixado ao acaso. O suicídio obedecia a um plano. Alguns escritos não publicados até hoje foram preparados por ele para o tempo posterior ao seu suicídio. Um dia antes do suicídio ele foi ao correio e despachou um pacote com a sua autobiografia. Até o seu último suspiro, Stefan Zweig continuou sendo um escritor. < (O texto aqui apresentado é uma versão reduzida da entrevista original) 57/72 Martin Meggle Pontos de fuga paradisíacos Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Martin Meggle (1964) estudou Filologia Românica. Trabalha desde 1994 como jornalista autônomo para diversos meios de comunicação alemães e estrangeiros. Em 1999, desencadeou o “debate Sloterdijk” com um artigo no Frankfurter Rundschau. Em 2001 foi premiado um artigo de sua autoria sobre a história da psiquiatria publicado no semanário Rheinischer Merkur. Há alguns anos especializou-se em documentações biográficas familiares. Autor: Alberto Dines (1932, Rio de Janeiro) trabalha como jornalista no Brasil desde os anos 50, tendo sido premiado em várias ocasiões em reconhecimento aos seus méritos. Suas experiências com a censura durante a ditadura militar contribuíram para uma postura engajada. Aos 81 anos, continua intervindo todas as semanas num programa como crítico combativo de seus colegas. Além disso, tornou-se conhecido como biógrafo do escritor austríaco Stefan Zweig, de cujo legado se ocupa na qualidade de presidente da Casa Stefan Zweig em Petrópolis. Tradução do alemão: George Bernard Sperber Informações adicionais sobre a ilustração: Casa Stefan Zweig. Em 2012, fruto de diligências de anos de uma iniciativa privada, foi inaugurado na última residência do escritor Stefan Zweig e sua esposa Lotte, a uns 80 km do Rio de janeiro, um centro cultural para o qual estão previstos simpósios, exposições, concursos, representações teatrais, pro jeções cinematográficas, leituras e concertos: a Casa Stefan Zweig. Seu museu se dedicará à memória de Stefan Zweig, com objetos pessoais, livros, fotografias, documentos e filmes. Ao mesmo tempo, a Casa Stefan Zweig lembrará também o exílio de outros artistas, intelectuais, cientistas e europeus em geral que durante o nacional-socialismo buscaram refúgio no Brasil e ali prestaram sua contribuição para a cultura, a arte e a ciência. Leia mais em: casastefanzweig.org. Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 58/72 Kristina Michahelles Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 59/72 ENTRE ESCRITURA E TRADUÇÃO A Feira do Livro de Frankfurt: um novo espaço de diálogo? Uma conversa com Carola Saavedra e Marcelo Backes. Feira do Livro de Frankfurt, vista de um estande no pavilhão 3.1. Foto: © Frankfurter Buchmesse/Fernando Baptista Carola Saavedra, 39 anos, escritora e tradutora, fala muito com os expressivos olhos negros. É de Peixes. Dizem que os nativos desse signo precisam buscar sentimentos intensos para saber que estão vivos. Basta folhear aleatoriamente qualquer um dos romances da jovem e talentosa escritora para descobrir que a intensidade é uma marca. E a busca de outros mundos, idem. Nascida no Chile, mudou-se para o Brasil aos três anos de idade. Morou na Espanha, na França, na Alemanha. Estreou com o livro de contos Do lado de fora (7Letras, 2005) e seu primeiro romance foi Toda terça (Companhia das Letras, 2007). No ano seguinte Flores azuis (Companhia das Letras) foi eleito o melhor romance pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Em 2010, Paisagem com dromedário (Companhia das Letras) rendeu-lhe o Prêmio Rachel de Queiroz na categoria Jovem Autor. O livro foi lançado este ano na Alemanha, pela C.H. Beck, com tradução de Maria Hummitzsch. Carola também traduziu – entre outros – a alemã Herta Müller, Prêmio Nobel de Literatura de 2009. Marcelo Backes também tem 39 anos, também é escritor e tradutor, mas é do signo oposto, Escorpião. Curiosamente, segundo os especialistas, outro signo marcado pela intensidade das emoções. Gaúcho, radicou-se no Rio de Janeiro, onde se divide entre a atividade de escritor, professor (tem vários grupos de estudo) e coordenador editorial. Publicou, pela Record, a coletânea de aforismos e epigramas Estilhaços (2006) e os romances Maisquememória (2007) e Três traidores e uns outros (2010). Seu romance mais recente, Terceiro tempo (2013), foi publicado pela Companhia das Letras. Traduziu do alemão para o português importantes escritores como Kafka, Schiller, Hermann Broch, Ingo Schulze, Juli Zeh e Saša Stanišić. Coordena atualmente a tradução das obras de Arthur Schnitzler no Brasil e a coleção de clássicos Fanfarrões, Libertinas & outros Heróis para a Editora Civilização Brasileira. Kristina Michahelles Entre escritura e tradução Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 60/72 Kristina Michahelles: Brasil, país-tema da Feira do Livro em Frankfurt em outubro de 2013: quais são as expectativas? Carola Saavedra: A principal experiência não é a feira em si, mas sim o espaço de diálogo e de divulgação que se abre para a literatura brasileira. A Feira de Frankfurt é uma ponte que não se esgota em si. O que vai acontecer depois dependerá muito da Fundação Biblioteca Nacional, dos autores, das editoras, dos divulgadores. A Feira de Frankfurt é um incentivo e, espero, o início de uma nova fase no âmbito internacional. Marcelo Backes: Seria ótimo se esse incentivo pudesse sedi mentar alguma coisa e fazer com que a literatura brasileira ecoasse na Alemanha de modo mais permanente. A tendência, no entanto, não é bem essa. O maior exemplo disso é 1994: há quase duas décadas, o Brasil também foi homenageado na mesma feira. Foi muito badalado, houve muitos eventos, autores foram convidados para ir à Alemanha, muitos livros foram traduzidos – e depois o que houve foi um silêncio retum bante. Durante alguns anos, nada aconteceu. A Alemanha lançou seu olhar para os países do Leste. Curiosamente, hoje me parece existir um interesse maior pela literatura brasileira do que no fim da década passada. O Brasil voltou a ser moda. Mesmo assim, as motivações mais políticas e econômicas para o público alemão ainda não se refletem na mesma medida na produção literária. A boa notícia é que, pela primeira vez, está se trabalhando aqui no Brasil para que nossa literatura ecoe no exterior. Carola: Concordo. O interesse maior por parte do público alemão não despertou por acaso. Esse olhar que se volta para a literatura brasileira deve-se à Feira de Frankfurt, mas é também consequência de um trabalho de divulgação que está sendo feito aqui. O Brasil está investindo, criando um programa bastante concreto (bolsas de tradução etc.), e isso gerou o interesse lá fora. Agora resta esperar para ver que caminhos esse programa vai seguir depois da feira. Então o Brasil aprendeu a se “vender”? Marcelo: Sim, o Brasil está se “vendendo” pela primeira vez. Isso antes não acontecia. Há todo um ciclo de incentivos que impulsiona uma nova geração de divulgadores na Alemanha, capazes de dialogar com os editores e de entusiasmá-los. Carola: Lembro que, quando morei na Alemanha, de 1998 a 2008, havia mais interesse pela literatura de Portugal do que pela brasileira. Leitores do Instituto Camões davam aulas de literatura portuguesa nas universidades. Seria interessante que o Brasil pensasse nessa ferramenta de divulgação no longo prazo. Parece-me essencial que o Brasil tenha um instituto que trate de divulgar a literatura brasileira no exterior, como o Goethe-Institut faz para a Alemanha e o Instituto Camões para Portugal... Marcelo: ... e que, no nosso caso, seria o velho Instituto Machado de Assis, ideia que vem sendo discutida pelo menos desde 1994. É fundamental que exista um instituto que promova verdadeiramente a língua e a literatura no Brasil e no mundo, que seja referência quando se fala na criação literária, na formação de professores, que realize eventos culturais. Já estivemos tão próximos desse ideal, mas como sempre acontece, decisões tomadas verbalmente nem sempre se concretizam no plano factual. Mas se existe investimento para divulgar a literatura brasi leira, o problema é o desinteresse do público leitor alemão ou simplesmente falta boa literatura? Carola: Definitivamente, não falta boa literatura. O problema é complexo e há muitos aspectos a considerar. O que move, por exemplo, o leitor europeu a escolher literatura sul-americana? Infelizmente, muita gente ainda busca um determinado tipo de “literatura de exportação”, na linha do exótico, do realismo fantástico. Ora, o Brasil hoje tem uma literatura muito diver sificada, com temas urbanos variados, muitas vezes com aspectos ensaísticos, filosóficos. Mas a Europa “prefere” que a América Latina escreva sobre temas exóticos ou sociais, como a pobreza, as favelas. É um olhar colonizador. Como se não pudéssemos falar sobre outros países e temas, como se isso nos fosse negado. Ninguém exige que um autor alemão escreva apenas sobre a Alemanha. Você concorda, Marcelo? Marcelo: Em parte, os editores só buscam essas obras porque elas se vendem com mais facilidade. Temas amazônicos ou baianos são mais apelativos, mais vinculados ao preconceito referido pela Carola e fáceis de vender como um produto realmente – ainda que preconceituosamente – brasileiro. Mas se contássemos aqui com os mesmos instrumentos que existem do lado alemão para divulgar nossa literatura seria diferente. Lembro o programa Litrix, que durante quatro semestres vendeu para o Brasil – com um portal próprio na internet, com subsídios para tradutores etc. – o que havia de melhor na literatura alemã contemporânea. Se tivéssemos um programa Litrix brasileiro, os divulgadores alemães ficariam entusiasmados, os editores atentos, porque descobririam de fato aquilo que está acontecendo na literatura brasileira. Até que ponto o sucesso dos best-sellers pode impulsionar a chamada “alta literatura”? Marcelo: Um Paulo Coelho funciona sozinho, a despeito da crítica alemã que tem sido arrasadora. Vende muito. Mas não acho que ele impulsione a venda de outros autores brasileiros. E sou absolutamente contra o financiamento oficial a best-sellers. Esse não deve ser o critério de apoio, como, aliás, não é do lado alemão. Carola: No Brasil, ainda não prezamos suficientemente a chamada literatura de entretenimento. Ou é “alta literatura”, entre aspas, ou é porcaria. Mas a literatura de entretenimento é tão necessária quanto a literatura mais sofisticada, uma não exclui a outra, cada gênero tem seu espaço. Boa literatura de entretenimento pode formar leitores. Harry Potter pode levar muitos leitores para a “alta” literatura. O grande problema do Brasil é que não formamos leitores. Falta um Bildungsbürgertum. Marcelo: É verdade. Ao longo das últimas décadas, o Brasil criou uma economia vigorosa também devido ao consumo interno, milhões de pessoas entraram no mercado pela primeira vez. Mas isso ainda não se refletiu na educação e na leitura, lamentavelmente não temos um mercado consumidor de cultura. Carola: Tome o exemplo das feiras de livros. Existe dinheiro para levar os autores para os lugares mais longínquos. Mas você chega lá e não tem público. E se tem, ele está lá para ver o autor, e não para conhecer o que ele escreve. Faz falta trabalhar Kristina Michahelles Entre escritura e tradução Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 61/72 com o texto, ler com e para o público. O livro deveria ser o foco principal, infelizmente, em vez disso, os eventos acabam girando em torno dos autores. Marcelo: O público brasileiro vai a esses debates para ver o autor na condição de pop star, e não porque está interessado na literatura. Não é o que acontece, de um modo geral, na Alemanha. Minha experiência mais cabal nesse sentido foi num lugar em Berlim chamado Chaussée der Enthusiasten, um porão em que jovens escritores leem seus textos para um público atento que pode chegar a quinhentas pessoas. Depois da leitura e do debate, começa a dança. Boa parte do público vai embora nessa hora. Aqui, provavelmente seria o contrário. Carola: Precisamos de um programa de formação de leitores. A literatura exige participação do leitor, exige que ele pense, que tire suas próprias conclusões, que seja uma espécie de coautor. É necessário aprender a ler. Em resumo: quais são as oportunidades da Feira de Frankfurt para a literatura brasileira? Os resultados são mensuráveis e duradouros? Carola: Vai depender do programa que o governo brasileiro e suas diversas instituições desenvolverão no médio prazo. Não é a quantidade que importa: livros podem encalhar. A pergunta é: foram vendidos, lidos, debatidos, aproveitados? Marcelo: Como eu já disse, acho que, pela primeira vez, existem condições no Brasil para um trabalho que coloque em rede mediadores e intermediadores para divulgar a literatura brasileira lá fora e, assim, fazer um trabalho duradouro. Tradutores são importantes mediadores. Vocês são ambos escritores e tradutores. Vocês escolhem os autores que querem traduzir? Marcelo: Eu traduzo essencialmente textos que eu mesmo escolho e que geralmente fazem parte de uma proposta mais ampla como uma coleção, de um exercício a que eu mesmo me proponho, como se eles fossem a minha “oficina literária”, ou então preveem a divulgação específica de um autor que depois poderá ser usado em outras atividades. Carola: Não sou tradutora. Sou uma escritora que traduz. O que o autor tem é uma sensibilidade especial para o texto, e esse obviamente é um dos principais aspectos para se ter uma boa tradução. Traduzo apenas quando o livro me interessa, quando vejo ali uma possível aprendizagem. Meu interesse é pela literatura, não vivo da tradução. Vocês buscam na tradução estímulos para o próprio exercício da escrita? O escritor enquanto tradutor e vice-versa: quais são as vantagens ou desvantagens quando se trabalha simul taneamente como tradutor e escritor? Marcelo: Certamente é um exercício para lapidar, para apurar o texto. Mas são dois caminhos que se entrecruzam e por isso quando traduzo, não escrevo. É mais fácil ser escritor e lenhador do que escritor e tradutor ao mesmo tempo. Carola: Também não traduzo quando estou escrevendo. São duas atividades que exigem total dedicação, e, a meu ver, uma acaba excluindo a outra. Então preferem ser escritores? Marcelo: Sim, claro. A sensação é que, na condição de autor, tenho um universo inteiro pela frente limitado apenas pela minha fantasia interior. Já o tradutor é obrigado a encarar um universo preconcebido e já delineado. Carola: Como disse anteriormente, sou uma escritora que traduz. O que acham das traduções literárias do alemão feitas no Brasil? Carola: O que me incomoda são traduções que passam por outro idioma, que vêm do alemão, passam pelo francês, por exemplo... Marcelo: ... mas isso praticamente não existe mais. É preciso que o tradutor domine a língua de partida. Faltam hoje bons tradutores do alemão. Recebo em média duas consultas por semana. Existem várias situações: jovens extremamente talen tosos que surgem no mercado, como Renato Zwick, de Ijuí. Há bons profissionais, como Carlos Abbenseth, que infelizmente não querem mais traduzir. E há pessoas de renome, como Lya Luft, que deixam a desejar enquanto tradutores. A literatura alemã vem conquistando mais espaço no mercado editorial brasileiro. Mesmo assim, ainda fica aquém de outros idiomas. O que dificulta uma propagação mais rápida? Marcelo: Além da falta de tradutores, que já mencionamos, há uma deficiência de conhecimento por parte das editoras – embora estejam se profissionalizando cada vez mais – e a questão da divulgação. Os alemães dispõem de iniciativas muitos interessantes. No período 2008/2009, o já referido pro grama Litrix sanou temporariamente o déficit que havia em relação à literatura alemã contemporânea. Neste momento, o Goethe-Institut capitaneia um programa que selecionou as maiores lacunas existentes no cânone da literatura alemã e prepara um programa especial de financiamento para fazer com que também essas obras cheguem ao Brasil: trinta romances, trinta obras ensaísticas e trinta livros infantis que precisam urgentemente ser traduzidos ao português. Carola: O problema é que a literatura alemã é pouquíssimo lida. Voltamos ao ponto central que é a falta de leitores. E os poucos leitores que temos, por questões históricas, eco nômicas etc., estão muito mais voltados para a literatura de língua inglesa. Marcelo: Especialmente os clássicos da literatura alemã têm uma trajetória difícil aqui. Tolstói e Dostoiévski, quase todos os principais escritores franceses, tiveram sua obra completa traduzida ou pelo menos têm uma obra que é chamada de completa, ainda que às vezes não seja. Da obra de Goethe, que é um vulto universal em todos os sentidos, devem ter sido traduzidos cerca de 40 por cento no máximo. De Schiller, 20 por cento. Muitos outros autores, como Theodor Fontane, ainda não foram traduzidos. Como o fim da era de Gutenberg impacta a escrita? Onde estão as possibilidades? E os riscos? Marcelo: No caso do Brasil, vai demorar um bom tempo para que o e-book ganhe mais mercado. O número de iPads vendidos no Brasil é até maior do que na Alemanha, eu suponho, mas eles não são usados para ler. O e-book está demorando a entrar no Brasil. Carola: O audiolivro também não pegou por aqui. No Brasil, não existe a tradição de ler para outras pessoas, o famoso “vorlesen”. Tanto é que nos eventos de literatura o autor raramente lê um trecho do próprio livro. Kristina Michahelles Entre escritura e tradução Mas de que forma a linguagem da internet influencia este ticamente o texto literário? Carola: Para mim, não muda nada. Não vejo diferença. Pode ser que me falte o distanciamento cronológico para poder julgar e entender o que está acontecendo. Claro, há uma diferença cultural entre a geração que cresceu com TV e as anteriores. Quem cresceu com internet certamente também vai mudar. Mas é muito difícil fazer previsões, muitas vezes ocorre justamente o contrário. Como explicar a contradição entre a tendência à concisão, por exemplo, ditada pelo Twitter e pelas redes sociais, e o tamanho ideal dos romances atualmente, que são longos, com cerca de quatrocentas páginas? Marcelo: O surgimento das novas maneiras de escrever e de se expressar de maneira ficcional pode até influenciar o meu modo de escrever, mas eu não me ocupo disso, não estou interessado, e se isso acontece se localiza num subsolo tão profundo que nem mesmo eu vejo. Poder haver escritores que buscam voluntaria mente adaptar seu texto às novas ofertas e demandas. Mas eu realmente não dou atenção ao fato, por exemplo, de meu livro sair em e-book ou não. Não faço negociação artística para ser publicado ou para ser lido. Por outro lado, acho que não me importaria se o editor colocasse um hiperlink que possibilitasse ao leitor ouvir uma música de Tom Waits no instante em que ela é mencionada no meu romance e que isso fique marcado como uma interferência do editor e não minha. Carola: Eu já teria problemas com isso, não gostaria de inter ferências no meu texto. Qual é a visão do paraíso para vocês? Carola: Poder viver só de escrever. Viver para escrever. Marcelo: Eu também. Eu continuaria dando minhas aulas nos grupos de estudo e escrevendo como escrevo. O que eu gostaria mesmo é de não precisar fazer nada para que meus livros fossem livros a não ser escrevê-los, mas isso seria realmente o paraíso. Como a vida tem mais a ver com purgatório, no entanto, eu trabalharei por eles em palestras, entrevistas e feiras e o farei também com gosto. < Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 62/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autora: Kristina Michahelles é jornalista, tradutora e escritora. Trabalhou no Jornal do Brasil, na revista Veja e na TV Globo. Colabora com a revista HUMBOLDT desde 2007 e traduziu mais de trinta livros do alemão para o português, entre outros, de Stefan Zweig, Thomas Mann e Siegfried Lenz. É membro da diretoria da associação Casa Stefan Zweig. Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Berthold Zilly Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 63/72 NO PRINCÍPIO ERA A VIAGEM Escrever em busca da nação brasileira. “Déménagement d‘un piano, à Rio-de-Janeiro” (Transporte de um piano, no Rio de Janeiro). Ilustração extraída do livro de Auguste François Biard “Deux années au Brésil”, Paris, 1862; com ilustrações de Edouard Riou e gravuras de Charles Maurand baseadas em desenhos originais de Biard. Foto: Cortesia da Coleção da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – Universidade de São Paulo (USP) A transferência da Corte portuguesa para o Brasil em 1808 já era, na perspectiva de hoje, uma independência de fato, sendo o Rio de Janeiro capital de um reino com domínios em quatro continentes. Portanto, não surpreende que o novo governo luso-brasileiro tenha criado as instituições de que todo Estado soberano precisa, inclusive culturais – imprensas, bibliotecas, escolas de artes, faculdades de Medicina e de Direito – praticamente inexistentes no Brasil colonial. E ao estimular a vinda de especialistas europeus das mais diversas áreas, o governo também contemplou artistas e cientistas para pesquisarem e retratarem o país, incluindo os seus desconhecidos e remotos sertões. Vieram em grande número, curiosos por conhecer um Brasil quase alheio aos luso-brasileiros e ainda mais ao mundo, dei xando depoimentos, cartas, relatos ou quadros de viagem. Entre os mais conhecidos encontravam-se: Debret, Denis, Ender, Eschwege, Graham, Langsdorff, Neukomm, Rugendas, SaintHilaire, Spix, Martius, Taunay e Wied, todos chegados antes da Independência oficial de 1822. Desde o início do Império naquele ano, se esperava que literatos, jornalistas e artistas, brasileiros e estrangeiros, contribuíssem para a construção de um Estado nacional independente, moderno, próspero e civilizado. E para isso, precisava-se não apenas de estruturas políticas, jurídicas e econômicas, mas também de uma cultura própria, capaz de gerar o que Machado de Assis iria chamar mais tarde (1873) um “pensamento nacional” e um “instinto de nacionalidade”. O nascimento da literatura nacional a partir do espírito da viagem Assim, os viajantes, direta ou indirect amente, já antes de 1822, foram “parteiros” da nascente literatura nacional, sendo o mais influente deles talvez o francês Ferdinand Denis, homem de letras polivalente. De 1816 até 1821 viveu e viajou no Brasil, país que continuou pesquisando e divulgando mesmo depois de retornar para a França, e assessorando os estudantes brasileiros em Paris que publicaram, em 1836, a Berthold Zilly No princípio era a viagem Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 revista Niterói, certidão de nascimento do romantismo e do indianismo. Em Resumo da história literária do Brasil (1826), Denis já tinha proclamado a independência literária da jovem nação, dando aos escritores recomendações influenciadas pela visão romântica, entre sublime e idílica, do mundo extraeuropeu de um Bernardin de Saint-Pierre ou Chateaubriand. Temas e fontes inspiratórias, a seu ver, deviam ser a própria realidade do país, a sua “natureza exuberante”, a cultura indígena e a tradição oral dos sertanejos. Para isso, era preciso fazer viagens e transformá-las em palavras. E realmente, em muitos autores românticos, os narradores ou protagonistas são viajantes ficcionais, que descrevem o país baseando-se em leituras de relatos de viajantes estrangeiros, incentivando os outros personagens – e os leitores – a viajar também para descobrir a pátria brasileira. Na realidade, os relatos de viajantes brasileiros sobre o Brasil eram raros, ficando mais frequentes a partir da Guerra do Paraguai (1865–1870), que chamou a atenção pública para o descuido da Monarquia com os sertões do Mato Grosso. criticar cada vez mais a cultura “para inglês ver”, surgindo um novo páthos de sinceridade no discurso sobre os problemas do país. Aumentaram as viagens de patriotas à busca da pátria no interior do Brasil, ou seja, militares, engenheiros, sanitaristas, como Alfredo Taunay, Couto de Magalhães, Sampaio, Rondon, Euclides da Cunha, Roquette-Pinto, Carlos Chagas e outros. Sabiam que o Brasil não era ou não devia ser o “Chile do Atlântico” – como diria um patriota à procura do centro geográfico do Brasil, no romance Quarup, de Antônio Callado (1967). A Abolição de 1888 e a República de 1889 despertaram esperanças – eleições limpas, administração eficiente, integração dos negros recém-libertos, justiça e progresso social – em grande parte decepcionadas, o que levou alguns autores a um profundo pessimismo, do tipo “o Brasil não tem jeito”, aquilo que Antonio Candido chamou de “consciência catastrófica do atraso”. Os centros das cidades civilizaram-se no estilo da Belle Epoque, mas pouco se fez para diminuir o contraste entre o litoral e o sertão, onde os coronéis semifeudais estavam se tornando mais poderosos ainda. Uma das viagens de maior impacto para a literatura e o pensamento social do Brasil foi a dupla missão do engenheiro, jornalista e tenente da reserva Euclides da Cunha na guerra de Canudos (1897), no sertão da Bahia, como correspondente de guerra do Estado de S. Paulo e como adido do ministro de Guerra. Mas ele se deu a si mesmo uma terceira missão, a de viajante científico e antropológico, munido de máquina foto gráfica, termômetro, barômetro e sobretudo: a caderneta de campo. Uma viagem ao coração das trevas. As suas pesquisas e reflexões sobre a guerra, o meio físico e social e a história nacional, assim como as entrevistas com sertanejos, resultaram no ensaio científico-poético Os Sertões: Campanha de Canudos (1902), que foi saudado logo como uma revelação, uma epopeia, uma “bíblia da nacionalidade”. Revelação do sertão e do seu povo anteriormente caluniado como bárbaro e degenerado, valorizando o mestiço do interior como protótipo do brasileiro, contra as ideias racistas da época e do próprio autor. E revelação também de traços bárbaros da própria civilização, cujo Exército era uma “multidão criminosa e paga para matar”. O narrador, quase sempre na terceira pessoa, assume ora a perspectiva dos descobridores, colonizadores, bandeirantes, missionários, pesquisadores, soldados ou sertanejos, ora a de um “observador”, “viajante”, “viandante”, “viajor”, “caminhante”, como se Os Sertões fosse um relato de viagem. Em carta a um amigo, o autor expressa a sua afinidade com aqueles des bravadores: “Não desejo a Europa, o boulevard, os brilhos de uma posição, desejo o sertão, a picada malgradada e a vida afanosa e triste de pioneiro”. Ao chegar no sertão, o narrador se espanta com a divisão do país, não só antecipando, mas radicalizando a ideia dos “dois Brasis”, de cinquenta anos mais tarde, um Brasil espacial e socialmente partido em dois, cuja parte interiorana, miserável, parecia um país estranho e estrangeiro. Assim, a pátria procurada no sertão se apresenta como “ficção”. Mas justamente graças a Os Sertões, os sertões reais deixaram de ser uma ficção, ficando incorporados ao imaginário dos brasileiros, virando até a parte mais autêntica do país. O impacto do relato de Euclides foi tão Um país “para inglês ver”? De um modo geral, a nascente literatura revela visões ora grandiosas e sublimes, ora um tanto idílicas, talvez até alienadas, como se diria na segunda metade do século XX, ou seja, um Brasil em que a violência, a miséria, a criminalidade, as revoltas populares, a escravidão, a exterminação dos indígenas pouco aparecem, ou quase só como temas históricos. Surge assim o mito, até hoje perceptível no imaginário nacional, do caráter basicamente pacífico e conci liatório do povo e da história do Brasil. A visão de um país em vias de civilizar-se e ao mesmo tempo agradavelmente atrasado e até um pouco selvagem, atraente para imigrantes europeus, caracteriza também trabalhos de viajantes estrangeiros, por exemplo, do desenhista e pintor alemão Johann Moritz Rugendas, que esteve duas vezes no Brasil, em 1821–1825 e 1845–1847. Não é por acaso que ele – ou o seu editor parisiense – tenha intitulado o livro em que reuniu cem litografias sobre a sua primeira estadia Viagem pitoresca no Brasil (1835), um sucesso dos dois lados do Atlântico. Apesar da inclusão de quadros com tendência abolicionista, como “Negros no porão do navio”, prevalece a tendência amenizadora, reforçada provavelmente pelos gravadores da editora. A visão harmonizadora e “pito resca” correspondia aos interesses das elites escravocratas, que cultivavam aquilo que o crítico literário Antonio Candido chamou de “consciência amena do atraso”. A forte presença do indianismo e do abolicionismo em poetas românticos, como em Castro Alves, teve poucos efeitos práticos em favor dos índios e dos escravos. O hiato entre a civilização no plano cultural e a barbárie no plano socioeconômico, entre o parecer e o ser, criou uma cultura de fachada, europeizada, do fazer de conta, do “para inglês ver”, cuja hipocrisia fica ilustrada, por exemplo, em um quadro, nem tão pitoresco: seis escravos carregando um enorme piano de cauda, do francês François Biard. “Desejo o sertão, a vida afanosa e triste de pioneiro” Depois da Guerra do Paraguai, com a radicalização dos movi mentos republicano e abolicionista, ligados muitas vezes ao positivismo e outras correntes modernizadoras, passou-se a Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 64/72 Berthold Zilly No princípio era a viagem Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 grande que mudou, até certo ponto, a situação relatada. Foi por isso, que, depois da sua morte, uma sala do Museu Nacional no Rio de Janeiro, ao lado da Sala Humboldt, foi nomeada Sala Euclides da Cunha, homenageando um dos grandes viajantes da América Latina. nas primeiras décadas do século XX, com as suas estruturas clientelistas e autoritárias, mas de grande potencial humano e aspirando pela dignidade, justiça e paz. Como disse o autor na famosa entrevista com Günter W. Lorenz: “Riobaldo [...] é [...] o Brasil”. A trama conta um episódio da formação do Brasil moderno, a préhistória dos anos 1950, quando o romance estava sendo escrito, uma época de acelerada modernização, em que se começou a construir Brasília, a capital no sertão. As lutas entre os bandos de jagunços liderados por coronéis, que se parecem com warlords em países africanos de hoje; as tentativas mal concebidas de alguns deles e do governo central de impor a ordem e o progresso; o amplo painel da sociedade sertaneja com sua estratificação; a simbiótica relação do homem com a natureza – a evocação de tudo isso faz de Grande Sertão: Veredas uma das mais perspicazes e mais belas interpretações do Brasil. Narrando a sua vida, Riobaldo narra momentos e processos fundamentais da condição humana. Expõe e reflete a velha e atual tarefa humana de como construir uma vida plena e uma sociedade civilizada. Essa tarefa, os obstáculos e perigos para a sua realização, a ambiguidade entre o bem e o mal, a ambição de poder e riqueza, assim como a inconstância das pessoas e dos grupos, não se restringem à região nem à nação. “O sertão é o mundo”, diz Riobaldo. As chances de alcançar alguma felicidade no plano pessoal e social são vistas com ceticismo, contudo sempre vale a pena a viagem: “O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” < Viajar ao sertão é viajar ao mundo Em 1956, saiu à luz um livro de quinhentas páginas em prosa poética, de leitura difícil, e mesmo assim, um sucesso de crítica e de público tanto no Brasil como no exterior, considerado até hoje um dos maiores romances brasileiros de todos os tempos, Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. Já pelo título, o autor, que gostava de se apelidar “Viator”, “Odysseus” (forma alemã de Ulisses), ou “o vaqueiro Rosa”, dialoga com Euclides da Cunha e outros viajantes em busca da nacionalidade na hinterlândia. Esse diplomata cosmopolita e citadino, de uma curiosidade enciclopédica, era assíduo leitor de viajantes: Spix e Martius, Saint-Hilaire, Richard Burton e outros, que de vez em quando aparecem transfigurados em sua ficção, por exemplo, Alquiste na novela “O Recado do Morro”, um naturalista alemão, admirável e meio caricaturesco, talvez um autorretrato do autor. Pois se os primeiros românticos brasileiros baseavam a sua ficção em relatos de viajantes estrangeiros, Guimarães Rosa baseava a sua não só em leituras, mas também em viagens próprias pelo interior, além das suas lembranças da infância em Cordisburgo, no sertão mineiro. Nessas viagens, levava sempre uma caderneta de campo, documentando tudo o que via, ouvia, cheirava, saboreava, pensava e sentia, combinando a observação exata com impressões subjetivas. E transcrevia as breves entrevistas com o sertanejo nas quais este tinha o papel de professor, não só de botânica e zoologia, de agropecuária e de sabedoria da vida, mas também de língua portuguesa. Pois Rosa tinha um projeto estético: a renovação da língua literária, para “dar-lhe precisão, exatidão, agudeza, plasticidade, calado, motores”. Essa meta, só poderia alcançá-la através da estilização da fala do sertanejo. As pesquisas de campo prefiguram a constelação narrativa do romance: um anônimo viajante urbano “entrevista” um velho sertanejo, o antigo jagunço e atual fazendeiro Riobaldo, passando para a sua “caderneta” a transcrição exata e completa da fala do “entrevistado”, omitindo as suas próprias palavras de “entrevistador”, um fluxo narrativo de três dias, que constitui o romance todo. O “informante”, em vez de apenas responder perguntas, pede para poder narrar ao interlocutor as suas vivências de adolescente e jovem adulto, apresentadas como viagem, como “travessia”, de duplo sentido: passagem pelo espaço, sequência de deslocamentos pelo sertão, por diversos meios naturais e sociais; e passagem pelo tempo, pela história pessoal e coletiva, sequência de experiências, encontros, rela cionamentos, erros e acertos na busca de bem-estar, amizade e amor, uma metáfora da vida com fortes conotações espirituais. Nessa grande confissão, “viajar” e “viagem” são palavras-chave, muito frequentes, assim como “atravessar” e “travessia”, sendo esta a palavra final do romance. A vida do protagonista está intimamente entrelaçada com a história do país e de uma região atrasada, pobre e violenta, Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 65/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Berthold Zilly (1945), romanista especializado em cultura brasi leira, foi até 2010 professor da Universidade Livre de Berlim e da Universidade de Bremen. Atualmente é professor visitante da Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil). É tradutor de clássicos da literatura brasileira, portuguesa e argentina, como Os Sertões, de Euclides da Cunha; Confissão de Lúcio, de Mário de Sá-Carneiro; Facundo. Civilización y barbárie, de Domingo F. Sarmiento. Está preparando uma nova tradução para o alemão de Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. Informações adicionais sobre a ilustração: O pintor e desenhista francês François Auguste Biard (cerca 1798–1882), que durante um tempo trabalhou também como retratista oficial na Corte francesa, viajou ao Brasil em 1858 e percorreu amplas extensões do país. Após regressar a Paris, publicou em 1862 o livro, amplamente ilustrado, Deux années au Brésil (Dois anos no Brasil). Segundo Berthold Zilly, a ilustração do transporte do piano pode ser vista “como símbolo da cisão da sociedade brasileira, incluída a elite, entre a pretensão civi lizatória e a bárbara base socioeconômica”. Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Mario Cámara Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 66/72 Afinidades eletivas entre a Alemanha e o Brasil Intercâmbio, propagação de ideias e invenções no campo cultural Max Bense durante a inauguração da exposição “Lygia Clark. Variable Objekte”, 1964, na Studiengalerie des Studium Generale da Escola Superior Técnica de Stuttgart. Foto: Elisabeth Walther-Bense © ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe Lá vem meu almoço pulando As afinidades eletivas entre Alemanha e Brasil possuem um precursor que faria história e produziria descendência: o artilheiro alemão Hans Staden. Efetivamente, no dia 22 de janeiro de 1555, Staden, atribulado, mas quem sabe mais sábio, retornava de sua segunda viagem ao Brasil, depois de ter sido prisioneiro de uma tribo indígena. Durante seu cativeiro, observara uma série de festins canibais, além de ser ele próprio quase devorado. Sua odisseia começara quando a nave na qual viajava afundou diante das costas da atual ilha de Florianópolis, no sul do Brasil. Os tripulantes conse guiram chegar a nado até a praia e dali se deslocaram até São Vicente. Staden foi contratado por colonos portugueses para defender o Forte de São Felipe de Bertioga, que se encontrava nas proximidades do vilarejo. Poucos dias depois, quando o Mario Cámara Afinidades eletivas entre a Alemanha e o Brasil Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 artilheiro alemão fazia parte de uma expedição de caça, foi capturado pelos índios da tribo Tupinambá. Ao retornar à Europa, dirige-se à sua cidade natal, Homberg. Ali, durante mais de um ano, e com a ajuda de Johannes Eichmann, escreve A verdadeira história e descrição dos selvagens nus e ferozes, devoradores de homens, encontrados no Novo Mundo, América, que foi editado em 1557, em Marburgo. O texto de Staden conheceu um sucesso imediato de público. Seu relato, ao qual deveriam se somar os de Jean de Léry e André Thevet, foi um dos primeiros que narrou práticas cani bais na América do Sul, contribuindo para construir desse modo um rosto para esse território que fora percebido, inicialmente, como uma espécie de paraíso na Terra. da literatura brasileira relaciona a emergência do Romantismo brasileiro com os textos que os viajantes escreveram sobre o Brasil, referindo-se especialmente aos naturalistas alemães. Nostalgia de um paraíso perdido diante da magnificência da paisagem e a natureza como fonte de emoções que era capaz de atuar sobre a sensibilidade foram alguns dos enunciados, tanto de Spix como de Martius, que fizeram com que os jovens escritores brasileiros começassem a observar a paisagem como um signo com o poder de vigorizar a sensibilidade e a alma. O terceiro motivo possui uma estrutura constelar e inclui os naturalistas alemães, Hans Staden, Montaigne e até Gonçalves Dias e Oswald de Andrade. Vamos por partes. Como reflete o recente livro de Sylk Schneider, Goethes Reise nach Brasilien: Gedankenreise eines Genies (2008), Goethe se mostrava muito interessado pelo Brasil. Em sua biblioteca, encontram-se, entre outros, os ensaios de Montaigne, de Mawe, de Robert Southey. Entre os autores alemães, constam Hans Staden, Heinrich Koster (Reisen in Brasilien) e Christian August Fischer (Neuestes Gemälde von Brasilien). E entre seus amigos ou interlocutores, com os quais conversa e troca correspondência, encontram-se Alexander von Humboldt, Von Martius e Eschwege. O interesse de Goethe pelo Brasil é perceptível nas numerosas anotações que podem ser encontradas em seus diários, entre as quais se incluem três poemas. Gostaria de me deter no que tem como título “Canção de morte de um prisioneiro brasileiro”: “Vinde com coragem, vinde todos, / E juntai-vos para o festim! / Pois com ameaças, com esperanças / Nunca me dobrareis. / Vede, aqui estou, sou prisioneiro, / Mas ainda não vencido. / Devorai meus membros / E, junto com eles, devorai / Vossos ancestrais, vossos pais, / Que foram meu alimento. / Esta carne, que vos dou, / Insensatos, é a vossa, / E em minha medula está / Cravada a marca de vossos ancestrais. / Vinde, vinde, a cada mordida / Vossa boca poderá saboreá-los”. Este poema foi escrito por Goethe a partir do ensaio de Montaigne “Os canibais”. É sabido que o ensaio de Montaigne adquire sua beleza e sua relevância por se valer das práticas indígenas para construir uma crítica dos pressupostos da razão europeia. Ao se concentrar no suposto canto indígena, ao assumir sua voz, Goethe coloca em primeiro plano a antropofagia como um ritual de valor e de comunhão. Assim, inverte a valoração negativa e bárbara que seu compatriota Hans Staden realizara e desloca o relativismo cultural propiciado pelo ensaio de Montaigne para destacar o puro ato de antropofagia e dotá-lo de uma valoração positiva. Pouco menos de um século depois, um dos grandes poetas do Romantismo brasileiro, Gonçalves Dias, comporá o poema “I Juca Pirama” (1851), em que o ritual antropofágico será enfocado, numa linha goetheana, em termos de valor e de comunhão. E na segunda década do século XX, o escritor Oswald de Andrade se apropriará da antropofagia, dando-lhe um sentido positivo como procedimento de apropriação cultural e prática subjetivadora: “Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente”. Eschwege, Humboldt, Martius e o brasileiro Goethe, entre outros Pouco mais de um século e meio deverá transcorrer para que os destinos da Alemanha e do Brasil se cruzem de novo de um modo significativo. Em 1810, Wilhelm Ludwig von Eschwege é contratado pela Coroa portuguesa para estudar o potencial mineiro de Portugal. No entanto, e como consequência da invasão francesa do território português e da decisão da Corte de se transferir para o território brasileiro, Eschwege deve se deslocar para o Rio de Janeiro. Ali é encar regado de realizar a primeira pesquisa geológica de caráter científico feita até então na colônia portuguesa. Sua reputação cresce e lhe confiam a direção do Real Gabinete de Mineralogia do Rio de Janeiro, posto que ocupa até 1821, data em que decide retornar à Alemanha. Mas Eschwege não é o único alemão em território brasileiro naqueles anos. Entre 1810 e 1820, a chegada de naturalistas alemães se intensifica: Georg W. Freireyss chega em 1813, Friedrich Sellow, em 1814, e o príncipe Maximilian zu WiedNeuwied, em 1815, para realizar de imediato uma expedição pelo litoral norte do país; em 1817, chegam Karl Philipp von Martius e Johann Baptist von Spix. Ambos realizam minuciosos estudos sobre a fauna e a flora brasileiras, mas também se interessam por questões etnográficas, folclóricas e pelo estudo das línguas indígenas. Sua estada no Brasil é importante por três motivos. O primeiro concerne unicamente Von Martius. Alguns anos depois de sua experiência brasileira, em 1847, participa e ganha o concurso que o recentemente criado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro convocara com o fim de premiar o melhor projeto para escrever uma história do Brasil. O título do trabalho de Von Martius era Como se deve escrever a história do Brasil e, embora colocasse o homem branco em primeiro lugar, propunha como uma das principais características da história brasileira a fusão de brancos, negros e índios, que teria uma enorme influência nas décadas posteriores, da ficção de Mário de Andrade (seu romance Macunaíma, de 1928, é um bom exemplo) à reflexão ensaístico-antropológica de Casa grande e senzala (1933), de Gilberto Freyre, e seu conceito de “democracia racial”. O segundo motivo inclui e ultrapassa Von Martius e Spix, e diz respeito em geral aos naturalistas europeus que percorreram o Brasil durante a primeira metade do século XIX. Aqui me remeto em primeiro lugar a Antonio Candido, que em sua Formação Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 67/72 Raízes do Brasil O século XX conhece trânsitos variados entre Brasil e Alemanha. Em 1933, no Clube de Artistas Modernos de São Paulo, sob a direção de Flávio de Carvalho e Di Mario Cámara Afinidades eletivas entre a Alemanha e o Brasil Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 68/72 Cavalcanti, é apresentada uma mostra da gravurista alemã Käthe Kollwitz; pouco depois, e fugindo do nazismo, chega ao Brasil o músico Hans-Joachim Koellreutter (ver HUMBOLDT 105, pp. 72– 75); e no início dos anos 1940 e quase pelos mesmos motivos, é a vez do escritor Stefan Zweig. Em sentido inverso, em 1927, o crítico de arte Mário Pedrosa estuda Filosofia e Estética na Universidade de Berlim; em 1929, o ensaísta brasileiro Sérgio Buarque de Holanda parte para essa mesma cidade, como correspondente, e permanece ali quase um ano; durante os anos 1960, a artista plástica brasileira Lygia Clark expõe sua obra em Stuttgart, com a curadoria atenta de Max Bense (as relações entre o concretismo brasileiro e a Alemanha são extensas); e nos anos 1990, o poeta brasileiro Ricardo Domeneck se instala definitivamente em Berlim, onde mora até hoje. Em cada um desses deslocamentos (poderiam ser mencionados muitos outros) se produzem redes de amplas consequências e de uma rica produtividade. Por exemplo, as aulas que Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé fazem com Hans-Joachim Koellreutter são um episódio importante na história do Tropicalismo; a marca que a exposição de Käthe Kollwitz deixa no gravurista brasileiro Livio Abramo se mostra central para o desenvolvimento da gravura política no Brasil. Mas de todos esses trânsitos, gostaria de me referir muito brevemente a dois. As estadas de Mário Pedrosa e Sérgio Buarque de Holanda em Berlim. Este último, entre suas múltiplas tarefas como correspondente dos Diários Associados, reserva tempo para frequentar o ambiente artístico e intelectual de Berlim. Dois encontros se revelam decisivos: o primeiro, com o historiador Friedrich Meinecke; o segundo, com a obra de Max Weber. Entre a história e a sociologia, Sérgio Buarque de Holanda começará a compor na capital alemã um dos ensaios de interpretação nacional mais importantes da década de 1930: Raízes do Brasil (1936). Ali, Buarque de Holanda, para interpretar a cambiante sociedade brasileira, que se debate entre uma velha e uma nova ordem, se vale do “critério tipológico” de Max Weber e propõe a categoria de “homem cordial”. A cordialidade à qual se refere Buarque de Holanda não implica simpatia, mas uma modalidade que atravessa as relações sociais e dá o tom ao espaço público brasileiro que, desse modo, não consegue distinguir inteiramente as divisões entre as esferas do público e do privado. A figura de Mário Pedrosa parece atravessar boa parte da história cultural e política brasileira do século XX. Militante comunista durante os anos 1920, fundador da primeira agru pação trotskista do país durante a década seguinte, mentor intelectual do movimento concreto a partir dos anos 1950, propulsor das bienais de Arte de São Paulo, mentor e crítico do projeto Brasília e intérprete de inúmeros novos criadores, como Hélio Oiticica, Antonio Manuel e Lygia Pape, entre outros. Em 1927, o jovem e talentoso Pedrosa é enviado pelo Partido Comunista Brasileiro à “Escola Leninista Internacional”, em Moscou. No entanto, Pedrosa se detém em Berlim, cidade na qual permanece até agosto de 1929. Ali acompanha de perto os convulsionados acontecimentos do marxismo soviético, mas também do alemão. A experiência berlinense, com suas sucessivas purgas, determinou que ao retornar ao Brasil deci disse fundar uma corrente dissidente do Partido Comunista. Essa decisão política possui inumeráveis consequências em seu desempenho como crítico de arte, que a partir dos anos 1930 toma um rumo diferente, se afasta da noção de compromisso e se orienta para uma investigação sobre a relação entre a forma estética e a percepção, baseada na Gestalttheorie, desenvolvida, como não poderia deixar de ser, pelos alemães Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka e Kurt Lewin. Transitamos pelos devires antropófagos de Goethe/Staden e do Romantismo brasileiro, pela confluência racial de Von Martius e Gilberto Freyre, por Berlim dos anos 1920 e pelo novo ensaísmo de interpretação nacional, até chegarmos ao concretismo via Mário Pedrosa e a Gestalttheorie, que atravessa de lado a lado os territórios do Brasil e da Alemanha, com Max Bense e Lygia Clark como referentes centrais. As afinidades eletivas entre Brasil e Alemanha compõem montagens inusitadas, atravessam fronteiras e desconstroem as histórias puramente nacionais para nos fazer ver uma filigrana de viagens, derivas e leituras cruzadas. < Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Mario Cámara (1969, Argentina) é doutor em Letras, professor de Literatura Brasileira e Portuguesa da Universidade de Buenos Aires e pesquisador no CONICET. Ademais é um dos editores da revista Grumo, de literatura e imagem. Publicou recentemente o livro Cuerpos paganos. Usos y efectos de la cultura brasileña, 1960–1980 (2011). Tradução do espanhol: Paloma Vidal Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Sylk Schneider Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 69/72 O PASSEIO IMAGINÁRIO DE GOETHE SOB AS PALMEIRAS DA AMÉRICA DO SUL Goethe nunca pôs os pés em regiões tropicais, mas acompanhava com o maior interesse as descobertas de seus contemporâneos, com os quais mantinha um estreito intercâmbio intelectual. “Goethea cauliflora N. et M.”, 1823. Foto: Klassik Stiftung Weimar A viagem de Goethe à Itália é sobejamente conhecida e já foi descrita muitíssimas vezes. Menos conhecido é o fato de que ele, já quando estava na Itália, teve o desejo de viajar para bem mais longe, talvez às Índias, que abrangiam naquele tempo tanto a Ásia (Índias Orientais) quanto a América (Índias Ocidentais). Numa carta dirigida no dia 18 de agosto de 1787 a seu amigo Karl Ludwig Knebel, escrita em Roma, ele descreve o seu plano de vida, o seu quefazer futuro com o estrangeiro e com as viagens. Por sentir-se demasiado velho para ainda empreender as difíceis viagens às duas Índias, ele planejava encontrar esses lugares longínquos em livros e bibliotecas. A nostalgia de Goethe pelas terras distantes exprime-se sobretudo com respeito à luxuriosa vida das plantas dos trópicos, sobretudo a das palmeiras, que ele já chegara a ver na Itália: “Quando, como artistas, gostamos de estar e de ficar em Roma, como amantes da natureza desejamos ir mais para o Sul. Depois daquilo que eu vi em Nápoles e na Sicília em termos de plantas e de peixes, eu ficaria, caso eu fosse dez anos mais jovem, extremamente tentado de empreender uma viagem à Índia, não para descobrir algo novo, mas para observar à minha Sylk Schneider O passeio imaginário de goethe sob as palmeiras da américa do sul Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 70/72 maneira o que já foi descoberto [...] E como nós não iremos à Índia, é provável que nos reencontremos ocasionalmente na biblioteca de Büttner... ” Até hoje a Biblioteca Anna Amalia e a Biblioteca de Goethe, em Weimar, são testemunhos de suas viagens imaginárias. O “segundo descobrimento” da América começou, também para Goethe, com Alexander von Humboldt. Este chegou até mesmo a lhe dedicar a segunda edição alemã de sua obra “Viagem de Alexander von Humboldt e Aimé Bonpland às regiões equinociais do Novo Continente (Voyage aux régions équinoxiales du Nou veau Continent)”. Numa carta escrita a Goethe por Humboldt em 6 de fevereiro de 1807 é possível ler: “Nas florestas solitárias do rio Amazonas alegrei-me amiúde com a ideia de poder dedicarlhe os primeiros frutos desta viagem. Atrevi-me a levar a efeito este desejo de cinco anos atrás. A primeira parte da descrição de minha viagem, a pintura da natureza desse mundo tropical, é dedicada a Vª Sª”. O efeito que isto teve sobre Goethe pode ser depreendido de sua carta de agradecimento, de 3 de abril de 1807. Dá para sentir nitidamente o seu entusiasmo. “A Alexander von Humboldt: Há alguns dias eu hesito em escrever-lhe, meu estimado amigo. Agora não quero mais adiar a expressão de meu caloroso agradecimento pelo primeiro volume que descreve a sua viagem. Além disso, ao grande presente representado pelo conteúdo do livro vem se juntar a amável dádiva de sua dedicatória, que não poderia ser mais agradável e honrosa. Eu certamente sei valorar tal lembrança, e lhe agradeço de todo coração que, além da grande estima que eu sinto por Vª Sª, pelas suas obras e pelos seus feitos, V. Sª ainda permita, de modo tão gentil, que eu, como indivíduo, participe pessoalmente dos tesouros com os quais Vª Sª nos deleita. Li e reli numerosas vezes com grande atenção esse volume, e imediatamente, na falta do prometido grande perfil geológico prometido, fantasiei para mim mesmo uma paisagem…”. Humboldt tinha lhe enviado sua obra com a seguinte observação: “Não irá custar-lhe nem mesmo meia hora, e no áspero entardecer invernal, bem que gostamos de passear em meio a uma bela e frondosa floresta tropical”. Até parece que Humboldt conhecia o sonho de Goethe, o de passear em espírito, por assim dizer, numa floresta tropical. Na sua obra As afinidades eletivas (1809) Goethe acabou por imortalizar Humboldt. “Por vezes, quando eu tinha um acesso de curiosa necessidade de tais coisas aventurosas, invejei aquele viajante que vê tais milagres em combinação viva e quotidiana com outros milagres. [..] Mas também ele se torna outro homem... Ninguém passeia incólume embaixo das palmeiras, e os sentimentos certamente mudam quando se está num país que é o lar de elefantes e de tigres. [...] Somente é digno de honra aquele naturalista que sabe como descrever e apresentar o que há de mais estranho, de mais peculiar, com as suas localizações, com toda a sua vizinhança, sempre com os elementos que lhe são mais próprios. Que prazer eu teria em ouvir as narrativas de Humboldt!” É vão discutir sobre se quem fala aqui é o próprio Goethe ou se é Otília. O anseio de Goethe pelos trópicos é o que de qualquer modo se destaca aqui, assim como o modo através do qual ele pensa saciá-lo. Goethe quer se apropriar a partir de testemunhas oculares daquilo que lhe é estranho, no sentido de Humboldt. Não apenas Goethe recebeu com entusiasmo a viagem de Alexander von Humboldt e as suas obras científicas. Uma nova época, o segundo descobrimento da América, acabara de começar. Basta observar as obras sobre ciências naturais e os relatos de viagem de antes e de depois de 1807, para avaliar o imenso progresso que a obra de Humboldt significou. Observar os países, a Terra em seu conjunto, tornou-se doravante a meta dos cientistas. Embora Alexander von Humboldt tivesse podido viajar por vários países da América do Sul e Central, foi-lhe denegada a permissão de visitar o Brasil. Portugal continuava a manter hermeticamente fechadas as fronteiras do Brasil. Goethe demon strou grande interesse quando finalmente o Brasil abriu as suas fronteiras, com a vinda da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro, fugindo das tropas napoleônicas. As descrições das viagens e os relatórios de pesquisa do príncipe Wied zu Neuwied, do Barão von Eschwege, de von Martius e de muitos outros, encontram-se até hoje em sua biblioteca. A respeito de Carl Friedrich Philipp von Martius e de sua obra Genera et species palmarum (1823), Alexander von Humboldt escreveu: “Enquanto se conhecer as palmeiras / enquanto se falar em palmeiras, / o nome de Martius /não cairá no esquecimento”. Também Goethe ficou entusiasmado e escreveu uma resenha sobre essa obra, na qual vem claramente à tona o seu jeito de viajar através dos livros: “Também na última das obras por nós lidas com atenção mais detalhada, é ricamente apresentado aos conhecedores cultos, com o auxílio de uma linguagem artisticamente elaborada, o gênero das palmeiras em suas mais raras espécies, sem que nas ilustrações registradas acima se deixe de levar em consideração o mais comum dos amigos da natureza, na medida em que são apresentadas as relações e as figuras mais generalizadas do seu estado natural, as suas localizações solitárias ou conjuntas e a sua presença em terras secas ou úmidas, sobre solos altos ou baixos, livres ou sombrios, em toda sua variedade, estimulando e satisfazendo simultaneamente o conhecimento, a imaginação e o sentimento; e assim, percorrendo o círculo dos livros acima mencionados, sentimo-nos presentes e acolhidos numa parte longínqua do mundo”. Até hoje encontramos Goethe em muitos jardins botânicos pelo mundo afora, em meio às palmeiras, na forma de uma malvácea que tem o seu nome: a Goethea. O príncipe Maximiliano Wied zu Neuwied a tinha descoberto na Mata Atlântica brasileira e o cientista Carl Philipp Friedrich von Martius e o presidente da Academia Leopoldina lhe deram o seu nome. Goethe escreve ao botânico e filósofo da natureza alemão Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck, em 24 de abril de 1823, uma carta de agradecimento pelo fato de essa planta ter sido batizada de Goethea: “Recebo de Vossa Excelência Ilustríssima uma dádiva agradável após a outra, [...] O fato de ter sido indicado como padrinho de uma planta tão maravilhosa e formosa, e o de o meu nome passar a ocupar por causa disso um tão belo lugar entre os objetos científicos, é, como Vª Eª Sylk Schneider O passeio imaginário de goethe sob as palmeiras da américa do sul mesma sente e observa, duplamente comovedor e marcante, nas atuais circunstâncias. Quando chegamos perto de abdicar de nós mesmos e subitamente voltamos a ser cumulados de benevolência e de reconhecimento público, isto desperta uma sensação à qual não deveríamos simplesmente nos submeter, mas diante da qual seria melhor encontrar um ponto de equilíbrio. [...]”. Aliás, Goethe viria a servir para muitos exilados, sobretudo no Brasil, como figura simbólica de resistência intelectual, como, por exemplo, para Ernst Feder, jornalista judeu que fugiu dos nazistas em 1941 para o Brasil (não obstante a proibição então vigente de aceitar imigrantes judeus) e que viria a fazer parte do círculo mais estreito de amigos de Stefan Zweig. Feder encerrou em 29 de agosto de 1949 um discurso pronunciado no Teatro Serrador no Rio de Janeiro por ocasião do 200º aniversário de Goethe com as seguintes palavras, que fecham o ciclo de viagens intelectuais empreendidas por Goethe: “Quando de uma homenagem prestada a Goethe em 1932, foi plantada no Jardim Botânico do Rio uma Goethea, e a restinga de Itapeba foi declarada Reserva Biológica, para preservar os exemplares ainda existentes dessa planta. Numa cerimônia realizada na Academia Brasileira de Letras, por iniciativa do acadêmico Roquette Pinto, uma muda de Goethea foi plantada no jardim da sede, no Petit Trianon. É difícil imaginar uma homenagem melhor do que esta, que corresponde com tanta beleza ao caráter deste país, possuidor da mais rica flora do planeta, um país que recebeu em sua terra abençoada, simbolicamente, o espírito de Goethe. Plantar uma Goethea – não seria esta uma tarefa para cada um de nós? Uma Goethea não no sentido da planta real, que só é encontrada no Brasil, sendo rara mesmo aqui, mas no sentido cunhado por Goethe em sua ‘Metamorfose das Plantas’ de uma protoplanta, que para nós corporifica o espírito de Goethe”. < Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Horizontes com versos: diálogo germano-latino-americano. 71/72 Copyright: Goethe-Institut e.V., Humboldt Redaktion Junho 2013 Autor: Sylk Schneider é diplomado em Ciências Econômicas, espe cializado em estudos regionais latino-americanos. É autor de Goethes Reise nach Brasilien (2008) e foi curador da exposição “Dr. Ernst Feder, uma vida de jornalista entre a República de Weimar, o exílio e Goethe” (2011). Tradução do alemão: George Bernard Sperber Informações adicionais sobre a ilustração: “Goethea cauliflora N. et M.”, gravura colorida de Th. Wild, 1823. Ilustração extraída de: Christian Gottfried Nees von Esenbeck e Carl Friedrich Philipp von Martius, “Goethea, Novum Plantarum Genus, A Serenissimo Principe Maximiliano, Neovidensi, Ex Itinere Brasiliensi Relatum”, em Nova acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum (vol. XI) A gravura foi feita a partir de um desenho do príncipe e expres samente colorida a mão para Goethe. A fotografia foi tomada do exemplar original da Biblioteca de Goethe (Ruppert 4916). Humboldt 107 Goethe-Institut 2013 Passagens 72/72 EXPEDIENTE Redação: Ulrike Prinz Isabel Rith-Magni Endereço: Frankenstraße 13 53175 Bonn Comitê Assessor: Wolfgang Bader Vittoria Borsò Ottmar Ette Barbara Göbel Anne Huffschmid Reinhard Maiworm Berthold Zilly Conselho Editorial: Néstor García Canclini Juan Goytisolo Werner Herzog Axel Honneth Robert Menasse Sebastião Salgado Beatriz Sarlo Antonio Skármeta Editor: Secretário-geral do Goethe-Institut Postfach 190419 80604 München Internet: E-mail: humboldt.redaktion @goethe.de www.goethe.de/humboldt Revisão de textos: Laís Helena Kalka Arte gráfica: QWER: Michael Gais Iris Utikal Anne Franke Impressão: Werbedruck GmbH Horst Schreckhase Dörnbach 22 34286 Spangenberg ISBN 0018-7615 2013/Número 107/Ano 54 © Goethe-Institut Printed in the Federal Republic of Germany Para qualquer pergunta sobre as assinaturas, dirija-se por favor a [email protected]. HUMBOLDT pode ser adquirida em nossa loja virtual. Visite-a em http://shop.goethe.de HUMBOLDT está disponível na web e também em formato e-paper no endereço www.goethe.de/humboldt Capa e verso: Sergio Vega (1959, Buenos Aires), foto do projeto multimídia “Paradise in the New World – O paraíso no Novo Mundo”. Cortesia do artista Leia também sua colaboração para este número de HUMBOLDT às páginas 34–39. Os artigos nem sempre expressam nem coincidem plenamente com a opinião da redação.
Baixar