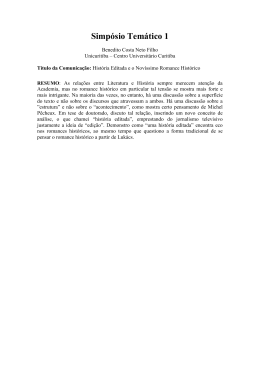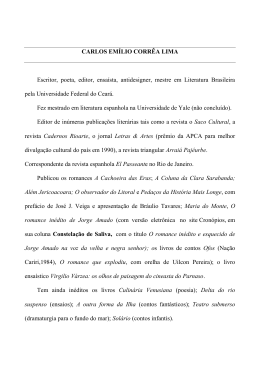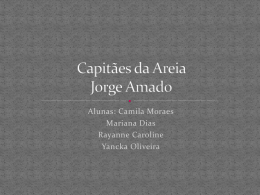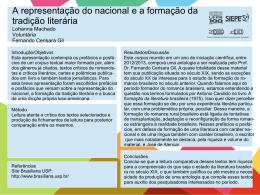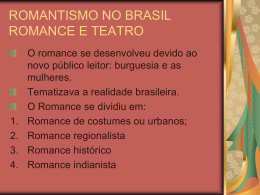Muito esquecido, progressivamente menos lido, Carlos de Oliveira foi um dos mais marcantes escritores portugueses do século XX, autor de uma obra em prosa e poesia especialmente cuidada e mais do que importante na renovação de um novo realismo literário, moderno, sensível, dramático e extraordinariamente bem escrito. Cumprem-se em 2013, setenta já quase muito demorados anos da publicação, em 1943, do seu primeiro romance, Casa na Duna, a que é obrigatório somar os sessenta anos da edição dessa verdadeira obra-prima do romance contemporâneo português que continua a ser Uma Abelha na Chuva. Um livro de 1953 que se transformaria mais tarde, em 1972, em imperdível filme dirigido exemplar e criativamente por Fernando Lopes: uma película a preto-e-branco que recria uma obra literária singular em que se revisita passando por metáforas inteligentes e amores de perdição esse Portugal arcano que, entre imobilismo e repressão, recorda um regime fechado, vigiado e velhaco que parece continuar teimosamente a manifestar-se por aqui e por ali em insistentes manias e mentalidades sociais que resistem à modernidade e à plena democracia. Carlos de Oliveira nasceu longe, a 10 de Agosto de 1921, em Belém do Pará, nesse Brasil que continuava a atrair a muita lusofonias nº 19 | 11 de Novembro de 2013 Este suplemento é parte integrante do Jornal Tribuna de Macau e não pode ser vendido separadamente COORDENAÇÃO: Ivo Carneiro de Sousa TEXTOS: • Casa na Duna • Uma Abelha na Chuva (1953) • A outra Uma Abelha na Chuva: o filme de Fernando Lopes (1972) • Prosfácio: um autor e uma obra a redescobrir com urgência • Uma Abelha na Chuva (1953) I • II • III Dia 18 de Novembro: Guiné-Bissau, Macau e a China: muitas histórias, pouco desenvolvimento APOIO: Carlos de Oliveira Casa na Duna (1943) a Uma Abelha na Chuva da (1953) CARLOS DE OLIVEIRA, DA CASA NA DUNA (1943) A UMA ABELHA NA CHUVA (1953): O novo romance português do século XX Ivo Carneiro de Sousa M uito esquecido, progressivamente menos lido, Carlos de Oliveira foi um dos mais marcantes escritores portugueses do século XX, autor de uma obra em prosa e poesia especialmente cuidada e mais do que importante na renovação de um novo realismo literário, moderno, sensível, dramático e extraordinariamente bem escrito. Cumprem-se em 2013, setenta já quase muito demorados anos da publicação, em 1943, do seu primeiro romance, Casa na Duna, a que é obrigatório somar os sessenta anos da edição dessa verdadeira obra-prima do romance contemporâneo português que continua a ser Uma Abelha na Chuva. Um livro de 1953 que se transformaria mais tarde, em 1972, em imperdível filme dirigido exemplar e criativamente por Fernando Lopes: uma película a preto-e-branco que recria uma obra literária singular em que se revisita passando por metáforas inteligentes e amores de perdição esse Portugal arcano que, entre imobilismo e repressão, recorda um regime fechado, vigiado e velhaco que parece continuar teimosamente a manifestar-se por aqui e por ali em insistentes manias e mentalidades sociais que resistem à modernidade e à plena democracia. Carlos de Oliveira nasceu longe, a 10 de Agosto de 1921, em Belém do Pará, nesse Brasil que continuava a atrair a muita emigração portuguesa, mas viajou depressa aos dois anos para se fixar primeiro na aldeia de Camarneira e, mais demoradamente, na vila de Febres, no concelho de Cantanhede, acompanhando o seu pai que aceitara uma posição de médico municipal. Na sua belíssima colectânea de crónicas e textos editada em 1971, intitulada O Aprendiz de Feiticeiro, o nosso escritor recordava esta infância passada nessa região pobre da Gândara que, entalada entre Aveiro e a Figueira da Foz, perdida nas fronteiras da Bairrada e dos arrabaldes de Coimbra, marcada por essas muitas dunas que se vão estendendo até ao litoral, era terra tão esquecida como mais do que pobre: “Meu pai era médico de aldeia, uma aldeia pobríssima: Nossa Senhora das Febres. Lagoas pantanosas, desolação, calcário, areia. Cresci cercado pela grande pobreza dos camponeses, por uma mortalidade infantil enorme, uma emigração espantosa. Natural, portanto, que tudo isso me tenha tocado (melhor, tatuado). O lado social e o outro, porque há outro também, as minhas narrativas ou poemas publicados (quatro romances juvenis e alguns livros de poesia) nasceram desse ambiente quase lunar habitado por homens e visto, aqui para nós, com pouca distanciação..., o que não quer dizer evidentemente que tenha desaproveitado experiências diferentes (ou parecidas) que a vida e a cultura me proporcionaram depois.” Aos doze anos, por 1933, Carlos de Oliveira instala-se em Coimbra para frequentar o ensino liceal que, terminado, o convidou a matricular-se, em 1941, na Faculdade de Letras da academia coimbrã para concluir em seis anos um curso de Ciências Histórico-Filosóficos que pouco aproveitou na sua vida profissional e literária. Muito mais proveito intelectual lhe viria do convívio e amizade com personagens cultas, assumi- damente opositores ao regime salazarista, livres e democratas, como eram Joaquim Barradas de Carvalho, João Cochofel, Rui Feijó, Joaquim Namorado e Fernando Namora. Com este último, seu amigo de infância, concretizou as suas literárias estreias: em 1937, ainda jovem liceal, publica juntamente com Namora e Artur Varela um curto livro a que emprestou três contos e um poema a que chamaram Cabeças de Barro. Em 1942, ainda no primeiro ano da Faculdade, Carlos de Oliveira edita com esmerados desenhos também de Fernando Namora o seu primeiro livro de poemas, Turismo, volume dos dez que ofereciam um Novo Cancioneiro em que muitos continuam a ver marco fundamental do chamado neo-realismo (um neo que Mário Dionísio detestava e o meu velho mestre, Óscar Lopes, achava mesmo dever ser erradicado das histórias da literatura portuguesa...). Descobre-se uma obra quase estranha com as suas paisagens poéticas divididas em três capítulos intitulados Infância, Amazônia e Gândara, poesia talvez por isso sucessivamente reescrita e apurada por Carlos de Oliveira. Tinha apenas 22 anos quando, em 1943, publicou o seu primeiro romance, Casa na Duna, com a prestigiada chancela da Coimbra Editora, segundo volume de uma referencial colecção de Novos Prosadores. Logo no ano seguinte surge novo romance, Alcateia, proibido e apreendido pelo regime, o que não impediu a segunda edição de Casa na Duna. Em 1945 edita novo livro de poemas, Mãe Pobre, no preciso ano em que colabora na renovação da revista Vértice e continua a escrever para a inevitável Seara Nova. Segue-se em 1948 o seu terceiro romance, Pequenos Burgueses, mais novo volume de poesias, Colheita Perdida, logo seguido em 1949 por outro livro de poemas, Descida aos Infernos. Entretanto, em 1950, muda-se e fixa-se definitivamente em Lisboa, sendo pouco tempo professor, depois arquivista de jornal e redactor de revista, já entre 1963 e 1972. Pela capital, vai alargando o seu círculo de con- tactos literários, influenciando e convivendo, entre vários outros, com Manuel da Fonseca, Augusto Abelaira, Urbano Tavares Rodrigues, Herberto Helder, José Cardoso Pires, Alexandre Pinheiro Torres, Helder Macedo ou João César Monteiro. É neste ano de instalação na capital que volta a publicar renovado livro de poemas, Terra de Harmonia. Depois, data de 1953 essa obra-prima do romance português contemporâneo que continua a ser Uma Abelha na Chuva. Quatro anos mais tarde, em 1957, associa-se com felicidade a José Gomes Ferreira para editar os Contos Tradicionais Portugueses, depois adaptados ao cinema por João César Monteiro. Em 1960, a sua poesia refina-se e torna-se ainda mais complexa quando edita Cantata. Em 1968 publica dois novos livros de soberba poesia, Sobre o Lado Esquerdo, o Lado do Coração e Micropaisagem. Começa também nesta altura a sua demorada colaboração com Fernando Lopes na adaptação e recriação cinematográficas de Uma Abelha na Chuva. Em 1971, para além do já referido O Aprendiz de Feiticeiro, edita nova obra poética, Entre Duas Memórias, livro galardoado com o Prémio Casa da Imprensa. Em 1976, reúne toda a sua poesia em dois volumes, sob o título de Trabalho Poético, juntando aos seus poemas anteriores, os inéditos que formaram Pastoral, obra publicada em 1977. Sobre este período mais fértil e continuado da sua produção literária, nas suas crónicas do Aprendiz de Feiticeiro escreveu simplesmente isto sobre si próprio: “Pensando bem não tenho biografia. Melhor, todo o escritor português marginalizado sofre biograficamente do que posso denominar complexo do icebergue: um terço visível, dois terços debaixo de água. A parte submersa pelas circunstâncias que nos impediram de exprimir o que pensamos, de participar na vida pública, é um peso (quase morto) que dia a dia nos puxa para o fundo. Entretanto a linha de flutuação vai subindo e a parte que se vê diminui proporcionalmente”. O seu último romance, Finisterra, editado em 1978 e Prémio Cidade de Lisboa, chega-nos com um subtítulo quase de tese académica: “Paisagem e povoamento”. É uma sorte de demorado posfácio de toda a sua obra sobre gentes tão pobres e perdidas como as suas rurais paisagens da Gândara constantemente encravadas na sua poesia, contos, crónicas e romances singulares: fim do mundo, finisterra, era mesmo esse Portugal de ancien régime que todos fomos pensando (talvez com exagerado optimismo...) ter desaparecido para sempre nas suas dominações, vaidades, invejas, calúnias, estreita estratificação social e muito corporativismo dos mais que poderosos com essa Revolução do 25 de Abril de 1974 que Carlos de Oliveira viveu intensamente como decisivo prenúncio de liberdade também criativa e intelectual. Morreria cedo, com 60 incompletos anos, a 1 de Julho de 1981, esse homem avesso a públicos e mediáticos palcos, reservado que, quase secreto, foi um dos maiores vultos da literatura portuguesa de sempre. A descobrir ou a voltar a ler agora. LUSOFONIAS - SUPLEMENTO DE CULTURA E REFLEXÃO Propriedade Tribuna de Macau, Empresa Jornalística e Editorial, S.A.R.L. | Administração e Director José Rocha Dinis | Director Executivo Editorial Sérgio Terra | Coordenação Ivo Carneiro de Sousa | Grafismo Suzana Tôrres | Serviços Administrativos Joana Chói | Impressão Tipografia Welfare, Ltd | Administração, Direcção e Redacção Calçada do Tronco Velho, Edifício Dr. Caetano Soares, Nos4, 4A, 4B - Macau • Caixa Postal (P.O. Box): 3003 • Telefone: (853) 28378057 • Fax: (853) 28337305 • Email: [email protected] II Segunda-feira, 28 de Outubro de 2013 • LUSOFONIAS lusofonias na P Duna (1943) ublicado faz exactamente setenta anos, Casa na Duna é um livro genial, uma pedrada no charco e uma reinvenção de um novo realismo literário. Uma obra verdadeiramente admirável em todos os seus diversos cambiantes: na qualidade e acessibilidade de uma escrita extraordinariamente equilibrada, na profundidade social e psicológica do temário romanesco, na caracterização cuidada e cúmplice das principais personagens e na mobilização singular da paisagem natural e cultural. Na verdade, a aldeia focal do romance, Corrocovo, comparece como imagem poderosa de um país provinciano, atávico, zelosamente fechado e vigiado, uma sorte de enorme cárcere rural marcado por uma asfixiante claustrofobia intelectual onde “há homens a viver como os bichos”. O romance cruza admiravelmente, por isso, esse forte empenhamento social que marcaria o dito neo-realismo português, mas em que se insere um naturalismo do mais fino gosto que é condição duplamente de lugar da memória e de fascínio pela paisagem única de Portugal (ou dos muitos retalhos com que se cerziu historicamente Portugal...): “Hilário gostava do Inverno à solta. Céus a desabar, casebres submersos, pinhais vergados ao peso das bátegas, água e vento contra a janela. Passava as noites acordado enquanto o ar de roldão devastava tudo. Ocorriam-lhe histórias nebulosas da infância. Bruxas, lobisomens, botas de sete léguas”. Casa na Duna é uma obra também marcante pela sua renovada técnica literária e estratégias estilísticas em que se reeencontra a influência tanto de Hemingway como do novo romance brasileiro edificado a partir do Nordeste pelas obras de Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Rachel de Queirós e, sobretudo pela sua enorme ressonância internacional, Jorge Amado. Adoptando uma escrita cinematográfica, relembrando o primeiro modernismo literário do Brasil, Carlos de Oliveira frequenta em analepses diversos tempos, muda e transfere formas verbais, salta de sujeito narrativo, privilegiando também o parágrafo curto e claro. Não se visita nesta obra singular da literatura portuguesa do século XX uma palavra deslocada, um adjectivo a mais ou desnecessários exercícios de estilo. Por isso, Casa na Duna começa simplesmente por esta frase simples, “na Gândara há aldeolas ermas esquecidas entre pinhais, no fim do mundo,” depois oferecendo uma narrativa orbitando em torno das desgraças de Mariano Paulo, senhor de uma quinta antiga, no alto de uma duna, incapaz de modernizar uma agricultura quase feudal, perdido também em pouco sucedidos negócios. O seu filho, Hilário, jovem difícil e perturbado, desinteressado de lavouras, vai vivendo das recordações da falecida mãe, acabando por morrer, assim simbolizando a dissolução de todo um modo de vida antigo. O romance descreve admiravelmente a pobre e dura vida do miserável campesinato português, a exploração desenfreada dos jornaleiros, mais a imóvel vida social dessa espécie de perdidos velhos fidalgos fundiários. O romance impressiona ainda pelo silêncio quase arrasador com que se escreve a aridez, a desolação e a miséria da Gândara, imagem e universo literários evidentes de um país adormecido, pobre e amordaçado. lusofonias Uma Abelha na Chuva (1953) Casa R omance maior da literatura em língua portuguesa, Uma Abelha na Chuva passa-se rápido em três breves dias: entre as cinco horas de uma quinta-feira de Outubro e a manhã do dia seguinte correm 15 capítulos; a sexta-feira que se segue precipita-se entre os capítulos 16 e 26; o sábado até ao amanhecer de domingo leva o romance ao seu trágico epílogo no capítulo 35. A intriga quase minimalista parece toda contida numa belíssima imagem depois de lidas as páginas iniciais: “primeiro, a fonte brotou tenuamente, muito ao longe, na infância, depois, a água mansa turvou-se ao longo do caminho, do tempo, com lixo que lhe foram atirando das margens; e agora é cachoante, escura, desesperada”. Romance de perdição, densamente psicológico, tenso nos seus muito conseguidos diálogos, passeando como toda a sua obra pelas misérias da Gândara, em Montouro, freguesia de S. Caetano, concelho de Corgos, orbitando em torno do ainda mais miserável matrimónio entre Álvaro Silvestre, de família de prósperos burgueses rurais, e a sua quase comprada esposa, D. Maria dos Prazeres Pessoa de Alva Sancho (o apelido Silvestre era acrescentado com alguma hesitação e muito sarcasmo pela própria...), filha de arruinada família fidalga que pelo seu casamento procurou resgatar dívidas muitas, mobílias vendidas, jóias perdidas e, assim, assegurar algum desesperado desafogo económico. A estes senhores da casa, perdidos em ódios cada vez mais recalcados, opõe-se e cruza-se o par formado por Clara, a criada, e Jacinto, o ruivo cocheiro, aquela apaixonada por este que excitava também as secretas paixões de Maria dos Prazeres que, por sua vez, amava longinquamente Leopoldino, o irmão de Álvaro que havia emigrado para a África e de quem recebia algumas esparsas cartas, as últimas anunciando o seu retorno à metrópole. A intriga, quase linear, mas cortada por recorrentes incursões memoriais e exercícios de enredada psicanálise, sumaria-se com brevidade: numa madrugada perturbada, mais uma vez impedido de dormir no leito pouco conjugal, Álvaro Silvestre decide passear pelos seus campos, surpreendendo num palheiro as juras de amor entre o cocheiro Jacinto e a criada Clara, entretanto grávida. O ruivo cocheiro comentava também com algum másculo orgulho a forma provocadora como a sua patroa, Maria dos Prazeres, o fitava convidadamente. Furioso, Álvaro conta a gravidez escondida ao pai de Clara que decide matar Jacinto, trama depois provocando um motim popular. A filha, entretanto, decide denunciar o pai à guarda, depois acabando por se suicidar, atirando-se mortalmente a um poço. Por esta intriga de perdição passam ainda outras personagens menores em que se representam tipos sociais característicos: o Padre Abel e a sua irmã (e também amante...) D. Violante, João Medeiros, o ponderado Dr. Neto, mestre António e a sua filha Ana, Mariana, Marcelo, João Dias, assim se representando essas fechadas comunidades rurais de meados do século XX português em que a colectiva miséria instigava as mais abjectas das pequenas invejas, rumores, traições e vinganças entre fidalguia perdida, pequena burguesia sem educação, falsos moralistas e fiéis, camponeses dominados e submissos apesar de algumas revoltas equívocas e logo reprimidas. E, no entanto, Uma Abelha na Chuva é tudo menos um desses muito normativos romances sociais e quase de classe com que, seguindo o afrontamento fatal entre exploradores e explorados, se foi fazendo um certo realismo muito mais apenas ideológico do que muito pouco literário. O romance sublime de Carlos de Oliveira é muito mais do que a história da miséria e exploração sociais (que também lá está), mergulhando nesse ontológico oceano das contradições do ser, da paixão, do amor, da condição humana, da frustração individual e das mentalidades colectivas dominantes em tempos de pequenos e grandes tiranetes. Um romance que é mesmo o assumido fim literário desse chamado neo-realismo português como o compreendeu mais do que sabiamente logo em texto de 1955 Jorge de Sena: “Hoje o equívoco literário do Neo-Realismo está morto, até pela evolução da maior parte dos que nele intervieram [...] quer porque um Carlos de Oliveira passou a produzir pessoalmente, numa linguagem que perpassa uma consciência autêntica da problemática profissional do escritor, uma experiência humana da sociedade imobilizada que é a nossa”. Felizmente para as nossas curiosidades culturais de hoje, generosamente alimentadas pelos muitos arquivos da memória dos mais variados sites, blogs e redes, Uma Abelha na Chuva pode tanto voltar a ler-se e a admirar-se na sua genial escrita, como também a ver-se no filme único com que Fernando Lopes recriou e ampliou o impacto singular de um romance absolutamente único. Neste caso, a procurar e a ver. LUSOFONIAS • Segunda-feira, 28 de Outubro de 2013 III o A outra Uma Abelha na Chuva: filme de Fernando Lopes (1972) R odado com muitas dificuldades ao longo de 1968 e 1969, depois cuidadosamente montado com demora, totalmente financiado pelo bolso do seu realizador, Fernando Lopes, e alguns solidários amigos, Uma Abelha na Chuva tornou-se finalmente filme acabado e estreado em 1972. Muito mais do que uma mera adaptação do romance de Carlos de Oliveira (e da assumida inspiração da sua poesia na cinematografia do realizador), descobre-se uma obra deslumbrante por ela própria, do vanguardismo das imagens ao pendor fotográfico, da música de Verdi ao teatro popular. Na verdade, do romance original, Fernando Lopes manteve recriadamente o confronto entre Maria dos Prazeres e Álvaro Silvestre, mais os amores perdidos, mas também folclóricos, de Clara e Jacinto, fazendo desaparecer grande parte das outras personagens presentes na narrativa textual de Carlos Oliveira, do incestuoso par Padre Abel e D. Violante ao sensato Dr. Neto. Um filme que, quando se revisita, parece só poder funcionar rigorosamente no seu exacto preto-e-branco com que se destaca um contexto frio, cinzento, tenso que se vaza em ambiente indefinido, quase impreciso. Leitura cinematográfica de um grande romance em que se visitam as influências epocais conhecidas do novo cinema francês – a famosa nouvelle vague –, mas também uma reconstrução de mitos profundos da cultura portuguesa, assim produzindo um filme fragmentário e indeciso, experimental na narrativa descontínua e quase vanguardista ao adoptar uma estética em que se repetem cenas sem diálogo e em que o som propositadamente não acompanha a imagem. O realizador afasta-se mesmo da geografia física e social constante na obra literária de Carlos de Oliveira, preferindo o espaço indefinido de um mundo em que ecoam os conflitos, as frustrações e até a provinciana falta de gosto desse Portugal do Estado Novo: imagens repetidas, imóveis, sem graça. Mais ainda, de forma magistral, Fernando Lopes acrescenta uma terceira história de amor de perdição (será mesmo a original?), convocando transformadamente o homónimo romance de Camilo Castelo Branco em frag- Posfáci a re mentária peça teatral popular filmada através da representação de um grupo de província. Nestas imagens, apenas se recorda do camiliano clássico a cena em que Simão Botelho vai ao encontro de Teresa no convento de Monchique, no Porto (“Ó Teresa, Teresa, assim nos vão separar, quem sabe, para sempre!”), mais o mortal episódio central em que aquele dispara sobre Baltazar, tudo melodraticamente acompanhado como convém pela famosa Força do Destino de Giuseppe Verdi. No filme de Fernando Lopes, a estes excertos teatrais assistem os pares do romance original de Carlos de Oliveira, Silvestre-Maria dos Prazeres e Clara-Jacinto, os primeiros bem instalados em camarote de senhores. A cena fatal do disparo contra Baltazar motiva ainda mais a vingança que Álvaro Silvestre decide tecer para liquidar Jacinto. Aproveitando recriadamente este casamento ficcional entre os romances de Camilo e Carlos de Oliveira, a figura de Simão Botelho é interpretada na peça representada no filme pelo próprio Jacinto que Maria dos Prazeres, do alto do seu camarote, observa passionalmente traindo o seu libidinoso desejo com uma carícia no braço apercebida por Álvaro, esse marido que detesta e constantemente expulsa do seu quarto, mas também mirada por Clara que olha da plateia com inquietação a sua perturbada senhora. Na madrugada que antecede o crime central de Uma Abelha na Chuva, Álvaro Silvestre recorda pormenorizadamente o tiro mortal de Simão Botelho em Baltazar, primo e prometido de Teresa, enquanto Clara se encontra nas cavalariças da casa do patrão com Jacinto, senta-se na charrete no lugar da fidalga para se deliciar privadamente com a representação dramática que o seu amado cocheiro faz da perdida figura camiliana. A encerrar este filme deslumbrante, depois da frustrada revolta popular que acompanha a denúncia das tramóias de Silvestre, a comunidade e as suas gentes regressam como convinha à mais sossegada das normalidades desse país de brandos costumes, mas dos mais pungentes fados de amores de perdição. Não tinha acontecido nada. A ABELHA NA CHUVA O FILME “Muito mais do que uma mera adaptação do romance de Oliveira (e Carlos de da assumida inspiração da sua poesia na cinematografia do realizador), descobre-se uma obra deslumbrante por ela própria, do vanguardismo das imagens ao pendor fotográfico, da música de Verdi ao teatro popular IV Segunda-feira, 28 de Outubro de 2013 • LUSOFONIAS C arlos de Oliveira deixou-nos infeli uma obra de ficção lamentavelmen ta, com apenas cinco títulos editados anos, mas de qualidade tão indiscutíve essa sua produção poética um pouc abundante, mas constantemente reescr verdade, apesar de todos os seus títulos rismo a Finisterra, mobilizarem esse u opressivo infantil da lunar paisagem d dara, os seus textos são uma procura c xa de uma sabedoria do mundo num P pobre e atrasado que rejeita profunda procurando, por isso, em intelectual c te, depurar e reescrever constantement obra. Cantata é em 1960 um livro de po intensamente rasurada, repensada, ree As suas Poesias, em 1962, reeditam com cepção de Turismo toda a sua obra poét terior para corrigir alguns dos seus poem 1976, Trabalho Poético volta a publica os seus livros de poesia, incluindo o p Turismo, agora muito profundamente r to. Entre aquelas Poesias e este Trabalh tico exluem-se e fundem-se poemas, d recem estrofes, modificam-se frases, palavras, pontuação. Uma espécie de insatisfação literária -crítica exigência intelectual que Carlos veira não limitou à continuada recriação poesia, mas que estendeu também à su única. Assim, em 1964, sai refundido o s meiro romance Casa na Duna. Em 1970, uma renovadas versão de Pequenos Bur Mesmo Uma Abelha na Chuva vai mobi I Pelas cinco horas duma tarde invern viajante entrou em Corgos, a pé, de que o trouxera da aldeia do Montouro ao pavimento calcetado e seguro da v baixo, de passo molengão; samarra chapéu escuro, de aba larga, ao velh tada, sem gravata, não desfazia no e tudo, das mãos limpas à barba bem e que as botas de meio cano vinham de via-se que não era hábito do viajante preocupava-o a terriça, batia os pé empedrado. Tinha o seu quê de invu roliço arqueava-lhe as pernas, faziapatos: dava a impressão de aluir a ca alterosa dificultava-lhe a marcha. M duas léguas de barrancos, lama, inv o trouxera decerto, penando nos at aquele tempo desabrido. Havia sobre a vila, ao redor de todo de luz branca que parecia o rebordo escurecendo gradualmente para o ce num côncavo alto e tempestuoso. Am to ia descoalhando as nuvens e abria vada que a tarde esperava. O homem cruzou a praça devagar, tico e sacudiu as botas com cuidado Sentou-se, pediu um brandy e engoli lentidão natural era a única coisa q pressa. Encostava o cálice à boca bem -o um momento e de seguida, num g lusofo io: um autor e uma obra edescobrir com urgência izmente nte curem 35 el como co mais rita. Na s, de Tuuniverso da GâncomplePortugal amente, contraste a sua oesia já escrita. m a extica anmas. Em ar todos primeiro reescriho Poédesapaversos, e autos de Olio da sua ua prosa seu pripublica rgueses. ilizando recorrentes modificações nas suas várias reedições. E, nos últimos anos da sua vida, o escritor já firmado trabalhava intensamente numa nova redacção de Alcateia, que sempre se recusara a reeditar. Neste contexto, em 1978, Finisterra comparece como um romance perturbador, magnífico e belíssimo, em que se projecta esta depuração constante de uma rara escrita poética que se projecta no romance para gerar o que alguns chamaram – e bem... – um dos mais convulsivos e deslumbrantes romances-poemas de toda a literatura portuguesa. E, no entanto, a ficção e a poética de Carlos de Oliveira perseguem assumidamente a cumplicidade entre literatura e realidade social, princípio explicado em texto que se encontra nessa colectânea de O Aprendiz de Feiticeiro: “o meu ponto de partida, como romancista e poeta, é a realidade que me cerca; não concebo uma literatura intemporal nem fora de certo espaço geográfico, social, linguístico... O livro, qualquer livro, é uma proposta feita à sensibilidade, à inteligência do leitor: são elas que em última instância o escrevem. Quanto mais depurada for a proposta (dentro de certos limites, claro está), maior a sua margem de silêncio, maior a sua inesperada carga explosiva. A proposta, a pequena bomba de relógio, é entregue ao leitor. Se a explosão se der ouve-se melhor no silêncio”. Poeta entre os maiores da língua portuguesa, romancista genial, homem culto, reservado, empenhado, democrata e inteligente, Carlos de Oliveira é autor de uma obra a cultivar, ensinar e reler constantemente. Entre amor da Uma Abelha nosa de Outubro, certo epois da árdua jornada o, por maus caminhos, vila: um homem gordo, com gola de raposa; ho uso; a camisa apersmero geral visível em escanhoada; é verdade todo enlameadas, mas e andar por barrocais; és com impaciência no lgar: o peso do tronco -o bambolear como os ada passo. A respiração Mesmo assim, galgara vernia. Grave assunto talhos gandareses, por o o horizonte, um halo o duma grande concha entro até se condensar meaçava chover. O vencaminho à grossa chu- entrou no café Atlânno capacho de arame. iu-o dum trago. Na sua que fazia com alguma m aberta, imobilizavagolpe brusco, atirava o onias escrita e o silêncio da verdadeira inteligência que não se promove mediaticamente, não se ufana, mercantiliza ou se verga aos enfadonhos (falta de...) gostos do muito politicamente correcto com que agora se pensa curto, sem fundamento e sem paixão. Personagem tão exigente, crítica como saudavelmente contraditória, tinha talvez a premonição clarividente de que a memória do Portugal de hoje não é, afinal, muito diferente da pouca memória na Chuva desses tempos outros que marginalizaram Camões ou Jorge de Sena, exilaram, perseguiram e caluniaram quem pensava bem e diferente, escrevia melhor e sonhava com um país educado, culto e livre. Nas páginas so seu primeiro romance, Casa na Duna, o nosso quase esquecido Carlos de Oliveira escreveu: “Basta que a memória ceda apenas um momento para os mortos estarem perdidos”. Até por isso, é urgente lembrá-lo. E lê-lo. (1953) brandy à garganta. Repetiu a operação segunda e terceira vez. Pagou e saiu. Atravessou de novo a praça, batendo pausadamente o tacão das botas, deixando cair os últimos pingos de lama, e dirigiu-se à redacção da Comarca de Corgos, sempre no mesmo passo oscilante e pesado, como se o levasse a custo o vento que arrastava no chão as folhas quase podres dos plátanos. II O escritório do Medeiros, director da Comarca, era escuro e desconfortável; uma vulgar secretária de pinho, dois ou três cadeirões com almofadas de palha, um quebra-luz de missanga na lâmpada do tecto e montes de jornais aos cantos; cheirava a pó como num caminho de estio. -Sente-se, faz favor. O visitante sentou-se e, abrindo a carteira, tirou uma folha de papel cuidadosamente dobrada: -Para sair no próximo número do jornal, se puder ser. Pago o que for preciso. O Medeiros desdobrou o papel, desfez-lhe os vincos um a um com a unha enorme do polegar, a unha da viola, e pôs-se a ler. Daí a nada, erguia os olhos assombrado: -E quer o senhor que eu lhe estampe uma coisa destas na Comarca? O outro baixou o rosto inexpressivo: — Exactamente. Afastou a papelada da secretária para os lados como se lhe faltasse o ar, afeiçoou melhor os óculos ao nariz afilado, e na esperança de ter confundido as coisas começou a ler o documento outra vez. Mas não. Ali estava de facto exarada a tinta verde, numa caligrafia de mão pouco segura, a confissão pasmosa: Eu, Álvaro Rodrigues Silvestre, comerciante e lavrador no Montouro, Freguesia de S. Caetano, concelho de Corgos, juro por minha honra que tenho passado a vida a roubar os homens na terra e a Deus no céu, porque até quando fui mordomo da senhora do Montouro sobrou um milho das esmolas dos festeiros que despejei nas minhas tulhas. Para alguma salvaguarda juro também que foi a instigações de D. Maria dos Prazeres Pessoa de Alva Sancho Silvestre, minha mulher, que andei de roubo em roubo, ao balcão, nas feiras, na soldada dos trabalhadores e na legítima de meu irmão Leopoldino, de quem sou procurador, vendendo-lhe os pinhais sem conhecimento do próprio, e agora aí vem ele de África para minha vergonha, que não lhe posso dar contas fiéis. A remissão começa por esta confissão ao mundo. Pelo Padre, pelo Filho, pelo Espírito Santo, seja eu perdoado e por quem mais mo puder fazer. Saiu da segunda leitura como da primeira. De boca aberta. Que um sujeito arredondasse um tanto os preços de balcão, percebia; que descesse a extorquir uns alqueires de milho aos sobejos dum santo, percebia também; que enfim, dando o real valor a uma procuração, vendesse meia dúzia de pinhais alheios, porque é que não havia de perceber se as tentações, com mil demónios, são tentações para isso mesmo? Mas lá vir confessá-lo em público, na primeira página dum jornal, francamente, entender semelhante coisa era para o Medeiros como teimar com a cabeça numa aresta de granito. CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE > LUSOFONIAS • Segunda-feira, 28 de Outubro de 2013 V < CONTINUADO DA PÁGINA ANTERIOR Encarou de novo o rosto gordo do lavrador do Montouro. Feições paradas, sonolentas. Havia porém um ar de seriedade naqueles olhos pouco ágeis, na linha branda da boca, no beiço levemente caído, na cinza das têmporas, que impedia o jornalista de concluir no íntimo, decisivamente: é um imbecil; e contudo seria difícil avaliar o caso de outro ângulo; claro que não ia imprimir a declaração sem mais nem menos: a coisa tem a sua gravidade, envolve terceiros, o homem é capaz de ser de facto parvo e pode a família aparecer-me depois com exigências, desmentidos, trapalhadas. -Calculo que tenciona fazer um acto público de contrição. -Tenciono. Na primeira página, letra bastante gorda, se for possível. -E pode saber-se por quê? Ajeitou-se no cadeirão. Tinha pousado o chapéu nos joelhos e afagava-o com os dedos brancos, grossos: -É preciso ter em dia as contas com Deus e com os homens. Sobretudo com Deus. — Nem mais. E preciso ter isso em ordem. E depois? — Depois é o Diabo andar com estas coisas cá dentro. A pesar, a moer. O director da Comarca tirou os óculos, enfiou-os lentamente no estojo de prata: -Eu, no seu lugar, sabe o que fazia? Procurava um padre e desabafava. A confissão... -Estou confessado, mas não chega. Pensei bastante no assunto e o padre Abel não chega. -Em todo o caso, a confissão é um grande alívio, sem escândalos, sem nada. Aninhou as mãos de cera na copa do chapéu: -Deus escreve direito por linhas tortas. Talvez seja o escândalo que Ele quer. E acrescentou, quase sem transição: -Podemos assentar no seguinte: próximo número da Comarca, primeira página, letra redonda dos anúncios. Quanto me leva por isso? O jornalista não desistia: -E um arranjo em família? Indemnizar o seu irmão, por exemplo. Depois, uma palavra do padre Abel para acertar as contas com a santa. E tirar daí o sentido. Dos lábios de Álvaro Silvestre caiu sobre a insistência do outro a mesma pergunta de há momentos: -Quanto me leva afinal? As palavras rolaram nítidas, desamparadas. O Medeiros sentiu-lhes o peso e admitiu que estava a cuspir contra o vento, mas disse ainda, por dizer: -E a sua mulher, que pensa ela disto? Soergueu-se no cadeirão. A face imóvel, animou-lha um jogo complicado de tiques, rugas, olhadelas furtivas. Parecia assustado. No entanto, o Medeiros viu-o recostar-se outra vez com o ar aliviado de quem conseguiu afastar a sombra de uma ideia desagradável: -Deus me livre que ela soubesse disto. -Há-de sabê-lo quando o jornal sair. Encolheu os ombros e sorriu pela primeira vez: -Nessa altura é-me indiferente, claro. Como dizia o outro: burro morto, cevada ao rabo. Teve ainda um breve sobressalto: -Se ela o soubesse agora e me impedisse a confissão é que era um entalanço. Mas apressou-se a bater o nó dos dedos na secretária do Medeiros: -O Diabo seja surdo. Surdo e cego. III Antes da chuvada estalar no pavimento, en- VI Segunda-feira, 28 de Outubro de 2013 • LUSOFONIAS trou pela vila a toda a brida uma charrete de rodado silencioso; a água castanha espumava entre os varais; o cocheiro, alto e ruivo, fez estacar o animal em frente do café Atlântico e saltou da boleia para receber as ordens da dona da charrete, uma senhora pálida, de meia idade, agasalhada num xaile de lã e com a manta de viagem enrolada nas pernas: -Pergunta no café se o viram. O ruivo voltou daí a nada com indicações precisas: -Esteve no café e há coisa de um quarto de hora foi para o jornal. -Para o jornal? -Sim, senhora. -Vamos lá ao jornal, disse ela brevemente numa ponta de rouquidão. A charrete rodeou a praça, parou diante da Comarca. A senhora sacudiu a manta de viagem e o cocheiro ajudou-a a apear-se. -Leva a égua a beber. Não te demores. Enquanto o ruivo tornava a subir para a boleia, empurrou ela a porta do jornal; rompeu pela saleta de espera, indagou do empregado do Medeiros se tinha estado ali um sujeito gordo, baixo, de samarra; e como o rapaz lhe apontasse o escritório, entrou. O Medeiros levantou-se, um tanto surpreendido. Álvaro Silvestre rodou o pescoço maciço penosamente, mas reconhecendo-a precipitou-se com uma energia desconhecida sobre a secretária do jornalista, agarrou o papel em que escrevera a confissão, amarfanhou-o com a rapidez que pôde e sumiu-o no bolso da samarra. A sucessão brusca de movimentos atarantou-o, o chapéu rolou-lhe para o chão, hesitou entre apanhá-lo e dizer qualquer coisa, as pernas tropeçaram-lhe uma na outra e recaiu no cadeirão, desamparado. A mulher sorriu: -Incomodei-os ao que vejo. Não me apresentas, Álvaro? Mas o marido era uma concha de silêncio pasmado e ela própria se apresentou: -Maria dos Prazeres Pessoa de Alva Sancho... Silvestre. Destacou com ironia o sobrenome do marido. O Medeiros gaguejou. -Mui... muito... prazer. E indicou-lhe um cadeirão. -É então o senhor quem dirige a Comarca? Examinava os móveis pobres do escritório. Continuava a sorrir. O vestido de veludo escuro afagava-lhe o pescoço numa gargantilha rendada e branca, como um leve colar de espuma; as mangas enfunadas vinham morrer aos pulsos na mesma alvura breve e nítida, donde a mão nervosa emergia longamente. Um pouco antiquado tudo aquilo, mas ficava-lhe bem, adelgaçando-a; e havia um toque excitante no contraste que faziam o vestido sombrio e a palidez das feições. Malares salientes, os cabelos negros, aconchegados num novelo espesso e entrançados sobre a nuca; a boca de lábios túmidos; os olhos grandes, vivos, quase ansiosos; caído pelos ombros, o xaile de lã clara, cinza-pérola, punha no conjunto uma nota de intimidade inesperada. Todavia qualquer coisa naquela mulher esplêndida gelava o jornalista: o franzir irônico da boca, a avidez do olhar, o tom escarninho da voz gelada?; não sabia ao certo e avaliava-a com prudência: uma mulher de mão cheia, sim senhor, mas dura de roer. E em voz alta, um pouco mais sereno: -João Medeiros, às ordens de V. Exª. Entretanto D. Maria dos Prazeres sentara-se e apontava as botas enlameadas do marido: -As tuas botas, homem! Fez um esforço baldado para esconder os pés debaixo do cadeirão. E já ela se espantava outra vez: -Nem sequer trouxeste gravata! Levou a mão ao peitilho da camisa, mas suspendeu a meio o gesto de temor quase infantil; e ficou com a mão no ar, hesitante, vexado. -Imagine o senhor que veio do Montouro a pé com este tempo. Com charrete em casa, cavalos e cocheiro. Uma criança de cinquenta anos. Não sei o que o trouxe aqui. Seja lá o que for. O certo é que anda doente, com ideias estranhas, e tem de se lhe dar o devido desconto. O que ele diz não é nenhuma Bíblia, compreende? Baixou-se para apanhar o chapéu que lhe caíra à chegada da mulher e gemeu, humilhado: -Basta, Maria. -O médico aconselhou-lhe o abandono dos negócios, das terras – prosseguiu ela imperturbável. Repouso e distracções. Pois o repouso, as distracções, foram hoje duas léguas de lama, a corta-mato, na iminência do temporal. Lá fora, a chuvada despenhou-se por fim. Sentiram-na retinir nas vidraças. O jornalista aproveitou para mudar de conversa: -Forte aguaceiro. Estala. Álvaro Silvestre anuiu logo: -Boa bátega, sim senhor. Só ela preferiu continuar a bater no mesmo prego: -A boa bátega que te podia ter apanhado no caminho. Já pensaste nisso? Fechou os olhos, de puro desalento: cala-te, Maria, cala-te. O Medeiros levantou-se, foi à janela espreitar as cordas de água fumegante: mas que dois. lusofonias Economias... Reúne estudos e análises sobre o desenvolvimento económico dos CHINA | Brasil vende 1750 milhões de USD em milho O Brasil vai vender à China milho no valor de 1750 milhões de dólares, nos termos de um acordo de exportação quarta-feira assinado em Cantão no decurso da sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban). “O protocolo que assinámos amplia o leque de produtos de alta qualidade e de preço competitivo que o Brasil pode fornecer à China”, disse o vice-presidente brasileiro, Michel Temer, citado pela imprensa brasileira. Ido de Macau, onde participou na 4ª Conferência Ministerial entre a China e os países de língua portuguesa, para Cantão, para a reunião da Cosban, Michel Temer disse ainda ter ficado acordado com as autoridades chinesas o levantamento do embargo à carne bovina brasileira. “Por isso, acordámos com as autoridades chinesas a mais rápida realização de visitas técnicas, tendo igualmente em vista a homologação de mais empresas exportadoras de carnes bovina, suína e de aves”, disse o vice-presidente, citado pela imprensa brasileira. Michel Temer adiantou que o Brasil está aberto a investimentos por parte das empresas chinesas, em especial nos sectores ferroviário, portuário e aeroportuário e rodoviário. A China é desde 2009 o maior parceiro comercial do Brasil e um dos principais países de origem do investimento directo estrangeiro no país, tendo as trocas comerciais bilaterais somado 75,4 mil milhões de dólares em 2012, com exportações brasileiras de 41,2 mil milhões de dólares e importações de 34,2 mil milhões de dólares. JTM/Macauhub Língua Portuguesa e a sua cooperação com a República Popular da China A Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering da Coreia do Sul está a construir duas plataformas de exploração petrolífera para a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), disse quinta-feira em Luanda um quadro da estatal angolana. “As plataformas poderão operar em Angola e em qualquer ponto do mundo em que a Sonangol tenha interesses”, disse o engenheiro Paulo Fernandes, ao usar da palavra numa conferência sobre petróleo realizada na capital angolana, de acordo com a Bloomberg. Paulo Fernandes disse ainda que a Sonangol está a analisar a construção de uma base logística no sul de Angola, possivelmente no Lobito, onde está a ser construída uma refinaria com uma capacidade de processamento de 200 mil barris de petróleo por dia. Foi anunciado, por outro lado, que o governo de Luanda vai aumentar o controlo sobre os investimentos públicos, condicionando a sua execução à apresentação de mapas trimestrais e obrigando à obtenção de financiamento antes do início das obras, de acordo com o disposto na proposta de lei de Orçamento de Estado para 2014. No relatório que acompanha o Orçamento para 2014, afirma-se que a execução dos novos projectos fica sujeita a “disporem do financiamento assegurado na fonte orçamentada, terem os projectos executivos elaborados, terem os contratos assinados e homologados nos níveis correspondentes e terem elaborados os mapas de execução física e financeira.” Para além deste “aperto” nas regras que norteiam os projectos de investimento público, Luanda quer também proceder à “revisão do sistema de subsídios às empresas públicas, nomeadamente as prestadoras de serviço de água e electricidade, com vista à sua redução, com a promoção da sua eficiência” e rever o sistema de preços dos combustíveis derivados do petróleo bruto. O Orçamento de Angola para 2014 prevê uma taxa de crescimento do PIB de 8%, quase 2 pontos percentuais acima do estimado pelo Fundo Monetário Internacional num relatório divulgado em Outubro passado (6,3%). De acordo com o cenário macro-económico subjacente ao OGT 2014, a economia angolana deve crescer, em termos reais, 8% no próximo ano, acelerando para 8,8% em 2015, um cenário mais optimista do que o antecipado pelo FMI, que no World Economic Outlook, divulgado a 8 de Outubro, previa um crescimento de 6,3%, revendo em baixa de um ponto percentual a previsão anterior, que datava de Abril. JTM/MacauHub Governo de Timor-Leste anunciou, em comunicado, que decidiu atribuir o contrato de construção do aeroporto do Suai, na costa sul do país, à empresa pública indonésia Waskita Karya. “Após uma análise dos resultados dos concursos para projectos relativos à costa sul (Tasi Mane), apresentados pela Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA), o Conselho de Ministros aprovou a recomendação da CNA, de atribuir o contrato de construção do Aeroporto do Suai à empresa PT. Waskita Karya”, refere o documento, relativo à reunião de Conselho de Ministros de terça-feira. A empresa pública indonésia, estabelecida em 1961, é responsável no seu país pela construção de uma série de infraestruturas, nomeadamente pontes, autoestradas, estradas, portos, aeroportos e fábricas. No documento, o Governo refere também que foram pré-qualificadas cinco empresas para o ‘design’ e construção da base de apoio logístico do Suai. “As empresas selecionadas são a Essar Projects (India) Ltd, Afcons Infrastructure Ltd., o consórcio HDEC-HEC-AMCO, o consórcio BAM International-Van Oord Dredging-Marine Contractor-Wijaya Karya e o consórcio Construtora San Jose S.A.-Tecnicas Reunidas S.A.”, refere o documento. O projeto Tasi Mane tem como principal objetivo desenvolver a costa sul de Timor-Leste e fornecer dividendos económicos diretos através de actividades relacionadas com a indústria petrolífera. O Tasi Mane, projecto liderado pela empresa petrolífera timorense Timor Gap, prevê a construção de polos industriais na costa sul e inclui a plataforma de abastecimento do Suai, o agrupamento da refinaria e indústria petroquímica de Betano e o agrupamento da instalação de GPL (através do gasoduto que as autoridades pretendem ver construído a partir do Greater Sunrise) de Beaço. Na costa sul, vai ser também construída uma autoestrada, a primeira do país, a ligar as três localidades, para apoiar o negócio da indústria petrolífera. lusofonias de ANGOLA Novas plataformas para Sonangol TIMOR-LESTE | Indonésios constroem aeroporto em Suai O Países MOÇAMBIQUE | Agricultura beneficia do Fundo de Cooperação A empresa chinesa Wanbao Grains & Oils Co. vai aplicar 10 milhões de dólares do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa num projecto agrícola em Moçambique, nos termos de um acordo assinado em Macau pelo presidente do Fundo de Cooperação, Chi Jianxi e o presidente da Wanbao Grains & Oils (Hubei) e da Wanbao (Africa) Agricultural Development (Moçambique), Chai Shungong. Aquele valor irá ser aplicado pela empresa num projecto agrícola na região do Baixo Limpopo, província meridional de Gaza, cujo desenvolvimento tem um custo estimado em 200 milhões de dólares. Este projecto, que poderá tirar Moçambique da lista de importadores do arroz, compreende duas fases, sendo a segunda a que proporcionará maior valor acrescentado através do processamento e transformação do cereal colhido. Moçambique é assim o primeiro país de língua portuguesa a beneficiar do Fundo de Cooperação, que foi financiado em mil milhões de dólares pelo governo da China. Foi entretanto anunciado que a empresa britânica Ncondezi Energy procedeu já à pré-selecção de empresas para a construção de uma central térmica alimentada a carvão em Moçambique. De acordo com o comunicado, divulgado em Londres, a lista de pré-selecção contém sete empresas, uma das quais obterá a adjudicação para construir a primeira fase da central, que terá uma capacidade de produção de 300 megawatts de energia eléctrica. A central, cuja construção será um projecto chave-na-mão, utilizará o carvão a ser extraído na vizinha mina Ncondezi, cuja exploração precederá a entrada em funcionamento da central a fim de se proceder ao armazenamento de matéria-prima. O projecto Ncondezi contempla a exploração de uma mina com carvão térmico para abastecer a central, indo ser desenvolvido por fases de 300 megawatts cada até se atingir 1800 megawatts, estando a entrada em funcionamento prevista para o primeiro semestre de 2018. JTM/Macauhub LUSOFONIAS • Segunda-feira, 28 de Outubro de 2013 VII DIREITO à Vida Publica textos de estudo e opinião sobre a diversidade cultural das Lusofonias Ideias Luís Inácio Lula da Silva* “Quem, em sã consciência, deixará de lutar pelo melhor tratamento para a doença de seu pai, de sua mãe, do seu cônjuge ou do seu filho, especialmente se ela traz grande sofrimento e risco de vida? Trata-se de um problema tão grave e de tamanho impacto na vida - ou na morte - de milhões de pessoas, que deveria merecer uma atenção especial dos governos e dos órgãos internacionais e não só dos seus seguros de saúde. Não pode, na minha opinião, continuar a ser tratado apenas como uma questão técnica ou de mercado. Devemos transformá-lo numa verdadeira questão política, mobilizando as melhores energias dos sectores envolvidos e de outros atores sociais e económicos para o equacionar de um modo novo, que seja ao mesmo tempo viável para quem produz os medicamentos e acessível para todos os que precisam de os usar.” VIII Segunda-feira, 28 de Outubro de 2013 • LUSOFONIAS E m todo o mundo, seja nos países ricos, em desenvolvimento ou pobres, o acesso a tratamentos médicos mais avançados está cada vez mais desafiador. Muitos dos doentes não conseguem beneficiar dos medicamentos que poderiam curá-los ou pelo menos prolongar as suas vidas. A questão não é mais se existe cura para uma doença - porque em muitos casos ela existe -, mas saber se é possível para o paciente pagar a conta do tratamento. Milhões de pessoas encontram-se hoje nessa situação dramática, desesperante: sabem que há um remédio capaz de as salvar e aliviar o seu sofrimento mas não conseguem utilizá-lo devido ao seu custo proibitivo. Há uma frustrante e desumana contradição entre admiráveis descobertas científicas e o seu uso restritivo e excludente. De um lado, temos as empresas farmacêuticas, que desenvolvem novas drogas, com investimentos elevados e testes sofisticados e onerosos. Do outro, temos aqueles que financiam os tratamentos médicos: os governos nos sistemas públicos e as empresas de planos de saúde na área privada. No centro de tudo, o paciente, lutando pela vida com todas as suas forças, mas que não tem condições para pagar para sobreviver. Nos Estados Unidos, o Presidente Barack Obama trava há anos uma batalha com a oposição conservadora para estender a cobertura de saúde a milhões de pessoas. Na Europa, mesmo em países ricos, o sistema público muitas vezes não consegue garantir o pleno acesso aos novos medicamentos. No Brasil, cada vez mais o Governo precisa de recursos para os medicamentos que compra e fornece gratuitamente, inclusive alguns de nova geração. E na África, o VIH atinge contingentes enormes da população, ao mesmo tempo que doenças tropicais como a malária, perfeitamente evitáveis, continuam a causar muitas mortes e deixaram de ser prioridade pelas pesquisas dos grandes laboratórios. Um vídeo que circula na internet, feito por uma companhia de telemóveis, tem emocionado o mundo ao mostrar os dramas entrelaçados de um garoto pobre da Tailândia que tem de roubar para obter remédios para a sua mãe, e o de uma jovem tendo de lidar com as contas astronómicas do hospital para salvar o pai. Conheço o drama de ter entes queridos sem um tratamento de saúde digno. Em 1970, perdi a minha primeira esposa e o meu primeiro filho numa cirurgia de parto, devido ao mau atendimento hospitalar. Os anos que se seguiram, de luto e dor, foram dos mais difíceis da minha vida. Por outro lado, em 2011, já como ex-presidente, enfrentei e superei um cancro graças aos modernos recursos de um hospital de excelência, cobertos pelo meu plano privado de saúde. O tratamento foi longo e doloroso, mas a competência e atenção dos médicos e o uso de medicamentos de ponta permitiram-me vencer o tumor. É fácil ver as empresas farmacêuticas como as vilãs desse processo, mas isso não resolve a questão. Quase sempre são empresas de capital aberto, que se financiam principalmente através de ações nas Bolsas de Valores, competindo entre si e com outras empresas de diversos setores económicos para financiar os custos crescentes de pesquisas e testes com novas drogas. O principal atractivo que oferecem aos investidores é a lucratividade, mesmo que essa choque com as necessidades dos doentes. Para dar o retorno pretendido, antes que a patente expire, a nova droga é vendida a preços absolutamente fora do alcance da maioria das pessoas. Há tratamentos contra o cancro, por exemplo, que chegam a custar 40 mil dólares por cada aplicação. E ao contrário do que se poderia imaginar a concorrência não está a favorecer a redução gradativa dos preços, que são cada vez mais altos a cada nova droga que é produzida. Sem falar desse modelo guiado pelo lucro leva as empresas farmacêuticas a privilegiar as pesquisas sobre doenças que dão mais retorno financeiro. O alto custo desses tratamentos tem feito que planos privados muitas vezes busquem justificações para não lhes dar acesso, e que gestores de sistemas públicos de saúde se vejam, em função dos recursos finitos de que dispõem, frente a um dilema: melhorar o sistema de saúde como um todo, baseado em padrões médios de qualidade, ou priorizar o acesso aos tratamentos de ponta, que muitas vezes são justamente os que podem salvar vidas? O preço absurdo dos novos medicamentos tem impedido a chamada economia de escala: em vez de poucos pagarem muito, os remédios pagar-se-iam - e seriam muito mais úteis - se fossem acessíveis a mais pessoas. A solução, obviamente, não é fácil, mas não podemos conformar-nos com o atual estado das coisas. Até porque ele tende a agravar-se na medida em que mais e mais pessoas reivindicam, com toda a razão, a democratização do acesso aos novos medicamentos. Quem, em sã consciência, deixará de lutar pelo melhor tratamento para a doença de seu pai, de sua mãe, do seu cônjuge ou do seu filho, especialmente se ela traz grande sofrimento e risco de vida? Trata-se de um problema tão grave e de tamanho impacto na vida - ou na morte - de milhões de pessoas, que deveria merecer uma atenção especial dos governos e dos órgãos internacionais e não só dos seus seguros de saúde. Não pode, na minha opinião, continuar a ser tratado apenas como uma questão técnica ou de mercado. Devemos transformá-lo numa verdadeira questão política, mobilizando as melhores energias dos sectores envolvidos e de outros atores sociais e económicos para o equacionar de um modo novo, que seja ao mesmo tempo viável para quem produz os medicamentos e acessível para todos os que precisam de os usar. Não exerço hoje nenhuma função pública, falo apenas como um cidadão preocupado com o sofrimento desnecessário de tantas pessoas, mas acho que um desafio político e moral dessa importância deveria ser objecto de uma conferência internacional convocada pela Organização Mundial de Saúde, com urgência, na qual os vários segmentos interessados discutam francamente como compartilhar os custos da pesquisa científica e industrial com o objetivo de reduzir o preço do produto final, colocando-o ao alcance de todos os que necessitam dele. Não há dúvida de que todos os sectores vinculados à medicina avançada devem ter os seus interesses levados em conta. Mas a decisão entre a vida e a morte não pode depender do preço. Exclusivo DN/New York Times *Ex-presidente do Brasil. Trabalha em iniciativas globais no Instituto Lula lusofonias
Baixar