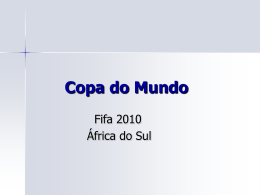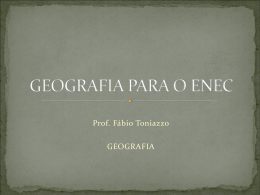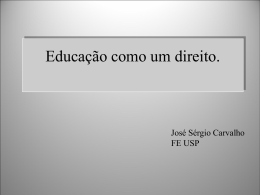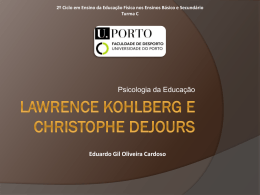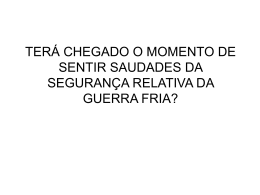Políticas Públicas em Educação: Lições do Caso Sul-Coreano. Autoria: Oswaldo Gonçalves Junior, Lara Elena Ramos Simielli RESUMO A qualidade, a universalização do acesso e o financiamento do ensino são temas de grande relevância no debate sobre as políticas públicas da educação. Sob essa perspectiva, ainda que as diferenças entre realidades desaconselhem a eleição de “modelos” a serem seguidos, não deixa de ser importante analisar outros sistemas educacionais a fim de realçar aspectos relevantes e comuns a muitos países. Nesse sentido, a Coréia do Sul, freqüentemente citada como um exemplo de desempenho educacional bem sucedido, é um referencial que apresenta grande potencial comparativo frente à realidade brasileira, considerando-se as semelhanças das trajetórias de ambos os países nos últimos 50 anos. O presente artigo tem como preocupação central enfocar possíveis lições que se pode extrair do sistema educacional coreano e que iluminem a tomada de decisões neste campo. INTRODUÇÃO O recente lançamento do Plano para o Desenvolvimento da Educação (PDE) pelo governo Lula, em maço de 2007, chamou mais uma vez a atenção para o debate sobre a qualidade da educação no Brasil. Resultados de avaliações nacionais, como o SAEB e a Prova Brasil evidenciam também o fato de que a qualidade do nosso ensino está bastante aquém do desejado. No plano internacional, o resultado de avaliações como o PISA - Programme for International Student Assessment - torna as comparações com outros países inevitáveis. Ainda que as diferenças entre realidades desaconselhem a eleição de “modelos” a serem seguidos, não deixa de ser importante analisar outros sistemas educacionais a fim de realçar aspectos relevantes e comuns a muitos países. Nesse sentido, a Coréia do Sul, freqüentemente citada como um exemplo de desempenho educacional bem sucedido, é um referencial que apresenta grande potencial comparativo frente à nossa realidade, considerando-se as semelhanças das trajetórias de ambos os países nos últimos 50 anos. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, Coréia do Sul e Brasil atravessaram transições estruturais semelhantes nas suas economias e instituições, entre elas a transição de sociedades rurais para sociedades industriais, a substituição de importações pelo foco exportador e a passagem de regimes ditatoriais para democracias (TERRA e WEISS, 2002). Não obstante, apesar das semelhanças, a Coréia do Sul atingiu um nível de desenvolvimento social e econômico muito superior ao Brasil. Neste artigo, objetiva-se analisar o desempenho do sistema de ensino sul-coreano, tendo como pano de fundo o sistema brasileiro, evidenciando em maior ou menor medida semelhanças e diferenças entre eles em três pontos principais: financiamento, acesso e qualidade. Em última instância, pretende-se compreender algumas lições possíveis de serem extraídas do modelo educacional sul-coreano, que auxiliem na tomada de decisões quanto aos caminhos a serem seguidos pelo Brasil. 1 FINANCIAMENTO Em 2002, os gastos públicos em educação no Brasil foram de 4,2% do Produto Interno Bruto, a mesma porcentagem investida pelo governo da Coréia do Sul (UNDP, 2005). Entretanto, os indicadores educacionais de ambos os países estão bastante distantes. Diversas razões podem ser levantadas para tal discrepância nos indicadores educacionais. Apontaremos duas delas: em primeiro lugar, é preciso analisar os investimentos privados destinados à educação, importantes principalmente no contexto coreano por elevarem significativamente o total investido; em segundo lugar, é preciso entender a destinação destes gastos a cada um dos níveis de ensino, ou seja, quanto do total de recursos vai para o ensino fundamental, médio e superior. Na Coréia do Sul, apesar dos investimentos públicos em educação estarem abaixo da média de alguns países pertencentes à OECD1, o destaque está nos altos investimentos privados, realizados pelas famílias. Não só os investimentos privados são altos, como vêm crescendo nas últimas décadas: a taxa de investimento privado sobre investimento governamental aumentou de 48,6% em 1977 para 108,4% em 1990 (MOE, 2005). Um estudo do Banco Mundial (2000) concluiu que, em 1995, os investimentos privados corresponderam a 8,9%2 do PIB - que, somados ao investimento governamental de 4,4% do PIB, elevaram o total investido neste ano para 13,3% do PIB, provavelmente a taxa mais elevada do mundo para países em estágio similar de desenvolvimento. Um outro estudo desenvolvido pelo Korean Educational Development Institute (KEDI), ligado ao Ministério da Educação, concluiu que, em 1994, os gastos totais em educação alcançaram 11,8%: 5,75% investidos em educação pública (sendo o governo responsável por 3,72% e a iniciativa privada por 2,03%) e 6,02% investidos pelas famílias. Do total investido pelas famílias, quase 45% estavam direcionados a aulas particulares e materiais complementares relativos aos exames de admissão nas Universidades. O elevado valor dos investimentos privados em educação na Coréia está diretamente relacionado com a intensa competição no ensino. Interessante observar, por exemplo, que o total de instituições que oferecem cursos suplementares e preparam para exames era de 24.890 em 2005, superior ao total de escolas – 19.586, soma que envolve a rede privada e pública (MOE, 2005). Desta maneira, uma estimativa de Kim (2005) conclui que o total gasto fora das instituições formais de ensino mostra-se superior ao gasto dentro delas. A fim de confrontarmos o total investido em educação (investimentos públicos e privados) nos dois países, a ausência de uma medida dos gastos privados em educação no Brasil inviabiliza esta comparação. Considerando-se apenas os gastos públicos, porém, percebe-se que o total investido no Brasil encontra-se próximo a países como a Alemanha e Espanha 4,6 e 4,5%, respectivamente (UNDP, 2005), demonstrando que a raiz do problema da baixa qualidade da educação no Brasil encontra-se em outros fatores que não somente no total de recursos investidos pelo governo. A destinação dos gastos pode ser uma possível explicação. No caso da Coréia do Sul, houve uma clara priorização do ensino fundamental desde a década de 70. Na década de 90, quando a maioria dos países em desenvolvimento, como o Brasil, começava a se preocupar com a universalização do ensino, a Coréia do Sul já apresentava taxas de alfabetização de 100% da população. O governo coreano, neste sentido, preocupou-se com a universalização de um ensino fundamental de qualidade, determinando que o crescimento econômico não fosse absorvido apenas pela elite. Esta política, aliada a outros fatores como a reforma agrária, garantiram o desenvolvimento do país simultaneamente à redução da desigualdade, diferentemente do que ocorreu na América Latina (BIRDSALL e SABOT, 1994). A opção do Brasil e de outros países da América Latina foi diferente: os investimentos em educação foram (e são até hoje) fortemente direcionados ao ensino superior. De acordo com o 2 INEP, os gastos públicos em educação no Brasil, de 4,1% do PIB em 2004, foram direcionados da seguinte maneira 0,4% para educação infantil, 2,4% para ensino fundamental, 0,5% para ensino médio e 0,8% para ensino superior. Este direcionamento de aproximadamente 20% dos gastos para o ensino superior contrasta fortemente com a Coréia do Sul, que investiu, em 2002, apenas 8% neste nível de ensino (UNDP, 2005). Esta escolha beneficia em grande parte as elites, que podem pagar por um ensino fundamental e médio privado e ao fim deste ciclo têm maiores chances de entrar no ensino superior público, principalmente nos cursos mais procurados, tais como Medicina e Engenharia. Assim, de maneira comparada, pode-se afirmar que o Brasil vem caminhando numa rota inversa à adotada pelos países asiáticos. ACESSO Notável perceber que na Coréia do Sul, em 1965, mais de seis milhões de estudantes já estavam inclusos no sistema educacional, o que corresponde, aproximadamente a metade do número de estudantes atuais (MOE, 2005). No Brasil, por outro lado, cerca de 12 milhões de estudantes freqüentavam estabelecimentos de ensino neste mesmo ano – aproximadamente um quinto do total de estudantes em 2005 (IBGE, 2003). A inclusão nos diferentes níveis de ensino, porém, não se deu de forma homogênea em nenhum dos dois países. Se em 1965, 88,9% das crianças em idade escolar adequada já freqüentavam a escola primária (elementary school)3, apenas 1% das crianças freqüentavam o ensino infantil – número que até hoje ainda é baixo: 31,4% em 2005 (MOE, 2005). Isso porque a escola primária (elementary school) tornou-se obrigatória a partir de 1960 - e gratuita desde 1979. A educação infantil, por sua vez, não foi incluída no sistema obrigatório de ensino e até hoje é paga. Evolução da taxa de matrícula líquida e do acesso aos níveis superiores de ensino na Coréia do Sul de 1965 a 2005 % de alunos do % de alunos do % de alunos do primeiro ciclo que segundo ciclo do matrícula no ensino médio que matrícula no ensino seguiam para o ensino fundamental primeiro ciclo do seguiam para infantil ensino fundamental segundo ciclo do que seguiam para ensino superior ensino médio ensino fundamental 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1,0% 1,7% 18,9% 31,6% 26,0% 26,2% 27,2% 28,4% 29,1% 29,6% 31,4% 88,9% 97,8% 100,5% 98,2% 97,2% 97,5% 97,5% 98,5% 98,0% 98,8% 54,3% 77,2% 99,2% 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 69,1% 74,7% 90,7% 95,7% 98,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,7% 99,7% 99,7% 32,3% 25,8% 36,4% 33,2% 51,4% 68,0% 70,5% 74,2% 79,7% 81,3% 82,1% Fonte: Ministry of Education & Human Resources Development (MOE), 2005. Com relação a ensino secundário (middle school), o aumento no acesso deu-se durante a década de 1970, por conta da política adotada em 1969 de não adoção de exame de admissão. Enquanto em 1965 apenas 54,3% dos alunos que completavam o ensino primário seguiam 3 para o nível seguinte, em 1975 este número elevou-se para 77,2% e em 1985 atingiu-se a quase universalização - 99,2%. Hoje em dia, 99% dos alunos formados no ensino primário seguem para o ensino secundário, que é obrigatório e parcialmente gratuito (totalmente gratuito apenas para alunos da zona rural). Fenômeno semelhante ao ocorrido com o ensino secundário ocorreu com o ensino médio. O exame para a entrada neste nível foi abolido em 1974 e, por conta disso, houve um grande salto no acesso já na década de 1980. A quase universalização, porém, deu-se apenas em 1995, quando 98,5% dos alunos formados no ensino secundário seguiram para o ensino médio. Antes da década de 1970, porém, o acesso ao ensino médio e superior dava-se exclusivamente por meio de exames. A restrição no número de vagas nestes níveis mais elevados de ensino, combinada com a preocupação do governo em garantir que as vagas fossem preenchidas de maneira justa e eficiente deu origem aos testes anuais, que determinariam a entrada ou não dos alunos nos níveis seguintes de ensino. A preocupação em garantir que os testes fossem uniformes e justos levou a uma competição puramente técnica entre os estudantes, imprimindo um sentido conteudista à educação coreana. Além disso, gerou uma intensa competição entre os alunos pela obtenção das melhores notas e fez com que os investimentos privados em educação aumentassem vertiginosamente (KIM, 2005). Atualmente, ainda persistem os exames para admissão no ensino superior e um sistema de quotas estudantis, apesar de uma maior flexibilização a partir de 1994. Por esta razão, como dito anteriormente, grande parte dos recursos privados investidos pelas famílias destina-se a aulas particulares e materiais adicionais voltados ao acesso às universidades. Tal fenômeno ocorre não somente porque o ensino superior traz consigo uma maior garantia de obtenção dos melhores empregos, mas também porque este diploma traz consigo um “certificado informal” de dedicação pessoal, disciplina e outros traços de caráter fortemente valorizados pela iniciativa privada na Coréia do Sul (FLEURY e MATTOS, 1991). QUALIDADE Com relação ao indicador de testes comparativos internacionais, a pontuação da Coréia do Sul no PISA – Programme for International Student Assessment, encontra-se entre as mais altas, superior à média dos países da OECD (INEP, 2004). Grupo 1 (Acima da média da OCDE) Hong Kong, Finlândia, Coréia, Países Baixos, Liechtenstein, Japão, Canadá, Bélgica, Macau, Suiça, Austrália, Nova Zelândia, República Tcheca, Islândia, Dinamarca, França e Suécia. Grupo 2 (Média da OCDE) Áustria, Alemanha, Irlanda e República Eslováquia. Grupo 3 (Abaixo da média da OCDE) Noruega, Luxemburgo, Polônia, Hungria, Espanha, Letônia, Estados Unidos, Rússia, Portugal, Itália, Grécia, Sérvia, Turquia, Uruguai, Tailândia, México, Indonésia, Tunísia e Brasil. Fonte: INEP, 2004. Esse bom desempenho, também pode ser visualizado no gráfico abaixo que apresenta os resultados da edição do ano 2000 da avaliação4. 4 Resultados dos dez primeiro colocados e do Brasil no PISA 2000 600 550 546 534 532 529 528 527 525 523 522 516 500 450 Suécia Japão Reino Unido Coréia do Sul Irlanda Austrália Nova Zelândia Holanda Canadá Finlandia 350 Brasil 396 400 Fonte: PISA/OECD (www.pisa.oecd.org). Nota dos elaboradores: devido a problemas com a amostra holandesa,os resultados da Holanda não são comparáveis com os dos demais países. Porém, apesar desse desempenho, muitas críticas vêm sendo feitas à qualidade do sistema sul-coreano de ensino. Uma das críticas mais comuns decorre da excessiva centralização do sistema educacional, que implicou na forte padronização do ensino, principalmente nos níveis mais elementares, tendo como características um excessivo número de alunos por sala e uma instrução limitada à transmissão de conhecimento. O produto desse modelo é um aluno com uma boa bagagem de informações e um alto desempenho em testes objetivos realizados em avaliações internacionais, mas que apresenta deficiências em virtude da pouca autonomia, flexibilidade, criatividade e capacidade de adaptação, aspectos demandados na resolução de problemas (FLEURY e MATTOS, 1991). Partindo do âmbito governamental, um movimento reformista tem caracterizado um intenso processo em que as políticas públicas educacionais sul-coreanas visam contornar as marcas de uma excessiva estatização, centralização, uniformização e hierarquização, características do período anterior5. Vem, ainda, ganhando força as ações de avaliação do sistema. Unindo as perspectivas de controle da qualidade e descentralização, em 1995, o Educational Reform Committe elaborou o documento chamado “Education Reform Measures to Estabilish a New Education System”, propondo a adoção de programas de avaliação para a Educação Elementar e Secundária, programas esses a serem implementados pelos governos locais, o que começou a ocorreu a partir de 1997. O processo desencadeado foi cristalizado no documento “Education Vision 2002: Creation of New Scholl Culture”, elaborado em 1998, sendo as ações propostas colocadas em prática na Educação Elementar e Secundária a partir de 1999 (KEDI, 2001). Em relação ao processo de ensino-aprendizagem, parece também existir a convicção da necessidade de renovação em face de um ensino tradicionalmente conteudista, buscando despertar uma formação voltada para habilidades diretamente ligadas às necessidades impostas por um mundo em constantes e aceleradas transformações. Yang et al (2001) reporta os resultados de um amplo estudo abordando escolas sulcoreanas nos diferentes níveis de ensino. Este estudo contou com a participação de mais de dez pesquisadores do KEDI (Korean Educational Development Institute), KICE (Korea Institute of Curriculum & Evaluation) e KERIS (Korea Education & Research Information Service) que permaneceram por uma semana em uma série de escolas visitadas pela equipe, observando o andamento das aulas e outros aspectos da rotina escolar, além de realizarem entrevistas com estudantes e pais. A pesquisa serviu para mapear o estado atual do ensino 5 sul-coreano segundo o entendimento de atores diretamente ligados ao tema da educação e pela sociedade sul-coreana como um todo. Em primeiro lugar, o estudo confirmou a visão já exposta por outros autores do caráter conteudista do ensino, o que acarreta numa experiência educacional pouco significativa para os estudantes. Foi além ao demonstrar que mesmo esse caráter conteudista sofre em virtude do descumprimento de mínimos necessários exigidos pelo currículo oficial. Tal fato estaria implicando em frustração e conduzindo à perda de confiança no sistema educacional em geral. Outras conseqüências observadas seriam o desinteresse e falta de concentração nos estudos, fatores que implicariam em aumento da indisciplina. Em conseqüência, os professores estariam, cada vez mais, utilizando o tempo em sala para contornar esses problemas em detrimento de outras atividades. Tal fato traz a tona uma segunda constatação relativa a questões atinentes a formas de controle dos professores sobre os alunos e a falta de legitimidade de regras estabelecidas sem a participação dos alunos, frutos de uma frágilcultura democrática da escola e da sociedade como um todo. Um terceiro ponto observado evidencia uma crise quanto ao papel do professor que, além das questões acima expostas, estaria sofrendo com o desinteresse dos alunos, face à difusão de meios de acesso à informação mais atrativos como a Internet. Além deste, foi observada a falta de suporte ao trabalho docente por parte do poder público, que não tem propiciado de forma constante programas de treinamento e formação. Em quinto lugar, as práticas administrativas das escolas tenderiam a focar naquilo que oficialmente querem mostrar para fora dessas instituições, em detrimento de gastar suas energias em ações que, de fato, contribuíssem para um ganho em qualidade. O sexto problema identificado refere-se ao ambiente escolar: classes lotadas evidenciam uma grande contradição entre “o que deveria ser” e “o que é”, dada as dificuldades expostas pelo comportamento público de alunos e professores. Em sétimo lugar, as políticas de educação do tipo top-down, que esperam resultados tangíveis num curto espaço de tempo, não conseguem ser completamente implementadas, pois em geral são feitas sem um conhecimento e uma análise aprofundada do problema. Por último, o estudo constatou que uma sociedade que coloca tanto peso e valor no diploma contribui para distorcer as prioridades do sistema educacional. Assim, conclui-se que seria quase impossível realizar uma educação “verdadeira e significativa” neste tipo de ambiente social. Na literatura, tão longa quanto a lista de qualidades do sistema educacional coreano é a lista de críticas feitas a ele. No entanto, sem significar necessariamente um pessimismo exacerbado quanto ao futuro, pode-se entender que as críticas em questão espelham o patamar que poucos países alcançaram, bem como o próprio dinamismo que caracteriza o campo da educação. Dessa forma, antes que estar sob a égide de um defeito maior – a estagnação – a profusão do debate que segue naquele país pode ser visto também como parte de um movimento maior de reflexão coletiva, aprimoramento e renovação. Nesse sentido, há um intenso debate que divide opiniões sobre os caminhos que a educação deve seguir. Lim (2005), uma especialista em educação, analisou o discurso de atores sociais sul-coreanos que demonstravam um senso de urgência em relação aos rumos da educação daquele país, para muitos em “colapso” no final do século XX. A autora identificou quatro diferentes grupos de atores, os quais classificou como tradicionalistas (traditionalist), reformistas democráticos (democratic reformists), neoliberais (neo-liberalists) e desescolarizadores (deschooling). Segundo a autora, o discurso tradicionalista baseia sua visão na tradição da filosofia e prática confuciana. Os adeptos dessa corrente entendem que o “colapso” educacional sulcoreano advém de fenômenos morais que prevalecem na sociedade contemporânea daquele país. Eles entendem que esse quadro resulta, por sua vez, de dois fatores: a falta de disciplina a que estão expostas as crianças nos lares e a perda de autoridade dos professores, fruto das políticas públicas dos últimos anos. A Korean Federation of Teachers’ Associations (KFTA) 6 é um dos principais atores que produziram um discurso fortemente calcado nesse segundo fator. Para a autora, é interessante notar que, ainda que prevaleça nesse grupo um fervoroso discurso de oposição às privatizações e reformas de cunho mercantil voltadas para a área educacional, ele encontra alguma similaridade com o do grupo identificado como neoliberal, já que ambos têm em comum a crítica às políticas governamentais para educação. Já os tradicionalistas distanciam-se dos reformistas democráticos em virtude da rivalidade com outra organização bastante representativa dos professores, a Korean Teachers’ Union – KTU. Tradicionalistas e reformistas democráticos dividem, entretanto, uma visão fundamental sobre a natureza pública e coletiva da educação escolar, seja nos aspectos morais ou sociais. Ambos os discursos, a despeito dos disparates relativos às raízes do confucionismo e da ideologia democrática, vêem a educação como elemento central para a integração social, um aspecto fundamental para a coletividade. Os neoliberais, por sua vez, são o grupo que possui uma das mais fortes vozes no debate em questão. Tendo poucas coisas em comum com as organizações de professores citadas, os neoliberais produziram um discurso de interesses de classe na educação relativamente claro, sobretudo representativo das classes média, média alta e meios de comunicação conservadores. Este grupo delegou o fenômeno do “colapso” a uma conseqüência natural de uma não adequação do sistema educacional às transformações sociais e econômicas. Entre essas não-adequações estaria a restrição das possibilidades de acesso por parte dos jovens a uma educação de qualidade, sobretudo a partir de critérios que valorizassem seus méritos e escolhas individuais O último, e mais radical, ponto de vista refere-se aos desescolarizadores. Eles vêem o fenômeno do “colapso” como uma conseqüência natural das mudanças ocorridas na Coréia do Sul nas duas últimas décadas. Assim como em outros países, as escolas procuraram, na era moderna, adequar suas transformações em virtude das necessidades da sociedade. Seriam, portanto, um reflexo dela. No entanto, nesta tentativa de adequação às necessidades sociais, as escolas teriam falhado, pois, segundo esta corrente, elas possuem necessidades próprias e diferenciadas. Este grupo é composto principalmente por educadores pós-modernos e pais que defendem uma educação alternativa e doméstica. Para Lim (2005), estes grupos representariam forças sociais majoritárias, servindo para iluminar o embate que se dá naquele país em torno dos rumos atuais da educação sul-coreana. Não obstante, servem indiretamente para demonstrar que, por trás de um discurso que muitas vezes une de forma direta e simplista educação e desenvolvimento econômico, existe uma profusão de visões diversas e contestatórias. Estudantes, famílias, professores, organizações e grupos de interesse diversos constituem uma teia de relações frente a qual as iniciativas reformistas governamentais estão limitadas para atuarem unilateralmente, como o fora no passado recente sul-coreano. CONSIDERAÇÕES FINAIS Sob certo ponto de vista, não há como negar que o sistema educacional sul-coreano foi muito bem-sucedido em seus objetivos, sobretudo no que tange à universalização e à instrução maciça de sua população. Como demonstrado, no tocante ao acesso, a universalização do ensino fundamental, ensino médio, e a quase universalização do ensino superior são tarefas que ainda exigirão um grande esforço do Brasil. Em relação aos indicadores de qualidade, as notas obtidas pelos alunos sul-coreanos estão acima mesmo de países desenvolvidos da OECD. Estes dois fatores, aliados à constatação de que a Coréia do Sul e o Brasil destinam a mesma porcentagem do PIB à educação, reforça a necessidade do país repensar seu modelo de financiamento da educação. 7 Não obstante, como se quis chamar a atenção também, o sistema educacional sul-coreano é passível de uma série de críticas, especialmente quando o debate ganha uma dimensão mais ampla referente ao quesito qualidade. O fato dos alunos sul-coreanos terem um desempenho diferenciado em avaliações como o PISA é um indicativo, mas não o único a ser considerado quando se trata do tema da qualidade do ensino. Como salientado, apesar dos alunos terem uma boa bagagem de informações, um olhar crítico aponta que um déficit no tocante à autonomia, flexibilidade, criatividade e capacidade de adaptação, aspectos demandados na resolução de problemas, como apontado por Fleury e Mattos (1991). Na maior parte das vezes, o debate sobre a qualidade do ensino emerge após um diagnóstico de crise. Considerando-se o próprio dinamismo do campo da educação, a profusão do debate que segue naquele país pode ser visto também como parte de um movimento maior de reflexão coletiva, aprimoramento e renovação, e não somente como uma “crise” propriamente dita. Sem se constituir em um problema em si, tal fato pode ser entendido como uma etapa necessária para a efetivação de processos transformadores. Os resultados do estudo a que se reporta Yang (2001) evidenciam, de forma surpreendente, que muitos dos problemas apontados coincidem com freqüentes críticas feitas à qualidade do sistema educacional brasileiro: falta de significado do ensino proferido, indisciplina, falta de apoio ao trabalho docente, necessidade de revisão do papel do professor etc. Igualmente, a profusão de visões identificadas por Lim (2005), que procura caracterizar o debate atual sobre a educação sul-coreana, encontra similaridade quanto à diversidade de visões presentes no debate brasileiro. Neste sentido, vale lembrar que as discussões em torno da qualidade da educação confundem-se com a própria história do pensamento educacional, ou seja, com o papel que se pretendeu que a educação cumprisse em diferentes contextos e épocas. É preciso salientar, ainda, que apesar das semelhanças nas trajetórias dos dois países, muitas diferenças podem ser observadas no tocante ao modelo de desenvolvimento escolhido. Neste sentido, o governo sul-coreano foi um ator fundamental para que desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e acúmulo do recurso conhecimento caminhassem juntos. Em primeiro lugar, reformas que garantiram uma melhor distribuição da renda, como a reforma agrária, foram implementadas logo no início do processo reformista o que, aliado ao acesso ao ensino fundamental, garantiu a redução das desigualdades e um contexto de maiores oportunidades a todos. O foco na política exportadora e no desenvolvimento tecnológico, intensivos na absorvição de em mão-de-obra capacitada, incorporaram trabalhadores que investiram em sua escolarização. Neste sentido, a complementaridade entre o modelo econômico escolhido e o incentivo ao investimento em educação por parte dos estudantes e suas famílias foram fundamentais para o desenvolvimento sul-coreano, criando um circulo virtuoso altamente favorável ao país. Portanto, para além de análises que, de forma direta creditam o sucesso econômico sulcoreano à educação, deve-se considerar um processo mais amplo de medidas levadas adiante naquele país e que serviram de estímulo à escolarização por parte da população. Situando o tema dessa forma, os aspectos a aqui enfocados não tiveram por pretensão reduzir a educação no que se refere às suas dimensões e possibilidades, já aprofundadas por diversos autores em reflexões que geraram um significativo acúmulo teórico neste campo. Em outras palavras, pretendeu-se aqui focar alguns elementos que servissem para iluminar aspectos específicos relativos ao debate sobre o sistema educacional sul-coreano e que servissem para orientar possíveis reflexões sobre a realidade educacional brasileira. 8 NOTAS 1 Na Dinamarca e na Suécia, por exemplo, são gastos pelo governo, respectivamente, 8,5% e 7,7% do PIB (UNDP, 2005). 2 Nesta análise, o total de 8,9% de investimentos privados dividia-se da seguinte forma: 2,3% em taxas escolares (tuition fees), 3,2% em aulas particulares (private tutoring) e 3,4% em gastos com materiais, livros e papelaria, uniformes, transporte, alimentação e alojamento (BANCO MUNDIAL, 2000). 3 Quanto aos níveis do sistema educacional sul-coreano, ele é dividido da seguinte forma: seis anos de primary school, três anos de middle school, três anos de high school (correspondente ao ensino médio brasileiro) e ensino superior. 4 O PISA foi lançado pela OCDE (Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica), em 1997. Os resultados obtidos nesse estudo têm por pretensão ajudar no monitoramento de sistemas educativos, avaliando o desempenho dos alunos sob um determinado conceito aceito internacionalmente. A sua aplicação ocorre em ciclos de 3 anos: na primeira edição, no ano 2000, objetivou avaliar principalmente habilidades de leitura. O estudo envolveu, então, cerca de 265 mil alunos de 15 anos, de 32 países, 28 dos quais membros da OCDE. Já o PISA 2003 contou com a participação de 41 países, incluindo a totalidade dos membros da OCDE (30), envolvendo mais de 250 mil alunos de 15 anos. O estudo deu um maior enfoque à matemática e, em segundo plano, leitura e ciências, bem como a resolução de problemas. No PISA 2006 houve preponderância de ciências, contando com a participação de cerca de 60 países, envolvendo mais de 200 mil alunos de 7 mil escolas (OECD, 2007). 5 Em 1991, ocorreu a separação do Ministério da Educação do antigo ministério que reunia educação e cultura sob uma mesma pasta. Dez anos depois, em 2001, uma nova reestruturação foi implementada, passando o Ministério a se chamar “Ministério da Educação e Recursos Humanos para o Desenvolvimento. Juntamente a esta mudança, o cargo de ministro da educação passou a ter o status de “Deputado Primeiro Ministro” (Deputy Prime Minister), sendo este responsável por outros ministérios do governo, coordenando as políticas relativas aos recursos humanos destinados ao desenvolvimento do país (KEDI, 2001). BIBLIOGRAFIA BANCO MUNDIAL. Republic of Korea: Transition to a Knowledge-Based Economy. Report No. 20346-KO. June 29, 2000. East Asia and Pacific Region – World Bank. BAUMANN, Renato. “Coréia – Uma opção pelo mercado externo”. Apresentação em Seminário IPRI/Capes, Rio de Janeiro, 2000 (www2.mre.gov.br/ipri/Coréia/Baumann.rtf). CANDOTTI, Ennio. “Educação e Movimentos (ftp.unb.br/pub/UNB/ipr/rel/ipri/2000/2621.pdf). Sociais na Coréia do Sul” FLEURY, Maria Tereza Leme; MATTOS, Maria Isabel Leme de. Sistemas educacionais comparados. Estudos Avançados, vol.5 n.12. São Paulo, Mai/Aug. 1991. IBGE. Estatísticas do século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. INEP. Sinopse Estatística da Educação Básica: censo escolar 2005. Brasília: INEP, 2006. INEP. Sinopse Estatística da Educação Superior – Graduação. Brasília: INEP, 2006b. KEDI (Korean Educational Development Institute). The Development of Education. National Report of the Republic of Korea. May, 2001. KIM, Young-Chul; RHEE, Byung-Shik. International Trends of Regulatory Reform in Education. KEDI / RR / 2002-16. 9 KIM, Su Ki. Globalization, Statist Political Economy, and Unsuccessful Education Reform in South Korea, 1993-2003. EPAA – Education Policy Analysis Archives (A Peer-Reviewed Scholarly Journal), vol.13, n.12, 2005. KIM, Gwang-Jo. Education Policies andReform in South Korea IN Secondary Education in Africa: Strategies for Renewal, s/d. KIM-RENAUD Young-Key et al. Korean Education. The Sigur Center Asia Papers. The George Washington University, 2005. LIM, Jae Hoon. Class Reproduction and Competing Ideologies in Korean K-12 Education: A Critical Discourse Analysis on “School Collapse” Between 1999 and 2001 IN KIM-Renaud Young-Key et al. Korean Education. The Sigur Center Asia Papers. The George Washington University, 2005. MOE (Ministry of Education & Human Resources Development)/KEDI (Korean Educational Development Institute). Brief Statistics on Korean Education 2005. Seoul: KEDI/MOE, 2005. MONTGOMERY, Mark; ARENDS-KUENNING, Mary; METE, Cem. “The QuantityQuality Transition in Asia”. Population and Development Review, Vol 26, Supplement: Population and Economic Change in East Asia (2000). P. 223-256. OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development). Reviews of National Policies for Education – Korea. Paris: OECD, 1998. OLIVEIRA, Amaury Porto de. Coréia do Sul e Taiwan enfrentam o desafio da industrialização tardia. Estudos Avançados. vol.7 no.17 São Paulo Abr. 1993. TERRA, José Cláudio Cyrineu; WEISS, James Manoel Guimarães. Rumo à “Sociedade do Conhecimento”: as trajetórias do Brasil e da Coréia do Sul. Artigo Científico: XXII Simpósio de Gestão da inovação Tecnológica. Bahia, 2002. UNDP (United Nations Development Program). Human Development Report 2005. New York: UNDP (2005). YANG, Sung-Shil; LEE, Hye-Young; RYU, Bang-Ran. Research on How to Make Scholl Education Substancial. KEDI / RR / 2001-16. YOON, Jong-Hyeok; NA, Jeong; KIM, Jeong-Nae. Strategies of Success to Advance Educational Reform in Korea. KEDI / RR / 2002-13. 10
Download