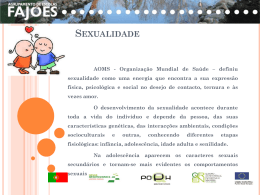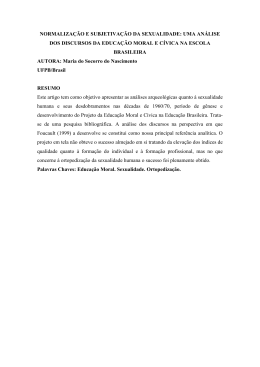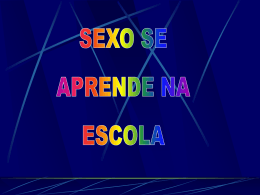Direitos sexuais: entre sujeitos e princípios (comunicação oral) Adriana Vianna (Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Centro Latino Americano em Direitos Humanos e Sexualidade) Introdução: As considerações que vou apresentar hoje aqui são fruto, em boa medida, das investigações e debates que têm sido promovidos pelo Centro Latino Americano em Direitos Humanos e Sexualidade - CLAM ou para as quais alguns de nós têm sido convidados. Ao longo do ano passado foi publicado um mapeamento dos direitos sexuais no Brasil, enfatizando sobretudo o estado atual da legislação. A montagem desse panorama foi feita com o objetivo, em primeiro lugar, de oferecer um quadro de diferentes “temas” ou “problemas” usualmente compreendidos sob a rubrica dos “direitos sexuais”. Uma vez fechada essa etapa, porém, questões têm surgido e sido discutidas em diferentes oportunidades e é sobre algumas delas que pretendo falar aqui. Embora eu me responsabilize integralmente pelo que vai ser dito - ou seja, não pretendo dividir as “culpas” com ninguém mais - gostaria de dizer que essas considerações iniciais não são exatamente individuais, já que, como disse, elas vêm surgindo de diferentes debates. Direitos ou políticas sexuais? Uma primeira questão a ser colocada em relação ao tema dos direitos sexuais diz respeito ao conjunto de questões que podem ser consideradas como incluídas no escopo desses direitos. Isso supõe diferentes problematizações, inclusive com relação ao universo mesmo dos “direitos”. Vou começar, então, com o que poderia ser definido de forma genérica como sendo “política sexual”, para a partir daí derivar algumas discussões relativas aos direitos sexuais. Política sexual pode ser inicialmente definida como todo tipo de intervenção - leis, políticas públicas, decisões jurídicas - promovida pelo Estado ou sob sua chancela com o duplo objetivo de regular práticas erótico-sexuais e expressões da sexualidade, por um lado, e de gerir as conseqüências dessas práticas, como reprodução e doenças sexualmente transmissíveis, por outro. Desse modo, ao menos quanto ao seu escopo, as políticas sexuais dizem respeito a múltiplas questões, como censura, pornografia, expressões públicas de afeto, casamento e formas de união entre pessoas do mesmo sexo, prostituição, idade de consentimento, crimes sexuais etc. Poderíamos dizer que seriam a parte mais formalizada e visível do dispositivo da sexualidade, no sentido postulado por Foucault. De modo geral, sua ênfase têm sido colocada historicamente na divisão entre um sexo/sexualidade legítimo e “normal” (em geral heterossexual, procriativo e monogâmico), que deve ser promovido e protegido pelo Estado, e um sexo/sexualidade ilegítimo ou “anormal” frente ao qual os Estados têm reagido a partir de diferentes lógicas (algumas vezes articuladas entre si). Entre tais lógicas, temos a da repressão - criminaliza-se o aborto, a prostituição, a sodomia, a poligamia, a homossexualidade. Uma outra caracteriza-se pelo não-reconhecimento público, que joga a “má sexualidade” para a esfera privada, sem reconhecê- la publicamente. Finalmente teríamos a lógica da defesa social que, sem ignorar o estatuto imoral ou anormal de certos comportamentos, passa a geri- los a partir de suas conseqüências em nome de interesses mais abrangentes, como a saúde pública, a espécie ou a nação. Nesse caso, é possível apontar que há uma certa positividade no sentido de reconhecer o universo da sexualidade desviante. A lógica da defesa social, aliada à do não reconhecimento público, tem configurado, do século XIX até o pós-segunda guerra, a estratégia brasileira e de muitos outros países para a regulação da sexualidade. No interior dessa lógica, a saúde e o comportamento sexualmente moralizado ou “normal” não se apresentam como direitos, mas como deveres. Os doentes não têm direito ao tratamento, mas sim a obrigação de se manterem não contagiantes. Em nome da saúde coletiva, da raça e da nação, os indivíduos estariam obrigados a serem saudáveis e a manterem determinada conduta sexual. Tal lógica atinge, inclusive as possibilidades de regulação da sexualidade desviante, como no caso do tratamento de doenças venéreas de prostitutas ou na assistência à maternidade, nascida da preocupação com a raça e a coletividade. Os direitos sexuais como direitos humanos Contra as lógicas da repressão e da defesa social, assistimos à emergência da concepção de direitos sexuais que, por sua filiação aos direitos humanos, humanos inscreve as políticas sexuais em uma linguagem específica. Gostaria aqui de salientar alguns pontos da trajetória dos direitos humanos que, embora já bastante conhecidos dos que aqui estão, são relevantes para algumas discussões a serem feitas mais à frente. O primeiro desses pontos diz respeito à dupla dimensão dos direitos humanos, usualmente tratada através da idéia de direitos de primeira e segunda gerações. Os de primeira geração correspondem essencialmente aos direitos centrados na concepção de liberdade, ou seja, na defesa dos direitos individuais de expressão, associação etc, traduzindo a “herança lockeana” que distingue os direitos do indivíduo dos deveres do súdito. Seu “tom”, portanto, é o do combate ao exercício abusivo do poder notadamente do poder de Estado - em relação às escolhas individuais. Já os de segunda geração centram-se na importância dos direitos sociais como fundamentais à dignidade humana. Nesse caso, portanto, está em jogo a necessidade não apenas de combater usos excessivos e repressores do poder, mas de promover e proteger direitos cruciais ao indivíduo. Essa dupla dimensão é sublinhada em diferentes documentos constituintes dessa trajetória dos direitos humanos a partir de 1948, como no caso dos dois Pactos de 1966, ou da Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, de 1993, que reafirma a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos. O segundo ponto a ser destacado diz respeito ao processo de especificação que os direitos humanos foram sofrendo ao longo desses mais de 50 anos. Partindo de uma concepção genérica do indivíduo - ou Homem - sucessivas declarações, convenções e conferências internacionais foram se voltando para novos sujeitos de direito, concebidos como igualitários em uma perspectiva mais geral, mas sendo portadores de demandas ou especificidades que exigiriam tratamento diferenciado. Encontram-se nesse quadro os diferentes textos voltados para a problemática da mulher, da criança, das minorias étnicas e culturais etc. Assim, é importante notar, nesse quadro, que o discurso dos direitos humanos não apenas tensiona a lógica da repressão, como ocorre no caso dos direitos civis e políticos, mas obriga a uma rearticulação da lógica da defesa social. Em lugar das obrigações perante à coletividade, que justificariam tanto ações repressivas (como no caso dos crimes de contágio), quanto protetivas (os já citados direitos da maternidade), estaria em jogo uma composição de direitos centrados na liberdade e na dignidade dos indivíduos, frente aos quais o Estado seria instado a se posicionar. Uma forma de tornar isso mais claro é recorrer, mesmo que rapidamente, às grandes conferências de direitos humanos que explicitam a inclusão da sexualidade como parte integrante de tais direitos: a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, ocorrida no Cairo em 1994, e a IV Conferência Internacional Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim no ano seguinte. Embora na conferência do Cairo a terminologia centrada na reprodução tenha prevalecido, inclusive por razões estratégicas, a ênfase na noção de direitos reprodutivos - e não saúde reprodutiva - encontra-se diretamente ligada ao direito de “decidir livre e responsavelmente o número de filhos, o espaçamento dos nascimentos e o momento de tê- los”, bem como o acesso à informação para fazê- lo. Destacam-se, portanto, simultaneamente a capacidade de livre escolha dos indivíduos e a obrigação dos Estados em fornecer possibilidades para que essa escolha se realize. Um outro ponto que merece ser destacado, sobretudo em comparação com o texto produzido em Viena um ano antes, é a inclusão do “sexual” como algo ligado ao bem estar dos indivíduos, e não apenas ao plano da violência sexual. Isso se estenderia, inclusive, aos adolescentes, que são citados no Cairo como devendo ser capazes de “assumir sua sexualidade de modo positivo e responsável”. Alguns desses pontos são retomados e desenvolvidos em Pequim. Em parágrafo bastante conhecido, a plataforma de Pequim define que “os direitos humanos da mulher incluem seu direito a ter controle sobre aspectos relativos à sexualidade, incluída sua saúde sexual e reprodutiva, e decidir livremente a respeito dessas questões, sem estarem sujeitas à coerção, discriminação e violência”. Assim, o foco da formulação centra-se, obviamente, dado o caráter da Conferência, na preocupação mais ampla de combate à discriminação e à violência cometidas contra me ninas e mulheres. O que me parece ficar claro com esses exemplos rápidos, é a que mudança na lógica da defesa social operada a partir dos direitos humanos depende de um deslocamento da concepção de responsabilidade que, tomada como fiel da balança entre a liberdade individual e os direitos e deveres coletivos, aparece como o único critério capaz de preservar o valor da livre escolha individual em meio às preocupações com a gestão das populações. A adequação da temática da reprodução ou da sexualidade ao universo dos direitos humanos depende, nesse sentido, da capacidade de fazê-la compor-se com a idéia da liberdade individual, entendida como a possibilidade de que os indivíduos não apenas façam escolhas, mas as façam de acordo com um ideário de responsabilidade para consigo mesmos e para com os demais. Um exemplo claro disso pode ser obtido com a experiência da AIDS, apontada como o primeiro grande problema de saúde pública (de viés sexual) a ser gerido em consonância com o modelo dos direitos humanos, ou seja, devendo respeitar opções individuais e singularidades culturais, por um lado, e lidar com a saúde como direito, por outro. A articulação política que permitiu, por sua vez, que falasse de direitos de soropositivos, bem como o esforço em denunciar o tratamento estigmatizante presente nas primeiras iniciativas governamentais, desempenhou papel crucial nessa experiência. Por outro lado, tomando ainda a responsabilidade como esse ideal capaz de equilibrar a tensão insolúvel entre liberdade individual e proteção coletiva, cabe indicar que alguns pontos permanecem especialmente sensíveis, como os direitos de escolha e privacidade envolvendo crianças e adolescentes. Ocupando um lugar de liminaridade frente à própria concepção moderna de indivíduo, crianças e adolescentes ora são chamados à pauta dos direitos sexuais como sujeitos de direitos (como nos artigos da Convenção dos Direitos que enfatizam seu direito à privacidade e à confidencialidade), ora como objetos da tutela protetiva de seus responsáveis (incluindo-se aí o direito às crenças religiosas e especificidades culturais das famílias) e, finalmente, como vítimas de exploração sexual e pedofilia. Nesse sentido, acho que pode ser interessante refletirmos sobre certas encruzilhadas nas quais nos encontramos enquanto buscamos construir os direitos sexuais - e, ligados a elas, as políticas sexuais - dentro do escopo dos direitos humanos. Alguns dos pontos mais vitais desse processo, tais como os direitos dos sujeitos minoritários, a combinação entre liberdade e responsabilidade, bem como entre individualidade e proteção, ao mesmo tempo em que formaram a base sobre a qual nos assentamos nas últimas décadas, oferecem limites e, por que não?, armadilhas. Creio que, para essa apresentação, pode ser útil nos centrarmos em dois desses limites, que chamarei aqui de “os riscos da especificação dos sujeitos” e da “emergência de novas políticas moralizantes”. Entre sujeitos e princípios A alteração das políticas sexuais e, mais especificamente, a tentativa de fazê- las convergir com os direitos humanos, deveu-se, em boa medida, a um processo político mais amplo de reconhecimento de direitos minoritários, tanto no plano individual, quanto coletivo. O combate às diferentes formas de discriminação juntou-se historicamente à consolidação de sujeitos portadores de direitos: mulheres, crianças, minorias de modo geral. O reconhecimento de que o “humano” não se reduz ao “Homem” genérico, mas se estilhaça em realidades específicas e em diagramas complexos de subordinação, permitiu que emergissem direitos variados e, sobretudo, que a diversidade de necessidades e situações dos sujeitos fossem colocadas como critérios. Os “direitos das mulheres” constroém-se, desse modo, simultaneamente frente ao indivíduo genérico - e, por isso, fundamentalmente masculino - mas também frente a destinos únicos - maternidade, casamento - apresentados antes como a “fiança” necessária para sua inclusão nas políticas sexuais. A percepção, porém, de que esses novos sujeitos desafiantes - mulheres, crianças, minorias - não são unos, acompanhou perturbadoramente o próprio processo de delimitação de seus direitos. Não à toa, as convenções de direitos humanos dos anos 1990 multiplicaram-se não apenas em temas, mas em volume. Se ao indivíduo abstrato poderiam ser destinados poucos artigos sumários e tais artigos, por sua vez, não necessariamente moldavam de modo estrito as políticas a serem erigidas a partir daí, aos sujeitos específicos/especificados era necessário dirigir uma multiplicidade de diretrizes, procurando simultaneamente contemplar seu caráter abstrato e a diversidade de suas realidades (Conferência de Pequim como melhor exemplo disso). Em que medida, porém, esse processo, especialmente no que diz respeito à produção de políticas específicas, conve rte-se ou pode converter-se em um processo essencialista, em meio ao qual o que é disputado é o direito ao reconhecimento enquanto um sujeito específico? É possível sentir-se contemplado por uma lei, política pública ou ainda, por uma associação política que não enuncie com todas as letras a categoria na qual podemos ser indiscutivelmente representados? Multiplicar-se-ão as letras, siglas e distinções como condição de que novos jogos capilares de poder ou visibilidade não estejam sempre escondendo e submetendo sujeitos? Se o processo de visibilização faz parte da dinâmica de constituição dos sujeitos de direito, é importante pensar também que ele carrega em si um risco de essencialização e de fixidez. O que fazer com aqueles que não desejam identificar-se - ou identificar-se permanentemente - a uma categoria? Como lidar com a diferença de ritmo e velocidade entre a sedimentação expressa pelas leis e políticas públicas e o volátil da vida social? Recorrendo a um exemplo pontual e local, creio que um contraponto interessante pode ser percebido nas diferentes legislações anti-discriminatórias em relação à orientação sexual que vêm surgindo no Brasil recentemente. Enquanto algumas delas esforçam-se por especificar não apenas aqueles que devem ser contemplados (gays, lésbicas, travestis etc), mas cada situação possível, outras (poucas) buscam partir de um desenho mais amplo, capaz de incluir um espectro mais variado de sujeitos e situações, exatamente por não defini- los previamente (um bom exemplo é dado pela lei 11.872/02, do Rio Grande do Sul). É claro que essa diferença não está baseada necessariamente em decisões prévias em relação a que modelo ou a que possibilidade de política sexual desejamos engendrar, mas à dinâmica concreta do jogo político, em que ganhos pontuais e localizados em certos momentos são a única possibilidade. O que procuro destacar aqui é que, mesmo conscientes da dificuldade em fazer convergir “ideal” (e isso quando sabemos o que temos claramente por ideal) em “real”, isso não nos absolve de questionar se estamos buscando uma política centrada sobretudo em sujeitos ou em princípios, algo especialmente relevante quando se fala da construção de direitos sexuais. Que espécies de “pautas transversais” podem ser construídas ultrapassando, sem desconhecer, sujeitos de direito consagrados ou em afirmação? Essas discussões cruzam-se, às vezes, com o que anunciei antes como o risco da emergência de políticas moralizantes. Se parte do processo de construção de direitos é um processo de visibilização e de reconhecimento da legitimidade de outras formas de vivenciar a sexualidade, cabe questionar em que medida essa visibilização/legitimação realiza-se a partir de um complexo jogo normativo, ou melhor, a partir da demonstração da capacidade de participar, de um “lugar” diferenciado, de um mesmo bias normativo mais amplo. Recorrendo novamente ao contexto brasileiro, penso que os melhores exemplos disso encontram-se em algumas conquistas ou projetos de conquista empreendidas pelos movimentos GLBT, como no caso da longa batalha pelo reconhecimento da parceria civil entre indivíduos de mesmo sexo, do direito à adoção por indivíduos homossexuais ou ainda, do direito à operação de transgenitalização e à conseqüente mudança de registro civil de indivíduos transgêneros. Sem desmerecer em absoluto os ganhos políticos de cada uma dessas “frentes de batalha”, cabe pensar sobre o componente moralizante que pode estar presente neste processo. A reivindicação de reconhecimento da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, há longos anos parada no legislativo brasileiro e alvo de ataques contundentes de parlamentares conservadores e, em especial, de lobbies religiosos, ancora-se, em princípio, em um direito de não discriminação, na medida em que questiona a limitação do reconhecimento civil do “casal” (ou dos parceiros), aos heterossexuais. As conseqüências dessa discriminação, por sua vez, estendem-se por um vasto escopo de incômodos e empecilhos cotidianos, chegando a situações limite de perda de patrimônio comum ou de direitos previdenciários e sociais. As estratégias através das quais parte do debate mais amplo sobre tais direitos vem se dando, porém, adquirem contornos em certos momentos profundamente moralizantes que, se por um lado deslocam o eixo normativo do antago nismo hétero x homo, por outro lado estabelecem ou cristalizam novas fronteiras, como as que separam os “estáveis” dos “volúveis”, independente de sua orientação sexual. Nesse caso, cabe indagar sobre as “muitas voltas do parafuso”. Ou seja, em que medida o debate sobre o direito à parceria civil tensiona e coloca em questão a heteronormatividade e em que medida esta pode ser capaz de transmutarse, a partir do momento em que os “bons casais” antagonizam-se aos “maus indivíduos” (“promíscuos”, desejosos de relações assimétricas - por idade, por exemplo, “fluidos” ou “indefinidos” etc). No caso da adoção, recorrendo novamente ao panorama brasileiro, outro elemento se destaca. Como a lei brasileira permite a adoção por indivíduos solteiros, não fazendo explicitamente qualquer restrição à orientação sexual destes, abriu-se um caminho, a partir dos anos 1990, para que homossexuais adotem crianças. Nesse caso, o que vale a pena destacar é o processo de hierarquização que se estabelece em tais situações, como vem sendo apontado por alguns pesquisadores. Um complexo jogo discriminatório ordena o mercado adotivo, de modo que o “direito universal” é disposto a partir de hierarquias envolvendo tanto a orientação sexual daquele que adota, quanto o universo de possibilidades dos que são adotados. Nesse caso, para além de se pensar nas inúmeras estratégias moralizantes acionadas quando as crianças “criaturas liminares” da modernidade - entram em cena, o que se coloca é um processo mais complexo, em que a possibilidade de tolerância frente à orientação sexual torna-se possível por um cálculo de gestão maior. A “defesa social” reorganiza-se, nesse caso, a partir da concessão de um direito que, na prática, dispõe-se discricionariamente tanto em relação a adotantes, quanto a adotáveis. Um último exemplo a ser mencionado diz respeito ao atrelamento do direito de mudança de registro civil de indivíduos transgêneros à sua intervenção cirúrgica. O “direito à cirurgia” afigura-se como condição do “direito ao nome”, incluindo em sua rede, portanto, também aqueles que não desejem a cirurgia. O bem simbólico fundamental - o nome e todo seu universo de documentos - deve ser conseguido após nova essencialização, representada pela readequação do corpo. A patologização da sexualidade, representada pelos laudos psicológicos requisitados, aparece, desse modo, curiosamente conectada com a aquisição de um “direito” e dentro de uma política sexual que se pretende capaz de contemplar a diversidade. Os “fraudadores sexuais” (como os “fraudadores raciais” no processo de cotas em uma universidade específica no Brasil) não podem adquirir este “bem”, sendo necessário provar-se um sujeito inequivocamente classificável para tanto. Em todas essas questões, o denominador comum parece estar em uma pergunta implícita: quem “merece” ter direitos? Tal pergunta, perigosa em sua formulação e nas respostas que pode suscitar, atravessa e sobrevive a diferentes políticas sexuais, desdizendo, no limite, a universalidade desejada para os direitos sexuais em construção. Document created with wvWare/wv ver 0.5.43
Download