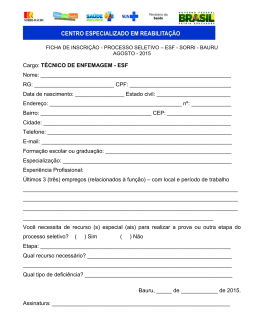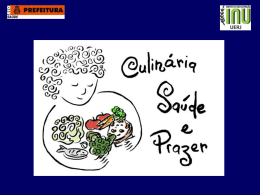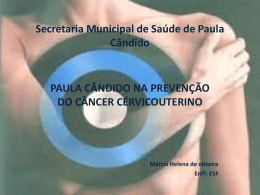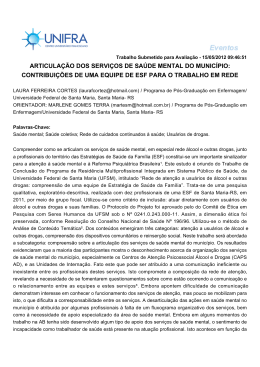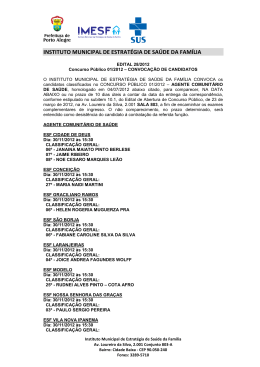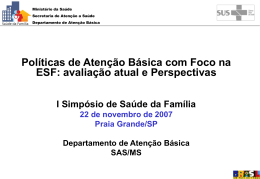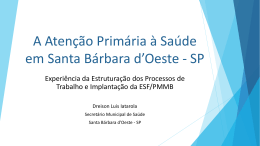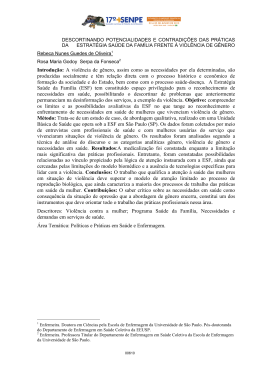SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA PROFESSOR OSVALDO DE OLIVEIRA MACIEL CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA SAIONARA VITÓRIA BARIMACKER MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO PARA MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DA PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, CHAPECÓ – SANTA CATARINA Florianópolis 2012 SAIONARA VITÓRIA BARIMACKER MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO PARA MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DA PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, CHAPECÓ – SANTA CATARINA Monografia apresentada à Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Mestre Osvaldo de Oliveira Maciel – Curso de PósGraduação Lato Sensu em Saúde Pública, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Saúde Pública. Orientador: Professor Dr. Áureo dos Santos Florianópolis 2012 B252m Barimacker, Saionara Vitória. Método Altadir de planificação popular como instrumento para melhoria a resolutividade da promoção da saúde na Estratégia de Saúde da Família do bairro Jardim América, Chapecó – Santa / Saionara Vitória Barimacker – Florianópolis: Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Osvaldo de Oliveira Maciel, 2012. 106 p. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização (Especialização em Saúde Pública)-Pós-Graduação em Saúde Pública, Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Osvaldo de Oliveira Maciel. “Orientação: Dr. Áureo dos Santos, Curso de PósGraduação em Saúde Pública” Inclui referências 1. Promoção da saúde. 2. Saúde da família. 3. Planejamento estratégico. I. Barimacker, Saionara Vitória. II. Escola de Saúde Pública Professor Osvaldo de Oliveira Maciel. III. Título CDU: 616-083 SAIONARA VITÓRIA BARIMACKER MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO PARA MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DA PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, CHAPECÓ – SANTA CATARINA Monografia apresentada à Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Mestre Osvaldo de Oliveira Maciel – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Pública, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Saúde Pública, conferida pela Banca Examinadora formada pelos professores: Profª. Cleonete Argenta, Esp. Coordenador do Curso Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Osvaldo de Oliveira Maciel Prof. Áureo dos Santos,Dr. Orientador Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Osvaldo de Oliveira Maciel Profª. Eliane Maria Stuart Garcez, Dra. Avaliador Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Osvaldo de Oliveira Maciel _________________________________________________________ Profª Eliane Maria Stuart Garcez, Dra. Avaliador Disciplina Metodologia da Pesquisa Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Osvaldo de Oliveira Maciel Florianópolis, 03 de setembro de 2012. Dedico este trabalho a minha família por todo o apoio para que este curso fosse concluído. Esta que me incentivou a nunca desistir desde que relatei a inscrição para concorrer uma vaga neste curso. AGRADECIMENTOS Agradeço ao professor orientador Dr. Áureo dos Santos, pelas sugestões e críticas que contribuíram no enriquecimento do projeto, também pela paciência e compreensão nos erros e certos durante o seu desenvolvimento. A até então coordenadora da unidade de saúde, Manoela Vier Winter por ter permitido a utilização dos dados da unidade para que a realização do trabalho fosse possível, sem mesmo temer as possíveis críticas. Aos colegas servidores da Secretaria Municipal de Saúde do município de Chapecó pela colaboração na coleta de dados necessários, os quais foram de suma importância no desenvolvimento do projeto. Também agradeço à professora Cleonete Argenta por todo o carinho e atenção dada a todos os momentos no decorrer do curso de especialização. Agradeço ainda, a minha amiga de uma vida toda Tamiris Cristina Birck pela sua amizade e carinho, pelo companheirismo nesta trajetória na vida e nos estudos. “As origens e concepções da promoção de saúde estão intimamente relacionadas à vigilância em saúde e a um movimento de crítica à medicalização do setor. Supõe uma concepção que não restrinja a saúde à ausência de doença, mas que seja capaz de atuar sobre seus determinantes, extrapolando a prestação de serviços clínicoassistenciais e propondo ações intersetoriais que envolvam a educação, o saneamento básico, a habitação, a renda, o trabalho, a alimentação, o meio ambiente, o acesso a bens e serviços essenciais, o lazer, entre outros determinantes sociais da saúde” SICOLI; NASCIMENTO, 2003. RESUMO A política de promoção da saúde se intensifica no Brasil a partir do ano de 2008, porém ainda existem hiatos que oferecem dificuldades aos profissionais no sentido fazê-la acontecer com efetividade no âmbito da Estratégia Saúde da Família. Nesse contexto, o presente estudo objetiva utilizar o Método Altadir de Planificação Popular na perspectiva de estimular o aumento da resolutividade das ações de Promoção da Saúde no âmbito da ESF do Bairro Jardim América, Chapecó. A problemática envolve a existência de muitos condicionantes sociais que interferem no equilíbrio do processo saúde-doença dessa população, com carências importantes nas estratégias e práticas de promoção da saúde. A revisão de literatura abordou relevâncias no contexto da Estratégia Saúde da Família; promoção da saúde; Núcleo de Apoio a Saúde da Família; diagnóstico de saúde da comunidade; a família e suas necessidades básicas; função do planejamento estratégico; atenção primária, Método Altadir de Planificação Popular. Enquanto método, este estudo se apropriou e utilizou o Método Altadir de Planificação Popular como elemento do Planejamento Estratégico para a realização de diagnóstico de saúde da comunidade alvo, visando a delimitação de ações passíveis de modificar a realidade dessa mesma população a partir da educação em saúde, do auto-cuidado e das ações de prevenção de doenças e agravos evitáveis. Como consequência vislumbrou contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população circunscrita contemplando uma abordagem inter-setorial com o apoio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Ao final ficou a compreensão de que não basta apenas ter boa vontade, é preciso planejar e sensibilizar os co-participantes no sentido de fazê-los tomar parte, fazer parte e ter parte no processo para a consolidação de um sistema de saúde mais humano e resolutivo em todas as suas dimensões. Palavras chave: Promoção da saúde. Saúde da família. Planejamento estratégico. ABSTRACT The politics of health promotion in Brazil intensifies from de year 2008, but there are still gaps that present difficulties for professionals in order to make it happen to effectiveness in the Family Health Strategy (FHS). In this context, the study aims to use the Method of Plannig Altadir People (MPAP) in view of encouraging the increase of the solving actions in the health promotion in the framework of Family Health Strategy Jardim América, Chapecó. The problem involves the existence of many social problems that affect the balance of the health-disease in this population, with major shortcomings in the strategies and practices of health promotion. The literature review addressed relevance in the context of the FSH; health promotion; Support Center for Family Health (SCFH); diagnosis of community health; the family and their basic needs; function of strategic planning; primary care, MPAP. While method, this study used the MPAP appropriated as part of Strategic Planning for the implementation of health diagnosis of the target community, limiting actions that may change the reality of the same population from the health education, self-care and of prevention of disease and preventable diseases. As a consequence contributes to improving the quality of life circumscribed contemplating a inter-sectoral with a help of SCFH. At the end it was Understood That It is not enough to have goodwill, it is Necessary to plan and co-sensitize the participants in order to make Them take part, take part and have a part in the process That These are extremely important in the consolidation of the health system more humane and resolute. Keywords: Health promotion. Family health. Strategic plannig. LISTA DE ILUSTRAÇÕES Quadro 1: Árvore da situação objetivo. ........................................................54 Gráfico 2: Sexo X Idade. ..............................................................................65 Gráfico 3: Doença ou condição referida. ......................................................67 Gráfico 4: Destino do Lixo. ...........................................................................70 Gráfico 5: Abastecimento de Água. ..............................................................71 Gráfico 6: Destino das fezes e urina. ...........................................................72 Gráfico 7: Grupos comunitários. ...................................................................73 Gráfico 8: Consulta médica por faixa etária. ................................................76 Gráfico 9: Encaminhamentos. ......................................................................78 Gráfico 10: Visitas domiciliares. ...................................................................79 Gráfico 11: Vacinas. .....................................................................................82 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ACS Agente Comunitário de Saúde CEIM Centro de Educação Infantil Municipal CFB Constituição Federal Brasileira CS Centro de Saúde da Família ESF Estratégia Saúde da Família HIPERDIA Sistema de Cadastramento e Acompanhamento Hipertensos e Diabéticos IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística MAPP Método Altadir de Planificação Popular MS Ministério da Saúde NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família PACS Programa de Agentes Comunitárias de Saúde PSF Programa Saúde da Família SIAB Sistema de Informação da Atenção Básica SUS Sistema Único de Saúde VDP Vetor de Descrição do Problema VDR Vetor de Descrição de Resultado de SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ..........................................................................................23 1.1 JUSTIFICATIVA .....................................................................................25 1.2 QUESTÃO DA PESQUISA .....................................................................25 1.3 CATEGORIAS DE ASSUNTO ................................................................26 1.4 OBJETIVOS ...........................................................................................26 1.4.1 Objetivo Geral ....................................................................................26 1.4.2 Objetivos Específicos .......................................................................26 2 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A SAÚDE COLETIVA ........................29 2.1 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ......................................................30 2.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE .......................................................................31 2.3 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA ........................................33 2.4 DIAGNÓSTICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE ...................................34 2.4.1 A Família e suas Necessidades Básicas .........................................35 2.5 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ...........................................................42 2.5.1 Visita Domiciliar .................................................................................43 2.5.2 Imunização 45 2.5.3 Mapeamento da Comunidade ...........................................................45 2.5.4 Sistema de Informação de Atenção Básica ....................................46 2.6 A FUNÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ..............................48 2.7 MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO POPULAR ............................52 2.7.1 Como Aplicar o Método ....................................................................52 3 METODOLOGIA .......................................................................................57 3.1 POPULAÇÃO-ALVO ..............................................................................57 3.1.1 Critério de Inclusão/Exclusão da Amostra .....................................58 3.2 MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................................58 3.3 ANÁLISE DOS DADOS ..........................................................................62 3.4 PROCEDIMENTOS................................................................................ 63 3.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS .................................................................. 63 4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS ............................. 65 4.1 ANÁLISE SITUACIONAL DA COMUNIDADE ........................................ 65 4.2 APLICAÇÃO DO MAPP ......................................................................... 82 5 CONCLUSÕES ......................................................................................... 89 REFERÊNCIAS ............................................................................................ 93 APÊNDICES ................................................................................................ 97 APÊNDICE A – Roteiro de Coleta de Dados da Ficha A ............................. 98 APÊNDICE B – Roteiro para Coleta de Dados do “Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação ................................................. 100 APÊNDICE C – Roteiro de Coleta de Dados dos Relatórios Mensais Extraídos do Sistema Municipal de Prontuário Eletrônico ........................... 102 APÊNDICE D - Instrumento de coleta de dados dos relatórios provenientes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária do município Quanto a Cobertura Vacinal - Doses Utilizadas X Doses Aplicadas............ 103 APÊNDICE E - Instrumento de Coleta de Dados a partir da Observação do Território .................................................................................................. 105 23 1 INTRODUÇÃO O Centro de Saúde da Família Jardim América (CSF) possui duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), onde a alguns meses foi implantado um Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). Em sua área de abrangência a população é acometida por muitos problemas sociais, os quais interferem negativamente sobre o seu estado de saúde, fato este que aliado a falta de projetos referentes à promoção da saúde, bem como a escassez de recursos humanos, acaba por aumentar a demanda de usuários na unidade em busca destas ações curativas. Com isso, o paciente fica fragmentado em partes a serem tratadas, onde não há nenhum meio que se possa contar para tratá-lo como um ser biopsicossocial. Devido a situações como esta, o Sistema Único de Saúde (SUS) tenta superar a fragmentação dos serviços de saúde com a implementação das ações programáticas. Para tanto, preconiza que as instituições de saúde se utilizem do perfil epidemiológico e demográfico na elaboração de um diagnóstico situacional, que servirá de base para um plano de ações de promoção, prevenção e tratamento de saúde (CASTRO; MALO, 2006). Sem esse diagnóstico não se concebe um trabalho confiável de cuidados em saúde, o qual envolve a participação popular, a abordagem inter-setorial e a descentralização das políticas de saúde (NERY; VANZIN, 2002). Para Tunes (1995) quando se tem um diagnóstico como ponto de partida para o trabalho de saúde: [...] As ações são planejadas, decididas e realizadas em comum, entre profissionais e comunidade, a partir de uma identificação local de problemas e recursos, de uma adaptação das prioridades do município às políticas de saúde estaduais e federais. [...] Dificilmente os 24 trabalhadores de saúde auxiliam na resolução dos problemas da comunidade, já que só trabalham no sentido de curar doenças, não verificam quais são as condições de vida, e de que maneira poderiam evitar essas doenças. (p. 9). Neste contexto, segundo Tancredi; Barrios; Ferreira (1998), o planejamento serve exatamente para a efetivação deste diagnóstico na tomada de decisões mais pertinentes na resolução dos problemas levantados, as quais irão auxiliar no acordo entre os vários atores sociais para a realização das ações pensadas. Ainda para os autores no setor da saúde, ele se torna “um instrumento que permite melhorar o desempenho, otimizar a produção e elevar a eficácia e eficiência dos sistemas no desenvolvimento das funções de proteção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde”. Mesmo assim, ainda existem gestores municipais de saúde que não conseguem definir claramente aonde desejam fazer chegar o sistema que dirigem, até sabem o que querem fazer, mas nem sempre compreendem quais os meios de melhor conduzi-lo para alcançar os resultados e efeitos desejados. O método Altadir de Planificação Popular (MAPP) vem auxiliar neste contexto para melhorar a relação da população com o gestor, mostrando de uma forma mais segura quais as suas necessidades. O gestor pode então, juntamente com a equipe, identificar se os problemas que lhe são trazidos interferem realmente na situação de saúde e bem estar desta população. Na unidade de saúde em questão, poucos projetos referentes à promoção da saúde foram elaborados, e dentre os desenvolvidos, todos eles, pensados a partir de um conhecimento empírico da Equipe de Saúde, sobre as necessidades da população, sem que houvesse um levantamento das reais necessidades da comunidade. Contudo, a problemática do presente estudo consiste em, a 25 partir do diagnóstico de saúde desta comunidade, realizar um planejamento estratégico por meio do MAPP. O qual conduzirá as ações que possam efetivamente modificar a realidade, no sentido de melhorar a qualidade de vida da população em uma abordagem intersetorial. 1.1 JUSTIFICATIVA A escolha do tema a ser trabalhado foi atribuído a uma necessidade cotidiana em se investir nas ações de promoção da saúde, aonde o planejamento estratégico serve como um norteador das práticas preventivas de situações que põe em risco a saúde de uma comunidade, uma vez que não se pode promover a saúde de uma população sem ao menos conhecer as causas desencadeadoras das doenças. A contribuição dessa pesquisa consiste na formulação de ações acerca da promoção da saúde a serem implementadas nesta comunidade, tendo como princípio a educação em saúde, o autocuidado e as ações de prevenção de doenças e agravos evitáveis. Para que isso seja possível, o MAPP será uma ferramenta de grande valia em todo o processo, desde o levantamento das reais necessidades, até o estabelecimento do que é possível realizar e se é interessante para ambos os atores envolvidos. 1.2 QUESTÃO DA PESQUISA É possível, através do acesso a informações e a medidas preventivas contextualizadas em ações de promoção de saúde, conseguir mudar os paradigmas de uma comunidade habituada com o 26 modelo biomédico? 1.3 CATEGORIAS DE ASSUNTO As categorias de assunto que nortearão o processo consistem em: a) Dados epidemiológicos no planejamento de uma Estratégia Saúde da Família; b) Promoção da saúde; c) Planejamento estratégico; d) Método Altadir de Planificação Popular. 1.4 OBJETIVOS 1.4.1 Objetivo Geral Utilizar o Método Altadir de Planificação Popular na perspectiva de estimular o aumento da resolutividade nas ações de Promoção da Saúde no âmbito da Estratégia Saúde da Família do Bairro Jardim América, Chapecó. 1.4.2 Objetivos Específicos a) Identificar o perfil epidemiológico da população assistida pela Estratégia Saúde da Família no Bairro Jardim América; b) Identificar e explicar os problemas que afetam a efetivação da Promoção da Saúde; c) Permitir a participação popular e das equipes de saúde no processo de elaboração do plano; 27 d) Elaborar um plano de aplicação para combater as causas fundamentais dos principais problemas. 28 29 2 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A SAÚDE COLETIVA A saúde coletiva preventivista no Brasil começa a ser discutida a partir de 1955 com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, a qual passa a criticar a forma pedagógica do modelo biomédico instalado no período. Resultado disso foi a criação do departamento de medicina preventiva e social nas escolas médicas e a implantação de disciplinas como a epidemiologia, a bioestatística, as ciências de conduta e a administração dos serviços de saúde (NUNES, 1994). Tais mudanças ocorreram após o término da segunda guerra mundial, devido ao processo de industrialização, os seres humanos passam a ser observados no campo biopsicossocial e começam a existir os trabalhos pedagógicos fora do hospital, criando-se os trabalhos comunitários (NUNES, 1994). A partir daí, segundo Andrade; Bueno; Bezerra (2006), a ESF surge para ajudar a mudar esta forma de prestação de serviços à saúde, que até o momento estava embasada no modelo biomédico. Hoje as suas ações devem estar voltadas a promoção da saúde e prevenção das doenças de modo a consolidar os princípios do SUS. Ela deve priorizar a atenção às populações consideradas de maior risco a desenvolverem agravos à saúde, colocando em prática o princípio do SUS da eqüidade. Hoje a saúde pública é elaborada de modo a organizar a sociedade com o objetivo de promover a saúde e permitir que pessoas ou grupos assumam, através da educação, a responsabilidade e o controle dos seus próprios processos de saúde e doença (NERI; VANZIN, 2002). Ainda, segundo as autoras a saúde pública contribui para que a qualidade de vida da população seja melhorada, e que os fatores que causam danos coletivos possam ser limitados através da diminuição 30 dos quais afetam o micro-ambiente ou ambiente imediato. Atualmente, conforme encontrado em uma descrição de um trabalho acadêmico elaborado por Neves (2008), onde a autora percebe que nas unidades em que não há planejamento em saúde, o modelo de atenção biomédico continua a ser o principal norteador para as ações em saúde, ficando a ESF em um segundo plano. Isso demonstra que apesar dos avanços nas políticas de saúde, ainda pode-se observar e encontrar relatos na literatura fatos que nos remetem a importância de se continuar procurando meios de efetivar a ESF e buscar constantemente a melhoria da Saúde Coletiva. Para tanto, uma das maneiras é planejar as ações e renová-las a todo o momento, adequando-as à realidade. 2.1 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA O Programa de Saúde da Família (PSF) teve início em 1993, mas regulamentado apenas em 1994 como uma estratégia do Ministério da Saúde (MS) (DA ROS, 2006). A partir disso, ocorreu à implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), em janeiro de 1994 foram formadas as primeiras equipes, onde cada agente era responsável para acompanhar cerca de 575 pessoas dentro da área da comunidade trabalhada (COSTA; CARBONE, 2004). Após este, foi criado pelo Ministério da Saúde em 1998 a ESF, a qual tem como principal objetivo contribuir para a organização do modelo assistencial a partir da atenção básica, a qual deve estar em conformidade com os princípios do SUS (FIGUEIREDO, 2005). A Saúde da Família e é entendida pelo Ministério da Saúde (2011) como “uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde”. O autor ainda descreve que estas 31 equipes devem ser responsáveis pelo acompanhamento de um número pré-definido de famílias de uma determinada área geográfica delimitada. Ainda, as equipes de ESF devem atuar desenvolvendo ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade (BRASIL, 2011), almejando a integralidade da assistência ao usuário como sujeito integrado à família, ao domicílio e à comunidade (DA ROS, 2006). A ESF visa prestar assistência na unidade da saúde e desenvolver ações de saúde no domicílio, através de uma perspectiva integral onde todos os membros da família são acompanhados. Esse programa intervém sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta e ainda estimula a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social (FIGUEIREDO, 2005). Os agentes comunitários de saúde desenvolvem suas ações nas famílias de suas respectivas áreas e participam da programação da sua unidade de saúde. Além disso, devem mapear sua área, cadastrar as famílias, identificar situações de risco, realizar visitas domiciliares, desenvolver ações básicas de promoção de saúde e prevenção, promover educação em saúde e informar a equipe sobre os problemas da sua área (COSTA; CARBONE, 2004). 2.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE No ano de 1998 o MS institui um projeto intitulado “Projeto Promoção da Saúde”, este que seria o princípio da elaboração da Política Nacional da Promoção à Saúde, a qual tem como missão reorientar o enfoque das ações e serviços de saúde na construção de uma nova cultura de saúde dinamizada por ações em saúde sintonizadas na qualidade de vida da população. 32 Assim, a promoção da saúde surge como um desafio a nova configuração do recente modelo que estava sendo implantado o PSF (FIGUEIREDO, 2005). Para tanto, segundo Oliveira; Presoto (2007) até os dias de hoje ainda não se consegue desenvolver a promoção da saúde sem trabalhar a educação em saúde, isso de deve ao fato de que, a população ainda tem um pensamento muito voltado ao modelo de atenção curativo, desprezando o modelo preventivo, mesmo que tenham conhecimento sobre tal. Com isso, para poder realizar ações de promoção da saúde é imprescindível que estas no mínimo estejam atreladas as ações de educação em saúde. Contudo, no contexto atual, a educação em saúde consiste em uma troca de experiências, onde não há separação de quem ensina e quem aprende sendo preciso compreender a cultura do interlocutor e em algumas vezes adequar suas experiências a esta cultura para poder transmitir a sua mensagem (FIGUEIREDO, 2005). Assim, o trabalho de educação em saúde na comunidade deve ser feito de forma contínua e integralizada, por isso, conhecer as necessidades da população é extremamente necessário para um correto estabelecimento de prioridades, além da identificação dos focos de maior atenção pela Equipe no que se diz respeito ao planejamento das ações (OLIVEIRA; PRESOTO, 2007). Para Figueiredo (2005), a promoção da saúde tem foco mais abrangente do que só a prevenção, pois faz referência a medidas que não são específicas para uma determinada doença, mas que vão servir para melhorar a saúde e o bem estar, de um modo geral. Na saúde pública são comuns às ações de intervenção social para promover a saúde e prevenir doenças. Essas ações oferecem informação sobre as comunidades, demonstrando que o uso de diagnósticos da comunidade de forma estratégica tem base no poder, no saber e na ética. 33 2.3 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA Em 24 de Janeiro de 2008 o MS mediante a portaria GM no 154, cria o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) com o objetivo de apoiar a inserção da ESF na rede de serviços, além de ampliar a abrangência das ações da Atenção Básica, aumentando a sua resolutividade e reforçando os processos de territorialização e regionalização em saúde (BRASIL, 2010a). Segundo dados do Ministério da Saúde em Brasil (2010a), o NASF vem com uma proposta inovadora, no sentido de apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na Atenção Básica e ESF. Tem como atribuições o conhecimento técnico, a responsabilidade sobre um determinado número de Equipes da ESF e suas atividades voltadas a mudança dos paradigmas da Saúde da Família. Deve ainda estar comprometido com o auxílio na mudança das atitudes dos profissionais como um todo, articulando ações intersetoriais e interdisciplinares na promoção, prevenção, reabilitação da saúde e cura. Ainda deve auxiliar na humanização dos serviços, educação permanente, promoção da integralidade e organização do território dos serviços de saúde (BRASIL, 2010a). Ainda, para o MS (2010), além da integralidade outros princípios e diretrizes devem orientar as ações desenvolvidas pelo NASF, são eles: território, educação popular em saúde, interdisciplinaridade, participação social, intersetorialidade, educação permanente em saúde, humanização e promoção da saúde. Para o autor ainda, com base em um diagnóstico territorial o NASF deve dar apoio a ESF no desenvolvimento das ações de saúde em todos os ciclos de vida, dando atenção especial à pessoa idosa. As ações conjuntas, ainda devem estar em constante avaliação por ambas as Equipes na tentativa de promover o melhor cuidado ao paciente. 34 2.4 DIAGNÓSTICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE Realizar o diagnóstico da comunidade é uma ação em saúde pública que visa traçar o perfil da comunidade, criando, desta forma, métodos de educação e planejamento, buscando junto com a população a resolução dos problemas que atingem a comunidade, levando em consideração o socioeconômicos, meio na qual demográficos estão e inseridas, os epidemiológicos. aspectos Envolve a participação da comunidade com uma abordagem inter-setorial dentro da descentralização das políticas de saúde (TUNES, 1995). Segundo Figueiredo (2005), o diagnóstico da comunidade é realizado por via do cadastro das famílias, levantamento de índices epidemiológicos e socioeconômicos e informações relevantes da comunidade, enquanto que Tunes (1995) enfatiza que “[...] fazer o diagnóstico comunitário, é identificar os problemas, as necessidades, os recursos de uma comunidade. É um processo que constitui a primeira etapa do planejamento em saúde comunitária”. Figueiredo (2005) entende ainda, que a promoção da saúde é um processo de preparo de indivíduos e comunidades para mudanças no estilo de vida com abordagens educacional e comportamental, podendo reduzir assim alguns riscos a que os mesmos estão expostos. Tunes (1995) ainda complementa que ao diagnosticar alguns problemas, é possível intervir precocemente, informando as pessoas quanto à exposição a fatores de risco, promovendo a saúde dos mesmos de maneira eficiente e diminuindo gastos futuros com terapias, sejam estas medicamentosas ou não. Segundo Smeltzer e Bare (2007), o diagnóstico é o resultado da análise dos dados colhidos em uma determinada população ou num dado momento. Ele é indispensável para a formulação e planejamento das atividades e ações a serem tomadas a fim de melhorar as 35 condições de vida das pessoas, desde moradia, alimentação, transporte, entre outros até o alvo principal que é a saúde da população. 2.4.1 A Família e suas Necessidades Básicas A família para Costa e Carbone (2004), é entendida como uma unidade epidemiológica, social e administrativa de trabalho. As necessidades básicas da família estão relacionadas com o meio ambiente, a vida, a reprodução a alimentação, vestuário, habitação, educação, transporte, segurança, profissionalização, visão do mundo e saúde. Para Minuchin (1990), a família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. Para que a família sobreviva, é necessário atender às suas necessidades, na qual a nação, os estados e os municípios têm a função de criar condições para que estas sejam atendidas, com a participação da população em busca de uma boa qualidade de vida (NERY; VANZIN, 2002). 2.4.1.1 Meio Ambiente Não há como separar o homem do ambiente, na medida em que saúde é uma condição interdependente do ambiente físico, social e cultural do indivíduo (FIGUEIREDO, 2005). É do meio ambiente que vem o ar, a água, sol e terra de que todos necessitam para o desenvolvimento, visto que devido às más condições ambientais várias doenças se desenvolvem implicando na relação do meio ambiente na saúde (NERY; VANZIN, 2002). O Artigo 225 da Constituição Federal Brasileira (CFB) 36 estabelece que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e para as futuras gerações" (FIGUEIREDO, 2005). A cada dia que passa vem crescendo a preocupação com o meio ambiente, fator importante na preservação da vida e da saúde humana. Mesmo dentro da saúde pública, ainda é pouco presente na vida dos profissionais da saúde, porém é necessário o conhecimento nesta área para que haja uma boa promoção à saúde e prevenção de enfermidades (COSTA; CARBONE, 2004). Neste sentido, o acúmulo dos resíduos sólidos urbanos em vias públicas é responsável por uma série de problemas ambientais e de saúde da população, tornando-se foco de poluição, afetando a população mais próxima ao contaminar a água, poluir o ar, e favorecer a proliferação de insetos e roedores, além de microrganismos patogênicos causadores de inúmeras doenças (OLIVEIRA et al, 2004). Assim, uma das consequências marcantes do lixo depositado a céu aberto é a produção de chorrume, líquido escuro resultante da decomposição de material orgânico presente no lixo, e que ao ser absorvido pelo solo atinge diretamente os lençóis freáticos, contaminando-os com os mais variados microrganismos patológicos. Outra consequência é o surgimento de vetores tais como: moscas, ratos, urubus e animais peçonhentos que se instalam no local e se espalham pelas residências, depósitos e comunidades vizinhas aos lixões, além dos riscos constantes de incêndios e pequenas explosões provocadas pelos gases expelidos constantemente, dos aterros (LIMA, 2004). 37 2.4.1.2 Direito à Vida e Reprodução Essa necessidade diz respeito ao planejamento familiar e a preparação de casais para gerar seus filhos de acordo com o poder econômico, para que cada criança tenha direito de crescer tendo suas necessidades básicas atendidas, desde a concepção até vida adulta, contando com a ajuda do estado para isso. A criança deve crescer e se desenvolver em um ambiente sadio, ter uma boa educação, habitação adequada, entre outras exigências para ser saudável, que não serão atendidas se a família não tiver consciência da relação do tamanho da família e as condições de vida (NERY; VANZIN, 2002). 2.4.1.3 Alimentação Todas as pessoas têm direito à alimentação, por isso é dever da união, dos estados, e municípios incentivar a produção, e até mesmo subsidiar alimentos essenciais como o leite, feijão, arroz, carne, entre outros, essenciais para o desenvolvimento das diversas faixas etárias, principalmente em crianças, na qual uma alimentação adequada é essencial para a formação óssea e muscular (NERY; VANZIN, 2002). É importante que os alimentos sejam acessíveis economicamente a todos, pois segundo Neny e Vanzin (2002), pessoas com baixo poder aquisitivo ou desempregadas têm dificuldades em obter uma alimentação saudável e balanceada. 2.4.1.4 Habitação/Convivência Familiar A casa é um lugar onde todos se reúnem e tem certeza que 38 sempre estará lá quando precisar é o espaço da família, porém algumas pessoas não desfrutam desse espaço, sendo um fator que leva à destruição familiar. A família sem moradia acaba se submetendo à situações de miséria, o que certamente afeta sua saúde. Por este motivo é importante que o governo promova programas para a construção de moradias e melhoria das condições do ambiente através do saneamento básico (NERY; VANZIN, 2002). Os indicadores de saneamento ambiental mostram as condições de saneamento do município, ressaltando os indicadores de abastecimento de água, esgoto sanitário, disposição dos resíduos sólidos domiciliares. Com o sistema de indicadores, se consegue estabelecer uma relação entre o fornecimento de saneamento nessa população e o impacto dessas condições no bem estar dos indivíduos. Essas variáveis proporcionam informações essenciais e de fácil entendimento à conscientização da população quanto ao ambiente em que estão vivendo, e na tomada de decisões por parte dos governantes em relação ao planejamento e à definição de estratégias de formulação de políticas públicas (LIMA, 2004). 2.4.1.5 Educação Segundo o artigo 205 da CFB apud Nery e Vanzin, 2002, “a educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando pleno desenvolvimento da pessoa, seu prepara para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. “Educar não é informar é pensar com seus pensamentos e dos outros como mudar a trajetória da vida” (PEREIRA, 2001, p. 6). A educação implica uma busca realizada por um sujeito que é o homem, o qual deve ser sujeito de sua própria educação, não podendo 39 ser o objeto dela (FREIRE,1999). Sabe-se da importância de uma boa educação para melhorar a qualidade de vida de uma sociedade, devido ao fato da escola ser, além da família, uma referência para a formação do caráter e personalidade dos alunos (NERY; VANZIN, 2002). Segundo Figueiredo (2005), não é possível desvincular a assistência à saúde do desenvolvimento de ações educativas junto a profissionais e comunidade, compreendendo-a no seu total, uma realidade mais global da realidade social. 2.4.1.6 Profissionalização e Trabalho O desemprego é ainda um grande problema que está presente na população brasileira. A profissionalização depois do ensino médio é essencial para se ter um emprego melhor, porem deveria ser mais acessível a todos os níveis econômicos da população (NERY; VANZIN, 2002). No Brasil, a influência da escolaridade sobre as condições de saúde foi evidenciada pelos resultados da Pesquisa sobre Padrões de Vida, realizada em 1996/1997 pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Analisando-se a importância das variáveis socioeconômicas na percepção do estado de saúde de indivíduos com vinte anos ou mais, como anos de estudo, ocupação e renda mensal, observou-se que a variável "anos de estudo" foi a segunda mais relevante, após a idade (FONSECA et al, 2003). Dentre os indicadores mais importantes para verificar o nível socioeconômico associado à saúde da população, cita-se o nível de instrução, a renda e a ocupação. O nível educacional expressa diferenças entre pessoas em termos de acesso à informação e perspectivas e possibilidades de se beneficiar de novos conhecimentos, 40 a renda representa antes de tudo o acesso aos bens materiais, inclusive aos serviços de saúde (GONÇALVES; GIGANTE 2006; HAIDAR, et al, 2001). 2.4.1.7 Lazer, Recreação, Cultura e Ciência O lazer é uma necessidade que contribui muito para o desenvolvimento e crescimento do ser humano devendo ser incentivada desde cedo. Porém, as atividades de lazer estão limitadas às classes sociais mais altas, pois geralmente, o lazer tem custos. Uma das formas de se criar áreas de lazer e recreação é a sociedade se unir, juntos poderiam criar espaços que beneficiariam a todos, desde o mais jovem até o idoso (NERY; VANZIN, 2002). Já a cultura refere-se aos valores e crenças, normas e modos de vida praticados, que guiam pensamentos, decisões e ações os quais foram apendidos, compartilhados e transmitidos por grupos particulares. A cultura pode operar de diversas maneiras na vida das pessoas. Na saúde, ela influencia em seu significado o valor, bem como o cuidado. Os fatores culturais podem causar ou contribuir para o surgimento de problemas de saúde assim como podem proteger desses problemas (HELMAN, 2003). Nery e Vanzin (2002), afirmam que a cultura contribui para o desenvolvimento do conhecimento e do intelecto, o que constitui uma necessidade humana básica. Destacam também que pessoas cultas desejam saber cada vez mais, aumentando assim seu nível de conhecimento e informação. Isso possibilita analisar questões de vários ângulos e contribuí para o bem-estar social. 41 2.4.1.8 Religião Atualmente existem vários tipos de religiões, na qual cada uma crê em um ser superior, e por meio deste procura atender as necessidades espirituais de seus seguidores. Muitas pessoas procuram as religiões porque não acreditam mais em governantes, sendo que cada uma tem poder de decidir qual seguir. Assim como as pessoas têm livre arbítrio para a escolha de qual religião seguir, elas devem também ter consciência de isso por si só não solucionará seus problemas (NERY; VANZIN 2002). 2.4.1.9 Saúde Para Nery e Vanzin (2002), a saúde de qualidade é reflexo do atendimento das necessidades humanas básicas e das intervenções feitas no ambiente em que as pessoas vivem. O enfermeiro tem papel fundamental no desenvolvimento de ações que beneficiem a comunidade e melhorem sua qualidade de vida. Outro ponto citado pelas autoras é a importância do incentivo para a formação de associações de moradores, para reivindicar seus direitos de habitação, saneamento básico, educação, trabalho, lazer, recreação, entre outros. O artigo 196 da Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece que: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e económicas que vise à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988, p. 98). A saúde é bem estar, temos saúde quando não sentimos dores, 42 quando nada em nosso corpo indica que estamos doentes (FIGUEIREDO, 2005). Saúde pode ser entendida ainda como “... o completo bem estar fìsio-psìco-social e não meramente a ausência de doenças” (BRASIL, 2011). 2.5 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE A atenção primária à saúde, também denominada cuidados primários de saúde e atenção básica, foi definida pela Organização Mundial da Saúde segundo Buss (2007) como: Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde. (p.166). A atenção primária é aquele nível de um sistema de serviço de saúde que oferece a entrada no sistema para todas as novas necessidades e problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não direcionada para a enfermidade) no decorrer do tempo, fornece atenção para todas as condições, exceto as muito incomuns ou raras e coordena ou integra a ação fornecida em algum outro lugar ou por terceiros (STARFILD, 2002). 43 2.5.1 Visita Domiciliar Os objetivos da visita domiciliar, de um modo geral a visita domiciliar é uma atividade, simultaneamente educativa e assistencial que permite uma interação mais efetiva da Equipe de Saúde, e da enfermagem em particular, com o individuo, a família permitindo uma continuidade da assistência desenvolvida na unidade básica de saúde (NOGUEIRA; FONSECA, 2005). Contudo para Nogueira e Fonseca (2005), a assistência domiciliar possui algumas limitações como a de caracterizar-se por um método relativamente caro, uma vez que necessita de pessoal qualificado, meios de transporte e tempo do profissional. Além disso, tem algumas limitações como: os resultados geralmente são obtidos a longo prazo, horários incompatíveis de visitas, invasão de espaços, entre outros. Para que não haja invasão à privacidade do cliente, no que diz respeito a ferir a ética profissional e tão pouco perda de tempo do profissional, são usadas algumas metodologias para a realização das visitas, na qual segue-se por planejamento, execução, registro de dados e avaliação (NOGUEIRA; FONSECA, 2005). A visita domiciliar é um instrumento de trabalho fundamental na enfermagem, no âmbito da Estratégia Saúde da Família, o conhecimento das condições do meio pertinente à saúde, como saneamento e moradia, são essenciais no estabelecimento de medidas de promoção da qualidade de vida do indivíduo, famílias e comunidades (NOGUEIRA; FONSECA, 2005). Para Souza; Lopes e Barbosa (2004), a visita domiciliar é um dos instrumentos mais indicados à prestação de assistência à saúde, seja do indivíduo, como também da família e comunidade. Devendo ser realizada mediante processo racional, com objetivos definidos e 44 pautados nos princípios de eficiência. As autoras ainda postulam que apesar de ser uma prática antiga, a visita domiciliar traz resultados inovadores, uma vez que possibilitam conhecer as realidades do(s) cliente(s) e sua família in loco, contribuindo para a redução de gastos hospitalares, além de fortalecer os vínculos entre clientes, profissionais e o tratamento a ser seguido. A visita domiciliar para Souza e Barbosa (2004), também deve fazer parte da rotina de trabalho do profissional: o planejamento, a estruturação dos níveis de necessidade, execução ou direcionamento para efetivação do alcance parcial ou total dessas necessidades avaliação, que deverá ser contínua nesse processo, como forma de analisar criteriosamente as ações desenvolvidas e planejar novamente, se for o caso. Dentre as principais causas de atendimento domiciliar podem citar-se: a reorganização da assistência à saúde, substituir a assitência hospitalar de acordo com a doença apresentada, centrar a atenção da familia no paciente, ampliar a compreenção do significado saúde/ família, criar um vínculo com a população, trabalhar com Equipe Multiprofissional e promover a saúde (SANTOS, 2005). Esses parâmetros servem para tornar o cliente mais autônomo e consciente de seus estado biofísico e social, necessitando de planejamento, coordenação e apoio de outros serviços de saúde (SANTOS, 2005). Segundo Smeltzer e Bare (2007) é na visita domiciliar que a profissional inicia ou continua o trabalho já iniciado no hospital ou em outra instituição. Através dessa visita é possível colher todos os dados do paciente por meio da efetivação do processo de enfermagem. 45 2.5.2 Imunização Segundo Figueiredo (2005), as endemias e pandemias que ocorreram no século XX, como por exemplo, a poliomielite, a caxumba, a rubéola e o sarampo, despertaram as necessidades de criação de uma forma de imunização que tornasse o homem resistente a estes, com esse objetivo foi criado o Programa Nacional de Imunização, formulado em 1973, com intuito de organizar a imunização nacional. O programa nacional de imunização fornece vacinas contra Tuberculose, Difteria, Hepatite B, Tétano, Coqueluche, Meningites causadas por Hemofilos influenzae b, Sarampo, Caxumba e Rubéola. Figueiredo, 2005, diz que as unidades de saúde são responsáveis por desenvolver o programa de imunização em sua microrregião através de estratégias para imunizar a população como: campanhas de vacinação, dia nacional de combate à poliomielite, campanha contra a tuberculose, enfim, maneiras de conscientizar a população a procurar a unidade de saúde para vacinação. 2.5.3 Mapeamento da Comunidade Para se obter um conhecimento satisfatório sobre a comunidade que será trabalhada é preciso ter um mapa da comunidade. O mapa é um desenho que demonstra no papel, o que existe nos lugares: as quadras, ruas, casas, prefeitura, escolas, serviços de saúde, comércio, rios e outros pontos importantes. Esse mapa é como se fosse uma foto ou um retrato de sua comunidade vista de cima do plano observado (TUNES, 1995). O mapa de uma região é dividido em áreas e microáreas, facilitando o delineamento da comunidade, bem como a ação e o limite para o trabalho do agente comunitário de saúde (ACS) e da ESF 46 (COSTA; CARBONE, 2004). É através do mapeamento das áreas de risco, que se pode determinar as áreas de maior foco de enfermidades e, através de indicadores epidemiológicos, avaliar o efeito dessas enfermidades na população. 2.5.4 Sistema de Informação de Atenção Básica O Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) é um sistema de informação nacional, cujos dados são gerados por profissionais de saúde das equipes da Estratégia Saúde da Família. As informações são coletadas em âmbito domiciliar e em unidades básicas nas áreas cobertas pelos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde (BRASIL, 2007). O fato da coleta de dados se referir a populações bem delimitadas possibilita a construção de indicadores populacionais referentes às áreas de abrangência dos programas, que podem ser agregadas em diversos níveis: a micro área do agente comunitário de saúde; um município; estado; região e país (BRASIL, 2007). A territorialização do sistema possibilita ainda a localização espacial de problemas de saúde e a identificação de desigualdades, constituindo-se em uma ferramenta importante para a implementação de políticas de redução de iniqüidades, favorecendo, também, a avaliação da efetividade das ações desenvolvidas pelos serviços de saúde (BRASIL, 2007). Os principais instrumentos de coleta do SIAB, segundo MS, 2007, são: a) Ficha de cadastro das famílias e levantamento de dados sóciosanitários, preenchida ACS no momento do cadastramento das 47 famílias, sendo atualizada permanentemente; b) Fichas de acompanhamento de grupos de risco e de problemas de saúde prioritários, preenchidas mensalmente pelos agentes comunitários de saúde, no momento de realização das visitas domiciliares; c) Fichas de registro de atividades, procedimentos e notificações, produzidas mensalmente por todos os profissionais das equipes de saúde. Os dados gerados por meio das fichas de coleta são, em grande parte, agregados e alguns deles são consolidados antes de serem lançados no programa informatizado. Uma vez processados os dados, são produzidos os relatórios de indicadores do SIAB. São eles: a) Consolidado de Famílias Cadastradas: apresentam os indicadores demográficos e sociossanitários por micro-área, área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região. b) Relatório de Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias: que consolida mensalmente as informações sobre situação de saúde das famílias acompanhadas por área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região. c) Relatório de Produção e Marcadores para Avaliação: que consolida mensalmente as informações sobre produção de serviços e a ocorrência de doenças e/ou situações consideradas como marcadoras por área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região. A agregação dos dados confere grande agilidade ao sistema, 48 gerando uma informação oportuna no processo de decisão em saúde. A disponibilização da base de dados do SIAB na internet, faz parte das ações estratégicas da política definida pelo MS com o objetivo de fornecer informações que subsidiem a tomada de decisão pelos gestores do SUS, e a instrumentalização pelas instâncias de Controle Social, publicizando, assim, os dados para o uso de todos os atores envolvidos na consolidação do SUS (BRASIL, 2007). 2.6 A FUNÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Segundo Andion e Fava (2002), o planejamento estratégico consiste em um importante instrumento de gestão para as organizações num geral, pois é uma ferramenta administrativa que fornece informações importantes para a tomada decisão, ajudando-nos a atuar de forma ativa, antecipando-se às mudanças que ocorrem no setor em que atuam. É através dele que o gestor e sua equipe estabelecem alguns parâmetros para direcionar a organização da instituição, bem como o controle das atividades. Para Levey e Loomba (1994) o planejamento é: O processo de analisar e entender um sistema, avaliar suas capacidades, formular suas metas e objetivos, formular cursos alternativos de ação para atingir essas metas e objetivos, avaliar a efetividade dessas ações ou planos, escolher o(s) plano(s) prioritário(s), iniciar as ações necessárias para a sua implantação e estabelecer um monitoramento contínuo do sistema, a fim de atingir um nível ótimo de relacionamento entre o plano e o sistema. (p. 13). Ao saber utilizar o planejamento como um instrumento, e adaptá-lo a realidade da instituição e às suas necessidades, ele pode ser uma excelente arma para a resolução de problemas. Um 49 administrador que não exerce a sua função como planejador acaba por atuar principalmente como uma espécie de “bombeiro”, que vive apagando incêndios, sem enxergar onde está a sua causa (ANDION; FAVA, 2011; TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). Quando o planejamento é aplicado de forma coerente, faz com que os atores interessados criem uma nova cultura de compromisso com a instituição, seu processo deve ser permanente, pois com o desenrolar da realidade ele vai rapidamente perdendo sua atualidade (TANCREDI; BARRIOS, FERREIRA, 1998). Assim, o processo de planejamento exige do gerente inúmeras habilidades, as quais permitem soluções imediatas aos problemas emergentes e em vários níveis de complexidade. Dentre estas habilidades pode-se citar a criatividade, a flexibilidade, a visão, a liderança, a autoridade, não ter medo de correr riscos e a ousadia de inovação (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). Mas essas habilidades não devem estar separadas do conhecimento específico em administração nem do conhecimento técnico científico no caso dos profissionais da saúde (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). Ainda, segundo Rangel (2011), “difícil não é planejar, montar o planejamento, o difícil é fazer com que as pessoas envolvidas neste planejamento o entendam e efetivamente o sigam.” Hoje, o planejamento já não é mais tarefa apenas para graduados na área da administração, ele deve ser feito pelos profissionais envolvidos na ação. Na área da saúde, médicos e enfermeiras são os que geralmente assumem o papel de gerente, estes muitas vezes não são bons administradores, mas são necessários para que este processo de planejamento não se torne ineficiente e distanciado da prática (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). 50 Quando os profissionais técnicos começarem a entender como gerenciar o serviço de saúde, estes terão maior efetividade. Hoje em algumas situações, estes profissionais deixam para os complexos reguladores desenvolverem algumas funções do serviço de planejamento, como no caso da avaliação dos encaminhamentos pelo Sistema de Regulação – SISREG (RANGEL, 2011). Para tanto, o que se deve ter sempre em mente, é que todo o trabalho aplicado no planejamento do funcionamento dos serviços de saúde deve voltar o seu olhar no sentido de gerar resultados e não apenas produtos. Ou seja, ao se planejar a forma de funcionamento de uma unidade do sistema municipal de saúde, com programas para grupos de risco específicos, por exemplo, não se deve objetivar uma grande produção de consultas, mas sim, o resultado que esses procedimentos terão sobre a saúde dos indivíduos, além de observar qual o impacto das ações planejadas sobre os indicadores de saúde da população assistida (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). Ainda, para os autores, a efetividade de um planejamento, depende da qualidade das informações, para isso, deve-se saber quais são os tipos de atendimentos prestados, bem como, quem são as pessoas que o utilizam. Ele depende dos indicadores e técnicas para estimar a quantidade de consultas, procedimentos, internações e exames demandados ao sistema de saúde por uma determinada clientela e calcular a capacidade instalada necessária dos serviços para garantir aquele atendimento. Para tanto, a epidemiologia, através de dados como indicadores demográficos, de morbidade, mortalidade, entre outros, tem sido uma ferramenta muito utilizada na definição das necessidades de saúde no auxilio do planejamento dos serviços e na tomada de decisões pelo gestor. Mas para isso, o diagnóstico estratégico, ou diagnóstico situacional, é a primeira etapa do processo de planejamento 51 (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). Os dados necessários para este diagnóstico são principalmente informações que expressam as diferentes características de condições de vida dessa população, sejam culturais, sociais, econômicas e epidemiológicas. Estes geralmente estão disponíveis em sistemas de informação dispersos, tornando difícil a sua coleta e avaliação (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). Um exemplo são os dados do IBGE que apresentam dados de um perfil demográfico e epidemiológico em uma idéia genérica em relação ao total de indivíduos, mascarando as desigualdades, às vezes gritantes, nas condições de vida e saúde da população, pois até mesmo numa área geográfica pequena, como por exemplo, na de um bairro é possível verificar a existência concomitante de favelas e de condomínios de luxo (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). Não adianta fazer um planejamento onde o profissional cria um acesso melhor para o usuário, mas não conhecer os meios que este se utiliza para chegar até o serviço, devendo assim conhecer o território [...] O território não é apenas um espaço geográfico, ele é vivo (RANGEL, 2011). Assim, quanto ao nível de planejamento, o operacional referese ao desenvolvimento de ações (planos) os quais permitem organizar a execução das estratégias já levantadas. Ele indica como colocar em prática essas as ações previstas. No setor da saúde, esse tipo de planejamento é utilizado na execução dos programas de assistência à saúde, independentemente do modelo adotado para o planejamento das políticas de saúde (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). 52 2.7 MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO POPULAR O Método Altadir de Planificação Popular (MAPP) pelas suas características operativas se constitui em um método para a eleição de planejamento em um nível local, sendo muito simples e criativo. Foi elaborado com o objetivo de viabilizar o comprometimento da comunidade e de suas lideranças na análise e enfrentamento de seus problemas, colocando estes como geradores de demandas e soluções, bem como avaliadores (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). Ele pode, por vezes, estar limitado à natureza e complexidade dos problemas, assim aplica-se à solução daqueles relacionados ao espaço mais restrito do nível local, bem como, em redes de relações não muito complexas. É um método muito coerente com os princípios do SUS e recomendado como um instrumento a ser utilizado na elaboração do planejamento de unidades básicas de saúde (TANCREDI; BARRIOS; FERREIRA, 1998). 2.7.1 Como Aplicar o Método O processo de planejamento, segundo os autores Tancredi, Barrios e Ferreira (1998), deve ser desenvolvido em oficinas de trabalho, reunindo funcionários da unidade, membros da comunidade, lideranças e monitores da Secretaria de Saúde. Onde se realiza uma espécie de fórum pedagógico de trabalho, tendo por objetivo favorecer a construção coletiva a partir do conhecimento de conceitos e técnicas. A idéia é que os membros da Equipe sejam as pessoas que pensam ativamente no processo de elaboração do planejamento. Cada oficina tem como objetivo a elaboração de um produto, e ao seu término algumas tarefas serão definidas para as oficinas seguintes. Segue a definição dos passos a serem desenvolvidos durante a aplicação do 53 MAPP: Passo 1 - Seleção dos Problemas do Plano Onde é feita a avaliação dos resultados insatisfatórios que se observam na realidade, feito através do senso comum, estes que são passíveis de intervenção. Mas é necessário descrevê-lo para que não se corra o risco de se ter mais de uma interpretação. Os problemas selecionados são ordenados segundo a importância e prioridade. A seleção dos problemas deve ser feita a partir do momento em que se conhece a realidade local, daí a necessidade do diagnóstico situacional. Passo 2 - Descrição do Problema É definido como os sintomas de um problema, não devendo ser confundido com as causas ou consequências, para isso, deve-se elencar um conjunto de descritores (d1, d2, d3, dn), este que é entendido como o fato ou afirmação necessária e suficiente para descrever o problema. Cada problema identificado no passo anterior deve ser declarado e descrito. Estes são objetivos e mensuráveis, permitindo criar indicadores locais de saúde, bem como, avaliar o impacto do planejamento e os resultados alcançados. Passo 3 - Explicação do Problema A partir da identificação das causas do problema, deve-se desenhar uma árvore explicativa denominada “Árvore de problemas”, esta árvore deve ser elaborada de maneira clara, sintética e precisa, elucidando de que forma as causas estão relacionadas entre si. Para a construção desta árvore é necessário que se encontre a causa da causa e assim sucessivamente, até que o grupo de trabalho se sinta satisfeito com a explicação. 54 Na construção do gráfico, coloca-se o nome do problema e identifica-se o ator que o declara. Isso deve ser feito da direita para a esquerda a partir da identificação dos descritores. Passo 4 - Desenho da situação objetivo Momento em que se discutem os objetivos que podem ser efetivados e a forma de torná-los viáveis, se faz necessário: avaliar o prazo de maturação do plano, identificar as operações capazes de produzir a mudança desejada, dimensionar o alcance e a natureza dessas operações. O Quadro 1 é construído em duas colunas. Na coluna da esquerda transcreve-se o Vetor de Descrição do Problema (VDP) ou metas, e na coluna da direita o Vetor de Descrição de Resultados (VDR). Cada vetor de resultados deverá corresponder à modificação que se pretende alcançar para cada vetor de descrição do problema, estes devem ser todos descritos de que maneira pretende-se chegar a determinado resultado. VDP d1: 40% da crianças são internadas mais de uma vez ao ano por doenças agudas infecto-contagiosas, enquanto o padrão do município é de 5%; d2: inexistência de UBS no Distrito Norte, enquanto a OMS recomenda uma unidade de atenção primária para cada 20.000 a 30.000 habitantes. Quadro 1: Árvore da situação objetivo. Fonte: Tancredi; Barrios; Ferreira, 1998. VDR r1: índice de re-internação de 30% ao fim do primeiro ano; 15% ao fim do segundo ano, e 5% ao fim do terceiro ano; r2: uma unidade básica para 20.000 habitantes; r3: programa de puericultura com capacidade de cobertura para 100% das crianças entre 0 e 5 anos. Para a construção desta árvore de objetivos, se faz uma reflexão sobre variáveis importantes na sua implementação: em quanto tempo que se pretende alcançar esses objetivos; quais os recursos 55 necessários; uma análise do impacto que cada operação irá gerar sobre os descritores do problema; e uma comparação da situação inicial com aquela que se idealizou e se necessário reduzir as metas para que sejam possíveis de realizar. 56 57 3 METODOLOGIA Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo exploratório, realizado com dados epidemiológicos e demográficos referentes à população dos bairros Jardim América, Parque das Palmeiras, Vila Mantelli, Loteamento Vitório Rosa e Linha Barra do Rio dos Índios, estas que compreendem a área atendida pelo Centro de Saúde da Família (CSF) Jardim América. A metodologia aplicada na identificação das principais características da comunidade consiste em uma análise de dados secundários. Assim, epidemiológicos as foram informações obtidas através referentes do aos SIAB, dados relatórios remanescentes da Vigilância Epidemiológica do município, bem como, relatórios mensais extraídos do sistema municipal de prontuário eletrônico. Já as informações sobre os dados demográficos, foram levantadas também a partir de fontes secundárias tais como registros municipais. Ainda, serão extraídos alguns dados demográficos de fontes primárias, tais como entrevista com as ACS e outros profissionais da unidade de saúde. Para tanto, optou-se por um tipo de estudo elaborado por Thiollent que consiste em uma pesquisa – ação, onde os dados pesquisados servirão de base para conhecer a comunidade, a partir destes então levantadas as dificuldades e potencialidades da área para posteriores ações em saúde, neste caso, objetivando a promoção em saúde. 3.1 POPULAÇÃO-ALVO Para o desenvolvimento desta pesquisa a população alvo 58 consiste nos 35 profissionais da Rede Municipal de Saúde que atuam no CFS Jardim América, bem como moradores da comunidade. 3.1.1 Critério de Inclusão/Exclusão da Amostra O critério de inclusão dos trabalhadores: ser integrante de uma das Equipes de ESF ou da Equipe de NASF que compõem o CSF Jardim América. Já para os integrantes da comunidade, o critério é ser participante ativo do Conselho Local de Saúde. 3.2 MATERIAIS E MÉTODOS Na etapa de diagnóstico, as informações quantitativas advindas do SIAB são referentes à situação de saúde, as quais foram obtidas através da coleta de dados provenientes da ficha A preenchida pelas ACS, contendo informações que englobam: dados pessoais (idade, sexo, ocupação e se frequenta a escola), doença ou condição diagnosticada (hipertensão arterial, diabetes, deficiências, alcoolismo, hanseníase, malária, tuberculose, chagas, epilepsia, distúrbio mental ou gestação), situação de moradia (tipo de casa, número de cômodos e se tem energia elétrica), saneamento (destino do lixo e destino do esgoto), abastecimento de água (fonte e tipo de tratamento), plano de saúde (número de pessoas cobertas), a quem procuram em caso de doença (unidade de saúde, hospital, benzedeira, farmácia ou outros), meio de comunicação (rádio, televisão ou outros), se participa de grupos comunitários (cooperativa, grupo religioso, associações ou outros), além dos meios de transporte (ônibus, caminhão, carro, carroça ou outros). No entanto, para a coleta de dados retirados das fichas A de cadastro das famílias, o critério de avaliação consiste nas famílias que residem atualmente na área de abrangência da ESF, para isso, será 59 utilizado o Apêndice A. Vale lembrar que todos os demais dados coletados correspondem do período de janeiro a dezembro do ano de 2010. Ainda, outras informações referentes ao SIAB puderam ser obtidas através do “Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação”, estas que estarão contidas no Apêndice B. Sendo que as informações neste contidas como marcadores são: Número de atendimento a pessoas residentes em outro município; consulta médica por faixa etária; total geral de consultas; número de puericulturas; atendimentos de pré-natal; prevenção de câncer cérvico uterino; consulta para paciente com Doença Sexualmente Transmissível (DST)/ Doença da Imunodeficiência Adquirida (Aids); consulta para diabetes; consulta para hipertensão arterial; consulta para tuberculose; solicitação de exames complementares por médico para: patologia clínica, radiodiagnóstico, citopatológico, ultrassonografia obstétrica e outros; solicitação de exames encaminhamento médico complementares para pela atendimento enfermeira; especializado; encaminhamento médico para internação hospitalar; encaminhamento médico para atendimento de urgência e emergência; atendimento individual de enfermeiro; procedimentos de enfermagem (curativos, inalações, injeções, retirada de pontos, verificação de sinais, terapia de reidratação oral); sutura; atendimento em grupo para educação em saúde/ promoção da saúde; procedimentos coletivos; reuniões para planejamento. No que se refere as informações contidas no “Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação”, as utilizadas como marcadores são: Acidente Vascular Cerebral; Infarto Agudo do Miocárdio; NIC III; RN com peso menor do que 2500g; gravidez em menor de 20 anos; hospitalização em menor de 5 anos por pneumonia; hospitalização em menor de 5 anos por desidratação; hospitalização por 60 abuso de álcool; hospitalização por complicações do diabetes; hospitalização por qualquer causa; internação em hospital psiquiátrico; óbitos em menor de 1 ano por todas as causas; óbitos em menor de 1 ano por infecção diarreica; óbitos em menor de 1 ano por infecção respiratória; óbitos de adolescentes por violência (entre 10 e 19 anos); visitas domiciliares pelo enfermeiro; visitas domiciliares pelo dentista; visitas domiciliares pelo médico; visitas domiciliares por profissional de nível médio; visitas domiciliares pelo ACS. Já com os dados provenientes dos relatórios mensais extraídos do sistema municipal de prontuário eletrônico será elaborado o Instrumento de Coleta de Dados (Apêndice C), os dados levantados foram: número de gestantes cadastradas; mulheres em programa de planejamento familiar; que programas são do Ministério da Saúde estão sendo efetivados nesta unidade; quais os grupos que existem na unidade, a quanto tempo estão funcionando e número médio de participantes; quais os tipos de atividades estratégicas utilizadas na prevenção de doenças e promoção da saúde; número de escolares atendidos em atividades de educação em saúde e promoção da saúde, com suas respectivas e faixa etárias. Dentre as informações levantadas a partir dos relatórios das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária do município, as quais serviram de base para ser montado o Apêndice D, estão: cobertura vacinal; doses utilizadas X doses aplicadas; números de focos do mosquito da dengue na área; número de nascidos vivos; óbito fetal; óbitos menor de 1 ano; óbitos de mulher em idade fértil; óbito por qualquer causa; casos de diarréia; casos de tuberculose; casos de hanseníase; casos diagnosticados de HIV/Aids; casos de Hepatite A; casos de Hepatite B; casos de Hepatite C; Gestantes novas e em acompanhamento com HIV, total de casos de HIV; acidente com animais peçonhentos; atendimento anti rábico; doenças exantemáticas; meningites; varicela; 61 caxumba; leptospirose; hantavirose; dengue; malária; teníase/cisticercose; rotavírus; evento adverso pós- vacinal; sífilis em gestante; demais casos de sífilis; coqueluche; toxoplasmose; desnutrição grave; intoxicação exógena; condiloma acuminado; herpes. Ao ser feito o levantamento demográfico os pontos pesquisados consistiram no conhecimento o clima, extensão territorial, rios e mananciais existentes, principais ruas e avenidas, áreas de vegetação e áreas de preservação, ainda levantado a rede de assistência à saúde que os pacientes desta área também podem estar se utilizando. No que se diz respeito à observação do território (dados qualitativos) desta comunidade, o levantamento destes dados feito pelas Equipes de ESF, onde foram coletadas informações referentes aos aspectos socioeconômicos, educação e laser, estas que estarão obtidas a partir do apêndice E, onde foram levantados dados de todas as empresas existentes no bairro, escolas (municipal ou estadual), Centros de Educação Infantil Municipal (CEIM), praças e locais de laser, de que natureza é a renda dos moradores, grupos religiosos, cooperativas, associações, entidades filantrópicas ou independentes existentes na área de abrangência, quais as religiões predominantes, e ainda, onde são as áreas de risco e irregulares que possam existir na área de atuação deste CSF. A partir deste levantamento, após os dados tabulados, então serão selecionados os problemas mediante a avaliação dos resultados insatisfatórios. Com estes, descritos os “sintomas” e posteriormente encontradas as causas, quantas forem necessárias até que se chegue á raiz do problema, este que é denominado como nó crítico, o qual quando modificado pode alterar toda a cadeia explicativa do problema. Em um segundo momento feito um levantados os problemas os prioritários a serem trabalhados, os quais a Equipe do CSF entender serem passíveis de mudança, podendo ou não, estarem associados à 62 educação em saúde. Este projeto não contemplará o MAPP na sua íntegra, uma vez que, não há tempo hábil nem recursos para tanto, assim a sua colaboração vai até a proposta das ações a serem implementadas, quando entra a participação da comunidade, onde a Equipe levará as propostas aos Conselhos Locais de Saúde. Para propostas aceitas, então serão definidos os papéis tanto da equipe quanto da comunidade no que se diz respeito a implementação efetiva dessas propostas. 3.3 ANÁLISE DOS DADOS Inicialmente os dados epidemiológicos e demográficos foram colocados em um banco de dados Excel, e com isso, elaborados gráficos, tais expressos em números percentuais e/ou absolutos, de modo a facilitar sua análise quando atrelados às demais informações coletadas através dos instrumentos de coleta de dados com perguntas abertas. Os dados levantados na primeira etapa serviram de embasamento para a segunda etapa, esta que consiste na análise de dados qualitativos a partir do método MAPP. Dados estes que foram descritos e analisados, conforme a literatura, chegando apenas até a etapa de seleção dos nós críticos. Para as propostas aceitas, inicialmente foram elencadas as prioridades em comum acordo de todos os envolvidos, posteriormente a equipe do CSF juntamente a estes irá definir os meios e fins pelos quais o planejamento será aplicado de forma interdisciplinar e/ou intersetorial. A fase de análise dos dados, no que se diz respeito a aplicação do MAPP, só será apresentada até a quinta etapa, onde os nós críticos são identificados, mas fica o compromisso em levar a idéia de 63 planejamento até o final, mesmo sem estar presente no relatório final com fins acadêmicos. 3.4 PROCEDIMENTOS A primeira etapa da pesquisa consiste na coleta de dados nos bancos referidos anteriormente, após isso, feito o agrupamento e análise preliminar dos dados até então coletados. Depois, se realizará a análise destes dados primários, o qual inclui a observação territorial, avaliando sempre, se os dados encontrados conferem com a realidade encontrada. Na segunda etapa, com base nos resultados obtidos será traçado o perfil epidemiológico para esta comunidade, a partir deste feito o diagnóstico de saúde desta comunidade, e então, elaborado o planejamento estratégico tendo como modelo o MAPP, para as ações a serem desenvolvidas pela Equipe multiprofissional. 3.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS Os riscos potenciais para as pessoas no desenvolvimento da pesquisa praticamente não existem, uma vez que não serão utilizados prontuários dos pacientes. Além o que, não haverá fichas para entrevista e/ou coleta de dados, onde poderia haver informações específicas passíveis de identificação dos pacientes. Ainda, as ações a serem desenvolvidas serão pensadas na coletividade, onde não serão beneficiados a penas as pessoas que já desenvolveram alguma doença ou agravo a saúde, mas sim as pessoas que necessitam de ações que possam evitar essas doenças e ao mesmo tempo promover a melhoria da qualidade de vida da população, 64 utilizando-se para isso, dos artifícios da educação em saúde preferencialmente para alcançar aos objetivos levantados. 65 4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS Na tentativa de identificar e explicar os problemas que interferem na efetivação da Promoção da Saúde da população assistida pelas Equipes de ESF correspondente ao bairro Jardim América, as variáveis estudadas devem inicialmente identificar como é o perfil epidemiológico desta população, e a partir desta poder então elaborar um plano de ação para combater as suas principais causas. 4.1 ANÁLISE SITUACIONAL DA COMUNIDADE Conforme demonstrado no gráfico 2 - Sexo X Idade - das 10049 pessoas cadastradas, a maior demanda populacional se concentra na faixa etária entre 20 e 59 anos, onde de acordo com o encontrado na pesquisa do perfil epidemiológico 97,83% dos maiores de 15 anos são alfabetizados. Gráfico 2: Sexo X Idade. Fonte: SIAB, 2010. 66 Ainda, na análise de dados do consolidado, da população entre 7 e 14 anos, 90,4% estão frequentando a escola, sendo que o maior êxodo escolar é presente na área rural. Já os dados levantados a partir de entrevista com as instituições de ensino, das 3464 crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos 1638 estudam nos 3 Centros de Educação Infantil (CEIM) municipais, 2 Escolas Básicas municipais e 1 Escola Estadual que abrange até o ensino médio. Contudo, de acordo com Nery e Vanzin (2002), uma boa educação ajuda a melhorar a qualidade de vida de uma sociedade, isso se deve ao fato de que a escola auxilia a família na formação do caráter e personalidade dos indivíduos. Outro dado observado no gráfico 1, é o fato de os 831 idosos correspondem a 8,27% da população da área de abrangência da ESF Jardim América, e segundo o IBGE (2002), com base no Censo deste mesmo ano, os idosos somavam 8,6% da população total do País. Ainda cita que o envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da expectativa de vida, devido à redução da taxa de natalidade e aos avanços no campo da saúde, prova disso é a participação dos idosos com 75 anos ou mais no total da população que em 1991 eram 2,4 milhões (1,6%) e, em 2000, 3,6 milhões (2,1%). No gráfico 3 – Doença ou condição referida - estão elencadas as doenças ou condição referidas no consolidado obtido a partir da ficha A, preenchida pelas ACSs. Dentre as condições de maior prevalência estão a hipertensão arterial, o diabetes e gestação. 67 Gráfico 3: Doença ou condição referida. Fonte: SIAB, 2010. No que se refere á gestação, das 134 gestantes cadastradas no ano de 2010, apenas 16 eram menores de 19 anos, correspondendo a 3,8% das adolescentes. E das 181 as mulheres em período fértil participam do programa de planejamento familiar, correspondem orrespondem à 5% das mulheres entre 15 e 59 anos, este dado é bastante semelhante ao número de gestantes, o que significa que apesar de poucas mulheres estarem inscritas no programa de planejamento familiar não há uma relação significativa com a taxa de natalidade atalidade pois ambas se mantém. Nery e Vanzin (2002) tratam sobre o planejamento familiar, onde os casais devem gerar seus filhos de acordo com o poder econômico para que cada criança tenha direito de crescer tendo suas necessidades básicas atendidas desde a concepção até vida adulta, contando com a ajuda do estado para isso. No que se diz respeito aos hipertensos os 828 correspondem a 8,24% da população total da área citada, sendo que se fossem apenas idosos os hipertensos, seriam praticamente todos. Mas se observou nos 68 relatórios do programa Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) que muitos pacientes hipertensos estão na idade adulta e que associado a hipertensão há geralmente os problemas decorrentes da dislipidemia e obesidade, o que demandou no ano de 2010 um número de 4968 consultas médicas e principalmente de enfermagem. Em uma pesquisa realizada pelo MS, demonstrou-se que a proporção de brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial aumentou nos últimos cinco anos, passando de 21,6%, em 2006, para 23,3%, em 2010. Esse aumento é devido ao fato de a população estar sendo diagnosticada mais precocemente na atenção primária de saúde (BRASIL, 2011). Com isso, pelo fato de a população descrita ter um índice muito abaixo dos valores nacionais fica a dúvida, a promoção e prevenção estão sendo mais efetiva ou os casos não estão sendo diagnosticados? Já os usuários diabéticos são 152 adultos e 1 criança, estes correspondem a 1,5% da população total cadastrada para a área no período de 2010 e acumularam 912 consultas, incluindo as médicas de enfermagem. Segundo dados do Ministério da Saúde em 2010, a prevalência da diabetes está aumentando sendo que aproximadamente 7% da população adulta brasileira acometida por esse problema. A diabetes lidera como causa de cegueira, doença renal e amputação e expõe a um aumento de mortalidade, principalmente por eventos cardiovasculares, além de estar frequentemente acompanhada pela hipertensão arterial. Ainda segundo este, não se conseguiu provar que o controle rigoroso da glicemia reduz significativamente as complicações macrovasculares, tais como infarto do miocárdio e derrames, mas sabese que a dieta rigorosa e a atividade física com orientação profissional 69 ajuda a minimizar os efeitos degradantes do diabetes no organismo do indivíduo (BRASIL, 2010b). Assim, com o intuito de tentar evitar que mais usuários desenvolvam, devido ao excesso de peso, a hipertensão e/ou diabetes, e complicações em decorrência destas, foi criado o Grupo de Reeducação Alimentar. O grupo tem em média 20 participantes, conduzido pela Nutricionista do NASF, geralmente com o apoio de outro integrante do NASF, bem como de um ou mais membros da ESF (médico, enfermeira, dentista ou ACS). Atrelado aos grupos de reeducação alimentar e o de hipertensos e diabéticos, os pacientes ainda são convidados a participarem de um grupo de caminhada que acontece na área verde denominada “Parque das Palmeiras”. Geralmente participam entre jovens e idosos, cerca de 30 usuários, o grupo é conduzido pela educadora física do NASF, geralmente com o apoio de outro integrante do NASF ou de um dos demais membros da ESF (médico, enfermeira, dentista, auxiliar de enfermagem ou ACS). E ainda, com o objetivo de melhorar a promoção da saúde e educação em saúde da população de maior demanda dentro da unidade, foram criados os Grupos de Hipertensos e Diabéticos, participam em média 10 usuários, conduzido por uma enfermeira, geralmente com o apoio de um dos integrantes do NASF e agentes comunitários de saúde. No gráfico 4 – Destino do Lixo - Com relação ao destino do lixo por ser um local onde há área rural, apenas um pequeno percentual de lixo não é coletado. Apesar de haver coleta de lixo em praticamente 100% dos bairros, ainda há muito lixo espalhado pelas ruas, especialmente nas áreas em que há catadores de lixo reciclável. Isso se deve ao fato de que estes não têm onde armazenar adequadamente o material que coletam, bem como, muitos não tem como descartar 70 materiais coletados que não são recicláveis. Gráfico 4: Destino do Lixo. Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica, 2010. Assim, esse material acaba por ficar algumas vezes espalhado pelas ruas do bairro, e nestes, geralmente há possibilidade de acúmulo de água. Mesmo assim, apenas 10 focos do mosquito da dengue foram encontrados nessa região no ano de 2010, contudo, nenhum caso foi diagnosticado na área de abrangência do CSF, apenas 3 casos foram detectados no município, sendo todos ele importados de fora do município. Outro dado obtido foi o de que, juntamente com esse acúmulo de lixo ocorre a proliferação de animais peçonhentos,, ocasionando muitos acidentes. Ainda ocorrem muitas mordidas por cães que se multiplicam desordenadamente nestes locais, sendo estes o vetor de parasitose e outras zoonoses. Neste sentido, de acordo com Oliveira et al (2004), o acúmulo dos resíduos sólidos em vias públicas é responsável por uma série de problemas saúde da população, por poluir as águas, o ar, e favorecer a proliferação de insetos e roedores. Além de auxiliar no surgimento de vetores como moscas, ratos, urubus e animais nimais peçonhentos que se 71 instalam no local e se espalham pelas residências (LIMA, 1995). No gráfico 5 – Abastecimento de Água - Nas 2949 residências da área 95,95% recebem água da rede pública, 3,82% bebem água de poço e 0,23% de outras fontes, o que se sabe é que muitos dos poços perfurados na região não são potáveis para o consumo humano. Isso se deve ao fato de que há alguns anos existia um lixão na área de abrangência da unidade de saúde, sendo que assim, o solo foi contaminado pelo chorrume, quase que e impossibilitando o consumo da água de poços artesianos. Gráfico 5: Abastecimento de Água. Fonte: SIAB, 2010. De acordo com Lima (1995), uma das consequências marcantes do lixo depositado a céu aberto é a produção de chorrume, líquido escuro resultante e da decomposição de material orgânico presente no lixo, e que ao ser absorvido pelo solo atinge diretamente os lençóis freáticos, contaminando-os os com os mais variados microorganismos patológicos. Conforme observado no gráfico 6 – Destino das fezes e urina 72 - na área de abrangência da unidade de saúde 88,40% das residências tem fossa como meio para desprezar os resíduos humanos, 10,80% já tem suas casas ligadas á rede de esgoto e 0,80% este está á céu aberto. E mesmo não havendo uma rede adequada de esgoto foram f notificados apenas 79 casos de diarréia à Vigilância Epidemiológica no ano de 2010. Gráfico 6: Destino das fezes e urina. Fonte: SIAB, 2010. Mas um problema que vem se arrastando a mais de um ano, é o fato de em mais da metade das residências dos bairros Jardim América e Parque das Palmeiras, principalmente no verão volta para dentro das residências um odor do esgoto proveniente da tubulação que qu liga o esgoto na rede geral. Em uma das ruas a situação é tão grave que alguns dos moradores já tiveram crises alérgicas, principalmente respiratórias que pode estar associado ao contato direto com este gás. Por este motivo que segundo Nery e Vanzin (2002), é importante que o governo promova programas para a construção de moradias e melhoria das condições do ambiente através do 73 saneamento básico. Pois se pode perceber a relação entre o fornecimento de saneamento para a população e o impacto dessas condições no bem estar dos indivíduos. No gráfico 7 – Grupos comunitários – segundo as informações coletadas, existem cerca de doze grupos comunitários, uma associação de moradores e nenhuma cooperativa nesta comunidade. Gráfico 7: Grupos comunitários. Fonte: SIAB, 2010. Dentre os grupos comunitários e/ou religiosos, cooperativas, associações, entidades filantrópicas ou independentes existentes na área de abrangência da ESF estão: Pastoral da Criança; Lions; Grupo de Mães; Grupo de Idosos (Católico e Assembléia); sembléia); Grupo de Mulheres (Clube de Mães e Ginástica); Grupo de Jovens; Grupo de Crianças da Comunidade Barra do Rio dos Índios; estes espaços são provedores de atividades de lazer e cultura. Para Nery e Vanzin (2002), o lazer faz parte das necessidades humanas básicas e contribui muito para o desenvolvimento e 74 crescimento do ser humano devendo ser incentivado desde cedo. Porém, as atividades de lazer estão limitadas às classes sociais mais altas, pois geralmente, o lazer tem custos. Já a cultura refere-se aos valores e crenças, normas e modos de vida praticados. Na saúde ela influencia em seu valor e significado, bem como o cuidado. Podendo contribuir para o surgimento de problemas de saúde ou proteger desses problemas (HELMAN, 2003). As praças e locais de lazer existentes na área compreendem: o Complexo Esportivo do Verdão (quadras poliesportivas, pista de skate, pista de corrida, campo de futebol e local apropriado para modalidades de arremesso de peso e dardo, campo de areia, ginásio de esportes, academia para atletas, praça para crianças e área verde); o Parque das Palmeiras (área verde, pista de caminhada, praça infantil, churrasqueiras e quiosques); a Sede dos Servidores Públicos Municipais (ASSEMCHAP); Centro de Tradição Gaúcha (CTG) Herança Gaúcha, localizado no bairro Vitório Rosa; além de cinco salões comunitários nas comunidades, apenas o Vitório Rosa não tem. Todas as áreas, com exceção da ASSEMCHAP, são bastante utilizadas pela população. Outro dado quantitativo levantado na pesquisa foi o fato de as religiões predominantes na área serem: Católica, Quadrangular e Assembléia de Deus. E segundo Nery e Vanzin (2002), atualmente existem vários tipos de religiões, onde cada uma crê em um ser superior, e por meio deste procura atender as necessidades espirituais de seus seguidores. Ainda para as autoras, muitas pessoas procuram as religiões e cada uma tem poder de decidir qual seguir. Mas deve-se ter consciência de que esta por si só não solucionará seus problemas, também no caso da saúde, pois muitos acreditam que por si só deus solucionará seus problemas de saúde, podendo prejudicar o tratamento e, por vezes, por 75 em risco a vida do fiel. Com relação a qualidade de vida da população na área de abrangência da ESF algumas áreas de maior risco social, estas estão distribuídas da seguinte maneira: Jardim América uma área denominada “Baixada dos Fortes”, esta que é uma área considerada irregular, onde os terrenos são da prefeitura e foram invadidos; No Parque das Palmeiras há uma área industrial e onde se localiza uma distribuidora de energia, havendo bastante poluição sonora; No loteamento Vitório Rosa e Vila Mantelli existem muitos matos pois o local está em processo de urbanização, mas já muitos trabalhadores da agroindústria tem que passar por estes locais para ir ou voltar para o trabalho, geralmente na madrugada; e a Barra do Rio dos Índios fica na área rural bem como localizado atrás de uma penitenciária, servindo de refúgio para eventuais fugitivos. Assim, segundo Tunes (1995), para se obter um conhecimento satisfatório sobre a comunidade é preciso ter um mapa da comunidade, facilitando o delineamento da mesma, bem como a ação e o limite para o trabalho do ACS e da Equipe de ESF. Sendo que, através do mapeamento das áreas de risco, é possível determinar as áreas de maior foco de enfermidades e condições que afetam a saúde da população. De acordo com o gráfico 8 – Consulta médica por faixa etária – em 2010 os idosos entre 60 e 100 anos, utilizaram o correspondente a 8,27% das consultas. Inicialmente pensava-se que eram os idosos quem demandavam o maior número de consultas, mas conforme observado no gráfico anterior os usuários da faixa etária entre 20 e 59 anos são os que têm ocupado o maior número de consultas ocupando 57,25% das mesmas. 76 Gráfico 8: Consulta médica por faixa etária. Fonte: SIAB, 2010. Dentre as 9756 consultas médicas realizadas no ano de 2010 foram solicitados 3202 exames complementares para patologia clínica, 292 exames de radiodiagnóstico, 157 exames de ultrassonografia obstétrica e 216 outros exames em geral. uantidade de consultas médicas, Ainda devido a grande quantidade odontológicas e de enfermagem, foram realizados 28668 os procedimentos individuais de enfermagem, dentre estes se pode citar: curativos, inalações, injeções, retirada de pontos, verificação de sinais, sondagem e terapia de reidratação oral. Observou-se se que devido à grande demanda dentro da unidade de saúde foram realizados poucos atendimentos em grupo para educação em saúde e promoção da saúde foram cerca de 60, incluindo os grupos de hipertensos, caminhada orientada, grupo de reeducação alimentar, teatro da Estrelinha Azul (educação em higiene corporal e oral para criança dos CEIM e escolas), Rua do Lazer e Natal Solidário (distribuição de brinquedos e doces para crianças das áreas mais carentes). 77 Dentre as atividades de prevenção e educação em saúde mais desenvolvidas, são as de prevenção em Saúde Bucal, geralmente realizado com as turmas até 7ª série das escolas e os CEIM da área de abrangência do CSF, conduzido pelos dentistas das respectivas áreas com o apoio das ACS e esporadicamente pelos demais profissionais da sua ESF ou NASF. Segundo dados do Ministério da Saúde em Brasil (2008), a inserção de ações em Saúde Bucal na ESF, regulamentada em dezembro de 2000, proporcionou um espaço de práticas voltadas para a reorientação do processo de trabalho e atuação dentro da própria Saúde Bucal no âmbito dos serviços de saúde. Entre 2001 e 2003 uma equipe de Saúde Bucal estava vinculada a duas equipes de ESF, mas o número elevado de procedimentos curativos comprometia a realização das ações de promoção e prevenção em saúde. A partir de 2003, o MS aumentou o financiamento em cerca de 60% o incentivo financeiro, atrelando uma equipe de Saúde Bucal a apenas uma Equipe de ESF, melhorando com isso as ações de prevenção e educação em saúde. Com relação ao número de reuniões internas para planejamento, no ano de 2010 foram realizadas 52 reuniões, sendo intercaladas as reuniões por equipe de ESF com a geral do CSF. Já as reuniões com o Conselho Local de Saúde foram 6, estas realizadas a cada 2 meses na primeira ou segunda quinta feira de cada mês. O gráfico 9 – Encaminhamentos – demonstra as consultas médicas ou odontológicas de especialidades mais solicitados. No total foram feitos 2182 encaminhamentos nas 9756 consultas, isso corresponde a cerca de 22% das consultas que não tem sua causa resolvida na atenção básica, estando dentro do preconizado pelo MS de acordo com a portaria n.º 1101/GM Em 12 de junho de 2002. 78 Gráfico 9: Encaminhamentos. Fonte: SIAB, 2010. Apesar de o total geral dos encaminhamentos estarem de acordo com o considerado adequado, as suas subdivisões não estão dentro do preconizado, isso porque, de acordo com a portaria anteriormente citada a traumatologia (ortopedista e fisioterapia) estaria em primeiro lugar entre os encaminhamentos mais frequentes, frequentes oftalmologista em segundo lugar e cirurgia geral em terceiro. Na análise dos dados levantados, o encontrado foi a maior demanda para oftalmologista seguido dos encaminhamentos para o CEO, já os encaminhamentos aminhamentos para ortopedista ocupam o terceiro lugar. Contudo, foram encontrados uma diversidade menor de especialidades do que as descritas na portaria, porém com percentuais bem mais elevados do que o preconizado, como por exemplo oftalmologista que o ideal deal seria 2,8% dos encaminhamentos e o encontrado foi 19,15%; o ortopedista ideal 2,9%, encontrado 13,10%; dermatologista ideal 1,1%, encontrado 5,68%. Assim, tem-se se uma falsa idéia de que se está conseguindo 79 manter a resolutividade da atenção básica, pois is não há profissionais o suficiente para atender a todos esses encaminhamentos, criando com isso uma demanda reprimida e gerando uma espera prolongada até a consulta. No gráfico 10 – Visitas domiciliares – pode-se se observar neste gráfico que foram realizadas as 453 visitas domiciliares pelo dentista, 247 pelo médico, 574 pelos profissionais de nível médio (auxiliares ou técnicos de enfermagem) e 96 pelas enfermeiras. Já as ACS não aparecem no gráfico, mas foram 17379 visitas. Gráfico 10: Visitas domiciliares. Fonte: SIAB, 2010. Segundo Nogueira e Fonseca (2005), a visita domiciliar é uma atividade, simultaneamente educativa e assistencial a qual permite uma melhor interação entre a equipe de saúde, e da enfermagem em particular, com o individuo e a família, permitindo uma continuidade da assistência desenvolvida na unidade básica de saúde. Outro dado encontrado na pesquisa foi o de que, o atendimento individual de enfermeiro totalizou 7358 consultas, sendo que entre estas estão inclusas o atendimento nto ao hipertenso, diabético, puericultura, preventivo e consulta de atendimento à saúde da mulher. Diariamente 80 são em média de 25 a 30 consultas de enfermagem, ficando a enfermeira sobrecarregada com o atendimento individual, reduzindo consideravelmente as atividades de prevenção e educação em saúde, bem como as visitas domiciliares pela demanda da unidade. Assim, no ano de 2010 foram realizadas apenas 96 visitas domiciliares pelas enfermeiras da unidade de saúde, também pelo fato de se ter demanda espontânea e por vários períodos a unidade contar com apenas uma enfermeira assistencial, ficando esta restrita ao atendimento dentro da unidade de saúde. Por este motivo foi elaborado um cronograma de atendimento para a enfermagem, onde existem dias da semana para o atendimento ao hipertenso, diabético, puericultura, preventivo, Planejamento de ESF/Visita domiciliar, Grupos de educação em saúde (hipertensos e reeducação alimentar) e consulta de atendimento à saúde da mulher. Este cronograma por si só já é uma forma de educar a população, aliado a isso, há maior possibilidade de organização e planejamento das ações de promoção e educação em saúde, as quais a enfermeira participa. Isso se deve ao fato de existirem grupos que não tem muito acesso à unidade de saúde para este tipo de ações, restringindo-se em apenas consultar após a doença instalada. Uma forma de permitir que tanto a enfermeira quanto o médico tenha participação mais ativa nas ações anteriormente citadas, seria a diminuição da população atendida pelas Equipes, aumentando em mais uma Equipe de ESF, pois para as instaladas já passa de 5 mil habitantes para cada uma. Um dos grupos onde não há nenhum tipo de ação de promoção e prevenção é o grupo da população denominada economicamente ativa. E conforme encontrado na pesquisa existem muitas empresas bairro, são elas: supermercados; mini mercados; laticínio; metalúrgica; transportadoras; lojas de roupas, calçados, materiais de construção, 81 produtos automotivos; distribuidora de frios; distribuidora de energia elétrica; pequenas mecânicas e oficinas automotivas; bazares; salões de beleza; escritórios de contabilidade; gráficas; chaveiro; construtora; estúdio de fotografia, sapateiro; panificadoras; dentistas; farmácias; loja de noivas; revendedora de caminhões. Assim, a renda dos moradores é, na sua maioria, proveniente da agroindústria, indústria de metais, comércio formal e informal, bem como, da coleta de material reciclável. Devido ao fato de não existir atendimento específico voltado para esse grupo de pessoas, aliado a falta de tempo para participar destas atividades, além da sobrecarga da equipe de consultas curativas, esses pacientes acabam por procurar mais os serviços do SUS de pronto atendimento na Unidade de Saúde do bairro Efapi, pronto atendimento do Centro da cidade ou Hospital Regional do Oeste, ficando a procura pela unidade de saúde apenas quando as doenças já instaladas ou o seu problema já crônico, como no caso dos problemas ortopédicos. Assim, conforme Brêtas (2011) localizar unidades de saúde ou pontos de atenção próximos de onde mora ou trabalha a população é um dos pressupostos da Atenção Primária em Saúde formulada na Conferência Mundial de Saúde de Alma-Ata, podendo isso garantir um melhor acesso. No gráfico 11 – Vacinas – estão dispostas as doses de vacinas utilizadas, doses aplicadas, bem como a perda técnica durante o ano de 2010. Segundo os relatórios da Vigilância Epidemiológica as metas de vacinação sempre são alcançadas, mas para isso são perdidas muitas doses de vacinas, as quais acabam sendo desprezadas pela pouca procura da população adulta para atualização do seu esquema vacinal. 82 Gráfico 11: Vacinas. Fonte: SIAB, 2010. Assim, percebe-se se a necessidade de investir em ações que possam estar colocando em dia as vacinas cinas da população adulta, além de orientar e conscientizar a população da importância das vacinas para sua faixa etária, sendo as principais a dupla adulto, Hepatite B e Febre Amarela. 4.2 APLICAÇÃO DO MAPP Para a aplicação do MAPP foram realizadas duas oficinas. Uma delas com os profissionais do CSF Jardim América durante uma reunião de equipe, outra com a população em uma reunião do Conselho local de saúde (CLS). Em ambas as reuniões inicialmente foram apresentados os dados descritos na seção anterior, após isso, foi solicitado para que as pessoas relatassem a partir desses dados o que estas entendiam que estavam interferindo na promoção da saúde da comunidade. 83 Passo 1 - Seleção dos problemas do plano a) Falta de ações da Equipe como um todo para a promoção e educação em saúde na comunidade; b) Desinformação dos usuários/pacientes sobre a atenção básica; c) Falta de local adequado para abrigo do usuário, no sentido de protegê-los da chuva, sol e frio; d) Grupo da caminhada cada vez menor. Passo 2 - Descrição do problema d1 - Na reunião interna da equipe ficou entendido que os maiores problemas que acabam por interferir na promoção em saúde é a sobrecarga da equipe com as atividades rotineiras dentro da unidade de saúde, estas que geralmente estão ligadas á visão curativa. d2 - Outro fator é a falta de orientação dos pacientes do sentido de como funciona a atenção básica, uma vez que estes estão muito voltados para o olhar curativo. d3 - Já para os usuários os fatores que influenciam negativamente na promoção da saúde não é a falta de atividades educativas ou de promoção em saúde propriamente ditas. Estes entendem que a falta de um lugar na frente na unidade de saúde, para que os mesmos fiquem abrigados da chuva e sol enquanto aguardam a unidade abrir, faz com que estes se sintam menosprezados. d4 - Outro ponto levantado e de comum acordo a todos, é o fato de que o grupo da caminhada orientada diminui após a troca do profissional responsável (orientador físico), onde os pacientes não têm muita afinidade pela forma como o grupo está sendo conduzido e relata que gostariam de ter novamente à frente do grupo a profissional anterior a 84 esta. Passo 3 - Explicação do problema d1 – equipe atendendo a um número elevado de usuários – elevado número de consultas e procedimentos – falta de tempo para planejar e desenvolver ações de promoção e educação em saúde. d2 – muitas pessoas trabalham ou estudam, muitas vezes não recebendo as ACS em casa para serem orientados - só procuram a unidade de saúde quando a já estão dentes, onde as orientações então repassadas ficam voltadas para a reabilitação ou manutenção da doença, assim, as orientações de prevenção só acontecem no sentido de prevenir agravos referentes a doença já instalada. d3 – unidade de saúde tem muitos computadores e a frente é toda de vidro, assim na madrugada os portões ficam chaveados tendo apenas um local coberto na parte interna do pátio – quando chove ou é frio, não há local adequado para os pacientes se abrigarem na madrugada, pois durante o dia este portão fica aberto. d4 – o grupo de caminhada existe a pelo menos dois anos, os pacientes já tinham vínculo com a profissional anterior, o profissional atual não segue a mesma linha metodológica de trabalho e assim, os pacientes começaram a participar cada vez menos desta atividade. 85 Passo 4 - Desenho da situação objetivo VDP - VETOR DE DESCRIÇÃO DO PROBLEMA d1: Falta de ações da equipe como um todo para a promoção e educação em saúde na comunidade; d2: Desinformação dos pacientes sobre a atenção básica; d3: Falta de local adequado para abrigo do pacientes da chuva e frio; d4: Grupo da caminhada cada vez menor. VDR - VETOR DE DESCRIÇÃO DE RESULTADO r1 – Diminuir a demanda dentro da unidade de saúde para ações curativas, aproveitando melhor o tempo reservado para estas ações e solicitando a colaboração da equipe do NASF; r2 – Elaborar um material informativo que possa ser deixado na casa dos usuários onde as ACSs não conseguem fazer visita por não ter ninguém em casa, esse material terá a cada período um tema diferente; r3 – Buscar com a secretaria de saúde a possibilidade de se construir um toldo para que os pacientes possam ficar na espera pelo posto abrir, mas acima disso, trabalhar a orientação de que não é necessário ficar de madrugada para aguardar consulta; r4 – Estimular a população para que participem da caminhada, para isso pose ser realizado atividades como gincanas e danças, como já realizado em outros momentos; Realizar um aconselhamento do profissional sobre o objetivo do grupo e orientá-la da forma como o mesmo deve ser conduzido para estimular a participação da população. Quadro 12: Desenho da situação objetivo. Fonte: Dados do autor, 2012. r1: O NASF, como organismo vinculado a ESF, deve compartilhar os desafios e contribuir para o aumento da resolutividade e da efetivação da coordenação do cuidado na Atenção Primária (BRASIL, 2010a). Ainda, de acordo com Horta et al (2008), a redução de demanda por consultas na unidade de saúde, por meio da implementação de grupos, 86 pode configurar-se como uma possibilidade interessante quando orientada por uma abordagem de integralidade, cuidadora e resolutiva frente às necessidades de saúde dos usuários. Ainda para as autoras, é importante refletir se essa redução é proporcional ao cuidado e à cor-responsabilidade dos usuários com seu processo saúde-doença ou se acontece somente porque os mesmos passam a ter as suas receitas “em dia”, mas mantêm condições de saúde ruins e são expostos a complicações e agravos. r2: De acordo com dados do MS em Brasil (2010b), apesar da Atenção Básica ser usualmente denominada como a “porta de entrada” dos usuários ao SUS, por vezes, ela parece ser apenas mais um setor do SUS, onde as ações em algumas cidades e estados ainda estão atrelados ao modelo curativo, deixando de lado as ações norteadoras de sua política. Isso ocorre devido ao fato de que a população ainda não entende como funciona esse processo, uma vez que os falta orientação, e assim, estes acabam por procurar assistência à saúde apenas quando a doença já está instalada e em um estado já bastante avançado. Apesar disso, em alguns lugares ela já funciona de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, claro que com algumas ressalvas devido as diferenças culturais das mais diferentes regiões do país, onde as ações de promoção e prevenção já conseguem fazer uma diferença significativa na qualidade de vida da população. r3: A educação em saúde constitui um conjunto de saberes e práticas orientados para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Tratase de um recurso por meio do qual o conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde, intermediado pelos profissionais de saúde, atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a 87 compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde. No âmbito da ESF, a educação em saúde figura como uma prática comum a todos os profissionais, espera-se que estes sejam capacitados para assistência integral e contínua às famílias da área adscrita, desenvolvendo processos educativos para a saúde, voltados à melhoria do autocuidado dos indivíduos (BRASIL,1997 apud ALVES, 2005). r4: Segundo dados do MS em Brasil (2010b), a assimetria entre o conhecimento sistematizado da atividade física e o conhecimento local podem ser evidenciadas, pois quando não há aderência da comunidade nas práticas esportivas, o educador físico, bem como os demais membros da equipe, podem valorizar as manifestações culturais, as quais podem envolverem a dança, jogos esportivos e populares, artes cênicas e até brincadeiras que podem ser constituídas ou adaptadas pela comunidade, na tentativa de estimular a adesão dos mesmos. 88 89 5 CONCLUSÕES Conhecer o MAPP como instrumento utilizado na elaboração do planejamento para a unidade básica de saúde, fez com que houvesse uma melhor compreensão de que algumas vezes o diagnóstico situacional pode sim demonstrar muitas necessidades referentes a melhoria da saúde da população, mas que este por si só não garante a melhoria da qualidade de vida da mesma. Isso se deve ao fato de que a esta estão relacionados inúmeros fatores, principalmente sociais, e sendo o método muito coerente com os princípios do SUS, talvez seja uma forma de efetivamente aplicá-los. Dentre os objetivos almejados foi conseguido através do MAPP identificar o perfil epidemiológico da população, para com este poder identificar e explicar os problemas que afetam a efetivação da Promoção da Saúde nesta população. A elaboração do planejamento estratégico só foi possível uma vez que a população entendeu a importância de uma construção dos projetos juntamente com a equipe e a partir daí a perspectiva de estimular o aumento da resolutividade nas ações de Promoção da Saúde fica mais próximo da realidade. Evidenciou-se que a necessidade de conhecer a comunidade vai muito além do esperado, uma vez que ao desenvolver o diagnóstico situacional foram levantadas inúmeras dificuldades e pontos a serem melhorados. Também observado, que muitas destas dificuldades já estão sendo sanadas mesmo que empiricamente, mas de suma importância serem melhoradas de forma a aumentar a sua efetividade. Ao aplicar o método juntamente com a comunidade não se fazia idéia de que estes fariam uso do mesmo de forma a reivindicar melhorias nas ações de promoção em saúde, conforme observado na situação da caminhada. Uma vez, em que a cada reunião do Conselho Local de Saúde muitos dos participantes atribuíam as reivindicações à 90 problemas pontuais e pessoais, os quais poderiam ser resolvidos diretamente com a Equipe. A solicitação de um espaço para abrigar-se enquanto aguardam a unidade abrir, se for olhado pelo lado curativo, não há razão de ser, pois se entende que não há necessidade de se chegar tão cedo uma vez que poucas vezes não se consegue atender a todos os pacientes que ali chegam, bem como, o atendimento é anteriormente agendado. Mas quando levado em conta a questão cultural, por hora, pouco pode ser mudado, visto que a população seguidamente é orientada pela equipe que não é necessário vir tão cedo para aguardar consulta, mas sem grandes resultados. Talvez efetivando as demais atividades de promoção em saúde, pode-se então ter melhores resultados neste sentido. Enquanto isso, na concepção da população, para melhorar a qualidade do atendimento e para que se sintam melhor acolhidos, a construção deste espaço é um fator muito significativo. Quando desenvolvida a oficina com a Equipe do CSF, chegouse a conclusão de que um dos fatores que interfere na promoção em saúde, em grande parte se deve a restrição do tempo demandada pela rotina, aliado a falta de recursos humanos e planejamento condizente para que esta efetivamente ocorra. Talvez a Equipe ainda deva ser trabalhada no sentido de que devemos sim realizar atividades educativas e curativas, mas que estas têm seu resultado maximizado quando associadas a atividades de promoção em saúde, uma vez que, quando a população gosta, ela ajuda a construir, assim, melhorar a promoção em saúde é sinônimo de melhorar o vínculo com a comunidade. Contudo, uma das principais contribuições deste projeto foi o auxílio no entendimento da própria Equipe, bem como da pesquisadora, sobre a importância de se escutar os anseios e necessidades da população. Uma vez que, a Equipe pode até fazer planejamento do que 91 na sua visão é necessário, mas que nem sempre na prática é aplicável. Além disso, seria um tanto audacioso dizer que apenas estes fatores levantados são causadores na não efetivação da promoção da saúde, devido ao fado do processo saúde-doença ser muito complexo. Assim, estes, por hora são entendidos como um dos fatores negativos, e sabendo da necessidade em avaliá-los de tempo em tempo. Ainda sugere-se que trabalhos com outros setores ou secretarias municipais seja desenvolvidos para poder alcançar os novos objetivos que possam surgir. 92 93 REFERÊNCIAS ALVES, V. S. Um modelo de educação em saúde para o Programa Saúde da Família: pela integralidade da atenção e reorientação do modelo assistencial. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 9. n. 16, p. 39-52, fev. 2005. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/icse /v9n16/v9n16a04.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2011. ANDION, M. C.; FAVA, R. Planejamento estratégico. Gazeta do povo. Curitiba, n 2, p. 27-38, 2002. Disponível em: < http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/gestao/empresarial.pdf >. Acesso em: nov. 2011. ANDRADE, L. O. M.; BUENO, I. C. H. C.; BEZERRA, R. C. Atenção primária a saúde e estratégia de saúde da família. In: CAMPOS, W. S. et al. (Org). Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de atenção primária: rastreamento. Brasília, DF, 2010b. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF: Núcleo da Apoio a Saúde da Família. Brasília, DF, 2010a. (Cadernos de Atenção Básica). BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégia de saúde da família. 2011. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=149> . Acesso em: 3 mai. 2011. BRASIL. Constituição da República do Brasil (Constituição de 1988). Rio de Janeiro: Degrau Cultural, 1988. (Artº 196, Artº 30). BRASIL, Ministério da Saúde. Perfil de competências profissionais do agente comunitário da saúde (ACS): visão preliminar. Brasília, DF, 2007. BRASIL. Ministério da Saúde. Temático saúde da família. Brasília, DF: Organização Pan–Americana de Saúde, 2008. BRÊTAS, N. Atenção CONASEMS, 2011. básica que queremos. Brasília, DF: 94 BUSS, P. M. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciência e Saúde Coletiva, Brasília, v. 5. n. 1. p. 163-177, 2000. CASTRO, A.; MALO, M. SUS: ressignificando a promoção da saúde. São Paulo: OPAS, 2006. COSTA, E. M. A.; CARBONE, M. H. Saúde da família: uma abordagem interdisciplinar. Rio de Janeiro: Rubio, 2004. DA ROS, M. A. Políticas públicas de saúde no Brasil. In: BAGRICHEVSKI, M. (Org.). Saúde em debate na Educação Física. Blumenau, SC: Nova Letra, 2006. FIGUEIREDO, N. M. A. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2005. FONSECA, L. et al. Homens e cuidado: uma outra família? São Paulo, 2003. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/demograficas.html>. Acesso em: 24 mai. 2007. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1999. GONÇALVES, H. GIGANTE, D. Trabalho, escolaridade e saúde reprodutiva: um estudo etno-epidemiológico com jovens mulheres pertencentes a uma coorte de nascimento. Caderno de Saúde Publica. Rio de Janeiro, v. 22, n. 7, p. 1459-1469, jul. 2006. HELMAN, C. Cultura, saúde e doença. Porto Alegre: Artmed, 2003. HAIDAR, F. H.; OLIVEIRA, U. F.; NASCIMENTO, L. F. C. Escolaridade materna: correlação com os indicadores obstétricos. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 17, n. 4, p. 1025-1029, ago. 2001. HORTA, N. C. A prática de grupos como ação de promoção da saúde na estratégia saúde da família. Revista de Atenção Primária em Saúde, Juiz de Fora, v. 12. n. 3. p. 293-301, jul./set. 2009. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil: 2000. Rio de Janeiro, 2002. 95 LIMA, L. M. Q. Lixo tratamento e biorremediação In: NASCIMENTO, A. C.; OLIVEIRA, G. B. Gestão e política pública para o desenvolvimento ambiental sustentável: um estudo sobre os programas de reciclagem do lixo urbano na cidade de Curitiba, 1995. 3. Ed. São Paulo: Hemus, 2002. 240p. Disponível em: <http://www.unifae.br/publicacoes/pdf/sustentabilidade/aline_gilson.pdf> . Acesso em: 20. nov. 2011. MINUCHIN, S. Famílias: funcionamento e tratamento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. NERY, M. E. S.; VANZIN, A. S. Enfermagem em saúde pública: fundamentação para o exercício do enfermeiro na comunidade. 3. ed. Porto Alegre: RMSL Gráfica/Editora, 2002. NEVES, R. Gestão em saúde pública. Florianópolis: SES, 2008. NOGUEIRA, M. J. C.; FONSECA, R. M. G. S. A visita domiciliar como método de assistência de enfermagem à família. São Paulo: Escola de Enfermagem da USP, 2005. NUNES, E. D. Saúde coletiva: história de uma idéia e de um conceito. In: CAMPOS, W. S. et al (Org.). Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Editora Hucitec, 2006. OLIVEIRA, S. A. et. AL. Estudo da produção per capita de resíduos sólidos domiciliares da cidade de Campina Grande, PB. Revista Saúde e Ambiente, Joinville, v. 5, n. 2, 2004. OLIVEIRA, T. B. M.; PRESOTO, L. H. Eficácia de um programa de promoção da saúde em infantes de pré-escola na cidade de Anápolis, Goiás. Rio de Janeiro: ABRASCO, 2009. PEREIRA, D. Saneamento básico: situação atual da América Latina com enfoque no Brasil. 2011. Disponível em: <http://tierra.rediris.es/hidrored/congresos/psevilla/dilma1po.html>. Acesso em: 26. nov. 2011. RANGEL, R. C. P. Planejamento e instrumentos de gestão no SUS. Florianópolis: SES, 2011. SANTOS, N. C. M. Home care: a enfermagem no desafio do atendimento Domiciliar. São Paulo: Látria, 2005. 96 SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. SOUZA, C. R.; LOPES, S. C. F.; BARBOSA, M. A. A contribuição do enfermeiro no contexto de promoção à saúde através da visita domiciliar. 2004. Revista da UFG, Goias, v. 6, 2004. Especial. Disponível em: <http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/familia/G_contexto. html>. Acesso em: 18. nov. 2011. STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília, DF: Unesco, 2002. Diponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o_prim%C3%A1ria_ %C3 %A0_sa%C3%BAde<http://pt.wikipedia.org/wiki/Atenção_primária_à_sa úde>. Acesso em: 18. nov. 2011. TANCREDI, F. B.; BARRIOS, S. R. L.; FERREIRA, J. H. G. Planejamento em saúde. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, 1998. TUNES, E. O trabalho do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 1995. 97 APÊNDICES 98 APÊNDICE A – Roteiro de Coleta de Dados da Ficha A Este instrumento servirá de base para a coleta de dados que servirão de base a um diagnóstico prévio para o conhecimento situacional da comunidade a que se dirige esta pesquisa, sendo este bem abrangente e sem intenção de serem analisados isoladamente. IDADE SEXO QUANTIDADE ALFABETIZADO IDADE SEXO ALCOOLISMO CHAGAS DEFICIÊNCIAS DIABETES DISTÚRBIO MENTAL EPILEPSIA GESTAÇÃO HIPERTENSÃO ARTERIAL HANSENÍASE MALÁRIA TUBERCULOSE DESTINO DO LIXO Coletado Céu aberto Queimado 0-5 DADOS PESSOAIS 6-12 15-19 20-59 60 OU + DOENÇA OU CONDIÇÃO REFERIDA 0-5 6-12 15-19 20-59 60 OU + QUANTIDADE 99 TRATAMENTO DE ÁGUA NO DOMICÍLIO Filtrada Fervida Coloração Sem tratamento QUANTIDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Rede Pública Poço/ Nascente Outros DESTINO DAS FEZES E URINA Rede de esgoto Céu aberto Fossa PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS COMUNITÁRIOS Cooperativa Grupo Religioso Associações Outros Tijolo Taipa revestida TIPO DE CASA Taipa não Madeira revestida Quantas possuem energia elétrica Número total de residências QUANTIDADE QUANTIDADE Especificar Material aproveitado Outros 100 APÊNDICE B – Roteiro para Coleta de Dados do “Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação Os dados remanescentes deste instrumento de coleta irão complementar os obtidos com o apêndice A, conhecimento prévio da comunidade. Relatórios de produção: Número de atendimento a pessoas residentes em outro município Consulta médica por faixa etária Total geral de consultas Consulta para paciente com Doença Sexualmente Transmissível (DST)/ Doença da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) Encaminhamento médico para atendimento de urgência e emergência Prevenção de câncer cérvico uterino Número de puericulturas Consulta para diabetes Consulta para hipertensão arterial Consulta para tuberculose Encaminhamento médico para internação hospitalar Atendimento individual de enfermeiro Solicitação de exames complementares pela enfermeira Laboratoriais Mamografia Procedimentos de enfermagem (curativos, inalações, injeções, retirada de pontos, verificação de sinais, terapia de reidratação oral) Sutura Procedimentos coletivos (PCI) Reuniões para planejamento Atendimento em grupo para educação em saúde/ promoção da saúde Solicitação de exames complementares por médico para: Patologia clínica Radiodiagnóstico Citopatológico Ultra-sonografia obstétrica Outros Atendimentos de pré-natal Encaminhamento médico para atendimento especializado Descrever todos os encontrados no 101 Marcadores: Acidente Vascular Carebral Infarto Agudo do Miocárdio NIC III RN com peso menor do que 2500g Gravidez em menor de 20 anos Hospitalização em menor de 5 anos por pneumonia Hospitalização em menor de 5 anos por desidratação Hospitalização por abuso de álcool Hospitalização por complicações do diabetes Hospitalização por qualquer causa Internação em hospital psiquiátrico Óbitos em menor de 1 ano por todas as causas Óbitos em menor de 1 ano por infecção diarréica Óbitos em menor de 1 ano por infecção respiratória Óbitos de adolescentes por violência (entre 10 e 19 anos) Visitas domiciliares pelo enfermeiro Visitas domiciliares pelo dentista Visitas domiciliares pelo médico Visitas domiciliares por profissional de nível médio Visitas domiciliares pelo ASC 102 APÊNDICE C – Roteiro de Coleta de Dados dos Relatórios Mensais Extraídos do Sistema Municipal de Prontuário Eletrônico Com este instrumento, a intenção é de conhecer a comunidade no que se diz respeito a como, e para que fins utilizam a unidade de saúde, buscando entender melhor o que é mais importante e necessário para ela. Número de gestantes cadastradas ___________________________________ Mulheres em programa de planejamento familiar ________________________ Quais programas são do Ministério da Saúde são efetivados nesta unidade? _________________________________________________________ _________________________________________________________ Quais os grupos que existem na unidade, a quanto tempo estão funcionando, número médio de participantes, forma como é conduzido, quem o conduz? _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Quais os tipos de atividades estratégicas utilizadas na prevenção de doenças e promoção da saúde _________________________________________________________ _________________________________________________________ Número de escolares atendidos em atividades de educação em saúde e promoção da saúde por faixa etária _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 103 APÊNDICE D - Instrumento de coleta de dados dos relatórios provenientes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária do município Quanto a Cobertura Vacinal - Doses Utilizadas X Doses Aplicadas Este instrumento de coleta de dados irá fornecer informações acerca de como o município vê a comunidade que está sendo pesquisada, uma vez que as necessidades, pessoas e situações são passadas a alguns setores em forma de números, que não necessariamente equivalem a realidade vivenciada na prática do dia a dia. Números de focos do mosquito da dengue na área Número de nascidos vivos Óbito fetal Óbitos menor de 1 ano Óbitos de mulher em idade fértil Óbito por qualquer causa Casos de diarréia Casos de tuberculose Casos de hanseníase Casos diagnosticados de HIV/AIDS Casos de Hepatite A Casos de Hepatite B Casos de Hepatite C Gestantes novas Gestantes em acompanhamento com HIV Total de casos de HIV Acidente com animais peçonhentos Atendimento anti-rábico Doenças exantemáticas Meningite Varicela Caxumba Hantavirose Dengue Teníase Cisticercose Rotavírus Evento adverso pós-vacinal Sífilis em gestante Continua... 104 Continuação Demais casos de sífilis Coqueluche Toxoplasmose Desnutrição grave Intoxicação exógena Condiloma acuminado Herpes genital 105 APÊNDICE E - Instrumento de Coleta de Dados a partir da Observação do Território Neste instrumento, serão levantadas informações que podem nos trazer a resposta para algumas inquietações cotidianas, que muitas vezes ficam no abstrato por não se conhecer o território em que a unidade de saúde está inserida. Quais as empresas existentes no bairro: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Quais as escolas e respectivo número de alunos: Municipal: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Estadual _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ CEIM e outras instituições de ensino: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Quais as praças e locais de lazer existentes? _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 106 De que natureza é a renda dos moradores (indústria, comércio ou informal, por exemplo): _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Existem que grupos religiosos, cooperativas, associações, entidades filantrópicas ou independentes: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Quais as religiões predominantes: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Onde se localizam as igrejas e que religiões pertencem: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Quais são as áreas de risco e irregulares: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
Download