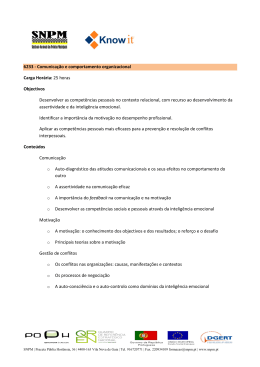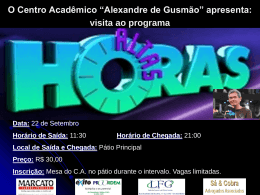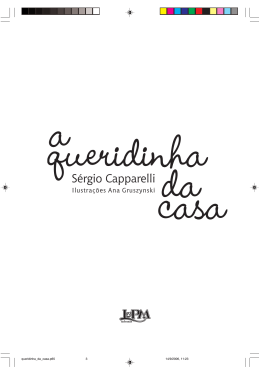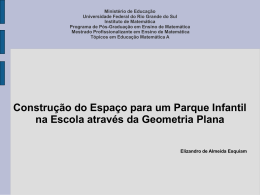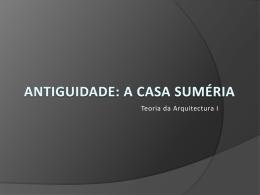As noites na cadeia vêm dizer que ali o tempo tem preguiça de passar. Melhor em maio que em julho, quando a umidade do concreto penetra sem dó nos corpos mais franzinos. Melhor em maio que em janeiro, quando o ambiente fi ca tão abafado que mal deixa respirar. A noite do último domingo passou ainda mais lenta que todas as outras. Tudo começou no sábado, quando duas recém-chegadas planejavam como fugir. Mesmo com todo cuidado o segredo acabou se espalhando e, de cochicho em cochicho, chegou à administração. Pelo plano de fuga inacabado, o castigo recebido foi um domingo na tranca ------ assim era o jeito de se falar no dialeto da prisão. Muitas, com a mesma roupa de sábado, pois motivo para se trocar não tinham, ficaram empilhadas, mais de vinte em cada cela, entre as seis camas de cimento. Naquele dia, ninguém viu a cor do sol, respirou um ar mais puro ou saiu para caminhar. A pretensão de apenas duas rendeu prejuízo a todas. As coisas nesses lugares são difíceis de separar. Santos, segunda-feira, madrugada de maio de 2004. Com a primeira luz da segunda-feira, chega também a nova carcereira. Vem dar folga à companheira, assumindo mais uma vez o posto de guardiã, pelas próximas vinte e quatro horas. Vem zelar por uma centena de mulheres que, na Cadeia Pública Feminina de Santos, aguardam, resignadas, o destino se apresentar. Seu nome é Hortênsia. Com a outra carcereira, que cansada deixa o plantão, troca poucas palavras e um olhar tenso, desconfiado. Com determinação e braços fortes, calca a bolsa no canto esquerdo do sofá. Senta seu corpo nervoso à velha mesa e, na sala escura, quase insalubre, inicia a leitura do registro diário. Seus olhinhos ansiosos procuram por algum detalhe que não deve passar despercebido. Um comportamento suspeito, um acontecimento incomum, algo que denuncie anormalidade nesse domingo. Não encontra. Com a pressa de quem evita pensar para não se acovardar diante do perigo, toma o rumo do corredor que leva à área das celas. Como faz todas as manhãs, para por poucos instantes em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Com direito a coroa dourada, está suspensa no alto da parede. Pela primeira vez desde que iniciara seu trabalho nessa unidade, Hortênsia se sente incomodada com a aparência da estátua. As fuligens sobre o manto azul e a parede enegrecida ao fundo trazem a lembrança da última rebelião. Nem mesmo as pequenas cestas de flores que as próprias carcereiras fazem questão de providenciar são capazes de aliviar o pressentimento que invade seu corpo nessa manhã. Ainda de costas para o pátio das presas, Hortênsia deita os olhos na santa, como numa reza rápida para pedido de proteção. Solitária e desarmada, se prepara para ultrapassar a gaiola que isola a administração da área onde vivem as detentas. Mordendo o lábio inferior e baixando as pálpebras em instantes de indecisão, Hortênsia abre a primeira porta e se mete dentro da gaiola. Tranca a porta que acaba de abrir, para, somente então, destrancar a segunda, que a conduz ao pátio central. Ao sair para o outro lado, encerra a tranca final. Agora se encontra distante do espaço protegido, e dentro da área de convívio. No silêncio do pátio vazio, de cimento carcomido, enfileiram-se, em lados opostos, as celas, também chamadas de barracos, ou mesmo x, de xadrez. Hortênsia anda apreensiva ao longo do corredor, mexendo o miolo dos olhos em todas as direções. Não movimenta a cabeça, observa com discrição. Mulheres, de rostos ainda inchados pelo sono, apoiam as mãos, cotovelos e as cabeças sobre as grades. A carcereira sente a tensão crescer no vaivém mudo dos olhares. Caminha lento, respira fundo, o que ajuda a manter a calma. Tenta convencer a si mesma que esse é um dia como outro qualquer. Balançando o pesado molho de chaves estridentes, ela rompe o silêncio. É hora de abrir as celas e soltar metade das presas. Hortênsia abre a primeira. A segunda. E a terceira. Segunda-feira é dia de consulta médica dentro da própria cadeia e, depois de um domingo longo, parado e aflito, todas parecem doentes e querem se consultar. A carcereira tenta inutilmente separar as mulheres que sofram de algum mal, que o doutor ainda possa curar. Mas as presas que saem das celas se movem sem direção certa ou sentido. Todas ao mesmo tempo falam, andam, espreitam. A agitação se espalha e um tumulto toma conta do pátio. Antes que possa piscar seus olhos, Hortênsia é imobilizada e arrastada para dentro da cela três. Tremendo e desesperada, ouve um estrondo de ferro batendo. Está trancada e não está só. Seus óculos são bruscamente arrancados, jogados ao chão e estilhaçados. Uma venda de pano amarrada em seu rosto esconde o que vem a seguir. Tem sua blusa rasgada, enquanto braços decididos e brutos seguram os seus próprios braços e os atam para trás. Em seguida é jogada sobre uma das camas ásperas de alvenaria. Sofre um violento repuxar dos cabelos. ‘‘Corta logo, corta tudo’’, grita uma voz que vem do pátio. Hortênsia percebe os chumaços caírem-lhe leves sobre os ombros. E a guerra de palavras segue intensa, aumentando a apreensão da carcereira. ‘‘Vamo batê, vamo tirá sangue, vamo ti esculachá’’, ela ouve de um lado. ‘‘Calma, gente, num precisa tanto’’, escuta de outro. ‘‘Já já entra o choque, pega todo mundo, uma por uma, sem dó; aí não dá tempo de mais de nada’’, alguém adverte. ‘‘Vai, agora, guenta ela’’, grita uma voz que lhe é familiar. Hortênsia preferia não conhecer o linguajar carcerário. ‘‘Guenta ela’’ significa ‘‘pega ela, acaba com ela’’. ‘‘Nada disso, deixa quieto!’’, outra interfere para o seu alívio. ‘‘Pega as chaves da mão dela, corre, abre todos os xs’’, alguém ordena no grito. Entre os desejos contraditórios das presas, Hortênsia está muda e inerte. Seus ouvidos aguçados percebem sons de todos os lados. Não é fácil identificá-los. O corre-corre dos passos nervosos se mistura ao tilintar das chaves, os grunhidos das grades se abrindo esbarram-se nas gargalhadas exageradas, e gritos autoritários intercalam cochichos amedrontados. A essa altura, as celas devem estar todas abertas, imagina, enquanto é animalescamente arrastada ao redor do pátio. Uma de suas sandálias se perde no meio do caminho e o calcanhar arde, em carne viva, porque se rala na aspereza do chão. Mais tarde um novo arrasto. Onde estou neste momento? Qual será o plano destas mulheres? Será que abriram a gaiola e conseguiram fugir? E onde estariam as outras colegas? A essa hora, senão a sua chefe, ao menos a secretária deveria ter chegado. Ninguém vai escutar essa gritaria?, indaga Hortênsia a si própria, cada vez mais desesperada. Nesse momento, seus pensamentos são interrompidos por um forte estrondo, que caminha e cresce pelo corredor. Experiente, reconhece de imediato as passadas. São os policiais da tropa de choque, que alguém fi nalmente tinha chamado. Entram a passos largos, fi rmes, barulhentos. De caras sisudas e mãos pesadamente armadas, espalham-se por todas as celas mostrando brutalidade. Com a ponta de suas metralhadoras, derrubam potes, televisões e tudo o que há nas prateleiras. Esvaziam malas, sacos de roupas, reviram colchões. Rasgam, com desprezo, as fotos coladas nas paredes. Sem dizer uma só palavra passam com clareza o seu recado, enquanto as detentas, as velhas e as jovens, se espremem apavoradas contra a parede mais próxima. E enquanto uns vasculham, outros marcham imperturbáveis em busca da carcereira. Saem com Hortênsia em seus colos, ainda vendada, amarrada, com os seios parcialmente expostos e o sutiã pingado de lágrimas. Como consequência à agressão e ao mau comportamento, visitas à cadeia foram suspensas, sabe-se lá até quando. E, daquele momento em diante, os sábados e domingos seriam todos tristes e trancados, para todas as detentas, até que uma sequência de acontecimentos inesperados viesse transformar a convivência, a realidade e a esperança das mulheres da cadeia. ‘‘Alô!’’ ‘‘Bom dia, Flavia, tudo bem?’’, disse-me a voz do professor Esaú. ‘‘Olá, professor, como vai o senhor?’’, respondi com o coração disparado. ‘‘Tudo vai bem, uhm, quer dizer... Flavia, infelizmente vamos ter de suspender nossa visita novamente. Houve uma tentativa de fuga, ontem pela manhã. Uma das carcereiras foi agredida e feita refém. Parece que a coisa está feia por lá. A cadeia foi lacrada.’’ ‘‘É mesmo? Houve muita violência?’’, perguntei com o tom mais casual que consegui, enquanto a sensação de medo me subia pela espinha até o pescoço. ‘‘Não sei informar’’, respondeu o professor. ‘‘Mas se a cadeia está lacrada é porque lá há risco de morte. Pode apostar.’’ Antes de conhecer a cadeia tive a chance de perceber que tipo de desafios eu poderia enfrentar. O mesmo telefonema que adiava a tão esperada visita trazia os fatos como eles são. Cruéis, assustadores e reais.
Download