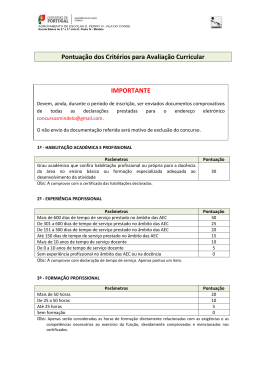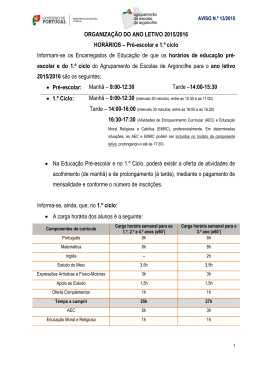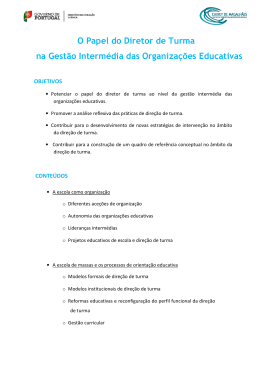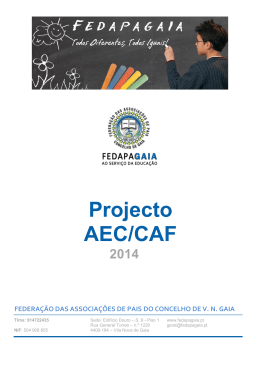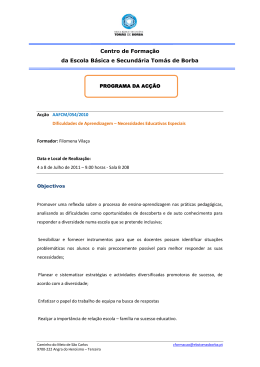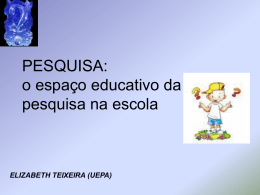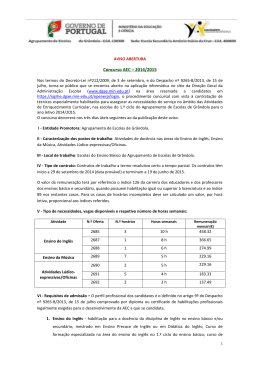A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES NA EDUCAÇÃO E A REFORMA DO ESTADO – ELEMENTOS PARA UMA REFLEXÃO António Neto-Mendes – Universidade de Aveiro, Portugal [email protected] Resumo: A reforma da administração pública portuguesa ocorre no contexto conhecido de uma administração centralizada que foi assumindo diferentes modalidades de desconcentração, a qual tem dado corpo a um Estado que, na opinião de muitos, tem pecado por excessos de omnipotência e de omnisciência, sujeito de múltiplas formas de regulação burocrática, incapaz de compreender o valor da subsidiariedade. As críticas mais veementes à racionalidade racional-burocrática com que se pretende justificar, muitas vezes, as políticas de “descentralização”, como a transferência de competências para os municípios, em curso, não podem escamotear, por outro lado, a dimensão política da reforma do Estado que ocorre no contexto de uma globalização de cariz neoliberal pautada por diversas formas de desregulação. Nesta medida, a compreensão do processo de transferência de competências do Estado para o poder local (municipal), em Portugal, reclama uma atenção ao processo histórico de construção do Estado e da sua relação com os poderes “periféricos” (o local e o regional), por um lado, e, por outro, às condicionantes actuais da governação global das sociedades de natureza política, social e económica. Neste contexto, merecem destaque as novas formas que o Estado em rede assume. Palavras-chave: Estado; Município; Educação. INTRODUÇÃO O papel das autarquias locais na administração da coisa pública tem acompanhado a história da organização política das sociedades. Interessa-nos de forma particular explorar os vários significados que atribuímos na actualidade ao conceito de autarquia local, na certeza de que o centro da nossa análise residirá naquela que é, em Portugal, a organização mais forte do poder local: o município. Reconhecer, com Martins (2001: 18), que “a noção actual de autarquia local […] aparece mais recentemente em estreita ligação com a legitimação democrática do poder de Estado e com a dialéctica centralização-descentralização subjacente ao desenvolvimento da organização territorial do Estado Moderno” é (re)centrar o debate onde ele efectivamente deve estar: a definição do poder local há-de resultar do que quisermos que o Estado seja, no fundo, o que está verdadeiramente em causa é o modelo de organização política e administrativa da sociedade (democrática, participativa) em que vivemos. Portugal possui, como é conhecido, os instrumentos legais que conferem ao poder local um estatuto inequívoco e importante, assegurando-se em simultâneo a sua autonomia política, administrativa e financeira: a Constituição da República, a Lei das Finanças Locais, um quadro legal de atribuições e competências. Em termos de enquadramento internacional, é de sublinhar a Carta Europeia de Autonomia Local, elaborada no seio do Conselho da Europa, assinada por Portugal, entre outros países, em 1985 e ratificada em 1990 (Martins, 2001). Mas tratando este texto da arquitectura política do Estado, é importante reafirmar o que aos olhos 1 de todos parece óbvio: a relação de forças entre o centro, as regiões (quando as há) e o local não é estática, é um processo dinâmico e, segundo aspecto a destacar, eminentemente político, na medida em que estamos a tratar de formas e modalidades de expressão dos diversos interesses organizados. OS MUNICÍPIOS PORTUGUESES E A EDUCAÇÃO: BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO Falar da participação dos municípios portugueses na Educação obriga, naturalmente, a abordar a história do municipalismo. Não sendo este o objectivo central deste texto, afigurase-nos pertinente sublinhar aqueles momentos que, ora por decisão do poder central (quase) sempre presente, ora fruto de uma vontade reivindicativa dos agentes organizados em torno do seu governo local, marcaram, ao longo dos tempos, a relação entre o centro e o local. Mas este debate sobre o papel do município na sociedade parte da aceitação de uma ideia simples: não estamos perante um estatuto rígido, imutável. O mesmo teremos de admitir em relação ao Estado ou a outras instâncias supranacionais. A contextualização geopolítica desta discussão não é descabida, como veremos. Na Europa do norte, nomeadamente nos países anglo-saxónicos e escandinavos, o sistema educativo nacional construiu-se com uma matriz descentralizada, baseada numa administração localizada, cujos protagonistas eram basicamente as autoridades locais de educação e as escolas. Os municípios viram desde o início da educação pública, como reconhece Fernandes (2004), serem-lhes reconhecidas competências – segundo um modelo de “corresponsabilização“ com o Estado (Fernandes, 2004) – em domínios como a definição da rede de escolas do concelho, a contratação de professores, a nomeação do director da escola, a aprovação de programas e horários escolares, a construção de edifícios escolares e serviços de acção social escolar. Já na Europa central e do sul o desenvolvimento dos sistemas educativos fez-se sob o controlo apertado do Estado, o que conferiu aos mesmos um cariz altamente centralizado, cujo expoente máximo costuma ser o exemplo francês, não ignorando também o papel que tiveram a Prússia e o Império Austro-Húngaro na expansão do modelo no centro da Europa (Fernandes, 1995). É neste contexto, caracterizado por uma forte directividade do centro, que toma forma o chamado Estado educador, ultimamente objecto de muita crítica e cuja crise parece justificar, em Portugal, pelo menos, o renascimento do poder local de base municipal, de que falaremos mais adiante. Em Portugal, a construção do sistema nacional de ensino regular acompanha, com muitos altos e baixos e não menos contradições, a construção 2 do Estado moderno a que a figura tutelar do Marquês de Pombal está indelevelmente associada. São vários os contributos para o conhecimento das peculiaridades do sistema educativo português e respectiva administração, sublinhando-se sempre a forte dimensão burocrática que o tem caracterizado (Formosinho, 1987; Lima, 1992; Fernandes, 1992; Barroso, 1995). Apetece perguntar, após as explicações prévias: qual o papel dos municípios na administração do sistema educativo em Portugal? Do teor das linhas anteriores parece deduzir-se uma resposta óbvia: o papel dos municípios foi muito reduzido nos últimos dois séculos, praticamente sem significado durante largos períodos, apesar de alguns ensaios legislativos pretensamente valorizadores da sua intervenção que emergiram aqui e ali. Fernandes (2003; 2004) entende que os governos liberais (último quartel do séc. XIX) e republicanos (séc. XX) “impuseram” (sic) às câmaras algumas responsabilidades na instrução pública “com o único objectivo de mobilizar os recursos municipais para a tarefa nacional de expandir o ensino primário a toda a população” (2004: 36). O magro sucesso destas medidas está bem patente, ainda hoje, no atraso educativo que algumas estatísticas atestam (caso do analfabetismo crónico, por exemplo). O diagnóstico das causas desta espécie de “alheamento” dos municípios em relação à educação básica é expresso por Fernandes (2004: 36) nos seguintes termos: “Este ónus nunca foi cabalmente assumido pelos municípios devido à escassez de recursos, ao desinteresse e a resistências locais quer dos professores quer dos próprios autarcas”. Mas nada mudou nos últimos trinta e poucos anos, a acção dos municípios continuou a ser pautada, após o 25 de Abril de 1974, por orientações que condenavam à indiferença os assuntos educativos? A resposta a esta questão só pode ser negativa, mas impõe-se uma análise atenta dos vários momentos que marcaram a decisão política nesta matéria. A instauração do regime democrático, a aprovação de uma nova Constituição (1976) e a Lei das Finanças Locais contribuíram para a criação de um novo enquadramento do município na organização política do país, estabeleceram as novas condições para a afirmação do poder local autónomo. Mas em matéria de atribuições educativas o vazio legal manteve-se, contrariado, na opinião de Fernandes (2004), quer por melhores condições políticas e financeiras quer pelas dinâmicas sociais pós-revolucionárias promotoras de uma forte participação cívica de todos os agentes envolvidos, incluindo naturalmente as câmaras e os cidadãos. 3 Para uma análise da participação dos municípios portugueses na educação ao longo dos últimos trinta anos, essencialmente construída a partir do enfoque legislativo, socorremo-nos da proposta apresentada por Fernandes (2003; 2004), que a organiza em três fases: i) a primeira fase corresponde ao entendimento do papel do município na gestão da educação como um serviço periférico de apoio à educação infantil e básica obrigatória: no período em apreço, o do pós 25 de Abril, esta orientação está presente entre a realização da primeira eleição municipal, em 1976, e a promulgação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), em 19861; para além da Constituição da República (1976), destaca-se a publicação, em 19842, do normativo que confirma, no fundo, o mesmo nível de atribuições anteriores das câmaras municipais em matéria educacional: construções escolares, equipamento e manutenção de estabelecimentos e escolas da educação pré-primária e primária, residências e transportes escolares, acção social escolar e equipamentos para a educação de adultos; ii) a segunda fase, em que o município é visto como parceiro privado com uma função supletiva em relação ao sistema educativo público, inicia-se com a publicação da LBSE, em 1986, documento enquadrador do sistema educativo, ainda hoje em vigor, se bem que sujeito a algumas intervenções pontuais, que reconhece ao município um papel educativo em algumas áreas ou modalidades em que o sistema dito regular não dava resposta cabal: educação pré-escolar, formação profissional, educação especial, ocupação de tempos livres, entre outras; também nesta altura emerge uma dinâmica de reforma do sistema educativo, tendo à cabeça a Comissão de Reforma do Sistema Educativo, em que se concede ao poder local municipal um papel mais interventivo na educação, como decorre da proposta de criação de um Conselho Local de Educação (CRSE, 1988), que só viria a ser legislada anos mais tarde; de acrescentar ainda as mudanças legislativas que consagraram os municípios como parceiros sociais na definição e gestão da política educativa nacional e local: participação, através da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão consultivo do Ministério da Educação (ME) instituído em 1987, e no Conselho Consultivo das escolas básicas e secundárias instituído em 19893; iii) a terceira fase, em que o município se posiciona como um participante público na promoção e coordenação local da política educativa, inicia-se em 1995, com a entrada em funções do XIII Governo constitucional do primeiro-ministro António Guterres, responsável pela promoção de algumas políticas que reforçaram o papel do município como parceiro educativo local: promoção do sucesso educativo no âmbito dos 4 Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), criados em 1996; expansão da rede de estabelecimentos da educação pré-escolar através de protocolos celebrados entre o ME e vários municípios; a participação, a título generalizado (e após experiência que envolveu algumas dezenas de escolas em 19914), dos municípios nos órgãos de gestão de jardins-de-infância, de escolas básicas e secundárias com a publicação do respectivo regime jurídico em 19985. Falaremos, a seguir, das tendências recentes que se desenham neste capítulo da descentralização de competências para os municípios. Esta circunstância permite, no momento presente em que decorrem negociações entre o governo central e os representantes do poder local (mais concretamente a ANMP, Associação Nacional dos Municípios Portugueses, estando em cima da mesa das negociações matérias como a Educação, Saúde, Acção Social e Ambiente e Ordenamento do Território6), novas abordagens do problema que podem vir a permitir poder falar-se de uma nova fase – a quarta – da participação dos municípios na Educação. Nesta quarta fase o município adquire um novo protagonismo, já não apenas como promotor e coordenador local das políticas educativas centrais, mas como autor e intérprete das suas próprias políticas educativas, o que pode traduzir a assumpção de um projecto educativo local a reclamar de todos a maior das atenções. TENDÊNCIAS RECENTES EM MATÉRIA DE TRANSFERÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS: O PONTO DE NÃO-RETORNO? Feita a contextualização geral da participação dos municípios portugueses na administração e gestão da educação, gostaríamos agora de dedicar alguma atenção aos desenvolvimentos mais recentes. Importa recordar, em jeito de parêntesis, que a discussão da problemática da descentralização de competências em Portugal, que em grande medida nos ocupa neste texto, não se esgota com esta colocação ao nível do papel reservado aos municípios. O debate sobre a regionalização, inscrita na Constituição (Arts. 255º a 262º), está longe de estar fechado e não será difícil imaginar quanto a regionalização política do continente português7 afectaria o papel reservado aos municípios, quer do ponto de vista do desenho legal das suas competências quer das práticas. Seja como for, a evolução do quadro legislativo apenas pode ajudar a explicar uma parte das dinâmicas locais que aqui apelidamos genericamente de participação ou de intervenção municipal na área da educação e da formação. Concordamos com aqueles que afirmam não 5 ser esta intervenção uma consequência directa e linear da evolução da legislação sobre a administração do sistema educativo e formativo. Como afirma Pinhal (2006: 104), tem-se verificado o inverso, isto é, “a legislação pareceu ir sempre a reboque de experiências que, entretanto, os agentes locais, designadamente os municípios, já iam levando a cabo”. Não obstante, não deve, na nossa perspectiva, ser desvalorizada a importância que o quadro legal assume como legitimador de caminhos a seguir por um número substancialmente mais alargado de agentes. E não pode ser negligenciável, por outro lado, o potencial criativo que assumem certas “infidelidades normativas”, o que no contexto das práticas educativas municipais pode representar políticas educativas locais verdadeiramente autónomas… O quadro actual de atribuições e competências municipais permite já organizar estas de acordo com uma arrumação que permite ir além da visão que concebe as câmaras municipais como meros instrumentos das políticas educativas centrais. Esta pode parecer, à primeira vista, uma afirmação temerária, mas vamos encarregar-nos de a explicar nos seus fundamentos principais. A simples enunciação daquelas que são, hoje, as atribuições e competências dos municípios em matéria de Educação (Lei nº 159/99, de 14 de Setembro) pode, paradoxalmente, dar a impressão de que nos estamos a contradizer porque, no essencial, deparamos com atribuições e competências “instrumentais”: construir, apetrechar e manter os estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico; assegurar os transportes escolares; assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico; garantir o alojamento aos alunos que frequentam o ensino básico, como alternativa ao transporte escolar, nomeadamente em residências, centros de alojamento e colocação familiar; comparticipar no apoio às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do ensino básico, no domínio da acção social escolar; apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa na educação pré-escolar e no ensino básico; participar no apoio à educação extra-escolar; gerir o pessoal não docente de educação préescolar e do 1º ciclo do ensino básico (Art. 19º). Há, contudo, desenvolvimentos posteriores ao nível do quadro legal (2003)8 que conferem aos municípios uma capacidade que ainda não temos condições para apreciar em pleno, dado o curto período de tempo decorrido entre a promulgação e o momento em que escrevemos este texto, mas que permitem dinâmicas interessantes em determinados municípios que constituirão, seguramente, excelentes estudos de caso para a investigação da descentralização contemporânea em Portugal. Esta forma de inovação por decreto – que institui o conselho municipal de educação, como “instância de coordenação e consulta” (Art. 3º) dos actores locais, e a carta educativa, como “instrumento de planeamento e ordenamento 6 prospectivo” (Art. 10º) dos recursos educativos locais – não se afasta das críticas a que assistimos noutros momentos e contextos: por um lado, consagra práticas de participação adoptadas já antes por alguns municípios e comunidades; por outro, mostra a insuficiência da lei para alterar mentalidades e práticas de quem detém o poder local, como atestam as denúncias, em alguns municípios, de défice de discussão pública de que deu eco alguma imprensa local aquando do processo de elaboração, avaliação e homologação das cartas educativas que está prestes a encerrar-se9. A evolução recente de uma das linhas das políticas educativas nacionais (leia-se, de desenho centralizado) volta a mostrar o grau de dependência que, de certa maneira, tem caracterizado uma parte das abordagens municipais das responsabilidades educativas. Acautelando, como é nosso dever, os riscos da generalização, uma parte dos municípios raramente encontrou razões para contrariar um certo modelo que, na sua perspectiva, serve sobretudo os interesses do poder central: a acção municipal cinge-se, nestes casos, ao “estrito” cumprimento do caderno de encargos definido centralmente, a interpretação local do que devem ser os deveres do município está aparentemente condicionada apenas por uma retórica, repetida até à exaustão, que sublinha o “deve” e o “haver” dos financiamentos a transferir. Mas não temos dúvidas de que não se pode ter, hoje, uma visão rígida e imobilista da forma como os municípios perspectivam a sua intervenção no campo educativo: há os que interpretam a sua intervenção como cumprimento, ora minimalista (“fazemos o que a lei manda”) ora maximalista (“fazemos mais do que manda a lei”) da lei, mas também aumenta o número daqueles que a perspectivam como um espaço político, por excelência, de exercício local autónomo. Aplica-se a este campo específico da organização política local a distinção entre inovação (legal) a que corresponde uma efectiva mudança (das concepções e práticas) e a inovação que não provoca mudança. A acção educativa desenvolvida sob a alçada do município conheceu, nos últimos dois anos, uma nova dinâmica, impulsionada pela decisão (do poder central) de definir as linhas gerais de uma das competências já atribuídas aos governos locais (Lei nº 159/99, Art. 19º): “apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa na educação pré-escolar e no ensino básico”. As chamadas AEC’s (Actividades de Enriquecimento Curricular), destinadas ao 1º ciclo do ensino básico, em simultâneo com as actividades de animação e de apoio às famílias na educação pré-escolar, foram criadas em 200610, funcionando, pela primeira vez, durante o ano lectivo de 2006/2007. Como lembra o preâmbulo deste normativo, esta decisão surge um ano após o início do “Programa de Generalização do Ensino do Inglês” nos 3º e 4º anos do 1º ciclo do ensino básico, apresentado 7 como a “primeira medida efectiva de concretização de projectos de enriquecimento curricular e de implementação do conceito de escola a tempo inteiro”. Aí se invoca também “o papel fundamental que as autarquias, as associações de pais e as instituições particulares de solidariedade social desempenham ao nível da promoção de actividades de enriquecimento curricular através da organização de respostas diversificadas, em função das realidades locais, que permitem que actualmente muitas escolas do 1º ciclo proporcionem este tipo de actividades aos alunos”. Em que consistem estas AEC’s?11 Coube ao governo central, como já dissemos, identificar as actividades e defini-las conceptualmente: o ensino do inglês, o ensino da música e a actividade física e desportiva constituem o núcleo duro das AEC’s. A definição das chamadas entidades promotoras não é inocente e virá a revelar-se a principal “imagem de marca” das AEC’s. Podem ser entidades promotoras: as autarquias locais, as associações de pais e encarregados de educação, as instituições particulares de solidariedade social (IPSS, como são conhecidas entre nós) e os agrupamentos de escolas. Importa acrescentar que este pacote de transferência de atribuições foi acompanhado de contrapartidas financeiras: o governo central assumiu o compromisso de pagar às autarquias a importância de 250 euros/ano por cada aluno a frequentar as três actividades principais (2006/2007). Num interessante trabalho exploratório sobre as modalidades de organização e gestão das AEC’s, Helena Martins (2007) estudou três municípios, na região centro do país, os quais têm a particularidade de nos mostrarem algumas das soluções no novo quadro de possibilidades aberto pela decisão do poder central de generalizar o programa a todo o território continental português. Os três têm em comum o facto de se terem candidatado como entidades promotoras – situação que se verificou na quase totalidade dos municípios do território continental português12, apenas 15 não o fizeram (CAP, 2007: 5). A forma como foram mobilizados os recursos políticos e técnicos, quer internos quer externos, merece atenção: “A implementação das AEC obrigou os municípios enquanto entidades promotoras a encetar um conjunto de diligências complexas e demoradas: celebração de protocolos com os vários agrupamentos envolvidos e com as entidades parceiras; recrutamento e selecção de professores; realização de inúmeras reuniões de preparação do lançamento das AEC, em especial com as Associações de pais” (Martins, 2007: 313). Ainda de acordo com a mesma fonte, o arranque das AEC’s deu-se mais tarde do que o previsto devido a um conjunto de factores: aprovação tardia da candidatura por parte do Ministério da Educação (ME); necessidade de alugar ou reconverter espaços para as AEC’s (nas escolas em que se verifica o horário duplo, isto é, uma turma no turno da manhã e outra no da tarde, as actividades ficam inviabilizadas); processo de contratação dos professores mais lento e difícil do que previsto; a 8 dificuldade de conciliação da organização dos horários entre as actividades curriculares e as AEC’s, entre outros. Mas as semelhanças entre os três municípios – a autora (Martins, 2007) denominou-os de Município do Mar, Município do Mondego e Município da Serra, numa alusão à respectiva localização geográfica – terminam praticamente aqui. O Município do Mar “optou por entregar a entidades privadas” a execução da maior parte das AEC’s (inglês, música e expressão plástica), adoptando assim o modelo de outsourcing para o fornecimento de um serviço educativo desta natureza. Já em relação à actividade física e desportiva, a opção foi pela contratação directa dos professores pela própria autarquia. Os argumentos apresentados pelo responsável entrevistado para defender as opções feitas não deixam de ser significativos: “não podíamos fazer de outra maneira [i] uma vez que não temos capacidade ao nível dos recursos humanos para fazer face às exigências de um programa desta natureza e complexidade. [ii] O que importa ao governo [central] é que se faça e não como se faz” (Martins, 2007: 313). O Município do Mondego estabeleceu protocolos com estabelecimentos públicos de ensino superior (uma universidade e um instituto politécnico), a quem cabe o recrutamento e gestão dos professores das AEC’s. Procurou-se construir um modelo de “parceria” pedagógica com os agrupamentos de escolas. O Município da Serra, por seu turno, optou por um caminho completamente diferente: é “responsável por toda a gestão das AEC’s em estreita parceria com os agrupamentos de escolas”. Significa isto que é o município que contrata os professores com a colaboração dos agrupamentos, cabendo a estes últimos “a tutela pedagógica dos professores das AEC e de todo o processo de programação e avaliação das actividades”. O responsável autárquico entrevistado justifica a escolha do modelo com o “bom relacionamento” construído ao longo dos tempos com os agrupamentos de escolas, para o que contribuiu, entre outras, a experiência do inglês no 1º ciclo do ensino básico, em 2005/2006 (Martins, 2007: 313-314). As modalidades de organização e gestão das AEC’s são, na nossa perspectiva, uma das dimensões mais interessantes para análise do estado actual da participação dos municípios na Educação. As AEC’s não deixam de ser a expressão do paradigma tradicional de relacionamento entre o poder central e o poder local – o poder central decide, concebe, define as regras, esperando que o poder local acate placidamente o caderno de encargos definido centralmente, mediante certas contrapartidas financeiras. Mas o espaço das AEC’s constitui hoje, como sublinhamos amiúde, um verdadeiro laboratório de soluções num contexto de relacionamento entre o Centro e o Local marcado por tendências de desestatização, num ambiente de forte instabilidade caracterizado por relações laborais flexíveis e precárias. Do 9 ponto de vista do investigador, é possível elencar um conjunto de tópicos que, só por si, justificam a importância que concedemos às AEC’s neste debate: i) o facto de o governo central “autorizar” (pela via legislativa) os municípios a desempenharem um papel activo no campo curricular, ainda que mediado por um caderno de encargos centralizado, permite problematizar a aparente evolução do sistema educativo português no sentido da chamada “municipalização”; ii) a emergência de um novo espaço de empregabilidade, no âmbito municipal, seja por contratação directa ou por subcontratação, para diplomados em ensino, animação social, ciências da educação, sociologia, assistentes sociais, psicólogos, entre outros, permite observar os efeitos da deslocação do espaço de empregabilidade estatal (central) para o espaço de empregabilidade local, que tanto se pode apresentar sob a tutela municipal como sob a tutela de uma qualquer entidade privada, com ou sem fins lucrativos; iii) finalmente, as AEC’s como espaço de tensão e de conflito entre os três grandes princípios de regulação social: Estado, mercado e comunidade (voltaremos a este assunto mais à frente). Subjacente está a ideia de um Estado mínimo que decorre da sugestão de que o Estado ou não é capaz ou não é a entidade com maior legitimidade para providenciar a satisfação das necessidades educativas que as comunidades procuram ou que o próprio Estado promove – abre-se assim o caminho à localização das respostas educativas, encaradas muitas vezes como fornecimento de um produto que todos os consumidores, ou apenas alguns, adquirem, uma concepção facilitada pela desregulação13 que pode abrir as portas à privatização, assumida ou encapotada, e a formas de precariedade das relações laborais e sociais. O MUNICÍPIO EDUCADOR COMO ALTERNATIVA AO ESTADO EDUCADOR? A “reforma do Estado”, cujos contornos são simultaneamente políticos, administrativos e económicos, tem mobilizado a agenda política em Portugal nos últimos anos. A reconfiguração do Estado-Nação (a que não é alheia a crise do Estado Providência) a que assistimos, deve-se, em grande medida, a circunstâncias “externas”, como o avanço da globalização e a integração europeia, mas não podem ser negligenciados os movimentos internos, como o da constituição de governos regionais (Açores e Madeira) e o reforço muito significativo dos poderes dos governos locais (câmaras municipais). Todos estes fenómenos atingem e beliscam quer a soberania quer a legitimidade do Estado-Nação, como decorre das palavras de Manuel de Castells que subscrevemos: “A tentativa de o Estado reafirmar o seu poder na arena global pelo desenvolvimento de instituições supranacionais acaba por comprometer ainda mais a sua soberania. E os esforços do Estado para restaurar a sua 10 legitimidade através da descentralização do poder administrativo, ao nível regional e local, se, por um lado, estimulam as tendências centrífugas ao aproximar os cidadãos da governação, por outro, aumentam a sua indiferença em relação ao Estado-Nação” (Castells, 2007: 357). A reforma do Estado tem mudado a face do próprio Estado, mas também a da sociedade civil ao permitir a emergência de outras forças que sempre tendo estado presentes adquiriram uma nova legitimidade para competirem com o Estado em matéria de regulação social. Boaventura S. Santos fala de uma primeira fase do Reformismo do Estado, nos anos 80, a do “Estado irreformável”: “O Estado é inerentemente ineficaz, parasitário e predador, por isso a única forma possível e legítima consiste em reduzir o Estado ao mínimo necessário ao funcionamento do mercado” (2006: 322). É a fase do “Estado mínimo” que atingiu o auge no final dos anos 80 com a queda do Muro de Berlim. Há uma segunda fase em que o capitalismo global não pode dispensar a existência de Estados fortes, quando o neoliberalismo da primeira fase estava sobretudo interessado num Estado fraco. Do “Estado irreformável” transitamos para o “Estado reformável” (Santos, 2006: 323), a fase da “reinvenção do Estado” que o autor considera “social e politicamente mais complexa do que a anterior”. Acolhe esta fase, na acepção de Santos (2006: 324), duas concepções distintas: i) a do “Estadoempresário” ii) e a do “Estado-novíssimo-movimento-social”. A concepção do “Estadoempresário” tem muitas afinidades com a primeira fase e manifesta-se de duas formas: privatizar todas as funções que o Estado não tem de desempenhar com exclusividade; submeter a administração pública a critérios de eficiência, eficácia, criatividade, competitividade e serviço aos consumidores, típica do mundo empresarial14. Como reconhece Santos, estamos perante “a busca de uma nova e mais íntima articulação entre o princípio do Estado e o princípio do mercado sob a égide deste último” (2006: 324). A concepção do “Estado-novíssimo-movimento-social”, por seu turno, apela ao envolvimento do chamado “terceiro sector” na reforma do Estado. Falamos, nesta circunstância, dum “vastíssimo conjunto de organizações sociais que não são nem estatais nem mercantis”, ou seja, ainda segundo as palavras de Santos, “organizações sociais que, […] sendo privadas, não visam fins lucrativos e […] sendo animadas por objectivos sociais, públicos ou colectivos, não são estatais” (2006: 325). Neste conjunto alargado podem nomear-se cooperativas, organizações não-governamentais, as entre nós chamadas IPSS (instituições particulares de solidariedade social), organizações de voluntariado, organizações comunitárias de base, entre outras. Com as cautelas que a complexidade do fenómeno exige, Santos alerta para o risco: “o ressurgimento do terceiro sector no final do séc. XX pode ser lido como a oportunidade para o princípio da comunidade comprovar as suas vantagens comparativas em relação ao princípio 11 do mercado e ao princípio do Estado”. E nega que o pressuposto desta leitura, isto é, a crise quer do mercado quer do Estado se verifique. Vai ainda mais longe ao duvidar de que o princípio da comunidade tenha “a autonomia e a energia necessárias para protagonizar uma nova proposta de regulação social […]” (Santos, 2006: 328). Uma tentativa de leitura do processo de descentralização administrativa em curso à luz das propostas de Boaventura S. Santos deve ser cautelosa. Ensaiaremos, ainda assim, algumas reflexões em torno da transferência de atribuições e competências do Estado central para as autarquias locais, tendo como pano de fundo o caso específico das AEC’s. O desenho proposto pelo governo central e as modalidades adoptadas pelos municípios para a sua organização e gestão permitem agora alguns comentários iluminados pelas propostas teóricas de Santos: i) Comecemos, em primeiro lugar, pelo desenho das AEC’s da responsabilidade do governo central. Ao permitir que podem ser entidades promotoras (isto é, aquelas com quem o Estado central vai contratualizar o desenvolvimento das mesmas) as autarquias, os agrupamentos de escolas, as associações de pais e encarregados de educação e as instituições particulares de solidariedade social, o Estado estabelece um curioso compromisso entre o princípio do Estado (em que se inscrevem as duas primeiras entidades) e o princípio comunitário (em que se integram as duas últimas). O documento (ponto 15 do preâmbulo do Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho) assume uma certa preferência pelas soluções que se mantenham na esfera estatal, enfatizando a articulação autarquiasagrupamentos de escolas. Os resultados práticos parecem confirmar esta orientação pois, como confirma o Relatório Intercalar de Acompanhamento (das AEC’s), reportando-se à situação em Dezembro de 2006, os municípios detinham uma posição muito maioritária entre as entidades promotoras (89%), cabendo às outras entidades posições residuais: agrupamentos de escolas, 4,1%; associações de pais, 4,6%; IPSS, 2,3% (CAP, 2007); ii) Em segundo lugar, falaremos das modalidades concretas de organização e gestão das AEC’s construídas localmente pelas entidades promotoras, na esmagadora maioria, como vimos, autarquias locais. Não havendo dados globais sobre esta caracterização, a nível do território continental português, não são possíveis inferências no sentido de se avaliar qual a solução dominante. Deter-nos-emos, assim, na análise da informação disponível sobre as modalidades de organização das AEC’s a que recorreram sobretudo os municípios, como entidades 12 maioritárias que são no período em análise (2006/2007): a) o recrutamento e o controlo dos educadores e animadores mantém-se na esfera municipal, independentemente das formas de coordenação negociadas com os agrupamentos de escolas; b) há soluções mistas (actividade ou actividades promovidas directamente pelo município, actividade ou actividades cujo fornecimento é subcontratado a fornecedores externos), podendo o município escolher os parceiros com quem contratualiza o fornecimento do(s) serviço(s) segundo duas lógicas: a do mercado, recorrendo a organizações com fins lucrativos (institutos de línguas, empresas, colégios privados, ginásios, academias de música privadas, etc.); e a lógica comunitária, procurando parceiros como as instituições particulares de solidariedade social, associações de pais, associações culturais e desportivas, etc.; c) finalmente, o caso dos municípios que optam por subcontratar a totalidade dos serviços educativos a empresas com fins lucrativos, obedecendo estritamente ao princípio do mercado. Gostaríamos de sublinhar que antes da discussão das implicações técnicas que qualquer solução envolve, incluindo estas, devemos concentrar-nos no carácter político das opções e nas suas repercussões sociais. iii) Em terceiro lugar, e na sequência dos pontos anteriores, assinalamos o ambiente de tensão e de conflito de interesses que resulta desta diversidade de soluções aplicadas num mesmo território. Como Santos (2006) reconhece, a coexistência, no tempo e no espaço, das três lógicas – Estado, mercado e comunidade – não é um processo politicamente neutro. A experiência das AEC’s em Portugal continental mostra as possibilidades mas também alguns limites da concorrência entre eles15. Assinalamos apenas alguns: o facto de, na prática, os municípios terem a quase-exclusividade da promoção das AEC’s (89% em 2006/2007) gerou inúmeras tensões locais, sobretudo nos territórios onde a sociedade civil regista níveis de organização mais avançados, traduzidos, nomeadamente, na existência de IPSS bem estruturadas, com tradição no trabalho social (apoio à infância, animação de tempos livres, assistência à população sénior, etc.), que se viram com um corpo de funcionários e de técnicos sobredimensionado (nalguns casos, não em todos) face à concorrência que representou a decisão, justa e necessária, de democratizar o acesso de todos a actividades até então apenas ao alcance de quem as podia pagar, realizadas agora na esfera da escola pública. Num concelho que conhecemos bem, por exemplo, há registo de um verdadeiro 13 braço-de-ferro envolvendo os três princípios, Estado, mercado e comunidade: alguns responsáveis de IPSS assumiram, perante a entidade promotora que é a câmara municipal, que “ou organizavam tudo ou não organizavam nada”. O desfecho viria a ditar a ausência das IPSS da solução em vigor em 2007/2008. A crise de legitimidade e de confiança no Estado educador parece estar a criar espaço para a afirmação da Cidade educadora ou do Município educador16. A expressão associativa dos municípios, à escala global, parece traduzir o crescimento e a visibilidade que as instâncias do poder local granjearam nos últimos vinte anos: a organização de dimensão mundial Cidades e Governos Locais Unidos, cujo 2º congresso decorreu em Outubro de 2007 na Coreia do Sul; o movimento das Cidades Sustentáveis; o movimento das Cidades Saudáveis; a Associação Internacional das Cidades Educadoras. A profusão de movimentos e associações, cuja finalidade é afirmar o espaço local de decisão, por um lado, bem como a crescente iniciativa dos municípios no que toca a organização de “encontros”, “jornadas”, “seminários”, etc. parece querer transmitir à sociedade um sinal claro: nós estamos presentes, queremos ter uma palavra a dizer sobre a organização da vida dos cidadãos identificados em torno da sua “pertença” a um determinado território (o concelho). Uma das questões que emerge desta transformação é se esta “relocalização”, a ocorrer em simultâneo, como lembra Ferreira (2005: 20), com a crise do Estado Providência, de base nacional, e com a emergência do fenómeno da globalização, permite responder aos desafios da igualdade de oportunidades, da justiça social distributiva, do desemprego estrutural, da pobreza e da exclusão. Por outras palavras, a crise do Estado arrasta consigo a “crise do contrato social da modernidade ocidental” de que fala Santos (2006), assente num conjunto de pilares essenciais: i) um “regime geral de valores”, baseado na ideia do bem comum e da vontade geral; ii) o “sistema comum de medidas”, que possibilita a definição de critérios de justiça social, de redistribuição e de solidariedade, baseados no pressuposto de que “as medidas sejam comuns e procedam por correspondência e homogeneidade”; iii) e um “espaço-tempo privilegiado”, o espaço-tempo estatal, nacional, onde se consegue “a máxima agregação de interesses”, responsável pela definição “das escalas e das perspectivas em que podem ser observadas e mensuradas as interacções não-estatais e não-nacionais”. E lembra o autor, muito a propósito do tema do nosso texto, que “É por isso [pelo espaço-tempo estatal, nacional], por exemplo, que o governo dos municípios se designa por governo local” (Santos, 2006: 297). 14 Esta crise do contrato social moderno assenta numa certa ideia de “crise da contratualização moderna” que convive, paradoxalmente, com o sucesso de novas formas de contratualização das relações sociais, das relações de trabalho, das relações políticas do Estado com organizações sociais. Estas novas formas de contratualização social apresentam as seguintes características: terem um cunho liberal individualista; serem precárias pois não asseguram qualquer estabilidade; não reconhecerem o conflito e a luta como elementos estruturais do combate, substituindo-os pela aceitação passiva de condições supostamente universais consideradas incontornáveis, de que o autor dá como exemplo o chamado “consenso de Washington” (Santos, 2006: 304). Para este autor, os riscos podem resumir-se numa expressão apenas: “a emergência do fascismo social”. Este pode assumir diversas formas: i) o “fascismo do apartheid social”, que consiste na segregação social dos excluídos, com zonas urbanas consideradas “selvagens” e outras consideradas “civilizadas”; ii) o “fascismo paraestatal”, em que as prerrogativas estatais de coerção e de regulação social são usurpadas por parte de actores sociais muito poderosos, podendo assumir duas vertentes, a de “fascismo contratual” e a de “fascismo territorial”; iii) o “fascismo da insegurança”, que consiste na manipulação da insegurança das pessoas e grupos sociais mais vulnerabilizados, obtida através da precariedade do trabalho, ou por acidentes ou acontecimentos desestabilizadores, o que produz elevados níveis de ansiedade e insegurança quanto ao presente e quanto ao futuro por forma a fazer baixar o horizonte de expectativas e a criar disponibilidade para suportar grandes encargos para alcançar reduções mínimas dos riscos e da insegurança; iv) o “fascismo financeiro”, que o autor caracteriza como “a forma mais virulenta de sociabilidade fascista”, comanda os mercados financeiros de valores e moedas, o mundo da especulação financeira global também conhecido por “economia de casino”, e que pode em poucos segundos arruinar a vida de milhões de pessoas num país ou numa região do mundo (Santos, 2006: 310-313). Em resposta à questão que introduz esta secção do nosso texto – o Município educador como alternativa ao Estado educador? – devemos começar por responder que se trata de uma falsa questão. Em primeiro lugar, porque o município continua a ser um espaço de actuação estatal, com a diferença de que actua localmente sobre um território delimitado. Nesta medida, estará mais habilitado que o estado centralizado a incorporar a lógica comunitária na sua acção. Mas se ocorrer uma Municipalização forte com um Estado fraco, corroboramos os receios de Santos (2006), a propósito dos equilíbrios entre os três princípios, de que um Estado fraco abrirá as portas aos avanços do mercado na regulação social. De alguma forma, 15 certos fenómenos experienciados em alguns municípios no campo das AEC’s mostram como a falta de recursos, a impreparação e o voluntarismo de alguns governos municipais podem promover soluções que aprofundam a precariedade e a descontinuidade do trabalho dos educadores e animadores subcontratados, o desenraizamento comunitário, o isolamento institucional e a dispersão dos diversos actores envolvidos no plano local. Estamos convencidos, na esteira de Castells, que em grande medida a descentralização em curso (de contornos pouco conhecidos, ainda) representa uma tentativa, por parte do Estado, de reconstruir a legitimidade perdida: “[…] os governos nacionais tendem a concentrar-se na administração dos desafios impostos pela globalização da riqueza, da comunicação e do poder, permitindo, portanto, que escalões inferiores do governo [regionais e locais] assumam a responsabilidade pelas relações com a sociedade tratando das questões do dia-a-dia, com o objectivo de reconstruir a sua legitimidade através da descentralização” (Castells, 2007: 396). Mas os riscos existem e não devem ser descurados, nomeadamente o de o Estado, enfraquecido após a transferência de poderes e recursos para os governos locais e regionais, tornar-se “cada vez mais inapto na tarefa de igualizar os interesses das diversas identidades e grupos sociais nele representados” (Castells, 2007: 400). Castells (2007: 428) mostra como o Estado em Rede assume uma “geometria variável do Estado” para assegurar, a nível supranacional, a governação global. Mas cada Estado local (nacional, nesta acepção) deve mediar e gerir a relação dual entre “dominação e legitimação”, e entre “desenvolvimento e redistribuição” no contexto de conflitos e negociações entre os vários actores sociais. Estamos convencidos de que as tendências actuais de “descentralização administrativa”, consubstanciadas na ampliação das competências municipais, se insere no âmbito desta reorganização interna do Estado nacional para responder às interpelações e exigências do Estado em Rede, que entre nós adquire contornos ibéricos, europeus e globais. Como é óbvio e não nos cansamos de sublinhar, “o sistema de tomada de decisões políticas baseado num Estado em Rede é caracterizado por elevadas ordens de complexidade e de incerteza” (Castells, 2007: 429). Os Estados nacionais, por seu turno, não ignoram as contradições presentes na sua acção, qualquer que seja a via a tomar: “[…] quanto mais os Estados enfatizam o comunalismo, menor é a sua eficácia como agentes de um sistema global de poder compartilhado. Quanto mais triunfam no cenário internacional, em parceria directa com os agentes da globalização, menos representam as suas bases políticas nacionais” (Castells, 2007: 434). Ainda que este debate mereça uma problematização mais aturada, o governo local (independentemente dos seus contornos, negociáveis e adaptáveis em 16 permanência) representa a busca de uma relegitimização do Estado que procura através da descentralização “um ponto de contacto mais próximo entre o Estado e a sociedade civil e a expressão de identidades culturais que, embora hegemónicas em determinado território, são incorporadas, de forma esparsa, nas elites dominantes do Estado-Nação” (Castells, 2007: 395). CONSIDERAÇÕES FINAIS A intervenção dos municípios em matéria educativa entrou numa nova fase neste início do séc. XXI: apesar de ser ainda demasiado cedo para avaliar o fenómeno em toda a sua extensão, pensamos ter contribuído decisivamente para isso a encomenda (do poder central ao poder local, sublinhe-se) das “Actividades de Enriquecimento Curricular”, para o 1º ciclo do ensino básico (2006), precedida do “Programa de Generalização do Ensino do Inglês” nos 3º e 4º anos do 1º ciclo do ensino básico (2005) e, dois anos antes, da regulamentação da criação do Conselho Municipal de Educação e da Carta Educativa (2003). A circunstância de o poder central condicionar a intervenção do poder local através destes processos de “encomenda”, que, na prática, são consubstanciados num “caderno de encargos”, está prevista na Lei das Finanças Locais e consiste num exercício de equilíbrio de interesses, simples apenas na aparência: por cada nova competência transferida para os municípios por parte do poder central deverá ser igualmente transferida a respectiva compensação financeira17. Como sabemos, este tem sido um dos principais, se não o principal, motivos de conflito entre as duas instâncias de poder em Portugal. Parece assistir-se neste momento a manifestações crescentes dos municípios, às vezes por entre alguns excessos de voluntarismo compreensíveis, no sentido de darem a conhecer os seus programas educativos. Assiste-se à adesão ao qualificativo “educador(a)” por parte de um número cada vez mais significativo de câmaras municipais, alternando o respectivo referente entre “cidade”, “município” ou “concelho”. Já referimos antes, através de exemplos, como algumas destas designações vêm ganhando visibilidade, mas parece também ser possível afirmar que os responsáveis políticos locais começam a assumir cada vez com mais força que pode ser uma boa estratégia de marketing político reivindicar o estatuto de “cidade educadora”, “município educador” ou “concelho educador” – sem que se perceba, em alguns casos, se as diferentes designações correspondem ou não a orientações específicas diversas. Numa outra linha, não queremos deixar de comentar o comportamento político da câmara municipal enquanto actor central deste processo de descentralização administrativa no 17 continente. Após décadas de crítica à burocratização do poder central, ao défice de participação, à ignorância dos contextos, os cidadãos podem ver as suas legítimas expectativas defraudadas no seio da nova centralidade conquistada (consentida?) pelo município: pensamos sobretudo nos casos em que a sensibilidade política dos Paços do Concelho, espaço-símbolo do poder municipal, se exerce por mimetismo do Terreiro do Paço, esse outro espaço-símbolo do poder central tão caro ao imaginário político português. A intervenção dos municípios na educação tem vindo a afirmar-se neste contexto do Estado em Rede de que fala Castells (2007) e é expectável, e desejável até, que seja aprofundada no respeito por certos limites: i) em primeiro lugar, numa lógica de multiplicação das propostas de intervenção e animação socioeducativa, com grande envolvimento comunitário, promovendo a cidadania através de modalidades de co-construção e de gestão participativa, resistindo ao facilitismo que algumas soluções de mercado aparentemente representam; ii) em segundo lugar, mantemos que deve ser privilegiada a orientação “educativa” e formativa da intervenção municipal, em detrimento da tentação de “escolarizar” essa intervenção que já é patente nalgumas situações – pensamos quer na ideia de municipalizar currículos e contratação de educadores e professores quer na tendência, que as AEC’s, por vezes, já denunciam, de “escolarizar” espaços e tempos que deveriam ser essencialmente lúdicos; iii) em terceiro lugar, a intervenção municipal não pode significar negação ou atropelo da autonomia dos estabelecimentos públicos de educação e ensino, a qual deverá procurar a sua legitimidade na conjugação de dois factores: a autoridade profissional de técnicos, educadores e professores, por um lado; a implantação e a participação comunitárias, por outro. Referimos, a concluir, que a intervenção do município, seja na esfera da Educação ou em qualquer outra, não deverá perder de vista nunca o objectivo central que é a refundação de um novo contrato social que lance as modalidades de regulação social capazes de evitar as formas de “fascismo social” de que fala Santos (2006). Esta visão não se articula, do nosso ponto de vista, com reducionismos dicotómicos – do tipo Estado/mercado, Estado/comunidade, ainda menos Estado/município – impondo-se antes a necessidade da construção em rede das soluções, quer no seio do território nacional (composto de vários territórios regionais e locais) quer no âmbito supranacional. 18 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARROSO, João (1995). Os Liceus. Organização Pedagógica e Administração. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/JNICT. CAP (2007). Relatório Intercalar de Acompanhamento das Actividades de Enriquecimento Curricular. Lisboa: Ministério da Educação/Comissão de Acompanhamento do Programa. CASTELLS, Manuel de (2007). O Poder da Identidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. CRSE (1988). Proposta Global de Reforma—Relatório Final. Lisboa: Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação. FERNANDES, A. Sousa (1992). A Centralização Burocrática do Ensino Secundário — A Evolução do Sistema Educativo Português Durante os Períodos Liberal e Republicano (1836-1926). Braga: Universidade do Minho (tese de doutoramento; policopiado). FERNANDES, António S. (1995). Educação e poder local. In CNE. Actas do Seminário “Educação, Comunidade e Poder Local”. Lisboa: Conselho Nacional de Educação, pp. 45-63. FERNANDES, António S. (2003). Descentralização da Administração Educacional. A emergência do município como interventor educativo. In L. L. Dinis & N. Afonso (Eds.). Actas do 2º Congresso Nacional do Fórum Português de Administração Educacional “A Escola entre o Estado e o Mercado – O Público e o Privado na Regulação da Educação”. Lisboa: Fórum Português de Administração Educacional, pp. 83-96 (edição electrónica). FERNANDES, António S. (2004). Município, cidade e territorialização educativa. In J. A. Costa, A. Neto-Mendes & A. Ventura (Org.). Políticas e Gestão Local da Educação. Aveiro, Editorial da Universidade de Aveiro, pp. 35-43. FERREIRA, Fernando I. (2005). O Local em Educação. Animação, Gestão e Parceria. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. FORMOSINHO, João (1987). Educating for Passivity — a Study of Portuguese Education (1926-1968). London: University of London (tese de doutoramento; policopiado). LIMA, Licínio C. (1992). A Escola como Organização e a Participação na Organização Escolar. Um Estudo da Escola Secundária em Portugal (1974-1988). Braga: Universidade do Minho/Instituto de Educação. MARTINS, Helena (2007). Os Municípios e a Educação. Estudo das modalidades de gestão das AEC. Aveiro: Universidade de Aveiro (dissertação de mestrado; policopiado). MARTINS, Mário R. (2001). As Autarquias Locais na União Europeia. Porto: Edições ASA. NETO-MENDES, António. (2004). Regulação estatal, auto-regulação e regulação pelo mercado – subsídios para o estudo da profissão docente. In J. A. Costa, A. NetoMendes & A. Ventura, (Org.). Políticas e Gestão Local da Educação. Aveiro: Universidade de Aveiro, pp. 23-33. PINHAL, João (2006). A intervenção do município na regulação local da Educação. In J. Barroso (org.). A Regulação das Políticas Públicas de Educação. Lisboa: Educa/ U. de I&D de Ciências da Educação, pp. 99-128. SANTOS, Boaventura S. (2006). A Gramática do Tempo: Para uma Nova Cultura Política. Porto: Edições Afrontamento. 19 NOTAS 1 Lei nº 46/86, de 14 de Outubro. Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março. 3 Despacho Nº 8/SERE/89, de 8 de Fevereiro. 4 Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de Maio. 5 Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio. 6 De acordo com a informação disponível no sítio internet da ANMP, (http://www.anmp.pt/anmp/div2007/tc/index.html, consultado em 18/10/2007), as reuniões entre governo central e representantes dos governos locais iniciaram-se em Janeiro de 2007. 7 A regionalização do continente português está ainda por cumprir, apesar do estipulado na Constituição da República (Art. 255º). Referendada em Novembro de 1998, os resultados viriam a ser inconclusivos. Estão constituídas as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, os dois espaços insulares que integram o território nacional português. Na actualidade, o tema tem conquistado nova visibilidade, nomeadamente na comunicação social, conferida por sucessivas tomadas de posição públicas de políticos e colunistas. 8 Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro, que tem por objecto: por um lado, os conselhos municipais de educação, regulando as suas competências, a sua composição e o seu funcionamento; e, por outro, a carta educativa, regulando o processo de elaboração e aprovação da mesma e os seus efeitos (Art. 1º). 9 No momento em que escrevemos este texto, segundo informação disponibilizada pelos serviços do Ministério da Educação (http://www.giase.min-edu.pt/cartas/resumo.asp; consulta em 18/10/2007), é o seguinte o ponto da situação sobre cartas educativas: 195 homologadas; 47 em avaliação; 36 em elaboração. Estes números respeitam à realidade continental, abrangendo 278 municípios, de um total de 308 que comporta a actual organização política e administrativa portuguesa. 10 Despacho nº 12591/2006, de 16 de Junho. 11 Não cabe no âmbito deste trabalho a discussão sobre a bondade de uma decisão que remete para o campo difuso do “enriquecimento curricular” áreas do saber curricularmente consagradas, no 1º ciclo do Ensino Básico, como o ensino da música, a educação física e outras expressões. Parecem fundadas as críticas de que uma das motivações para esta decisão pode radicar, pura e simplesmente, na gestão dos recursos humanos: o Estado central, ao descentralizar a provisão deste serviço educativo para as câmaras municipais, emagrece o número de contratados estatais e abre as portas, já sob a tutela local, a soluções preconizadas pela nova gestão pública, como o outsourcing, por exemplo (sobre este assunto, ver Martins, 2007). 12 Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira este espaço de intervenção é da responsabilidade dos respectivos governos regionais: nos Açores, a informação é escassa e permite concluir que estão a ser dados os primeiros passos no sentido de se construirem ofertas que colocam o “enriquecimento curricular” ao serviço de uma “escola a tempo inteiro”; na Madeira, a “escola a tempo inteiro” tem mais de uma década de vida e características distintas, desde logo porque não cabe aos municípios a sua organização e gestão mas sim ao governo regional. Para saber mais, consultar Martins (2007). 13 Sobre as diversas acepções de “regulação” e “desregulação”, ver o nosso trabalho (Neto-Mendes, 2004). 14 A retórica discursiva que tem legitimado algumas das políticas mais recentes fornece-nos pistas consentâneas com esta análise: em 2003, o XV Governo Constitucional de Durão Barroso assumia a “descentralização administrativa” como um objectivo fundamental, avançando com argumentos como a “subsidariedade” (sic), a “modernização do Estado”, a “eficiência” e a “eficácia” – é neste contexto que é publicada a regulamentação central em vigor para o conselho municipal de educação e carta educativa (preâmbulo do Decreto-Lei nº 7/2003, já referenciado). 15 Num outro domínio, o da componente de apoio à família (serviço mais conhecido ainda por ATL), o conflito que opõe a UDIPSS (União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social) de Braga e a CONFAP (Confederação Nacional das Associações de Pais) é revelador das tensões que a concorrência por um espaço limitado de prestação de serviços pode causar. Estas duas associações, oriundas ambas duma lógica comunitária (teoricamente sem fins lucrativos, portanto), envolveram-se numa guerra de acusações mútuas sobre a prestação do serviço de apoio às famílias por parte de associações de pais, vista pela CONFAP como legítima e pela UDIPSS de Braga como uma actividade “ilegal e clandestina”. (http://www.agencia.ecclesia.pt/noticia_all.asp?noticiaid=52402&seccaoid=3&tipoid=12 e http://www.confap.pt/desenv_noticias.php?ntid=719; consultado em 31/10/2007). 16 Através de uma pesquisa rápida, inventariámos algumas situações em que a expressão “município educador” é utilizada, o que pode ser tomado como indício crescente de uma aceitação pouco vista até esta data. Eis algumas das utilizações observadas, começando pelo “Programa Município Educador Sustentável”, no Brasil; em 2 20 Portugal há vários registos da utilização do conceito: o jornal A Voz do Minho, na sua edição de 23/11/2005, relata a vontade da vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de Esposende de definir os “eixos estratégicos a implementar para tornar Esposende um Município Educador”; o cartaz de divulgação do 2º Congresso Nacional da Rede Portuguesa das Cidades Educadoras, realizado em Santa Maria da Feira, Portugal, a 25 e 26 de Outubro de 2007, assume o tema “Municípios Educadores vs. Territórios Multiculturais”; a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis anuncia o seu Guia de Ofertas Educativas 2007/2008 sob o lema “Azeméis, Município Educador”. 17 A Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro, (já revista) consagra expressamente: “Quando por lei for conferida qualquer nova atribuição ou competência aos municípios, o Orçamento do Estado deve prever a verba necessária para o seu exercício” (Art. 3º, 1). 21
Download