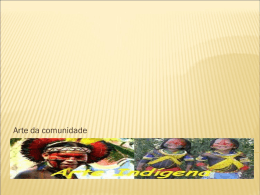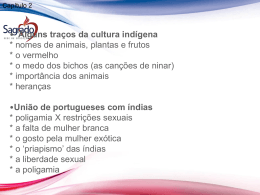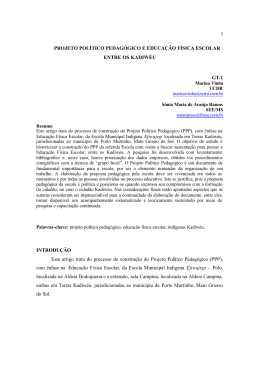A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM PERSPECTIVA HISTÓRICA: OS KADIWÉU E A “PEDAGOGIA DA VIOLÊNCIA” (SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX) Giovani José da Silva Léia Teixeira Lacerda UEMS CONSIDERAÇÕES INICIAIS Os Kadiwéu são remanescentes dos antigos Mbayá-Guaikuru, que nos séculos XVI, XVII e XVIII habitavam o Gran Chaco. No passado, eram conhecidos como “índios cavaleiros” e exerceram sobre outros grupos, como os Guaná, relações de subordinação. Após a Guerra contra o Paraguai (1864-1870), os Kadiwéu instalaram-se na área ocupada hoje por seus remanescentes (cf. Ribeiro, 1980). Documentos da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Brasília, e do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, revelam a construção física, social e simbólica da Reserva Indígena Kadiwéu (José da Silva, 2004), conjunto de terras habitado por mais de mil indígenas (cf. Censo Kadiwéu 1998) nos dias de hoje. Os Kadiwéu são falantes de uma língua filiada à família lingüística isolada Guaikuru (como os Toba e os Pilagá, que vivem na Argentina e no Paraguai, respectivamente) e convivem com escolas em suas terras desde o final da década de 1940. Os Kadiwéu autodenominam-se Ejiwajegi (lê-se “edjiuádjegui”) e encontram-se distribuídos em cinco aldeias: Barro Preto, Bodoquena, Campina, São João e Tomázia. Desde 1998, quando foi criada, funciona entre eles a Escola Municipal Indígena “Ejiwajegi” – Pólo e Extensões. A escola atende da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e, entre 2002 e 2004, foi oferecido um Curso Normal em Nível Médio, de formação de professores. A população majoritária da Reserva é Kadiwéu e convive, entre esses indígenas, uma pequena parcela de índios Kinikinau e Terena. Ao longo do tempo, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), a Funai, missões religiosas – sobretudo protestantes –, leigos, lingüistas e antropólogos estiveram envolvidos em programas de educação escolar junto aos Kadiwéu. O entendimento desse processo histórico poderá iluminar uma parte da História da Educação que, até o momento, tem sido negligenciada como objeto histórico. A presente comunicação toma, assim, por objeto de estudo, o processo histórico de escolarização entre indígenas Kadiwéu, na segunda metade do século XX. O objetivo geral foi apreender as formas de educação escolar a que foi submetido parte desse grupo indígena, localizado atualmente em Mato Grosso do Sul, entre as décadas de 1950 e 1990. Especificamente, objetivou-se revelar como o que se denominou de “pedagogia da violência” foi se enraizando nas práticas docentes, ao longo do tempo, na escola da Aldeia Bodoquena, localizada na Reserva Indígena Kadiwéu, município de Porto Murtinho. No texto a seguir, são apresentados, brevemente, relatos que descrevem o cotidiano escolar vivido por homens e mulheres Kadiwéu, quando crianças e adolescentes, cotidiano esse marcado por castigos físicos e psicológicos. UMA CARACTERIZAÇÃO DA “PEDAGOGIA DA VIOLÊNCIA” É inspirado na obra do epistemólogo e pensador francês Michel Foucault (1999; 2000), especialmente na obra Vigiar e punir (Foucault, 2004), que se obtém a noção de disciplinamento dos corpos. No primeiro capítulo da terceira parte desta obra (intitulado Disciplina), Foucault refere-se à construção de corpos dóceis, abordando os regulamentos escolares, militares, hospitalares e religiosos, dentre outros. É sobre os regulamentos escolares que se centrará a discussão proposta. Retomando idéias desenvolvidas em outro artigo (José da Silva, 2002), verifica-se que na segunda metade do século XX, diversas sociedades indígenas brasileiras passaram a ter contato sistemático com a sociedade envolvente e, como conseqüência direta desse contato, passaram a desenvolver atividades escolares nas aldeias. De acordo com o historiador Leandro Mendes Rocha, apoiado em documentos do Serviço de Proteção aos Índios, do Ministério da Agricultura: Em relatório do Ministério da Agricultura de 1942, o governo explicita o que entende por educação indígena: O que chamamos educação dos índios consiste em: a) dar-lhes a idéia da pátria e o seu cultivo cívico, cerimônias em torno da bandeira, hinos, História do Brasil através dos fatos mais culminantes, etc.; b) alfabetização dos menores e adultos de ambos os sexos; c) ensino de trabalhos manuais e domésticos; d) prática agrícola e pecuária; e) limpeza e higiene (Rocha, 2003, p. 127-128). Cada um desses itens pode ser caracterizado como um dispositivo de disciplinamento dos corpos indígenas, no processo educativo formal dos membros da sociedade Kadiwéu e de outras, com o reiterado uso de métodos de violência física e psicológica como resposta à não-aceitação das regras impostas ao alunado indígena. Esse disciplinamento remete à idéias de Foucault, para quem: O tempo disciplinar que se impõe pouco a pouco à prática pedagógica – especializando o tempo de formação – e destacando do tempo adulto, do tempo do ofício adquirido; organizando diversos estágios separados uns dos outros por provas graduadas; determinando programas que devem desenrolar-se cada um durante uma determinada fase e que comportam exercícios de dificuldade crescente; qualificando os indivíduos de acordo com a maneira como percorreram essas séries (Foucault, 2004, p. 135). Para ilustrar esse disciplinamento, foram selecionados cinco depoimentos de indígenas Kadiwéu, referentes a distintos momentos históricos da implantação e do funcionamento de unidades escolares na maior aldeia Kadiwéu, antigamente chamada Alves de Barros e hoje conhecida por aldeia Bodoquena. Tais depoimentos foram coletados por jovens alunos e alunas da Escola Municipal Indígena “Ejiwajegi” – Pólo, no contexto de uma pesquisa intitulada A escola de antigamente. Os depoimentos abarcam praticamente meio século de história escolar e foram selecionados em função da representatividade e da riqueza de detalhes que apresentaram em relação aos respectivos períodos. A MEMÓRIA SOCIAL KADIWÉU E AS LEMBRANÇAS DOS TEMPOS ESCOLARES 1º depoimento (década de 1950): Quando eu conheci a escola dos primeiros tempos não tinha professor, o professor era o chefe de posto, ele era chefe e professor. Todo dia de manhã a primeira coisa que nós fazíamos era ler todo o alfabeto, por isso a turma se chamava 1ª A. Aí depois do A fazíamos as contas de 500 números e quando já sabíamos, passávamos para as contas de 1.000 números. Nós ganhávamos material escolar, essa escola era do tempo do SPI e o nome da escola era Escola Indígena Alves de Barros. Quando os alunos entravam, formavam fila, quando saíam, também formavam fila. Quando saíamos no intervalo, o chefe ensinava a aula de Educação Física, os homens com o chefe e as meninas com a mulher do chefe, ensinavam direitinho como é que deve fazer. Aí nos encontrávamos de manhã, cantávamos o Hino à Bandeira, porque ele ensinava muito bem. Quem cantava bem o hino era quem cantava primeiro e ensinava aos colegas que não sabiam cantar. [...]. Nessa época, ninguém se formou na 8ª série, só na 4ª série. Passou alguns anos e a escola parou certo tempo, aí ninguém estudou mais porque o chefe saiu do posto. Quando era para fazer a prova no final do ano, eles ficavam lá até acertar o que o professor tinha passado na prova. Nessa escola, quando uma criança brigava, ela ficava de joelhos na pedra, [...] (depoimento de E. V. M. dado ao aluno R.da S. M., em 2001). O depoimento de E. V. M. revela, entre outras coisas, a disciplina presente no ambiente escolar e reforça a idéia vigente na época de que os não-índios é que detinham o conhecimento, cabendo aos índios aceitar as regras que lhes eram impostas. O controle sobre as crianças era realizado por meio de castigos. Entretanto, não se percebe ações punitivas com muita intensidade, ao contrário do segundo depoimento, bastante contundente nesse aspecto. 2º depoimento (década de 1960): Sobre o regulamento da escola Alves de Barros no ano de 1966. A professora chamava-se I. T. I. M. F., cada aluno tinha por obrigação pronunciar o nome desta professora claramente. Os alunos tinham livro de chamada. Nós respondíamos firmemente: “–Presente!”. Após esta chamada nós tínhamos por obrigação cantar o Hino Nacional e o Hino à Bandeira. O regulamento era como se nós estivéssemos no serviço militar. Entrávamos em forma e em posição de sentido na entrada e na saída da aula e, também, quando se aproximava uma autoridade, como o chefe de posto ou da comunidade. O aluno desobediente recebia como castigo a sua retenção em um lugar escuro por um tempo determinado pela professora. Conforme a gravidade, era usada a palmatória ou se colocava a criança de joelhos sobre grãos de milho ou pedrinhas. Essa punição era a que mais pesava durante o período de aula. Não se podia conversar com os colegas, somente quando determinado, no horário do recreio. A professora era nossa segunda mãe, dava carinho e conversava alegremente, mas no seu horário de trabalho era muito rigorosa. Usávamos uniformes de cores azul e branco, escrevíamos muito no quadro-negro, fazíamos ditados e tarefas de Matemática (depoimento de M. da S. ao aluno E. M da S., em 2001). Nesse segundo depoimento, observa-se a presença de muitos dos dispositivos de disciplinamento de que os funcionários do SPI faziam uso. Como este era um órgão controlado por militares em sua quase totalidade no período em questão, não é difícil se chegar à conclusão do porque a escola dos Kadiwéu se parecer com um quartel. Cerimônias em torno dos hinos, formação de filas, posição de sentido, respeito hierárquico, dentre outros, construíam o cotidiano escolar de crianças e adolescentes indígenas na segunda metade da década de 1960. Aos alunos que não se adequavam às normas prescritas estavam reservados os castigos arrolados. Verifica-se que a professora, alegre, carinhosa e considerada uma segunda mãe, tornava-se, no ambiente escolar, severa e rigorosa. A situação parece ter se perpetuado ao longo da década de 1970, como mostra o depoimento seguinte. 3º depoimento (década de 1970): Eu iniciei minha educação escolar na cidade de Campo Grande, cursando a 1ª e 2ª série. Quando estava estudando na cidade, eu me lembro de algumas coisas, pois estava com apenas oito anos de idade. O estudo que tive durante esses dois anos foi ótimo, pois aprendi a ler, escrever e fazer continhas. Durante esses dois anos, nunca recebi nenhum tipo de castigo da professora, pois me comportava o máximo, pois era somente eu de índio no meio de tantos não-índios, mas de vez em quando eu brigava com alguns meninos que queriam tirar alguma com a minha raça [sic] e eu me defendia. Ficava sem ir à escola por dois ou três dias. No ano de 1977, vim embora pra aldeia e estudei durante seis meses, só que esses meses foram árduos, pois a educação dos professores daqui era diferente da cidade. Quando comecei a estudar, a professora me voltou para a 2ª série, ele argumentou que eu não estava preparado para cursar a 3ª série. Fiquei durante seis meses cursando a 2ª. O método de ensino da professora era totalmente diferente porque aqui existiam vários tipos de castigos, o aluno aprendia na base do castigo. Citarei alguns castigos mais conhecidos: ficar de joelhos em cima de grãos de milho, puxões de orelhas, ficar abraçado ao coqueiro ou ficar de braços abertos durante todo o recreio, até aprender determinada matéria. Não suportando, voltei a estudar novamente em Campo Grande (depoimento de M. de F. ao aluno O. M. L., em 2001). O depoimento de M. de F. revela que na década de 1970, quando o SPI já havia sido substituído pela Funai, o contato com a vida urbana se fazia mais intenso entre os Kadiwéu. Mesmo alegando não ser tratado com violência na escola não-indígena, o colaborador manifesta ter sido vítima de preconceito e discriminação pelo fato de ser índio. Na escola indígena, por sua vez, os castigos normatizavam as ações pedagógicas, pois o próprio entrevistado lembra que “o aluno aprendia na base do castigo”. Verifica-se que a professora da escola da aldeia determinou, inclusive, a incapacidade do aluno indígena de prosseguir os estudos na série para a qual tinha sido aprovado. Esta situação, analisada sob o prisma do conceito de “pedagogia da violência” revela-se, também no próximo depoimento. 4º depoimento (décadas de 1970 e 1980): Eu comecei a estudar com 7 anos. Minhas professoras eram gêmeas, I. e G. Elas eram muito bravas. Elas colocavam os alunos de castigo, puxavam orelhas, jogavam apagador nos alunos, deixavam os alunos ajoelhados no milho ou na pedra. As matérias eram Português, Matemática, Ciências, Estudos Sociais e Educação Física. [...]. Quem trazia a lenha [para a merenda] eram os alunos. Cada aluno tinha que trazer cinco pauzinhos de lenha. A professora, certo dia, pediu pra trazer lenha e todos os alunos tinham que trazer. Se não trouxessem lenha, a professora mandava os alunos imediatamente sair da sala e entrar no mato em busca de lenha para a cozinha. Quem não participava da Educação Física, ela dava castigo toda segunda-feira. Enquanto os outros estudavam, o aluno que não participasse da aula de Educação Física, ficava de joelhos até a hora da saída (depoimento de M. de A., em 2001, ao pesquisador Giovani José da Silva). Este depoimento revela que os componentes curriculares em nada diferiam daqueles oferecidos em escolas rurais e urbanas de todo o país na mesma época. Os castigos perduraram até o final da década de 1990 como uma triste herança da escola dos tempos de antigamente. O depoimento a seguir, de uma aluna Kadiwéu, revela o quanto a situação se transformou sob novos paradigmas de Educação Escolar Indígena. 5º depoimento (década de 1990): Quando comecei a estudar eu não sabia nada. Quando minha mãe me deixou na escola eu chorei, ela voltou para casa e eu saí correndo atrás dela. Ela brigou comigo, mas eu não voltei, pois já tinha ido embora. Eu não podia ficar sozinha na escola, eu tinha medo da professora. Depois fui indo, eu já sabia ler as vogais e todo o alfabeto, a minha professora me ensinou a escrever e ler o meu nome. Depois fui para 2ª série e eu já sei ler algumas palavras. A minha professora me deu um texto pra eu ler, ela deu prova pra nós e eu tirei nota alta. No outro ano eu já fui para a 3ª série e eu reprovei porque eu parei um mês de estudar. Quando minha mãe me mandou de novo à escola, eu consegui passar de ano. Para eu estar na 4ª série eu estava estudando, mas a nossa escola estava feia, as janelas sem vidros, as carteiras muito velhas e quebradas; hoje em dia as nossa carteiras estão novas, a nossa escola está tudo em ordem, cada sala tem um filtro de água, a nossa escola melhorou muito. [...] (depoimento de Z. de A. ao pesquisador Giovani José da Silva, em 2001). Nota-se neste último depoimento, que a entrevistada não faz menção a qualquer tipo de castigo físico e/ ou psicológico que tenha sofrido no âmbito escolar. Entretanto, seu depoimento revela que não estava preparada para entrar no ambiente escolar (“eu tinha medo da professora”) e que se operavam, entre os Kadiwéu, os mesmos sistemas de notas e de reprovações das escolas não-indígenas (“fui para a 3ª série e eu reprovei”; “ela deu prova pra nós e eu tirei nota alta”). Apesar dessas dificuldades, apontam-se melhorias, tais como a aquisição de mobiliário adequado. Nota-se, ainda, que os dispositivos de disciplinamento não estavam ausentes, mas agora se revestiam de outros significados (“a nossa escola está tudo em ordem”). Poder-se-ia lançar a hipótese de que nos anos 1990, a escola da aldeia Kadiwéu progressivamente foi abandonando a “pedagogia da violência” e, em seu lugar, foi se instalando uma outra pedagogia (a “pedagogia da ordem”?). ELABORANDO LEMBRANÇAS, CONSTRUINDO HISTÓRIA A violência física e psicológica infringida aos Kadiwéu, ao longo do tempo, não foi exclusiva nesta sociedade indígena. A pesquisadora Darlene Taukane, em sua obra A história da educação escolar indígena entre os Kurâ-Bakairi, registra que: Os meninos que freqüentavam a sua escola que funcionavam em regime semi-internato, trabalhavam nas hortas e as meninas como empregadas domésticas na missão. Como forma de pagamento pelo trabalho realizado, estas crianças recebiam os mesmo brindes [sabonetes, sabão, colares de miçangas, roupas, tecidos e perfumes]. Assim, sua metodologia se diferenciava daquela dos agentes do SPI, que escravizavam as crianças e contra elas praticavam os tipos de violência já mencionados, para “civilizá-las” através da educação escolar. Mas assemelhava-se a eles em termos do método para exercer a “atração”, ou seja, os brindes (Taukane, 1999, p. 135). Os tipos de castigos a que se refere Taukane são os seguintes: [...] [as lembranças] estão associadas à palmatória, ao castigo de joelho sobre pedrinhas, ao arrancar capim e ervas daninhas até que as mãos vertessem sangue, ao trabalho compulsório nas hortas, cujos produtos que não tinham o hábito de ingerir (incluindo o transporte da água dos rios para regá-las), no pomar, na lida com o gado bovino e caprino. Enfim, tinham que trabalhar muito para se tornarem “civilizados” (Taukane, 1999, p. 108- 109). Um depoimento coletado pela pesquisadora indígena merece ser aqui transcrito na íntegra: Antigamente era assim... eu sou aluna do SPI, eu estudei naquela época. Quando a gente não sabia a lição, a gente logo ficava de castigo. Era castigo coletivo. A professora tomava a lição de todo mundo e quem não sabia... Nós já ficávamos enfileirados com o livro na mão, mas a nossa atenção não era no livro. A gente olhava as pessoas que iam em direção à casa do posto de repente, a professora vinha com um pedaço de pau para bater na nossa cabeça, a gente levava aquele susto. Outro castigo que me lembro muito bem... a professora prendia a gente num quarto escuro e também fechava todas as janelas da escola e a gente morria de medo e de fome, esperando a nossa hora. Quem vinha soltar a gente era sempre o Chefe de Posto. Ele perguntava por que ficamos de castigo. A gente respondia, a gente não deu conta de decorar o nosso ponto. Nosso ponto era de vinte questões e respostas. Antes era assim, para estudar História do Brasil era na base do questionário. [...]. Em 1951 eu tinha sete anos e me lembro que a professora colocava os alunos em cima de pedregulhos, eles ficavam horas e saíam daí cheio de sangue nos joelhos. [...]. Aí a professora batia com a régua em cima da mesa para acalmar a conversa na sala de aula. [...]. Quando a professora puxou a minha orelha com sua unha de tatu me feriu bastante e meu pai veio decidido a bater na professora. [...] (Taukane, 1999, p. 110-111). A idéia de “civilizar” os índios, através da educação escolar, esteve presente nas diretrizes do órgão indigenista oficial e se constituiu na pedra de toque de todo o trabalho pedagógico realizado nas escolas das aldeias. Talvez, alguns pedagogos não aceitem chamar esse conjunto de normas como pedagogia, mas aqui se deseja esclarecer que esta era, sim, a forma como os índios viam o ensino ministrado nas aldeias, ou seja, para aprender bem era preciso sofrer castigos. Os próprios indígenas foram assimilando a idéia de que “civilizados” eram os não-índios e para alcançarem essa “civilização”, mostrada como um modelo a ser atingido, era necessário passar pelos dispositivos de disciplinamento. Em outras palavras, os indígenas aceitaram, nem sempre passivamente, as regras instauradas pelos não-índios em suas aldeias, a fim de se apropriarem do conhecimento do outro, tentando seguir seu comportamento. Nesta difícil relação de alteridade, de aceitação da “pedagogia da violência”, encontram-se idéias exemplarmente registradas no depoimento abaixo: Meu pai começou a estudar com oito anos de idade com o professor E. R. A escola era simples como uma cabana (feita de palha) e o professor era rígido, o castigo era a palmatória. O nome da palmatória era bolo, feito de madeira. Se ocorresse uma briga, um dava uma palmada de bolo no outro, e ainda ficava de joelho nas pedras menores, de frente um para o outro. Durante o tempo das aulas, ele estudou com o professor E. até a 2ª série, na 3ª série ele estudou com o professor A. J. e a 4ª ele estudou com uma professora chamada T. e percorria os mesmos quilômetros que eu percorro durante as aulas, hoje: 4 km (M. da S. R. falando sobre seu pai G. G. R, em 2001). M. da S. R. é Terena, mas quando coletou o depoimento transcriado acima, estava estudando entre os Kadiwéu. Seu pai, contudo, estudou em escolas das aldeias Terena e passou por castigos semelhantes aos referidos em outras aldeias. Fala-se no depoimento de castigos físicos com certa naturalidade, como se fosse “normal” recebê-los no processo ensino-aprendizagem. Os tempos de antigamente na escola são, assim, relembrados com tristeza e, ao mesmo tempo, com o sentimento de um “dever cumprido”, como se estivesse destinado aos índios aprender a ser “mais parecidos com os brancos”, com castigos que tinham o caráter civilizatório pretendido pelos dirigentes da Educação no Brasil. Aqui se faz uma consideração de ordem teórico-metodológica. Não basta convocar e inventariar a memória social Kadiwéu (ou de qualquer outra sociedade indígena) sobre os tempos escolares, pois isso não é História. A mesma se constitui numa operação de coleta de dados, análise e síntese. É necessário recortar, selecionar e avaliar os depoimentos, bem como os documentos escritos, entrecruzando informações (a esse respeito, cf., entre outros, Burke, 1992; Certeau, 2000). A memória pode ser uma valiosa fonte histórica, mas, sozinha, não se constitui na História. Dessa forma, há a necessidade de o historiador da História da Educação ter uma formação ampla, que o possibilite enxergar além das aparências e manusear, com critério, os discursos que remetem às tradições e vivências de um grupo indígena, por exemplo. É desnecessário, portanto, ressaltar a importância da Antropologia para a compreensão da atualização de tradições em sociedades indígenas (cf., entre outros, Oliveira, 1999). CONSIDERAÇÕES FINAIS Considera-se que grande parte da História da Educação Escolar Indígena no Brasil ainda está por ser escrita e deve ser inserida no contexto geral da História da Educação. De um ponto de vista êmico, pretendeu-se registrar, parcialmente, as experiências vividas no ambiente escolar por crianças e adolescentes Kadiwéu, hoje adultos e/ou idosos. Verificouse, assim, que os discursos coletados nem sempre rompem com as tradicionais dicotomias primitivo X civilizado, selvagem X avançado, índio puro X índio aculturado. A análise aqui elaborada, em uma perspectiva da história do presente, contemplou, dentre outras, as idéias do historiador e antropólogo inglês Jack Goody, sobre a aquisição da escrita por sociedades autóctones (Goody, 1986; 1988). Segundo esse autor: Todas as sociedades são orientadas por normas e regras de alguma espécie. Mas quando estas permanecem implícitas, ao nível da “estrutura profunda”, não tomam a mesma forma para o actor ou para a sociedade, que quando são conhecimentos formulados pelos governados ou apresentados ao fórum, gravadas em placas pelos governantes. Em primeiro lugar, não são tão “fixas”; emergem geralmente no contexto (como os provérbios), e não na forma “abstracta” de um código. Em segundo lugar, tendem a ser menos generalizadas que as fórmulas letradas; ou antes, as suas generalizações tendem a ser implantadas em situações. Em terceiro lugar, não são formuladas nem sequer formalizadas em resumos ou summae nítidos. É a escrita que permite escolher normas ou decisões e expô-las na forma de um guia, um manual. Feito isto, a lei, law, gesetz, loi, distinguem-se do “costume” dentro do corpo total dos “direitos”, ao passo que o escrito obtém muitas vezes um valor de veracidade mais elevado (num tribunal, na literatura, na filosofia, ao citar uma “autoridade”) que o oral (Goody, 1986, p. 196). As fontes utilizadas consistiram em documentos pesquisados no Departamento de Documentação (Dedoc) da Funai, em Brasília, do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, além de depoimentos coletados junto aos pais e avós dos alunos e alunas Kadiwéu na Escola Municipal Indígena “Ejiwajegi” – Pólo. No conjunto, os documentos revelam a multiplicidade de atores na escola indígena, desde os tempos em que a mesma era de responsabilidade do órgão indigenista oficial brasileiro, primeiro o SPI, depois a Funai, até o momento posterior à criação e municipalização da escola, no final da década de 1990. Estiveram presentes nesse processo, agentes governamentais, lingüistas, antropólogos e missionários, além dos próprios indígenas. Estes últimos se sujeitaram a diversas formas de violência no ambiente escolar, uma vez que entendiam ser esta a forma “correta” de serem educados formalmente. A escola instalada na área indígena não respeitava os princípios da especificidade, do bilingüismo (praticava-se o que os lingüistas denominam “bilingüismo de transição”), da diferença e da interculturalidade, restando aos indígenas a aceitação de regras impostas de fora para dentro. Eis porque se denominou o conjunto das práticas pedagógicas vigentes no período recortado de “pedagogia da violência”, pois as mesmas visavam disciplinar os corpos e as mentes de crianças e adolescentes Kadiwéu, tentando ensinar-lhes, entre outras coisas, a ser “menos índios”. As crianças e adolescentes indígenas Kadiwéu que passaram pela escola na segunda metade do século XX não eram tão “dóceis” e “submissos” como desejavam e planejavam os professores que os castigavam, a fim de obter deles um comportamento idealmente “civilizado”. Conclui-se o estudo demonstrando-se a ineficiência de tais práticas e desvelando a frustração de ambos, professores e alunos: os primeiros por não conseguirem transformar os corpos e mentes “rebeldes” de seus alunos indígenas e estes últimos por fracassarem dentro do sistema de educação formal dos nãoíndios, imposto ao grupo ao longo do tempo. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BURKE, P. (Org.) A escrita da história: novas perspectivas. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Unesp, 1992. 354 p. CERTEAU, M. de. A escrita da história. Tradução de Maria de Lourdes Menezes; revisão de Arno Vogel. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. 345 p. FOUCAULT, M. História da sexualidade I: a vontade de saber. 13. ed. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1999. 152 p. ______________. Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. 15. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2000. 295 p. ______________. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 28. ed. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 2004. 288 p. GOODY, J. Domesticação do pensamento selvagem. Tradução de Nuno Luís Madureira. Lisboa: Presença, 1988. 190 p. _________. A lógica da escrita e a organização da sociedade. Tradução de Teresa Louro Pérez. Lisboa: Edições 70, 1986. 218 p. JOSÉ DA SILVA, G. A construção física, social e simbólica da Reserva Indígena Kadiwéu (1899-1984): memória, identidade e história. 2004. 144 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)/ Campus de Dourados, Dourados, 2004. __________________. No tear da memória: história da educação escolar entre os índios Kadiwéu, de Mato Grosso do Sul (1979-1999). CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. 2., 2002, Natal. Anais... Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 2002. p. 332-333. OLIVEIRA, J. P de. Ensaios em antropologia histórica. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999. 269 p. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO. Censo Kadiwéu 1998. 63 p. Mimeografado. RIBEIRO, D. Kadiwéu: ensaios etnológicos sobre o saber, o azar e a beleza. Petrópolis: Vozes, 1980. 318 p. ROCHA, L. M. A política indigenista no Brasil: 1930-1967. Goiânia: UFG, 2003. 264 p. TAUKANE, D. Y. A história da educação escolar entre os Kurâ-Bakairi. Cuiabá: Edição da autora, 1999. 204 p.
Baixar