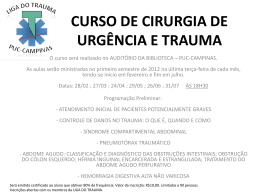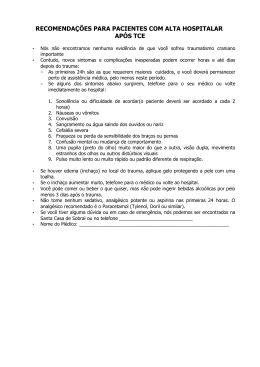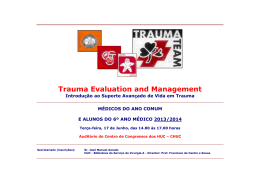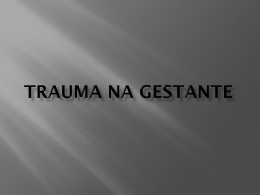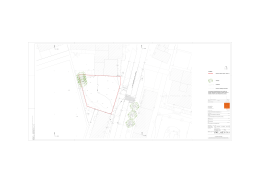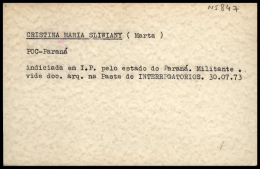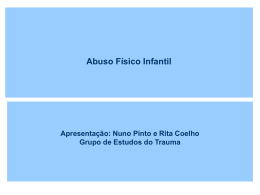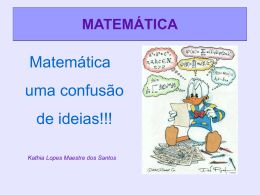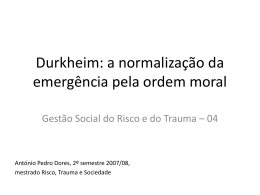ISSN 01 03-5355 SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA Volume 23 • Número 3 • 2004 Arquivos Brasileiros de 1 EU E O C ! u Órgão Oficial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (ISSN 0103-5355) Junta Editorial Editores Gilberto Machado de Almeida Milton K. Shibata Mário Gilberto Siqueira Editores Associados Atos Alves de Sousa Carlos Umberto Pereira Eduardo Vellutini Fernando Menezes Braga Francisco Carlos de Andrade Hélio Rubens Machado João Cândido Araújo Jorge Luiz Kraemer José Alberto Gonçalves · José Carlos Lynch Araújo José Perez Rial Manoel Jacobsen Teixeira Marcos Masini Nelson Pires Ferreira Sérgio Cavalheiro Instruções para os autores Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, órgão oficial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, destina-se a publicar trabalhos científicos sobre neurocirurgia e ciências afins, inéditos e exclusivos. Em princípio, são publicados trabalhos redigidos em português, com resumos em inglês . Excepcionalmente, poderão ser redigidos em inglês, com resumos em português. Os artigos submetidos à publicação deverão se r classificados em uma das categorias abaixo: • Artigos originais: informações resultantes de pesquisa clínica, epidemiológica ou experimental. Resumos de teses e dissertações. Pretende-se que, pelo menos, a metade das páginas da revista seja destinada a essa categoria; • Artigos de revisão: sínteses sobre temas específicos, com análise critica e conclusões. As bases de dados e o período de tempo abrangidos na revisão deverão ser especificados; • Artigos de atualização: artigos que se destinam a fornecer atualização dos assuntos relacionados à neurocirurgia, com aplicações clínicas úteis e imediatas, dirigidos principalmente aos residentes; • Relato de caso: apresentação, análise e discussão de casos que apresentam interesse relevante; • Notas técnicas: notas sobre técnica operatória e instrumental cirúrgico; • Artigos diversos: são incluídos, nesta categoria, assuntos relacionados à história da neurocirurgia, ao exercício profissional, à ética médica e a outros julgados como pertinentes aos objetivos da revista; • Cartas ao editor: críticas e comentários, apresentados de forma resumida, ética e educativa, sobre matérias publicadas nesta revista. O direito à réplica é assegurado aos autores da matéria em questão. As cartas, quando consideradas aceitáveis c pertinentes, serão publicadas com a réplica dos autores. .I' Normas gerais para publicação • Os artigos para publicação deverão ser enviados ao Editor, no endereço apresentado ao final; • Todos os artigos serão submetidos à avaliação de, pelo menos, dois membros da Junta Editorial; • Serão aceitos apenas os artigos originais, cuja parte essencial não tenha sido publicada previamente . Os artigos, ou parte deles, submetidos à publicação em Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia , não deverão ser submetidos, concomitantemente, a outra publicação científica. Dessas restrições, estão excluídas as Sinopses c outras publicações de Congressos e Reuniões Científicas; • Não serão aceitos artigos que não corresponderem totalmente às normas aqui descritas; • O Editor reserva-se o direito de recusar artigos submetidos à publicação e de sugerir ou adotar modificações para melhorar a clareza e a estrutura do texto e manter a uniformidade no csti lo da revista; • Os originais dos artigos recusados não serão devolvidos. Os autores serão comunicados por meio de carta; • A ordem preferenciai" de publicação será a cronológica, respeitando-se a proporcionalidade acima referida; • Os direitos autorais de artigos publicados, nesta revista, pertencerão exclusivamente a Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia. É interditada a reprodução de artigos ou ilustrações publicadas nesta revista, sem o consentimento prévio do Editor. .I' Normas para submeter os artigos à publicação Os autores devem enviar, ao Editor, o seguinte material: • Um original c uma cópia do texto impresso e editado em espaço duplo, utilizando fonte 12, em face única de papel branco de tamanho "A4" ou "carta", respeitando margem mínima de 3 em ao redor do texto. • Disquete digitado e formatado de maneira idêntica ao original impresso, com identificação do artigo e do processador de texto utilizado . Duas coleções completas das ilustrações. Declaração , assinada pelo autor principal, de que o trabalho é inédito e submetido exclusivamente à publicação em Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia. Se for o caso, expressar o desejo de arcar com as despesas relativas à reprodução de ilustrações coloridas. .I' Normas para a estrutura dos artigos Sempre que possível, os artigos devem ser estruturados, conten-do todos os itens relacionados abaixo e paginados na seqüência apresentada: 1. Página-titulo • Título do artigo; nome completo de todos os autores; títulos universitários ou profissionais dos autores principais (máximo de dois títulos por autor) ; nomes das instituições onde o trabalho foi realizado; título abreviado do artigo, para ser utilizado no rodapé das páginas; nome, endereço completo, telefone, email c fax do autor responsável pelas correspondências com o Editor. 2. Resumo • De forma estruturada, utilizando cerca de 250 palavras, descrevendo o objetivo, os métodos, o material ou a casuística, as principais contribuições e conclusões; indicar, em ordem alfabética, até seis palavras-chave (consultar !ndex Medicus). 3. Abstract • Título do trabalho em inglês; tradução correta do resumo para o inglês; indicar, em ordem alfabética, Keywords com~ patíveis com as palavras-chave. 4. Texto principal • Introdução; casuística ou material e métodos; resultados; discussão; conclusão; agradecimentos. 5. Referências • Relacionar, em ordem ai fabética, pelo sobrenome do primeiro autor e, quando necessário, pelo sobrenome dos autores subseqüentes; se existir mais de um artigo do mesmo autor, ou do mesmo grupo de autores, utilizar ordem cronológica crescente; os nomes de todos os autores devem constar em cada referência; evitar a forma et a!.; opcionalmente, em referências com mais de seis autores, utilize et a!. após o nome do sexto autor; as referências relacionadas devem, obrigatoriamente, ter os respectivos números de chamada indicados de forma sobrescrita, em local Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia Rua Abílio Soares, 233, cj. 143- Cep 04005-001- Telefones: (Oxx1 1) 3051-6075/3051-7157/3887-6983 Fax: (Oxx11) 3887-8203- São Paulo , SP Editado por Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1982, registrada no CGC sob n~ 48 .395.115/0001-59 e no 4~ Registro de Títulos. Este periódico está catalogado no ISDS sob o n~ ISSN- 0103-5355 e indexado na Base de Dados LILACS. É publicado, quadrimestralmente, nos meses de abril, agosto e dezembro. São interditadas a republicação de trabalhos e a reprodução de ilustrações publicadas em Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, a não ser quando autorizadas pelo Editor, devendo, nesses casos, ser acompanhadas da indicação de origem. Presidente: Dr. Gilberto Machado de Almeida Vice-presidente: Dr. José Luzio Secretário-tesoureiro: Dr. Milton Kazunori Shibata Pedidos de assinaturas ou de anúncios devem ser dirigidos à Secretaria Geral da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Assinatura para o Exterior- US$ 35,00. Produzida na Lemos Editorial & Gráficos Ltda. Rua Cel. Xavier de Toledo, 264, 2° e 3°andares- Centro- São Paulo, SP- CEP 01048-904 Telefax: (Oxx 11) 3123-1855 E-mail: lemos@lemos .com.br Home-page: http://www.lemos.com.br Diretor-presidente: Paulo Lemos Projeto editorial e gráfico: Editora Lemos Contato comercial: (11) 3123-1869 Distribuição de livros: (11) 3123-1855 j Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Diretoria (2004-2006) Presidente José Alberto Landeiro Vice-Presidente José Fancisco M. Salomão Secretário-Geral José Antonio D. Guasti Tesoureiro Jânio Nogueira Primeiro Secretário Mario Steiner Flores Conselho Deliberativo Presidente Jorge Luiz Kraemer Secretário José Marcus Rotta Atos Alves de Souza Carlos Batista Alves de Sousa Carlos Roberto Tel/es Ribeiro Cid Célio Jayme Carvalhaes Djacir Gurgel de Figueiredo Secretário Auxiliar José Carlos Esteves Veiga Presidente Anterior Marcos Masini Presidente Eleito da SBN 2006 Evandro P. da Luz de Oliveira Hildo Rocha C. de Azevedo Filho José Carlos Lynch de Araújo Léo Fernando da Silva Dítzel José Carlos Saleme Mário Gilberto Siqueira Presidente do Congresso - 2006 Nelson Pires Ferreira Luis Renato G. de Oliveira Mello Osvaldo Vilela Garcia Filjho Presidente Eleito do Congresso - 2008 Paulo Andrade de Mello Evandro P. L. de Oliveira Ronald Moura Fiuza I I .l Secretaria Geral Secretaria Permanente Rua Conde de Bonfim, 255 - sala 402- Tijuca Rua Abílio Soares, 233 - cj. 143 - Paraíso CEP 20520-051- Rio de Janeiro- RJ CEP 04005-001 - São Paulo- SP Tel.: (21) 2234-1190 Telefax: (11) 3051-6075/3051-7157/3887-6983 E-mail: [email protected] .br Endereço na Internet: www.sbn.com.br ou [email protected] E-maif: [email protected] ou [email protected] I f" Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia Rua Abílio Soares, 233, cj. 143 - Cep 04005-001 -Telefones : (Oxx 11) 3051-6075/3051-7157/3887-6983 Fax: (Oxx 11) 3887-8203 -São Paulo, SP Editado por Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1982, registrada no CGC sob n~ 48.395.115/0001-59 e no 4~ Registro de Títulos. Este periódico está catalogado no ISDS sob o n~ ISSN- 0103-5355 e indexado na Base de Dados LlLACS. É publicado, quadrimestralmente, nos meses de abril, agosto e dezembro . São interditadas a republicação de trabalhos e a reprodução de ilustrações publicadas em Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, a não ser quando autorizadas pelo Editor, devendo, nesses casos, ser acompanhadas da indicação de origem. Presidente: Dr. Gilberto Machado de Almeida Vice-presidente: Dr. José Luzio Secretário-tesoureiro: Dr. Milton Kazunori Shibata Pedidos de assinaturas ou de anúncios devem ser dirigidos à Secretaria Geral da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Assinatura para o Exterior- US$ 35,00. Produzida na Lemos Editorial & Gráficos Ltda. Rua Cel. Xavier de Toledo, 264,2° e 3°andares- Centro- São Paulo, SP- CEP 01048-904 Telefax: (Oxx li) 3123-1855 E-mail: [email protected] Home-page: http://www.lemos.com.br Diretor-presidente: Paulo Lemos Projeto editorial e gráfico: Editora Lemos Contato comercial: (li) 3123-1869 Distribuição de livros: (11) 3123-1855 Índice Volume 23- Número 3- 2004 108 Resultados econômicos e funcionais na cirurgia para hérnia do disco lombar Jefferson Walter Daniel, Fabiane de Araújo Cesare, Luciano Haddad, Antônio Barros Carreira, Luiz Fernando Cannoni, José Carlos Esteves Veiga 114 Traumas múltiplos em vítimas de traumatismo craniencefálico José Roberto Tude Melo, Ricardo Araújo da Silva, Tiago Ribeiro, Edson Duarte Moreira Júnior 118 Hemorragia intracraniana secundária à derivação ventricular Carlos Umberto Pereira, Antonio Ribas, João Domingos Barbosa Carneiro Leão, Alvino Dutra da Silva, Priscila Cardoso Braz 123 Aneurisma gigante da artéria cerebral média e síndrome de Kernohan Aloisio Carlos Tortelly Costa, Fred Rodrigues Quintero, Mareio de Mendonça Cardoso, Fabrizio lsaac Schwab Leite, Rodrigo Montenegro da Fonseca Rodrigues 126 Craniofaringioma cístico gigante de fossa posterior Carlos Afonso Clara, José Reynaldo Walther de Almeida, Homero Marcondes 129 Fratura múltipla da coluna cervical em segmentos não-adjacentes Marcelo Ferraz de Campos, Sérgio Henrique do Amaral, Marcelo Barletta Viterbo, Marcos Gregorini, Luis Fernando Haikel Júnior, José Carlos Rodrigues Júnior, Sérgio Listik, Clemente Augusto de Brito Pereira, Jazias de Andrade Sobrinho 134 Cisto ósseo aneurismático do osso parietal Carlos Umberto Pereira, João Domingos Barbosa Carneiro Leão, Egmond Alves Silva Santos 138 Notícias Contents Volume 23 - Number 3 - 2004 108 Economical and functional results for herniated lumbar disc surgery Jefferson Walter Daniel, Fabiane de Araújo Cesare, Luciano Haddad, Antônio Barros Carreira, Luiz Fernando Cannoni, José Carlos Esteves Veiga 114 Multiple traumas in head injured patients José Roberto Tude Melo, Ricardo Araújo da Silva, Tiago Ribeiro, Edson Duarte Moreira Júnior 118 Intracranial hemorrhage dueto ventricular shunting Carlos Umberto Pereira, Antonio Ribas, João Domingos Barbosa Carneiro Leão, Alvino Dutra da Silva, Priscila Cardoso Braz 123 Giant middle cerebral artery aneurysm and Kernohan syndrome. Case report Aloísio Carlos Tortelly Costa, Fred Rodrigues Quintero, Mareio de Mendonça Cardoso, Fabrizio lsaac Schwab Leite, Rodrigo Montenegro da Fonseca Rodrigues 126 Giant cystic posterior fossa craniopharyngioma. Case report Carlos Afonso Clara, José Reynaldo Walther de Almeida, Homero Marcondes 129 Multiple fractures in non adjacent segments of the cervical spine. Case report Marcelo Ferraz de Campos, Sérgio Henrique do Amaral, Marcelo BarleNa Viterbo, Marcos Gregorini, Luis Fernando Haikel Júnior, José Carlos Rodrigues Júnior, Sérgio Listik, Clemente Augusto de Brito Pereira, Jozias de Andrade Sobrinho 134 Aneurysmal bone cyst of the parietal bone. Case report Carlos Umberto Pereira, João Domingos Barbosa Carneiro Leão, Egmond Alves Silva Santos 138 Announcements Arq Bras Neuroc/r 23{3): I 08-113 , 2004 Resultados econômicos e funcionais na cirurgia para hérnia do disco lombar Jefferson Walter Daniel*, Fabiane de Araújo Cesare**, Luciano Haddad***, Antônio Barros Carreira***, Luiz Fernando Cannoni***, José Carlos Esteves Veiga**** Disciplina de Neurocirurgia do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São Paulo RESUMO O objetivo deste estudo é a comparação dos resultados cirúrgicos entre pacientes beneficiados por compensações financeiras previdenciárias decorrentes da inatividade ocupacional e aqueles que não as recebem, antes e após terem sido operados de hérnia do disco lombar. Esta análise retrospectiva abrangeu o período de fevereiro de 1999 a janeiro de 2002. Foram estudados 47 pacientes consecutivos operados de hérnias discais lombares de etiologia degenerativa e sem artrodese, no Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa (je São Paulo. Foram analisados prontuários hospitalares e mantidos contatos telefônicos com os pacientes. Aplicamos questionário padronizado com informações a respeito de: estado clínico, ocupações, esforços físicos e recebimento de benefícios financeiros antes e após a cirurgia. Utilizamos a escala econõmico-funcional de Pro/o para a avaliação dos resultados obtidos. Todos os doentes apresentavam sinais e sintomas semelhantes no período pré-operatório. Os pacientes que recebem regularmente compensações financeiras previdenciárias, quando comparados àqueles sem benefícios, permaneceram inativos por período, em média, 69% maior; obtiveram apenas 21% de resultados excelentes e bons, apesar dos mesmos esforços físicos ocupacionais e 100% não retornaram ao trabalho. Houve diferença estatisticamente significativa entre o tempo de inatividade pré e pós-operatória dos pacientes que receberam benefício e o daqueles que não receberam benefício (p < 0,001, Mann-Whitney), e também nos valores da escala de Pro/o entre os dois grupos (p < 0,001, teste t). Vários fatores influenciaram no resultado clínico final, em especial a seguridade social na forma de sua assistência beneficiária. PALAVRAS-CHAVE Hérnia do disco lombar. Resultados cirúrgicos. Beneficios financeiros previdenciários. ABSTRACT Economlcal and functional resu/ts for herniated tumba r disc surgery This study's aim is to compare surgical results among patients receiving and not receiving working inactivity financiai grants, before and after they were operated for herniated /um bar discs. A retrospective analysis of 47 consecutive patients operated on for degenerative herniated discs without arthrodesis, between February. 1999 and January. 2002, at the Neurosurgical Service of Hospital da Santa Casa, São Paulo, Brazil. Patient's hospital medica/ records were analyzed and telephone interviews were made by applying a previous standard questionnaire to them, containing information such as clinicai status, occupations, physica/ strains and the fact of receiving or not financia/ grants before and after surgery. using Prolo's economic-functional sca/e to evaluate results. Similar signs and symptoms were present in ali patients in the pre-operative period, but when those receiving financia/ grants were compared to those not receiving, the first group of patients stayed away from work 69% longer, had on/y 21% of excellent and good results were observed, even though their occupational strains were similar and 100% did not go back to their prior occupation. There was a statistical difference among patients receiving or not the working inactive financiai grants before and after surgery (p < 0.001, Mann-Whitney) and Pro/o's sca/es values between these two groups (p < 0.001, test t). Many factors participate in the final clinicai results justas social security assistance benefits. KEYWORDS Lumbar herniated disc. Surgical results. Social financia/ grants. *Professor Instrutor da Disciplina de Neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. **Residente de terceiro ano do Serviço de Neurocirurgia da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. ***Médico Assistente do Serviço de Neurocirurgia da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. ****Professor Adjunto Doutor da Disciplina de Neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo c Chefe do Serviço. - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- Introdução Os resultados considerados bons e excelentes ocorrem em 75% a 96% das cirurgias para hérnia do disco lombar. Porém, quando há compensação financeira pela inatividade do trabalho, verifica-se grau de insatisfação com o tratamento cirúrgico em 42% a 72% dos casost· 4•13 • O reconhecimento desse fato foi relatado por Spurling e Grantham.t 6, em 1949, e confirmado por outros autores posteriormente4•8·t0•13 • Indicadores prognósticos sugerem resultados regulares ou ruins quando os candidatos à cirurgia apresentam idade acima dos 50 anos, dor lombar crônica e persistente5, dor ciática contínua por período maior que oito mesest 2, insatisfação e afastamento do trabalho, ganho de beneficios previdenciários, somatização psicológica tt e doenças musculoesqueléticas associadas, tais como a síndrome rniofascial e a espondiloartrose3• Apesar de explanações exaustivas ao paciente, aos seus familiares e indicação cirúrgica criteriosa, o paciente pode apresentar incapacidade para conviver com possíveis seqüelas inerentes à doença degenerativa da coluna lombar. Motivos para processos de indenizações jurídicas em suas várias formas são: a dor e o sofrimento residual, déficits neurológicos, dúvidas e questionamentos não esclarecidos, além de diagnóstico e tratamento inadequados 7 • O objetivo deste estudo é analisar os resultados cirúrgicos da hérnia do disco lombar comparando doentes que recebem compensações financeiras previdenciárias por inatividade ocupacional com aqueles que não as recebem. Arq Bras Neurocir 23(3): 108-113. 2004 Quadro 1 Capacidade econômica e funcional prévia e após a cirurgia (questionário aplicado por contato telefônico) I. Estado clínico, atividades econômicas e hábitos sociais utilizando-se a escala econômico-funcional de Prolo 14 2. Atividades profissionais: esforços físicos realizados quantificados pelo paciente em pesado, moderado e leve; relação trabalhista qualificada pelo paciente em assalariado, autônomo, do lar, desempregado ou afastado 3. Ganho ou não de beneficios financeiros previdenciários Foram comparados os pacientes que recebem beneficios com aqueles que não os recebem, utilizandose a escala econômico-funcional proposta por Prolo 14 (Quadro 2). Quadro 2 Escala econômico-funcional de Prolo 14 Escala econômica E I: invalidez completa E2: inabilidade de realizar atividades produtivas, incluindo trabalhos domésticos E3: inabilidade de trabalhar em ocupação prévia E4: limitação no desenvolvimento de trabalho em sua ocupação profissional E5: trabalha em ocupação prévia sem restrições Escala funcional F l: incapacidade total ou pior que antes da cirurgia F2: dor lombar e/ou ciática leve a moderada ou igual a antes da cirurgia, porém capaz de realizar atividades diárias F3: dor leve a moderada capaz de realizar todas as atividades, exceto desportivas F4: ausência de dor, porém o paciente já teve um ou mais episódios de dor lombar e/ou ciática F5: recuperação completa, ausência de episódios recorrentes de dor lombar e/ou ciática, capaz de realizar atividades desportivas prévias à cirurgia Casuística e métodos Resultados segundo o somatório dos pontos: Ruim= 2·4 ; Regular= 5-6; Bom= 1·8; O período de estudo estendeu-se de fevereiro de 1999 a janeiro de 2002 . Foram analisados, retrospectivamente, 50 pacientes consecutivos tratados no Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa de São Paulo pela cirurgia convencional para hérnia do disco lombar de etiologia degenerativa como causa principal de sua sintomatologia. Foram excluídos três pacientes em virtude da insuficiência de dados e analisados 47 casos mediante revisão de prontuários hospitalares e de entrevistas telefônicas encerradas em novembro de 2002. Um questionário padronizado aplicado aos pacientes avaliou o estado clínico atual, atividades habituais e profissionais prévias e após a cirurgia, esforços físicos realizados em suas ocupações (quantificados pelos entrevistados) e o fato de receberem ou não compensaçõeG financeiras decorrentes da inatividade ocupacional (Quadro 1). Resultados cirúrgicos na hérnia de disco lombar Dani el JW e cols. Excelente = 9-t O. Na avaliação pré-operatória, foram solicitadas radiografias simples dinâmicas da coluna lombar- para o estudo da estabilidade segmentar - e ressonância magnética, a princípio, sem contraste. Foi utilizado contraste paramagnético nos casos com hérnia discai recorrente ou de processo inflamatório reacionallocal. Na hipótese de espondilólise ou espondilolistese, o estudo foi complementado pela tomografia axial computadorizada da coluna lombar com janela óssea. Todos os pacientes foram submetidos à discectomia convencional sem artrodese, com o auxílio do microscópio cirúrgico, sob anestesia geral e em decúbito ventral. O procedimento teve duração aproximada de duas horas para hérnias únicas . O antibiótico utilizado --~-~------~----~------~-~------! 09 - - - - -- -- -- -- -- - - - - - -- foi a ceftriaxona, iniciada duas horas antes do procedimento e mantida por 48 horas, conforme orientação da Comissão de Infecção Hospitalar. Resultados A média de idade dos 47 pacientes operados foi de 45 anos (mínimo de 20 e máximo de 78 anos), sendo 33 (70,21%) mascu linos e 14 (29,2 1%) femininos. O período médio de acompanhamento ambulatoria l foi de 13,70 meses (mínimo de Oe máximo de 39 meses). A duração da sintomatologia pré-operatória foi, em média, de 37,23 meses (com os limites de variação entre um mês e cinco anos). A queixa inicial foi de lombociatalgia em 61,70% dos casos, lombalgia em 25 ,53%, ciatalgia em 6,38% e outros s intomas em 6,38%. A queixa principal também foi Jombociatalgia, ocorrendo em 85,10% dos casos, seguidos por ciatalgia em 6,38%, outros sintomas em 6,38% e lombalgia em 2,1 % (Gráfico I). 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% lombociatalgia lombalgia ciatalgia outros Gráfico 1- Distribuição de f reqüência das queixas inicial e principal no p eríodo pré-operatório em 47 pacimtes. N ão houve diferença estatística entre as queixas iniciais dos pacientes que recebiam benefício e as dos pacientes que não recebiam auxílio previdenciário (p > 0,05, teste do qui-quadrado). As síndromes de compressão dos nervos espinhais (déficit motor, sensitivo, alterações dos reflexos) em várias combinações ocorreram em I 00% dos pacientes e o sinal de Lasegue era presente em 65 ,95% dos casos. O período médio de internação pós-operatória foi de 4,12 dias (mínimo de 1 e máximo de 26 dias). Os níveis segmentares operados foram: Ll-L2 em 1 (1,96%); L3-L4 em 4 (7,84%); L4-L5 em 18 (35 ,29%); L5-Sl em 28 (54,90%). Discectomia em mú ltiplos níveis ocorreu em três pacientes (6,38%) para hérnias simul tâneas em L4-L5 eL5-S 1 em dois pacientes (66,66%) Resultados cirúrgicos na hérnia de disco lombar - -Danie l JW e cai s. - - - -- - -- - Arq Bras Neurocjr 23(3): 108-113, 2004 e L3-L4, L4-L5 e L5-S1 em um paciente (33,33 %). Três pacientes foram reoperados. Em um dos casos, a reoperação ocorreu 20 dias após a primeira cimrgia em decorrência de disco herniado recorrente no mesmo nível segmentar. Este paciente continua afastado de sua ocupação, a qual era considerada pesada. Recebe benefícios financeiros previdenciários há dois anos e o seu resultado clínico é ruim (Prol o 4). O paciente seguinte foi operado três vezes, a primeira cin1rgia havia sido há cinco anos (antes desta série), a segunda há três anos em vutude de hérnia recorrente no mesmo nível segmentar e a terceira cimrgia há dois anos, em decorrência de cisto meníngeo por tramna cirúrgico no mesmo nível. Persiste afastado do trabalho, o qual era considerado pesado, e com resu ltado mim (Prolo 4). O terceiro paciente havia sido operado há três anos e reoperado um mês após a primeira intervenção devida à hérnia recorrente; não obteve benefícios previdenciários, retornou à sua ocupação profissional, considerada leve, e com resultado excelente (Prol o 10). Beneficios fi nanceiros previclcnciários decorrentes da inatividade do trabalho eram recebidos por 19 (40,42%) pacientes, dos quais l 00 % não tinham ocupações econômicas por ocasião deste estudo. Destes 19 pacientes, todos tinham vínculos empregatícios e eram assalariados antes da cimrgia. Nos demais 28 (59,57%), 21 (75%) trabalhavam e 7 (25%) não, 5 por estarem desempregados e 2 "afastados". Dos 21 pacientes que retornaram às suas ocupações após a cirurgia, 15 são autônomos, 4 do lar e 2 assalariados. Dos 19 pacientes com compensações fmanceiras, 9 (47,36%)julgaram o esforço físico realizado em sua ocupação profissional pesado, 8 ( 42,1 0%) moderado e 2 (1 0,52%) leve. Nos 28 pacientes sem compensações financeiras, 1O(35 ,71 %) julgaram as suas ocupações pesadas, ll (39,28%) moderada e 7 (25%) leve (Tabela 1). Tabela 1 Distribuição de f reqüência entre os grupos com e sem be11ef ício f inanceiro previdenciário em relação aos esforços físicos no trabalho Esforço flslco Com beneficio N = 19 (40,42%) 2 ( 10,52%) Leve Sem beneficio N = 28 (59,57~o) 7 (25%) Moderad o 8 (42 ,10%) li (39,28%) Pesado 9 (47,36%) I O (35 ,7 1%) N o tocante ao período de inatividade ocupacional, nos pacientes com beneficios antes da cirurgia foi , em média, de 12,52 meses no pré-operatório e 22,94 meses no pós-operatório. Já naqueles sem beneficios, foi de 5,39 e 5,64 meses respectivamente (Tabela 2). Houve diferença estatística entre o período de inatividade pré- - -- - - - - -- - - - - - -- -- - - - - -- - - 110 - - - -- - -- - - -- -- - - - - - - -- - - -- Tabela 2 Período médio de inatividade ocupacional pré e póscirúrgico dos pacientes com e sem benefícios .financeiros previdenciários Inatividade Pré-cirúrgico Pós-cirúrgico 12,52 meses 22 ,94 meses Sem beneficios 5,3 9 meses 5,64 meses - - - - Arq Bras Neurocir 23(3): 108-11 3 . 2004 15 •excelente 10 O bom 5 O ruim O regular Tempo de Inatividade ocupacional Com benefici os - -- o operatório dos pacientes que recebiam benefício previdenciário e o daqueles sem benefícios (p = 0,04 7, teste Mann-Whitney). Houve ainda diferença no tempo de inatividade no pós-operatório entre o grupo com benefício, média de 22 ,94 meses, e o grupo sem benefício previdenciário, média de 5,64 meses (p < 0,001, teste t) (Gráfico 2). geral com benefícios sem beneficios Gráfico 3 - Distribuição de freqüência dos resultados cirúrgicos pela escala de Prolo 14 em 47 pacientes operados. 12,_------- - -- - - - -- ---, •• = p < 0,001 10 ** I o o o: -a "' -ro"'u 40 V> ... = p < 0,001 "'"' ! -~ 30 ·O ro;;; T 6 I V) w a. o ,;, ·O a. 20 "' "' u u -~ ** --'----- ~ Assalariados Autônomos ro .s <1> u 10 o a. E <1> f- 21 Assalariados Gráfico 4 - Escala de Pro/o entre os pacientes assalariados (com benefícios previdenciários) e os pacientes autônomos (sem benefícios previdenciários). Gráfico 2 - Tempo de inatividade pós-operatória (em meses) entre os pacientes assalariados (com benefícios previdenciários) e os pacientes autônomos (sem benefícios previdenciários). A escala econômico-funcional de Prolo 14 correlaciona o bem-estar funcional e social com o desempenho econômico e produtivo no período pré e pós-operatório. Os resultados foram analisados no grupo geral e nos grupos com e sem benefícios financeiros representados no gráfico 3. Houve diferença estatística entre o valor da escala de Prolo dos pacientes que recebiam benefício, média de 5,09, e a dos pacientes que não recebiam benefício, média de 7,88 (p < 0,001, teste t) (Gráfico 4). Discussão A spectos clínicos O per iodo médio de 13,7 meses de acompanhamento pós-operatório neste estudo permite avaliar Resultados cirúrgicos na hérnia de disco lombar - - -Daniel JW e cols. " Autôn omos - - - - a tendência da evolução clínica como sugerido por Pappas e cols. 13 em 1992, que acompanharam , por 9,7 meses, 654 casos de hérnia discai lombar tratados cirurgicamente. Porém, períodos mais prolongados de seguimento, como o publicado por Davis\ em 1994, de 10,8 anos, permitem conclusões mais abrangentes. O predomínio do sexo masculino e da faixa etária média de 45 anos de idade são achados similares em todos as séries estudadas4 •5•10·l 3• 16•17 . Lombociatalgia foi a queixa inicial e principal em 61 ,70 % e 85,10% dos casos respectivamente. Síndromes dos nervos espinhais, únicas ou associadas, ocorreram em 100% dos pacientes e o sinal de Lasegue presente em até 60 graus de elevação do membro inferior ocorreu em 65,95% dos casos. Durante a realização do inquérito preliminar, pudemos constatar que não houve diferença quanto à sintomatologia pré-operatória entre pacientes com piores resultados e recebendo compensações financeiras e aqueles com melhores resultados e trabalhando (p > 0,05, teste do qui-quadrado) . Dvorak e cols 5 sugerem fatores sociais , psicológicos e ganhos secundários para explicar os motivos destes piores - - - -- - - -- - - - - -- - - -- - -- - - lll - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bras Neuro cir 23(3): 108-11 3 . 2 004 resultados no grupo com beneficios financeiros, mesmo com sintomatologia similar antes da cirurgia. Aspectos cirúrgicos A sintomatologia é decorrente de uma única hérnia de disco na maioria dos casos, havendo a tendência para a exploração de outros níveis no ato operatório quando o achado do primeiro não é convincente 15 • Em nossa série, um nível segmentar foi operado em 93,61 % dos pacientes e, nos demais, dois e três níveis, com resultado ruim (Prolo 4) e regular (Prolo 6) em dois pacientes e bom (Prolo 8) em um. Quanto maior for o período de seguimento clínico, maiores são as possibilidades de reoperações, conforme demonstrado por Davis 4 ao relatar que 33% dos seus 984 pacientes foram reoperados após quatro anos. Reoperações devidas a discos recorrentes, fístulas liquóricas, infecções e outras causas ocorrem em 3% a 18% dos casos i. 10 • 13 • 15 • O baixo índice de reintervenções (6,38%) ocorridas em nossa série se deve, possivelmente, ao curto período de seguimento pósoperatório. Ocupações Os pacientes que apresentam dor crônica e recebem beneficios previdenciários têm menores possibilidades de retomar ao trabalho em relação aos que não recebem beneficios, apesar do estado clínico simihu.ó,s. O mercado de trabalho naturalmente irá selecionar os melhores funcionários para as ocupações pretendidas relacionadas a aspectos de capacitação profissional, de saúde, grau de escolaridade e posição social, sendo óbvia a constatação, na prática médica diária, de que o receio de perder o beneficio decorrente da inatividade ocupacional o faz permanecer incapacitado para não retomar ao seu trabalho e com a possibilidade de perder seu vínculo empregatício. Não existem estatísticas oficiais em nosso país determinando quantos pacientes estão afastados e recebendo beneficios previdenciários no período pós-operatório de hérnia do disco lombar. Conforme o sistema de seguridade social, assistência à saúde e características regionais de cada país, pode haver maior ou menor dificuldade no direito de receber benefícios da previdência social, influenciando, assim, os resultados do tratamento cirúrgico da hérnia do disco lombar. Ocupações que exigem grandes esforços físicos apresentam funcionários com maiores incidências de disfunções musculoesqueléticas, em especiallombalgia seguida por doenças do joelho 3 • Outros fatores participam no processo de incapacidade funcional além dos esforços físicos , tais como ambiente de trabalho, outras doenças associadas, hábitos de vida e problemas psicológicos 9 • Nos indivíduos cujas atividades profissionais exigem esforços físicos , ocorrem piores resultados pós-operatórios, mesmo sem ganhos secundários 4 • Em nosso estudo, dos 19 pacientes recebendo beneficios financeiros antes e/ou após a cirurgia, 89,46% tinham ocupações nas quais esforços fisicos pesados e moderados eram realizados, obtendose resultados cirúrgicos ruins e regulares em 78,99% destes casos. Entre os 28 pacientes sem benefícios, 74 ,99% faziam os mesmos esforços pesados e moderados, porém apresentaram resultados cirúrgicos ruins e regulares em apenas 35,71% dos casos. Houve diferença estatística significativa dos resultados pósoperatórios de pacientes que desempenhavam trabalho pesado ou moderado entre o grupo que recebia benefícios financeiros e o grupo que não recebia beneficios (p < 0,001, teste de qui-quadrado). O período de inatividade ocupacional antes e após a cirurgia tende a ser maior em pacientes recebendo beneficios financeiros, mesmo com melhora clínica da dor, provavelmente por falta de motivos em deixar de receber a compensação financeira previdenciária 17 • Possivelmente, são esses os motivos pelos quais, em nossa série, os pacientes recebendo beneficios estiveram inativos, em média, por 12,52 meses antes da cirurgia e 22,94 meses após a cirurgia, em comparação àqueles sem beneficios, 5,39 e 5,64 meses, respectivamente. Escala de Prolo A escala de graduação econômico-funcional proposta por Prolo 14 , em 1986, justifica-se pelas seguintes características: simplicidade e praticidade em seu uso; incluir elementos essenciais de resposta do paciente ao tratamento; ser menos subjetiva do que outros métodos ; ser semiquantitativa; e poder ser correlacionada com dados anatômicos. A intenção desta escala é a de avaliar e expressar resultados clínicos de procedimentos cirúrgicos para hérnias discais lombares e comparar o estado econômico e funcional de populações de pacientes antes e após as cirurgias. Em nossa série, resultados excelentes e bons ocorreram em 46,80% dos 4 7 pacientes, porém, quando avaliados separadamente em grupos de pacientes recebendo e não recebendo beneficios, esses índices demonstram diferenças significativas, 21,04% e 64,27%, respectivamente. A diferença dos valores médios destes dois grupos é maior do que seria esperado por acaso, havendo diferença estatística significativa (p < 0,001, test t). Não há paralelo exato deste estudo com outros na literatura, porém o índice de sucesso ocorre em 75% a 96% nas mencionadas séries. Já em pacientes com pendências legais e beneficios previdenciários, a taxa de bons e excelentes resultados variou de 42% a 72%. Resultados cirúrgicos na hérnia de disco lombar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 Daniel JW e cols. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - Arq Bras Neurocir 23{3): 108- 113, 2004 Conclusões Não houve diferença estatística entre as queixas iniciais e principais dos doentes que recebiam beneficios previdenciários e as daqueles que não os recebiam (p > 0,05, teste do qui-quadrado). O período de inatividade ocupacional prévia e posterior à cirurgia foi maior nos pacientes com auxílios financeiros previdenciários em relação àqueles sem o auxílio (p = 0,047, teste Mann-Whitney e p < 0,001, teste t, respectivamente). Piores resultados cirúrgicos ocorreram nos doentes recebendo benefícios financeiros previdenciários e exercendo trabalhos pesados ou moderados em relação aos doentes com os mesmos esforços e sem beneficios (p < 0,001, teste do qui-quadrado). Resultados excelentes e bons são menos freqüentes em doentes que recebem benefícios financeiros previdenciários. Todos os doentes que recebiam beneficios financeiros previdenciários permaneceram afastados do trabalho após a cirurgia. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Referências 1. 2. 3. 4. 5. ASH HL, LEWIS PJ, MORELAND DB, EGNATCHIK JG, YU Y J, CLABEAUX DE, HYLAND AH: Prospectiva multiple outcomes study of outpatient lumbar microdiscectomy: should 75 to 80% success rates be the norm? J Neurosurg (Spine} 96:34-44, 2002. CHERKIN DC, DEYO RA, LOESER JD, BUSH T, WADDELL G: An international comparison of back surgery rates . Spine 19:1201-6, 1994. CUNNINGHAM LS, KELSEY JL: Epidemiology of muscloskeletal impairments and associated disability. Am J Publ Health 74:574-9, 1984. DAVIS RA: A long-term outcome analysis of 984 surgically treated herniated lumbar discs. J Neurosurg 80:415-21' 1994. DVORAK JK, GAUCHAT MH, VALACH L: The outcome of surgery for lumbar sisc hemiation. Spine 13:1418-22, 1988. 16. 17. DWORKIN RH, HANDLIN OS, RICHLIN DM, BRAND L, VANNUCCI C: Unraviling the effects of compensation, litigation and employment on treatment response in chronic pain. Pain 23 :49-59, 1985. EPSTEIN N: lt is easier to confuse a jury than convince a judge: the crises in medicai malpractice . Spine 27 :2425-30, 2002. GREENOUGH CG, FRASE R RD: The effects of compensation on recovery from low-back injury. Spine 14:94755, 1989. KARE H, KRISTIAN T, TOR B: Aprospective cohort study of risk factors for disability retirement because of back pain in the general working population. Spine 27:17906, 2002. LEWIS PJ, WEIR BKA, BROAD RW, GRACE MG: Longterm prospectiva study of lumbosacral discectomy. J Neurosurg 67:49-53, 1987. NICKEL R, EGLE UT, EYSEL P, ROMPE JD, ZOLLNER J, HOFFMANN SO: Health-related quality of life and somatization in patientes with long-term low back pain. Spine 26:2271-7, 2001. NYGAARD OP, KLOSTER R, SOLBERG T: Duration of leg pain as a predictor of outcome after surgery for lumbar disc herniation:. a prospectiva cohort study with 1-year follow up. J Neurosurg (Spine) 92:131-4, 2000. PAPPAS CTE, HARRINGTON T, SONNTAG VKH: Outcome analysis in 654 surgically treated lumbar disc heriations. Neurosurgery 30:862-6, 1992. PROLO DJ, OKLUND SA, BUTCHER M: Toward uniformity in evaluating results of lumbar spine operations. Spine 11:601-6, 1986. SILVERS HR: Microsurgical versus standard lumbar discectomy. Neurosurgery 22:837-41, 1988. SPURUNG RG, GRANTHAM EG: The end-results of surgery for ruptured lumbar intervertebral discs. J Neurosurg 6:57-64, 1949. WEBER H: lumbar disc herniation. Spine 8:131 -40, 1983. Original recebido em julho de 2004 Aceito para publicação em outubro de 2004 Endereço para correspondência: Jefferson Walter Daniel Rua Tiapira, 264 CEP 05578-000- São Paulo, SP E-mail: do/[email protected] Resuhadosci~~~osnah~~~ded~colombar ~~~~~~~-~----~-~-~~~~~~~~~~~~~ Daniel JW e cols. 11 3 Arq Bras Neurocir 23(3}: 114-117, 2004 Traumas múltiplos em vítimas de traumatismo craniencefá/ico José Roberto Tude Melo*, Ricardo Araújo da Silva .., Tiago Ribeiro***, Edson Duarte Moreira Júnior**** Hospital Geral do Estado da Bahia e Curso de Pós-Graduação em Medicina e Saúde da Universidade Federal da Bahia (UFBA) RESUMO Objetivos: verificar a freqüência de pacientes com trauma craníencefálíco que apresentaram lesões em outros locais do corpo, assim como definir quais os segmentos mais afetados e principais causas de trauma neste grupo. Metodologia: estudo descritivo, tipo corte transversal, através da revisão de 555 prontuários médicos de vítimas de trauma craniano internadas no Hospital Geral do Estado da Bahia, durante o ano de 2001. Trabalho avaliado e aprovado pela diretoria do hospital, assim como pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Conclusão: os traumas múltiplos foram observados em 31 ,9% das vítimas de trauma craniano e tiveram, como principal causa, o atropelamento, sendo as lesões faciais e ortopédicas dos membros as mais freqüentes. PALAVRAS-CHAVE Epidemiologia. Trauma craniencefálíco. Trauma múltiplo. ABSTRACT Multíple traumas in head injured patíents Objective: to identify the association between head trauma and other injuries of the body, define the most frequent segment of the body affected in thís assocíatíon and the major cause of trauma in thís group. Methodology: assessment and notifícation of 555 medica/ files of head trauma cases and identify those who had multiple injuries, admitted at the General Hospital of Bahia, Brazíl, during the year of 2001. Conclusion: multiple traumas were observed in 31 .9% of head injured patients, usually with pedestrian traffic accidents. Facial and límb orthopedic trauma were the most frequent injuries observed in association with head injury. KEYWORDS Epidemiology. Craniocerebra/ trauma. Multiple trauma. Introdução Em torno de 37% dos pacientes admitidos em Unidades de Emergência são vítimas de trauma mecânico. O sucesso no atendimento e evolução desses doentes difere de acordo com o tipo de trauma e a população atingid a. As principais causas de traumatismo craniencefálico (TCE) são os acidentes envolvendo os meios de transporte, destacando-se automóveis, motocicletas, bicicletas e incluindo os atropelamentos. Esses dados podem diferir um pouco, dependendo da região e da população estudadas 10•11 • Com o crescimento das metrópoles, observa-se aumento na incidência dos traumas secundários à agressão fisica, decorrentes da violência urbana 10 , que participam com maiores proporções nas classes sociais menos favorecidas. Em sentido amplo, a agressão física é resultado de conduta caracterizada pelo intuito destrutivo, de ofensa, ataque e hostilidade. A agressão física foi observada como principal causa de TCE leve *Neurocirurgião do Hospital São Rafael e do Hospital Geral do Estado da Bahia. Mestrando do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da UFBA. **Mestre em Deontologia e Odontologia Legal pela Un iversidade de São Paulo. ** *Acadêmico da Faculdade de Medicina da UFBA. ****Diretor em exercício da Diretoria Científica do Hospi tal São Rafael. Pesquisador associado da FIOCRUZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bras Neurocir 23(3): 114-117. 2004 na cidade de Curitiba, no Paraná, precedendo às quedas de altura, aos acidentes automobilísticos, às quedas da própria altura e ao atropelamento 3 • As lesões intracranianas secundárias aos ferimentos por arma de fogo exibem algumas peculiaridades, como maiores taxas de morbidade e letalidade, que podem atingir valores acima de 90% quando a vítima apresentar pontuação na escala de coma de Glasgow abaixo de 5. Esse tipo de lesão predomina em adultos jovens do sexo masculino 15 • Outras causas importantes de TCE são as quedas, ocorrendo principalmente entre crianças e idosos 10 • No Reino Unido, cerca de 10% dos atendimentos em Unidades de Emergência são constituídos de casos de trauma craniano, e as quedas correspondem a 40% destas admissões 8 • São citadas como principais causas de TCE os acidentes com meios de transporte, as agressões fisicas, as quedas e as lesões por arma de fogo, além de outras menos freqüentes 2•3•8•10 •11 •13 • Buduhan e McRitchie5, em 2000, avaliaram 645 pacientes politraumatizados e constataram que 46 vítimas apresentavam lesões não detectadas (traumas múltiplos), com um total de 63 injúrias. A maioria foi atendida com pontuação menor ou igual a 8 na escala de coma de Glasgow, e as lesões menos diagnosticadas foram aquelas dos membros (sistema musculoesquelético) e cabeça. Melo e cols . 1\ em 2003, constataram, em 431 vítimas estudadas, que 220 (51%) apresentavam traumas associados ao trauma do crânio, sendo os traumas ortopédicos dos membros os mais freqüentes, seguidos dos da face. Essa associação também foi evidenciada por Sala e cols. 1\ em 2000, principalmente em vítimas de acidentes com meios de transporte. O escopo deste trabalho foi o de definir a freqüência das associações entre traumas cranianos e os de outras regiões do corpo, quais as principais causas das lesões múltiplas, assim como verificar os principais sítios de lesão e relação quanto à gravidade do trauma craniano. Casuística e método Trata-se de estudo descritivo, do tipo corte transversal, por meio da revisão de 555 prontuários médicos de vítimas de TCE internadas no Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE) entre janeiro e dezembro de 2001. A escolha do HGE deve-se ao fato de ser o hospital de referência no estado da Bahia para o atendimento de politraumatizados (dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia). Foram incluídas, na pesquisa, todas Traumas múltiplos e TCE M elo JRT e cols. as vítimas de TCE cujo registro constasse no Livro de Prontuários de 200 1, documento disponível no Serviço de Arquivo Médico do HGE. Os dados obtidos da revisão dos prontuários foram transferidos para questionário composto dos seguintes itens: registro, idade, sexo, data da ocorrência, localidade (capital ou interior), causa do trauma, achado radiológico, associação com outros traumas, tratamento estabelecido, infecção durante o período de internação, associação com bebida alcoólica, óbito, alta e a pontuação na escala de coma de Glasgow na admissão e na alta hospitalar. O critério de inclusão na amostra do estudo foi a anotação, em prontuário, do diagnóstico de TCE associado a trauma em outra região do corpo, comprovado por exame médico do especialista envolvido no atendimento da vítima ou pelos métodos diagnósticos por imagem (radiografia simples, tomografia computadorizada ou ultra-sonografia). Os dados foram compilados em software preestabelecido (SPSS - Statistical Software Program versão 9 .0) com o objetivo principal de se obter análise panorâmica da distribuição atual das associações dos traumas craniencefálicos com os de outras regiões anatômicas, suas vítimas e características na população estudada. A pesquisa foi aprovada pela diretoria do hospital, assim como pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, conforme parecer final n° 17/2003. Resultados Verificou-se que em 177 (31,9%) dos 555 prontuários havia descrição de trauma em outra região do corpo (lesões concomitantes ao trauma craniano); as principais associações observadas foram os traumas na face (30,5%), seguida das lesões ortopédicas nos membros (22%), lesões de tórax (6,2%), da coluna cervical (4%) e trauma abdominal (3,4%) (Tabela 1). Entre as vítimas de traumas múltiplos, a maioria era do sexo masculino (80,2%), com idade compreendida entre 21 e 30 anos, seguida daqueles entre 11 e 20 anos de idade (23,7%). As principais causas de lesões em múltiplos segmentos foram os acidentes com meios de transporte (53,1%), seguidos das agressões fisicas com ou sem armas (19,2%) e quedas (16,4%) (Tabela 2). Quanto à complexidade das associações, foi verificado que 117 (66, l %) pacientes apresentavam apenas uma lesão em outro local além do crânio, 40 . (22,6%) sofreram trauma em mais dois locais, e em 20 (11 ,3%) traumatizados observou-se mais de três sítios associados de lesão concomitantes ao TCE (Tabela 3). ----------------------------------115 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bra s Neurocir 23(3): 114-117, 2004 Tabela 1 Principais lesões concomitantes ao trauma craniano Local n % Face 54 30,5 Ortopédico* 39 22 Tabela 3 Distribuição dos casos em função do número de segmentos corp6reos com lesões, além do crânio Lesões associadas Casos Morbidade Tórax 11 6,2 I 117 (66,2%) 27 (23 ,1%) Coluna cervical 7 4 2 40 (22,6%) 4 (lO%) Abdome 6 3,4 >3 20(11,3%) 3 (15%) Tot al 177 (100%) 34 (19,2%) Outros 60 33,9 Total 177 100 r •Lesões ósseas em membros superiores e/ou inferiores. Dados colhidos em prontuários médicos do Hospital Geral do Estado da Bahia. Tabela 2 Características de 177 pacientes vítimas de traumas múltiplos em Salvador, BA, 2001 Características das vítimas Homens Mulheres % n % n Faixa etária (em anos) .s Total n % lO 47,6 li 52,4 21 11 ,9 li a 20 35 83,3 7 16,7 42 23 ,7 21 a 30 42 91 ,3 4 8,7 46 26,0 31 a 40 28 82,4 6 17,6 34 19,2 41 a 50 14 73,7 26,3 19 10,7 51 a 60 9 81,8 2 18,2 11 6,2 61 4 100 o o 4 2,3 142 80,2 35 19,8 177 100 ~ 10 Total Causas do trauma Atropelamento 35 79,5 9 20,5 44 24,9 Acidente automobilístico 21 75,0 7 25,0 28 15,8 Queda de altura 20 74,1 7 25 ,9 27 15,3 Acidente motociclístico 17 77,3 5 22,7 22 12,4 Ferimento por arma de fogo 14 77,8 4 22,2 18 10,2 Agressão fisica 15 93 ,8 I 6,3 16 9,0 Outros lO 90,9 9, 1 11 6,2 Queda da própria altura 2 100 o 2 1, 1 Desconhecida 8 5,6 2,8 9 5,1 142 100 100 177 100 Total o 35 Dados colhidos em prontuários médicos do HospiLal Geral do Estado da Bahia. No momento da admissão na sala de emergência, 46,6% das vítimas de traumas múltiplos foram atendidas com diagnóstico de TCE grave (pontuação menor ou igual a 8 na escala de coma de Glasgow), 33,6% com TCE leve (Glasgow entre 14 e 15) e 19,8% com TCE moderado (Glasgow entre 9 e 13). Discussão O predomínio de adultos jovens do sexo masculino entre as vítimas de traumas mecânicos , observado no presente estudo, corrobora os achados de diversos autores, que enfatizam a grande diferença das prevalências encontradas entre os sexos, além de salientar o problema socioeconôrnico decorrente destes, tais como o comprometimento não somente da vítima envolvida, mas de toda a família e comunidade à qual pertence, além dos custos para o Estado no caso das seqüelas definitivas e incapacidade da vítima em retomar à atividade laborativa 4•7·9· 10· ' 2•13 • Os acidentes automobilísticos destacam-se como principais causas de traumas mecânicos 1•6•12 • Sala e cols.14 constataram que a principal causa de traumas múltiplos é o acidente com meios de transporte, o que corrobora os resultados do presente estudo, sendo o atropelamento o principal responsável. Traumas múltiplos e T C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116 Melo JRT e cols. "I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bras Neurocir 23(3): I 14-1 I 7. 2004 Elevadas taxas de traumas múltiplos em vítimas de TCE são descritas por outros autores em diferentes mecanismos de trauma 5•13 • Em relação aos principais locais acometidos concomitantes ao TCE, este trabalho pode ser ratificado pelos resultados encontrados por Sala e cols. 14 e Melo e cols. 13 , que evidenciaram maior prevalência do trauma ósseo nos membros e naface em associação com o trauma em crânio. Constatando o predomínio do TCE grave em vítimas de traumas múltiplos, verifica-se a importância da investigação diagnóstica exaustiva nesses pacientes, em busca de lesões associadas, para que se possam oferecer, sempre, as melhores condutas terapêuticas, tendo em vista a dificuldade do exame clínico acurado em virtude do importante rebaixamento do nível de consciência5• 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Conclusão Por meio da análise dos dados, conclui-se que a associação entre trauma de crânio e o de outra região do corpo ocorreu em 31,9% dos casos, sendo a face o principal local de trauma concomitante ao TCE, seguido do trauma ortopédico nos membros, tendo como principal causa o atropelamento. Verificou-se, também, que as principais vítimas de traumas múltiplos foram os adultos jovens do sexo masculino, admitidos com diagnóstico de TCE grave. 1O. 11 . 12. 13. 14. Agradecimentos 15. Aos funcionários do Serviço de Arquivo Médico do HGE, pela disponibilidade e pelo auxílio durante a pesquisa nos prontuários médicos. ANDRADE AF, FIGUEIREDO EG, BROCK RS: Orientação aos familiares e pacientes que sofreram traumatismo craniano-cerebral. Disponível em : <http:// www.sbn .eom .br/programas/pensebem.htm> Acesso em 30 de março de 2003. BORDIGNON KC, ARRUDA WO: CT scan findings in mild head trauma . A series of 2000 patients . Arq Neuropsiquiatr 60:204-1 O, 2002. BOSWELL JE, McERLEAN M, VERDILE VP: Prevalence of traumatic brain injury in an ED population. Am J Emerg Med 20:177-80, 2002. BUDUHAN G, McRITCHIE DI: Missed injuries in patients with multiple trauma. J Trauma 49 :600-5, 2000 . FARAGE L, COLARES VS, CAPP NETO M, MORAES MC, BARBOSA MC , BRANCO JÚNIOR JA: As medidas de segurança no trânsito e a morbimortalidade intrahospitalar por traumatismo craniencefálico no Distrito Federal. Rev Assoe Med Bras 48:133-6, 2002. FINFER SR, COHEN J: Severe traumatic brain injury. Resuscitation 48:77-90, 2001. KAY A, TEASDALE G : Head injury in lhe United Kingdom. World J Surg 25:1210-20, 2001. KOIZUME MS, LEBRÃO ML , MELLO-JORGE MHP, PRIMERANO V: Morbimortalidade por traumatismo crânio-encefálico no município de São Paulo, 1997. Arq Neuropsiquiatr 58 :1-13, 2000. KRAUSS JF, McARTHUR DL: Epidemiology of brain injury. In Evans RW (ed): Neurology and trauma. Ed 1. HoustonTexas, W.B. Saunders, 1996, cap 1, pp 3-17. MACKENZIE EJ: Epidemiology of injuries: Current trends and future challenges. Epidemia! Rev 22:112-9, 2000. MASINI M: Perfil epidemiológico do traumatizado craniencefálico no Distrito Federal1991. Dissertação de Mestrado . Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, 1994. MELO JRT, SILVARA, SILVA LGA, HERMIDA MB : Características do trauma craniofacial no Hospital Geral do Estado da Bahia . Ciência e Saúde 31 :31-5, 2003. SALA D, FERNANDEZ E, MORANT A, GASCO J, BAR RIOS C: Epidemiologic aspects of pediatric multiple trauma in a Spanish urban population. J Pediatr Surg 3510:1478-81,2000 . ZAFONTE RS, WOOD DL, HARRISON-FELIX CL, MILLIS SR, VALE NA NV: Severe penetrating head injury: a study of outcomes. Arch Phys Med Rehabil 82:30610,2001. Original recebido em janeiro de 2004 Aceito para publicação em abril de 2004 Referências '1. ANDRADE AF, MANREZA LA, GIUDICISSI Filho M, MIURA FK: Normas de Atendimento ao paciente com traumatismo crânio-encefálico. Temas Atuais em Neurocirurgia . São Paulo, SONESP, 1996. Endereço para correspondência: José Roberto Tude Melo Hospital São Rafael Avenida São Rafael, 2152-3° andar-setor A CEP 41256-900- Salvador, BA E-mail: [email protected] Traumas múltiplos c T C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 117 Melo JRT e cols. Arq Bras Neurocir 23(3): 118-122. 2004 Hemorragia intracraniana secundária à derivação ventricular Carlos Umberto Pereira•, Antonio Ribas**, João Domingos Barbosa Carneiro Leão•••, Alvino Dutra da Silva•••, Priscila Cardoso Braz•••• Serviço de Neurocirurgia do Hospital João Alves Filho (Aracaju, SE) e Serviço de Neurocirurgia da Clínica Santa Lúcia (Rio de Janeiro, RJ) RESUMO Complicações decorrentes do tratamento cirúrgico de hidrocefalia são bastante freqüentes. O risco do desenvolvimento de hemorragia intracraniana após inserção ou retirada do cateter ventricular tem sido considerado raro. No entanto, pode desencadear hemorragia intracraniana (extradural, subdural, intracerebral e intraventricular). Os autores, num estudo compreendido no período de julho de 1992 a novembro de 2002, identificaram 20 casos de hemorragia intracraníana em decorrência do manuseio do cateter ventricular. Foram observados: nove pacientes com hematoma subdural, quatro com hematoma extradural, quatro com hematoma intraparenquimatoso, dois com hemorragia intraventricular e um com sangramento intratumoral. A idade dos pacientes variou de 6 meses a 28 anos. Dez destes necessitaram de tratamento cirúrgico do hematoma. Óbito ocorreu em quatro dos operados. São discutidas as medidas para minimizar as complicações hemorrágicas após instalação da derivação. PALAVRAS-CHAVE Hemorragia intracraniana. Hidrocefalia. Complicação de derivação ventriculoperitoneal. ABSTRACT lntracran/al hemorrhage due to ventricular shunting lntracrania/ hematoma as a complication of shunt procedures for treatment of hydrocephalus is very rare. The authors reporta series of 20 cases of intracranial hemorrhage associated to shunting procedures, observed from July 1992 to November 2002. The age of the patients raged from 6 months to 28 years. There were: nine patients with subdural hematoma, four with epidural hematoma, four with intracerebral hematoma, two with intraventricular haemorrhage and one case of intratumoral bleeding. Ten patients needed surgical remova/ of lhe hematoma. Death occurred in four. The measures directed to avoid this complication are discussed. KEYWORDS lntracranial hemorrhage. Hydrocephalus. Shunt complications. Introdução Hemorragia intracraniana pode ocorrer durante um procedimento neurocirúrgico considerado simples, como a inserção do cateter ventricular para o tratamento de hidrocefalia, e, ocasionalmente, apresenta sérias complicações neurológicas. Atualmente, a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) são feitas rotineiramente no pós-operatório do tratamento da hidrocefalia, para identificação da localização do cateter e avaliação da redução do sistema ventricular. A identificação de complicações hemorrágicas intracranianas sem esses recursos era rara, mas ocasionalmente detectada por mau funcionamento do sistema de derivação ou por meio de uma lesão expansiva. As hemorragias intracranianas ocasionadas pela inserção do cateter ventricular ocorrem no espaço *Professor Adjunto Doutor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe c Neurocirurgião do Hospital João Alves Filho. Aracaju, SE. **Neurocirurgião do Departamento de Neurocirurgia da Clínica Santa Lúcia. Rio de Janeiro, RJ. ***Neurocirurgião do Hospital João Alves Filho. Aracaju, SE. ****Doutoranda de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Aracaju, SE. - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Arq Bras Neurocir 23(3): 118-122, 2004 Casuística extradural, subdural , intracerebral e intraventricular. Vários fatores têm sido relacionados com essa complicação: tentativas múltiplas de punção do ventrículo, perfuração do plexo coróide, colocação imprópria do cateter dentro do parênquima cerebral e lesão de vaso cerebraF·36 Quando essas hemorragias são pequenas, geralmente são assintomáticas e cursam com bom prognóstico. Os autores apresentam sua experiência em 20 pacientes que tiveram hemonagia intracraniana como complicação na utilização do cateter ventricular. Discutem as possíveis causas, tratamento e prognóstico. Foram analisados 20 pacientes que apresentaram hemonagia intracraniana como complicação no emprego de cateter ventricular, nos Serviços de New-ocirurgia do Hospital João Alves Filho (Aracaju, SE) e Serviço de Neurocirurgia da Clínica Santa Lúcia (Rio de Janeiro, RJ), ocorrida no período de julho de 1992 a novembro de 2002. A idade dos pacientes variou de 6 meses a 28 anos. A localização da hemorragia foi : subdural em nove casos, extradmal em quatro, intracerebral em quatro, intraveutricular em dois e intratumoral em um (Figuras 1 a 5). Figura 1 - TC: hematoma extradura/ parietal direito e presença de cateter de derivação. Figura 3 - TC: hematoma intracerebral no trajeto do cateter ventricular. Figura 2 - TC: hematoma subdura/ frontoparietal direito e presença do cateter. Figura 4- TC: hemorragia no ventrículo lateral direito, onde .foi introduzido o cateter. Hemorragia intracrani ana secundária à derivação ventri cular - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119 Pereira CU e co ls. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- Figura 5 - TC: hemorragia no quarto ventrículo e uma lesão expansiva hipodensa (seta). Dez pacientes foram submetidos a tratamento cirúrgico do hematoma e quatro evoluíram para óbito. Discussão Hemorragia intracraniana como complicação da introdução do cateter ventricular para o tratamento cirúrgico de hidrocefalia tem sido considerada evento raro. A hemorragia pode localizar-se no espaço extradural, subdural, intracerebral e intraventricular. Desenvolvem-se dias, semanas ou meses após o procedimento cirúrgico 7.3 6. Têm sido relatados casos de hemorragia intratumoral após esse procedimento cirúrgico 38-40 .4 3. O hematoma extradural é uma complicação rara de derivação ventriculoperitoneal (DVP), sendo considerado menos comum que o hematoma subduraJ1·11·12.23·25·32. Ocorre freqüentemente em pacientes jovens e localiza-se, geralmente, nas regiões frontal e parietaP·32 • O mecanismo de desenvolvimento do hematoma extradural, nesses casos, seria a rápida redução da pressão intracraniana como conseqüência da superdrenagem de líquido cefalorraquidiano (LCR), resultando na separação da dura-máter do crânio e ruptura de pequenos vasos durais 7-11 ·23 ·25 ·32·36·41 . Outra explicação seria a presença de uma cicatriz na aracnóide - em decorrência de trauma ou infecção prévia - que resultaria em obliteração anatômica de parte do espaço subaracnóideo, causando aderência do cérebro à dura-máter, que pode facilitar a formação do hematoma extradural 1. Esses pacientes podem se apresentar assintomáticos, ou com sintomas de mau funcionamento da derivação, ou mesmo de lesão expansiva 8·17 ·23. O hematoma extradural deve ser - - - - Arq Bras Neurocir 23(3): 118-122. 2004 drenado por craniotomia osteoplástica; raramente é necessário trocar o sistema de derivação por um sistema de alta pressão, ou efetuar seu fechamento provisório7. O hematoma subdural, como complicação pósderivação para tratamento de hidrocefalia, tem sido bastante relatado na literatura6. Sua incidência é maior que a dos hematomas de outras localizações intracranianas , variando entre 4,5% e 21% nas diversas séries 2 ·4·8·14 ·21·24 ·28 .3 5. Segundo Pudenz e Foltz 27, a formação do hematoma ocorre dentro de 12 a 24 meses após o procedimento cirúrgico. A hipotensão intracraniana tem sido o fator predisponente mais freqüente na formação do hematoma subdura!l 9 . Quando um considerável volume de LCR é agudamente drenado do ventrículo, há estiramento das veias-ponte que podem se romper espontaneamente ou após deslocamentos do encéfalo, provocado por trauma craniano de intensidade variável, resultando em formação de hematoma subduraJ2·6•14·19 ·22·23 ·26 . Hematomas subdurais são freqüentemente relatados em associação a válvulas de baixa pressão; também, têm sido observados em sistemas de pressão mais elevada42 e, principalmente, em pacientes submetidos à derivação para tratamento de hidrocefalia de pressão nonnaf2 2.2 6•28 . Hematoma subdural ocorre freqüentemente em crianças com idade acima de 18 meses, com acentuada desproporção craniofacial e volumosa ventriculomegalia6·14·24. O hematoma subdural pós-DVP é, em geral, assintomático 3 e pode ocorrer após período variável de tempo da instalação da derivação 6 ; em crianças, esse período pode ser mais prolongado em virtude da grande reserva de espaço dentro do crânio e, freqüentemente, sugere mau funcionamento do sistema de drenagem. Deve ser suspeitado sempre que os sintomas se desenvolvam em pacientes com válvulas aparentemente funcionantes 14 . O tratamento dessas situações apresenta certas peculiaridades . A prevenção dessa complicação consiste na utilização de sistemas de drenagem que impeçam acentuadas variações de pressão. O sistema anti-sifão, desenvolvido com essa finalidade, tem-se mostrado, no entanto, incapaz de eliminar a formação de hematomas subdurais 16.2 1·23 .2 6•42 . Em casos de crianças com idade superior a 18 meses, com grande desproporção craniofacial e volumosa dilatação ventricular, tem sido sugerido que o uso de válvulas de alta pressão com dispositivo anti-sifão apresenta menor incidência de complicações 22 . Para Portnoy e cols. 26 , a aplicação de um sistema anti-sifão com prevenção de pressão intraventricular negativa não diminui a incidência de hematoma subdural. A troca de válvula por outra de pressão maior é indicada em casos de recidiva do hematoma ou em situações especiais6·13·14 . Dietrich e cols. 6 trataram um caso com drenagem do hematoma e uso de válvula de pressão regulável , com resultado 1-!emorrag[a intracraniana secundária à derivação ventricular - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 Pereira CU e col s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq B r as Neuro cir 23(3): I 18 -122. 2004 excelente. Em casos de pacientes shunt-dependentes, Portnoy e cols. 26 idealizaram o sistema de drenagem ventricul ar e subdural combinadas, sendo a porção ventricular dotada de dispositivo de oclusão temporária e válvula anti-sifão. Em casos de insucesso após todas as alternativas, tem sido indicada a craniotomia seguida de membranectomia da cápsula do hematoma. Hemorragia intracerebral como complicação de DVP é, também, considerada rara5•20 .3°.3 3•37 • Sua incidência varia de 0,4% a 4% 29 •37• Pode ocorrer quando há múltiplas tentativas de punção do ventriculo, colocação imprópria do cateter dentro do parênquima cerebral e perfuração de vasos intracerebrais29 • Nesses casos, a hemorragia ocorre após a inserção do cateter. Snow e cols. 34 relataram um caso de hemorragia intracerebral em paciente adulto que foi submetido à DVP para tratamento de hidrocefalia idiopática. A hemorragia ocorreu uma semana após a cirurgia. Esses autores supuseram que o cateter teria provocado erosão na parede de um vaso cerebral. Apesar da baixa incidência, sua mortalidade é elevada, variando de 50% a 100% 15 • Hemorragia intraventricular ocorre raramente como complicação de DVP 14 •18 •30 • Geralmente acontece quando da inserção do cateter ou da sua retirada, em decorrência de sangramento, por lesão, da artéria ou veia do plexo coróide ou de veias ependimárias. Tem sido mais comum em crianças portadoras de hidrocefalia associada à malformação da veia de Galeno; nestes casos, portanto, a inserção do cateter ventricular deve ser feita no corno frontaJ3 1• Hemorragia intratumoral tem sido relatada após drenagem ventricular externa ou DVP 38-40 •43 • Segundo Snow e cols. 3\ o mecanismo para a formação dessa hemorragia seria a diminuição súbita da pressão intracraniana, antes elevada, e do desequilíbrio da pressão existente entre os compartimentos supra e infratentoriais. Essa alteração de pressão é transmitida dentro do tumor e resultaria em insuficiência vascular, congestão venosa e, finalmente, hemorragia 39•43 • Em nossa casuística, dez dos vinte pacientes foram submetidos ao tratamento cirúrgico do hematoma: subdural em seis e extradural em quatro . A cirurgia foi indicada por causa do efeito de massa do hematoma. Quatro pacientes evoluíram para óbito: dois casos em virtude de infecção associada, um por hemorragia intraventricular maciça e outro por complicações sistêmicas. Para minimizar as complicações hemorrágicas da derivação ventricular, recomendam-se algumas medidas: evitar, ao máximo, a perda de LCR no momento da inserção do cateter ventricular; meticulosa técnica cirúrgica; uso de válvulas de média ou alta pressão; retorno lento da posição deitada para posição sentada e controle pós-operatório realizado por acompanhamento clínico e de imagens 3•23 • Hemorrag ia intracrn niana secundária à deri vação vent ricular Perei ra CU e cols. Referências 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1O. 11. 12. 13. 14 . 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. AGUIAR PH, SHU EBS , FREITAS ABR, LEME RJA, MIURA FK, MARINO Jr R: Causes and treatment of intracranial haemorrhage complicating shunting for paediatric hydrocephalus . Childs Nerv Syst 16:218-21, 2000. ANDERSON FM: Subdural hematoma: a complication of operation for hydrocephalus. Pediatrics 10:11-8, 1952. BALDINI M, PRINCI L, VIVENZA C: Subdural hematoma secondary to CSF ventricular shunt. Schweiz Arch Neural Neurochir Psychiatry 127:5-14, 1980. BECKER DP, NULSEN FE : Contrai of hydrocephalus by valve-regulated venous shunt: avoidance of complications in prolonged shunt maintenance. J Neurosurg 28:215-26, 1968. DERDEYN CP, DELASHAW JB, BROADDUS WC, JANE JA: Detection of shunt-induced intracerebral hemorrhage by postoperative skull films: A repor! of two cases . Neurosurgey 22 :755-7, 1988. DIETRICH U, LUMENTA C, SPRICK C, MAJEWSKI B: Subdural hematoma in a case of hydrocephalus and macrocrania. Childs Nerv Syst 3:242-3, 1987. DRIESEN W, ELIES W : Epidural and subdural haematomas as a complication of internai drainage of cerebrospinal fluid in hydrocephalus. Acta Neurochir (Wien} 30:85-93, 1974. FAULHAUER K, SCHMITZ P: Overdrainage phenomena in shunt treated hydrocephalus. Acta Neurochir (Wien} 15:89-101' 1978. FRERA C: Supratentorial extradural hematomas secondary to ventricular decompression . Acta Neurochir (Wien) 36:107-9, 1977. GULLIKSEN G, HAASE J: Epidural hematoma following a shunt revision. Acta Neurochir (Wien} 36:107-9, 197l. HAFT H, LISS H, MOUNT L: Massive epidural haemorrhage as a complication of ventricular drainage. J Neurosurg 17:49-54, 1960. HIGAZI J: Epidural haematoma as a complication of ventricular drainage : report of a case and review of lhe literature. J Neurosurg 20:527-8 , 1963. HUBER ZA: Complications of shunt operations performed in 206 children because of communicating hydrocephalus. Zentralbl Neurochir 42:165-70, 1981. ILLJNGWORTH RD : Subdural haematoma after the treatment of chronic hydrocephalus by ventriculocaval shunts. J Neural Neurosurg Psychiatry 33 :95-9, 1970. IVAN LP, CHOO SH, VENTUREYRA ECG : Complications of ventriculoatrial and ventriculoperitoneal shunts in a New Children's Hospital. Can J Surg 23 :566-8, 1980. JONES R: Experience with antisiphon devices at lhe Prince of Wales Children's Hospital Child s Brain 5:555, 1979. KALIA KK, SWIFT DM , PANZ O: Multiple epidural hematomas following ventriculoperi-toneal shunt. Pediatr Neurosurg 19:78-80, 1993. KUWAMURA K, KOKUNAI T: lntraventricular hematoma secondary to a ventriculoperitoneal shunt. Neurosurgery 10:384-6, 1982. MARKWALDER TM : Chronic subdural hematomas: a review. J Neurosurg 54:637-41,1981. MATSUMURA A, SHINOHARAA, MUNEKATA K, MAKI Y: Delayed intracerebral hemorrhage after ventriculoperitoneal shunt. Surg Neural 24:503-6, 1985. McCULLOUGH DC, FOX JL: Negative intracranial pressure hydrocephalus in adults with shunts and its relationship to lhe production of subdural hematoma. J Neurosurg 40:372-5, 1974 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 121 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bras Ncurocir 23(3): 118-122. 2004 22 . 23. 24. 25. 26. 2"7. 28 . 29 . 30. 31 . 32 . 33 34. McCULLOUGH DC: Symptomatic progressive ventriculomegaly in hydrocephalic with patient shunls and antisiphon devices. Neurosurgery 19:617-9, 1986. MOUSSAAH, SHARMA SK: Subdural haematoma and the malfunctioning shunt. J Neurol Neurosurg Psychiatry 41:759-61, 1978. O'BRIEN M, JOHNSON M: Management of ventricular shunt complications. Contemp Neurosurg 9:1-7, 1987. PEREIRA CU, PORTO MWS, HOLANDARD,ANDRADE WT: Epidural hematoma after ventriculoperitoneal shunt surgery. Report of two cases. Arq Neuropsiquiatr 56:62932, 1998. PORTNOY HD , SCHULTE RR, FOX JL, CROISSANT PD, TRIPP L: Anti-siphon and reversible occlusion valves for shunting in hydrocephalus and preventing post-shunt subdural hematoma. J Neurosurg 38:729-38, 1973 PUDENZ RH, FOLTZ EL: Hydrocephalus: Overdrainage by ventricular shunts: A review and recommendations . Surg Neurol35:200-12, 1991 . SAMUELSON S, LONG DM, CHOU SN: Subdural hematoma as a complication o f shunting procedures for normal pressure hydrocephalus . J Neurosurg 37 :54851, 1972. SAVITZ MH, BOBROFF LM : Low incidence of delayed intracerebral hemorrhage secondary to ventriculoperitoneal shunt insertion J Neurosurg 91 :32-4 , 1999. SAYERS MP : Shunt complications. Clin Neurosurg 23:393-400, 1976. SCHNEIDER SJ, WISOFF JS, EPSTEIN FJ: Complications ofventriculoperitoneal shunt procedures o r hydrocephalus associated with vein of Galen malformations in childhood . Neurosurgery 30:706-8, 1992. SENGUPTA RP, HANKINSON J: Extradural haemorrhage . A hazard of ventricular drainage. J Neurol Neurosurg Psychiatry 35:297-303, 1972. SHURIN S, REKATE H: Disseminated intravascular coagulation as a complication of ventricular catheter placement. J Neurosurg 54 :264-7, 1981. SNOW RB, ZIMMERMAN RD, DEVINSKY O. Delayed intracerebral hemorrhage after ventriculoperitoneal shunting. Neurosurgery 19:305-7, 1986. 35. 36 . 37. 38. 39. 40. 41. 42 . 43. STEINBOK P, THOMPSON GB : Complications of ventriculo-vascular shunts: computer analysis of etiological factors. Surg Neural 5:31-5, 1976. TJAN TG, AARTS NJM: Bifrontal epidural hematoma a !ter shunt operation and posterior fossa exploration: report of a case with survival. Neuroradiology 19:51-3 , 1980. UDVARHELYI GB, WOOD JH, JAMES AE, BARTLET 0: Results and complications in 55 shunted patients with normal pressure hydrocephalus. Surg Neural 3: 271-5, 1975. UMANSKY F, KLUGER Y: Traumatic intratumoral hemorrhage secondary to a ventriculoperitoneal shunt. Child's Nerv Syst 4:310-2, 1988. VAQUERO J, CABEZUDO JM , DeSOLA G, NOMBELA L: lntratumoral hemorrhage in posterior fossa tumors after ventricular drainage : repor! of two cases . J Neurosurg 54:406-8, 1981. WAGA S, SHIMIZU S, SHIMOSAKA S, TOCHIO H: lntratumoral hemorrhage after a ventriculoperitoneal shunting procedure . Neurosurgery 9:249-52, 1981 . WEISS RM: Massive epidural hematoma complicating ventricular decompression. Repor! o f a case with survival. J Neurosurg 21 :235-6, 1964. YAMADA H: A flow regulating device to controt differential pressure in CSF shunt systems . J Neurosurg 57:570-2, 1982 ZUCCARELLO M, DOLLO C , CAROLLO C : Spontaneous intratumorat hemorrhage after ventricuJo .. peritoneal shunting . Neurosurgery 16:245-6 , 1985. Original recebido em abril de 2004 Aceito para publicação em setembro de 2004 Endereço para correspondência: Carlos Umberlo Pereira Av. Augus/o Maynard. 2451404 CEP 4901 5-3 80- Aracaju, SE E-mail: [email protected] Hemorragia intracraniana secundária à derivação ventricul ar - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 1 22 Pereira CU c cols. Arq Bras Neurocir 23{3): 123· 125. 2004 Aneurisma gigante da artéria cerebral média e síndrome de Kernohan Relato de caso Aloísio Carlos Tortelly Costa*, Fred Rodrigues Quintero**, Mareio de Mendonça Cardoso***, Fabrizio lsaac Schwab Leite***, Rodrigo Montenegro da Fonseca Rodrigues*** Serviço de Neurocirurgia da Universidade Federal Fluminense RESUMO Os aneurismas gigantes intracranianos podem se manifestar de diversas formas. Neste trabalho, relatamos o caso de uma paciente com um aneurisma gigante da artéria cerebral média manifestando-se através da síndrome de Kernohan, raramente encontrada em aneurismas cerebrais. Diagnóstico e tratamento são discutidos. PALAVRAS-CHAVE Aneurisma intracraniano gigante. Síndrome de Kernohan. ABSTRACT Giant middle cerebral artery aneurysm and Kernohan syndrome. Case report Giant intracranial aneurysms may be responsable for many signs and symptoms. In this study the authors report a case of a patient with a giant middle cerebral artery aneurysm causing Kernohan syndrome, almost neve r seen in this patho/ogy. A brief discussion about diagnosis and treatment is done. KEYWORDS Giant intracranial aneurysm. Kernohan syndrome. Introdução Os aneurismas intracranianos são considerados gigantes quando apresentam diâmetro maior que 2,5 em 12 • Em termos epidemiológicos, os aneurismas gigantes representam de 3% a 13% de todos os aneurismas cerebrais' e localizam-se predominantemente na artéria carótida intema 10•19, sendo também encontrados em outras artérias intracranianas. A apresentação clínica é variável: hemorragia intracraniana por ruptura dos aneurismas é bastante comum 14•15•19 ; epistaxe e fistula carótido-cavemosa; sinais e sintomas focais decorrentes de compressão locaP·10 ; fenômenos isquêmicos; crise convulsiva 14.2 6; hidrocefalia20 ; fistula liquórica9, e outros. Neste artigo, relatamos o caso de uma paciente com um aneurisma gigante da artéria cerebral média com evolução clínica progressiva, submetida a tratamento cirúrgico, apresentando plena recuperação no periodo pós-operatório. Relato do caso Paciente de 63 anos, sexo feminino, cor branca, aposentada, apresentando quadro clínico com evolução de seis meses caracterizado por diminuição da psicomotricidade, lentificação do pensamento, hemiparesia direita e grabatária. Internada no Hospital Universitário Antônio Pedro, realizou tomografia computadorizada de crânio sendo evidenciada lesão hipodensa com captação anelar de contraste em região temporopolar à *Chefe do Servi ço de Neurocirurgia da Uni versidade Federal Fluminense. **Médico do Serviço de Neurocirurgia da Universid ade Federal Fluminense. ***Residente do Servi ço de Neurocirurgia da Unive rsid ade Fed eral Fluminense. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - Arq Bras Neurocir 23(3): 123-125, 2004 direita, com importante efeito de massa sobre o tronco cerebral, cujo laudo sugeriu neoplasia intracraniana. A seguir, realizou ressonância nuclear magnética (Figura 1), procedimento em que os achados tomográficos foram confirmados com maior precisão anatômica. Realizou , ainda, arteriografia cerebral com subtração digital (Figura 2), sendo evidenciado aneurisma da bifurcação da artéria cerebral média direita. Na arteriografia, o tamanho do aneurisma pareceu muito menor que sua imagem na tomografia e na ressonância, o que nos fez supor que ele estava trombosado em sua maior parte. A paciente foi submetida a craniotomia temporopterional, seguida de clipagem do aneurisma e exérese total da lesão dista! ao clipe. O material retirado foi enviado para exame histopatológico, sendo confirmado o diagnóstico de aneurisma gigante verdadeiro. A paciente evoluiu com melhora progressiva e realizou tomografia computadorizada de controle evidenciando ampla resolução da lesão (Figura 3). Figura 1 -Ressonância magnética demonstrando lesão temporopolar à direita, com importante efeito de massa sobre o tronco cerebral. Figura 2 -Angiografia carotídea direita evidenciando a presença de aneurisma da artéria cerebral média, de dimensões bem menores que o demonstrado na ressonância magnética. Figura 3 - Tomografia computadorizada pós-operatória demonstrando a remoção da lesão, bem como a resolução da compressão sobre o tronco cerebral. Discussão Apesar dos avanços técnicos na neurocirurgia e na neurorradiologia, os aneurismas gigantes continuam sendo urrí tema bastante controvertido. Até mesmo a definição de aneurisma gigante tem gerado polêmica, uma vez que alguns autores a consideram empírica; aneurismas menores que 2,5 em podem apresentar a mesma evolução clínica e forma de tratamento que os maiores. Apesar disso, a maior parte dos estudos ainda considera a classificação descrita por Lockleyl 2 . Atualmente, considera-se que os aneurismas gigantes se desenvolvem a partir dos menores 2 , tendo, assim, os mesmos fatores predisponentes, entre os quais pode-se destacar: alterações hemodinâmicas e estruturais nas artérias cerebrais, fatores genéticos, alterações inflamatórias, trauma, neoplasia, uma série de doenças vasculares e radioterapia5•27 . Chama atenção o fato de que os aneurismas gigantes são encontrados com relativa freqüência no sistema vertebrobasilar. A apresentação clínica depende, principalmente, da localização dos aneurismas. A paciente do caso relatado apresentou um aneurisma de artéria cerebral média, medindo aproximadamente 11 em em seu diâmetro maior, exercendo efeito de massa sobre o tronco cerebral e manifestando-se com a síndrome de Kernohan, raramente vista em aneurismas cerebrais. Os principais exames complementares para o diagnóstico dos aneurismas são tomografi a computadorizada, ressonância nuclear magnética e a1teriografia digital 16• Vale ressaltar que, muitas vezes, trombos podem impedir a passagem de contraste pela luz do aneurisma, dando uma falsa noção de sua dimensão . Assim, como na paciente do caso relatado, a ressonância magnética pode exercer um papel fundamental, delimitando toda a Aneurisma gigante - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Costa ACT e cols. - -- - - - - - - 124 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bras Neurocir23{3): 123-125.2004 lesão; deve-se ainda ficar atento à presença de flow void junto à lesão, o que poderia representar uma lesão vascular. Por fim, deve-se estar também atento quanto à possibilidade de que uma lesão com captação anelar de contraste, localizada em território de artéria cerebral, pode representar um aneurisma gigante. O tratamento, principalmente com o desenvolvimento da terapia endovascular, tem sido o assunto mais polêmico no que conceme aos aneurismas gigantes. Os principais procedimentos cirúrgicos incluem: clipagem e exérese do aneurisma (se este exercer efeito de massa), trapping, wrapping, associados ou não a procedimentos de revascularização 4•6•7•10•11 •14•19•21 •23 •24 • Já em relação à terapia endovascular, várias técnicas também estão disponíveis, entre as quais o uso de coils e oclusão endovascular (também podendo se associar procedimentos de revascularização), e geralmente estão indicadas quando o paciente apresenta elevado risco cirúrgico ou o tratamento cirúrgico já realizado foi ineficaz8•17•18.2 2.2 5• O nosso serviço considera que os riscos e a eficácia dos procedimentos endovasculares em relação aos aneurismas gigantes ainda são discutíveis; a presença de colo largo e de trombo intra-aneurismático dificulta o procedimento endovascular. Além disso, o efeito de massa exercido por esses aneurismas geralmente necessita de tratamento cirúrgico, com sua respectiva exérese. Assim sendo, consideramos que os aneurismas gigantes devem ser avaliados caso a caso. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 . Referências 21. 22 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BARROW DL, ALLEYNE G: Natural history of giant intracranial aneurysms and indications for intervention. Clin Neurosug 42:214-44, 1995. BARTH A, de TRIBOLET N: Growth of small saccular aneurysms to giant aneurysms: presentation of three cases. Surg Neurol4:277-80, 1994. BATJER HH, PURDY PD: Enlarging thrombosed aneurysm of the distai basilar artery. Neurosurgery 26:695-9,1990. BOJANOWSKI WM, SPETZLER RF, CARTER LT: Reconstruction of the MCA bifurcation after excision of a giant aneurysm. Technical note. J Neurosurg 68:97 4-7, 1998. CASEY AT, MARCH HT, UTTLEY D: lntracranial aneurysms formation following radiotherapy. Br J Neurosurg 7:575-9, 1993. DEI-ANANG K, HEY O, BORGES G, SCHURMANN K, MULLER W: Management of giant aneurysms. Arq Neuropsiquiatr (São Paulo) 48 :231-5, 1990. DRAKE CG: Giant intracranial aneurysms: Experience with surgical treatment in 174 patients. Clin Neurosurg 26 :12-95, 1979. GRUBER A, KILLER M, BAVINZSKI G, RICHLING B: Clinicai and angiographic results of endovascular coiling treatment of giant and very large intracranial aneurysms: a 7 year, single center experience . Neurosurgery 45:793803, 1999. 23. 24. 25 . 26. 27. HOSOBUCHI Y: Direct surgical treatment of giant intracranial aneurysms. J Neurosurg 51:743-56,1979. LAWTON MT, SPETZLER RF : Surgical management of giant intracranial aneurysms: Experience with 171 Patients . Clin Neurosurg 42 :245-66, 1995. LAWTON MT, SPETZLER RF: Surgical strategies for giant intracranial aneurysms. Neurosurg Clin N Am 9:725-42, 1998. LOCKSLEY HB: Natural history of subarachnoid hemorrhage , intracranial aneurysms and arteriovenous malformations based on 6368 cases in the cooperativa study. J Neurosurg 25 :219-39, 1966. MCCORMICK WF, ACOSTA-RUA GJ : The size of intracranial saccular aneurysms . An autopsy study. J Neurosurg 33:422-7, 1970. MORLEYTP, BARR HWK: Giant intracranial aneurysms: Diagnosis, course, and agement. Clin Neurosurg 16:7394, 1969. ONUMA T, SUZUKI J: Surgical treatment of giant intracranial aneurysms . J Neurosurg 51 :33-6, 1979. OSBORN AG: Diagnosticai Neurorradiological. Ed 1. Rio de Janeiro, Revinter, 1999, cap 9, pp 248-83 . RAMINA R, MENESES MS, PEDROZO M, ARRUDA WO , BORGES G: Saphenous vein graft bypass in the treatment of giant cavernous sinus aneurysms. Arq Neuropsiquiatr (São Paulo) 58:162-8, 2000 . SERBINENKO FA, FILATOV JM, SPALLONE A, TCHURILOV MV, LAZAREV VA: Management of giant intracraniaiiCA aneurysms with combined extracranialintracranial anastomosis and endovascular occlusion. J Neurosurg 73:57-63, 1990. SHIBUYA M, SUGITA K: lntracranial giant aneurysms . In Youmans JR (ed): Neurologycal surgery. Ed 4 . Philadelphia, WB Saunders, 1996, vol 2, cap 54, pp 1310-19. SMITH KA, KRAUS GE, JOHNSON BA, SPETZLER RF: Giant posterior communicating artery aneurysm presenting as third ventricle mass with obstructive hydrocephalus. J Neurosurg 81:299-303 , 1994. SPETZLER RF, RUNA HA, LEMOLE GM : Giant aneurysms. Neurosurgery 49 :902-8, 2001 . STANDARD SC, GUTERMAN LR, CHAVIS TD, FRONCKOWIAK MO : Endovascular management of giant intracranial aneurysms . Clin Neurosurg 42 :267-92, 1995. SUNDT TM, PIEPGRAS DG : Surgical approach to giant intracranial aneurysms. J Neurosurg 51:731-42, 1979. SYMON L, VADJA J: Surgical experience with giant intracranial aneurysms. J Neurosurg 61 :1009-28, 1984 . TAKI W, NISHI S, YAMASHITA K e cols. Selection and combination of various endovascular techniques in the treatment of giant aneurysms. J Neurosurg 77:37-42 , 1992. YACUBIAN EM, ROSEMBERG S, SILVA HC, JORGE CL, OLIVEIRA E, ASSIS LM : lntractable complex partia! seizures associated with posterior cerebral artery giant aneurysm: a case repor!. Epilepsia 35:1317-20, 1994. YASARGIL MG: Microneurosurgery. Ed 1. New York, Ttlieme Strattton, 1984, cap 5, pp 280-9. Original recebido em setembro de 2003 Aceito para publicação em junho de 2004 Endereço para correspondência: Mareio de Mendonça Cardoso Rua Tiradentes, 103/906 CEP 24210-510- Niterói, RJ E-mail: [email protected] Aneurisma gigante - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125 Costa ACT e cols. Arq Bras Neurocir 23(3): 126-128, 2004 Craniofaringioma cístico gigante de fossa posterior Relato de caso Carlos Afonso Clara, José Reynaldo Walther de Almeida, Homero Marcondes Serviço de Neurocirurgia Oncológica da Fundação Pio XII de Combate ao Câncer. Barretos, SP RESUMO O craniofaringioma localizado na fossa posterior é uma entidade rara, estimada em torno de 4%. Geralmente está associado a quadros clínicos graves que necessitam de tratamento cirúrgico. O seu prognóstico está relacionado com a possibilidade de remoção do tumor. Apresentamos um caso de craniofaringioma clstico localizado na fossa posterior, de dimensões gigantes, tratado cirurgicamente e com bom resultado. PALAVRA-CHAVE Craniofaringioma. ABSTRACT Giant cystic posterior fossa craniopharyngioma. Case report Posterior fossa craniopharyngioma is rare, being estimated in 4%. Generally is associated with se vere clinicai pictures and surgery is the best treatment. lts prognosis is related to the surgical resection possibility. We present a posterior fossa giant cystic craniopharyngioma, successfully treated by surgery. KEYWORD Craniopharyngioma. Introdução O craniofaringioma é o tumor intracraniano nãoglial mais freqüente em crianças8, localiza-se predominantemente nas regiões selar e supra-selar, sendo rara a sua extensão para a fossa posterior, estimada em 4% 3. Reportamos o caso de uma paciente de 15 anos de idade, encaminhada para radioterapia ao nosso serviço com diagnóstico de craniofaringioma. Em razão das volumosas dimensões do tumor, com importante compressão do tronco cerebral, optamos pelo tratamento cirúrgico que foi realizado com sucesso. Relato do caso PFM, 15 anos, sexo feminino, apresentava queixa de cefaléia, que se iniciou em agosto de 2002. Em outubro, foi atendida no serviço de origem e submetida à tomografia de crânio (Figura 1), que mostrou um processo expansivo na região supra-selar, com presença de calcificações e hidrocefalia. Lá, foi submetida à derivação ventriculoperitoneal. Após dois meses, foi realizada ressonância magnética (RM) do crânio (Figura 2) que mostrou uma lesão cística supra-selar e outra na fossa posterior, anterior ao tronco cerebral e estendendo-se até a altura do forame magno. A conduta adotada foi observação clínica e corticoterapia, até que, dez meses depois, em novembro de 2003, foi submetida a uma craniotomia pterional esquerda com biopsia da lesão supra-selar. O diagnóstico anatoinopatológico foi de craniofaringioma. Após as condutas acima descritas, foi encaminhada ao Hospital de Câncer da Fundação Pio XII com orientação para radioterapia. Os serviços de radioterapia e de oncologia pediátrica, após avaliarem a paciente, solicitaram parecer da neurocirurgia. A paciente encontrava-se em regular estado geral , - - - - - - - -- - -- - - -- - - -- - -- - -- Figura 1 - TC mostrando as calcificações supra-selares e dilatação dos comos temporais dos ventrículos laterais. - - - - - - - Arq Bras Neurocir 23{3): 126-128. 2004 Figura 3- RM evidencia aumento expressivo do volume do cisto da fossa posterior e o grande deslocamento do tronco cerebral. do tumor. A paciente apresentou excelente evolução do quadro neurológico, com recuperação progressiva da cognição e funções motoras, inclusive com desaparecimento da diplopia. A RM pós-operatória (Figura 4) mostrou o desaparecimento do tumor infratentorial, com o tronco cerebral na posição anatômica, permanecendo a lesão supra-selar. Figura 2 - RM mostrando tumor cístico gigante com compoírente anterior e outro posterior que se estende para a fossa posterior e desloca o tronco cerebral. obesa, "cushingóide", confusa, apática, com raciocínio lento; apresentava diplopia, nistagmo, ataxia e estria cutâneas pelo corpo. Os únicos dados laboratoriais positivos foram o co1tisol baixo e um discreto aumento da prolactina. Realizou-se nova RM (Figura 3) que mostrou pequena área de lesão na região frontal esquerda , provavelmente devida à manipulação cirúrgica prévia, processo expansivo sólido-cístico na região supra-selar, além de volumoso e extenso processo expansivo cístico infratentorial envolvendo o tronco cerebral e deslocando-o posteriormente. Em virtude da visível piora clínica e do aumento do volume tumoral na fossa psoterior, demonstrado pela RM, decidimos operar a paciente. Foi submetida à craniectomia suboccipital retromastóidea , póssigmóide, à esquerda, que permitiu a total ressecção Craniofaringioma cístico gigante de fossa posterior - - - - - - - - - -Clara CA e cols. Figura 4 - RM pós-operatória onde se observa o desaparecimento total da lesão cística da fossa posterior. Discussão Os craniofaringiomas são neoplasias epiteliais complexas que se localizam nas regiões selar e do terceiro ventrículo 2 • Estudos de autópsias e recentes revisões apontam que 4% dos craniofaringiomas têm extensão para a fossa posterior2. Existem dois tipos: o - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 127 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bras Neuroc/r 2 3 (3}: 12 6 -128. 2004 adamantinoma, mais freqüente e predominante nas duas primeiras décadas da vida, e o papilar, usualmente encontrado em adultos como massas sólidas não calcificadas, ao contrário do adamantinoma no qual as calcificações estão quase sempre presentes e o aspecto do tumor é cístico na maioria dos casos 2• Existem relatos de adamantinomas nasais, intraventriculares, na pineal e na foss a posterior 1•2•10 • Em 50% dos casos, o líquido no interior dos cistos do craniofaringioma tem aspecto de "óleo de motor", em 14% o líquido é claro e, no restante, é constituído de um material sanguinolento ou grumoso5. Os componentes usualmente observados no líquido são colesterol, metahemoglobina, queratina, diferentes concentrações protéicas e calcificações 5·11 • Clinicamente, a cefaléia pode ocorrer de maneira crônica ou intermitente, sem relação com a hipertensão intracraniana. Tumores pré-quiasmáticos causam compressão dos nervos ópticos e quiasma e as conseqüentes manifestações visuais 9. São comuns alterações endócrinas como hipopituitarismo (95%) e hiperprolactinemia (38%) 9. Podem ocorrer manifestações psiquiátricas como demência, apatia, alteração do intelecto, lentidão do raciocínio e perda da capacidade de julgamento8·9. A radiografia simples do crânio poderá mostrar alterações da sela túrcica, calcificações nas regiões selar e supra-selar5·8·9. A tomografia computadorizada (TC) e a RM são fundamentais no diagnóstico e na decisão quanto à conduta. A TC é importante na identificação de calcificações, presentes em 87% dos casos estudados5·9. A RM permite observar as variações dos componentes dos cistos e é precisa no estudo do tumor e de suas relações anatômicas com estruturas adjacentes5·6·8·9. O tratamento considerado ideal para os craniofaringiomas é a sua ressecção cirúrgica total, mas isto muitas vezes pode ser difícil em virtude da infiltração do tumor no assoalho do terceiro ventrículo e, nessas situações, há aumento dos riscos de morbidade e mortalidade 3•4•8·9. A radioterapia ainda é motivo de controvérsia no tratamento dessa neoplasia e usualmente é empregada nos casos de recidiva ou naqueles em que a ressecção cirúrgica foi parciaP·6•8. Hader e cols. 4 relataram reduções do volume de craniofaringiomas tratados com bleomicina administrada dentro da cavidade cística. Hellwig e cols.7 descreveram técnicas por endoscopia estereotáxica para drenagem de cistos tumorais, entre eles os do craniofaringioma. A paciente deste relato vinha apresentando piora clínica progressiva, com disfunção do tronco cerebral, comprometimento motor, déficit do sexto nervo craniano, alterações cognitivas severas, síndrome de Cushing, tudo isso associado ao grande volume tumoral infratentorial. Isto contra-indicava a radioterapia proposta inicialmente no encaminhamento externo. Cran iofaringioma cistico gigante de fossa posterior - -Clara CA e col s. A cirurgia, neste caso, não ofereceu maiores dificuldades. A posição de park bench e a abordagem suboccipital retromastóidea pós-sigmóide permitiram um excelente acesso ao tumor cístico infratentorial e sua completa ressecção. O cisto remanescente supraselar está sendo acompanhado por exames de imagem. Sabe-se que este tipo de lesão pode se manter latente por vários anos. O crescimento tumoral, com ou sem piora clínica, determinará a indicação da imposição de algum tratamento8. Referências 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 . ALTINO N, SENVELI E, ERDOGAN A, ARDA N, PAK 1: Craniopharingioma of the cerebellopontine angle . Case report . J Neurosurg 60:842-4, 1984. · BURGER CP: Atlas of tumor pathology of the central nervous system. Washington DC, AFIP, 1993. CONNOLLY ES, WINFREE CJ, CARMEL PW: Giant posterior fossa cystic craniopharingiomas presenting with hearing loss. Report of three cases and review of literature. Surg Neurol47:291-9, 1997. HADER WJ , STEINBOK P, HUKIN J, FRYER C: lntratumoral therapy with bleomycin for cystic craniopharingiomas in children. Pediatr Neurosurg 33:211-8, 2000. HALO JK, EUDEVIK OP, SKALPE 10 : Craniopha ringeoma identification by CT and MR imaging at 1.5 T. Acta Radiol 36:142-7, 1995. HAMAMOTO Y, NIINO K, ADACHI M, HOSOYA T: MR and CT findings of craniopharyngioma during and after radiation therapy. Neuroradiology 44:118-22 , 2002. HELLWIG O, BAUER BL, LIST-HELLWIG E: Stereotactic endoscopic interventions in cystic brain lesions. Acta Neurochir (Wien) 64:9-63, 1995. SIQUEIRA M: Tumores intracranianos. São Paulo , Editora Revinter, 1999. SHIN JL, ASA SL, WOODHOUSE LJ, SMYTH HS, EZZAT S: Cystic lesions of lhe pituitary : clinicophatological features distinguishing craniopharingioma, Rathke's cleft cystic , and arachnoid cyst. J Clin Endocrinol Metab 84:3972-82, 1999. SOLARSKI A, PANKE ES, PANKE TW: Craniopharingeoma in lhe pineal gland . [letter].Arc Pathol Lab Med 102:490-1 , 197.8. TAKAHASHI T, KUDO K, ITO S, SUZUKI S: Spontaneously ruptured craniopharingioma cyst without meningitic symptoms - two case reports. Neurol Med Chir (Tokyo) 43:150-2, 2003 . Original recebido em maio de 2004 Aceito para publicação em agosto de 2004 Endereço para correspondência: Carlos Afonso Clara Rua 32, 850 CEP 14780-130- Barretos, SP E-mail: denis e_lousada@uol. com.br - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - ----128 Arq Bras Neurocir 23{3): 129-133, 2004 Fratura múltipla da coluna cervical em segmentos não-adjacentes Relato de caso Marcelo Ferraz de Campos*, Sérgio Henrique do Amaral**, Marcelo Barletta Viterbo***, Marcos Gregorini***, Luis Fernando Haikel Júnior***, José Carlos Rodrigues Júnior***, Sérgio Listik****, Clemente Augusto de Brito Pereira*****, Jazias de Andrade Sobrinho****** Serviço de Neurocirurgia do Hospital Hehópohs, São Paulo, SP RESUMO Relata-se um caso de fratura múltipla da coluna ce rvical em segmentos não-adjacentes. A radiografia da coluna cervical apresentava fratura dos corpos vertebrais de C4 e C6 e a ressonância magnética revelou edema medular do segmento de C4 a C6 com ruptura do ligamento longitudinal posterior entre C6 e C7, sem compressão medular. Realizou-se artrodese com enxerto ósseo autólogo de crista ilíaca e fixação com placa e parafusos nos segmentos C3-C4 e C6-C7. O paciente evoluiu sem deformidade e com melhora do déficit neurológico. A artrodese com enxerto ósseo autólogo, pela técnica de Smith-Robinson, e fixação com placa e parafuso podem ser eficazes no tratamento das fraturas múltiplas da coluna cervical em segmentos não-adjacentes. PALAVRAS-CHAVE Fratura de coluna cervical. ABSTRACT Mu/tiple fractures in non adjacent segments of the cervical spíne. Case report A case o f multipie fractures in non adjacent segments of the cervical spine is reported. Plain radiography showed fractures of the vertebral bodies of C4 and C6 and magnetic resonance imaging showed spinal cord edema from C4 to C6 segments and posterior longitudinal ligament rupture between C6 and C7 without spinal cord compression. The treatment consisted of autologous bane graft arthrodesis from lhe iliac crest with plate and screw fixation of the C3-C4 and C6-C7 segments. The patient showed improvement of lhe neurologic deficit without deformity. Bane graft arthrodesis with plate and screw fixa tion showed to be efficient for multiple non adjacent cervical spine fractures. KEYWORDS Cervical spine fracture . Introdução Fraturas acometendo vértebras cervicais são freqüentes nos traumatismos raquimedulares cervicai s. Já fraturas envolvendo múltiplas vértebras em segmentos não consecutivos são raras, não havendo, na literatura, dados ou conduta preconizada. É possível supor que determinem uma grande instabilidade em virtude dos vários segmentos acometidos. A conduta, nesses casos, é de difícil decisão, pois há grave instabilidade dos locais envolvidos e pouca experiência na literatura. As publicações por nós *Assistente do Serv iço de Neurocirurgia do Hospital Heliópolis e Pós-Graduando em Ciências da Saúde do Hospital Heliópoli s. **Ass istente do Serviço de Neurocirurgia do Hospital He li ópoli s. ***Res id ente do Serviço de Ne urocirurg ia do Hospital Heli ópoli s. "***Chefe da C línica de Neurotraumatologia do Hospita l Heliópol is. *****C hefe do Serviço de Neurocirurgi a do Hospital Heliópoli s. ****** Professor do C urso de Pós-G radu ação em Ciências da Saúde do Hospital Heli ópoli s. - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- encontradas foram de estudos realizados em biomecânica experimental 1•4 •9 •10 Relato do caso OB , sexo masculino, 26 anos de idade, com história de mergulho em água rasa. Foi encaminhado ao Serviço de Neurotraumatologia do Hospital Heliópolis. Apresentava dor na coluna cervical, hemiparesia direita grau III, sendo a lesão classificad a na escala de Fran.kel em C. A radiografia (Rx) da coluna cervical apresentava fratura dos corpos vertebrais de C4 e C6 com listese (> 3,5 mm) na avaliação dinâmica (Figuras I, 2 e 3). A tomografia computadorizada (TC) da coluna cervical revelou fratura linear dos corpos vertebrais de C4 e C6 (Figuras 4 e 5). A ressonância magnética (RM) revelou - - - - - -- Arq Bras N eurocir 23{3}: 129-133. 2004 edema medular do segmento de C4 a C6, ruptura do ligamento longitudinal posterior entre C6 e C7, sem compressão medular (Figuras 6, 7 e 8). Realizamos a cirurgia com retirada dos discos intervertebrais sob microscopia nos espaços discais de C3-C4 e C6-C7 , seguida de artrodese com enxerto ósseo tricortical autólogo da crista ilíaca, pela técnica de Smith-Robinson, e a fi xação com placa e parafuso nos segmentos em que foi realizada a mirodese com enxetto ósseo (Figura 9). O paciente recebeu alta no décimo dia de pósoperatório, sem dor cervical , apresentando melhora do déficit neurológico, com força muscular grau IV e classificação na escala de Frankel em D. Na avaliação dinâmica, não apresentou dor à mobilização em flexão e extensão. No seguimento, após seis meses, o paciente não apresentou dor na região cervical ou progressão em deformidade (Figura 10). Figuras I, 2 e 3 - Rx da coluna cervical em posição neutra (Figura 1), em flexão (Figura 2) e extensão (Figura 3) demonstrando aumento da listese 110s segmentos acometidos quando da avaliação dinâm ica. Figura 4 - TC com janela para osso revelando fratura linear no corpo vertebral de C4. Figura 5 - TC com janela para osso revelando fralllra linear 110 c01po vertebral de C6. Fratura múltipla da coluna cen•ica l - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -Campos M F e col s. - 130 - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - -- Arq Bras Ne urocir 23{3}: 129-133. 2004 Figura 9 - Após a discectomia e a artrodese com enxerto ósseo, f oi realizada a fixação com placa e paraf usos nos espaços discais de C3-C4 e C6-C7. Figura 6 - RM ponderada em TI mostrou lesão medular isointensa de C4 a C6. Figura 10 - Rx da coluna cervical ap ós seis meses da cirurgia mostrando a artrodese nos segmentos de C3-C4 e C6-C7 com enxerto ósseo tricortica/ de crista ilíaca e a fixação com placa e parafuso naqueles segmentos. Figura 7- RM p onderada em T2 mostrou lesão medular decorrente ao edema no segmento de C4 a C6 com ruptura do ligamento longitudinal posterior entre C6 e C7. Discussão As indicações para o tratamento cirúrgico das lesões da coluna cervical bai xa dependem de informações clínicas ou radiográficas, do déficit neurológico ou da instabilidade da coluna6· 8. A presen ça de qualquer uma dessas condições sugere que medidas conservadoras possam ser insuficientes como tratamento. Os objetiv os do tratamento cirúrgico são o de descomprimir os elementos neurais , restabelecer o Figura 8 - R M em corte axial, mostrando edema intramedular e ausência de compressão no canal t•ertebral. Fratum múltipla da coluna cervica l - - - -Campos MF e co ls. - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - 131 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bra s N eurocir 2 3 (3) : 129- 133, 2004 adequado alinhamento cervical e restaurar a estabilidade da coluna cervical 12 • Os princípios gerais do tratamento cirúrgico nos traumas da coluna cervical baixa visam melhorar e/ou proteger a função neurológica do paciente enquanto se consegue uma coluna cervical reduzida, estável, móvel e indolor''. O comprometimento neurológico exige uma descompressão medular que pode ser alcançada tanto pelo realinhamento da coluna (por tração ou cirurgia), ou por descompressões cirúrgicas''· A estabilidade da coluna pode ser obtida indiretamente por colete ou diretamente por fixação cirúrgica. No caso apresentado, não estava indicado o tratamento conservador, em virtude da instabilidade nos segmentos acometidos, sendo a indicação cirúrgica preferível. Lesões por compressão anterior com menos de 50% de perda da altura do corpo vertebral raramente rompem o disco, a coluna média, o ligamento longitudinal posterior ou as estruturas estabilizadoras posteriores e são geralmente estáveis, necessitando somente de imobilização com colar cervical. Se a compressão do corpo vertebral exceder 50% da altura anterior, a probabilidade de ruptura dos ligamentos posteriores aumenta 2 • As radiografias dinâmicas de perfil, em extensão e flexão, devem demonstrar o aumento da distância interespinhosa ou angulação significativa do segmento. Nesses casos, é indicada a cirurgia via anterior com enxerto tricortical e placa de fixação anteriorS. O tratamento conservador fica restrito aos casos de traumatismo raquimedular cervical que não apresentem diagnóstico de instabilidade clínica e radiológica, segundo os critérios descritos na tabela 1, a qual estabelece um valor para as várias alterações anatômicas 3•13 •14 • Uma contagem total de pontos de cinco ou mais sugere coluna cervical instável. A instabilidade ocorre quando uma vértebra se move mais que 3,5 mm ou se houver uma angulação superior a 1 I graus entre os segmentos. A redução aberta ou estabilização interna podem ser realizadas por via anterior, posterior, ou por uma combinação das duas. Em nosso caso, a via escolhida foi a anterior, pois as lesões envolviam a região anterior da coluna cervical, e os elementos posteriores se mostraram íntegros. A decisão clínica por estabilização anterior ou posterior depende do tipo de trauma e da localização (anterior ou posterior) da lesão principal a ser abordada. Conclusão A artrodese com enxerto ósseo autólogo, pela técnica de Smith-Robinson, e fixação com placa e parafuso mostraram resultado eficaz no tratamento das fraturas múltiplas da coluna cervical em segmentos não-adjacentes. Referências 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tabela 1 ltens de avaliação para diagnóstico de instabilidade clínica na coluna cervical inferior Elementos Valor (pontos) Anteriores destruídos ou incapazes para a função 2 Posteriores destruidos ou incapazes para a função 2 8. Translação plana ,;ag itai relativa > 3,5 mm Rotação plana sagital relativa> li graus 2 Teste de distensão positi vo I 9. Lesão da medula espinhal 10. Lesão de raiz nervosa Estreitamento anormal do espaço discai Carga perigosa antec ipada 11 . Total de pontos maior ou igu al a 5 significa instabi lidade. Frat ura múltipla da co luna c e rvi ca l Campos MF e col s. BENZE L EC: Stability and instability of lhe spine. In Benze! Ed (ed): Biomechanics of spine stabilization . Ed 2. lllinois, BookMart Press, 2001 , cap 3, pp 29-43 . BOHLMAN HH : Acute fractures and dislocations of the cervical spine: An analysis of tree hundred hospitalized patients and review of lhe literature. J Bone Joint Surg 61A:1119-42 , 1979. CHESHIRE DJ : The stability of the cervi ca l spine following conse rvative treatment of fractures and fracture-dislocations. Paraplegia 7:193-203, ·1969. COE JD , WARDEN KE, SUTTERLIN CE 111 et ai. : Biomechanical evalution of cervical spine stabilization methods in a human cadaveric model. Spine 14:1'122-31, 1998. ECK JC , HODGES SD, HUMPHREYS SC : Spine Pears. Ed 2. Philadelphia, Hanley & Belfus, 2003, pp 154-7. FINKELSTEIN JA, ANDERSON PA: Surgical management of cervical instability. In Capen DA, Haye W (ed): Comprehensive management o f spíne trauma . Ed '1. St. Louis , Mosby, 1998, cap 10, pp 144-84. LEAL FSCB, GUIMARÃES ACA, DANTAS SAF, MELO JRT, VEIGA JCE : Traumatismo raquimedular ce rvical entre C3 e C7. Análi se de 48 casos . Arq Bras Neurocir 16:111-9, 1997. LOPES Jr E, ARRUDA JAM, MELO CVM , PARAYBA MC: Tratamento cirúrgico de fraturas e deslocamentos agudos da coluna vertebral cervical por trauma . Estudo de 41 pacientes tratados no período de 2 anos . Arq Bras Neurocir 16:123-5, 1997. SCHOENING HA, HANNAN V: Factor related to cervica l spine mobility. Part I. Arch Phys Med Rehab 45:602 , 1992 . SONNTAG VKH : Guidelínes for the management of acute cervical spine and spinal cord injuries . Neurosurgery 50:S1-S199, 2002. STAUFFER ES : Management of spine fractures C3-C7 . Clin Am 17:45-53, 1986. ~--------------------------------- 13 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bras Neurocfr 23(3): 129- 133. 2004 12 . 13. 14. WAGNER Jr FC : Injuries to the cervical spine and spine cord . In Youmans JR (ed): Neurosurgery surgery. Philadelphia, WB Saunders, 1990, vol 4, pp 2378-402. WHITE AA, PANJABI MM: The role of stabilization in treatment of cervical spine injuries . Spine 9:512-22, 1984. WHITE AA, PANJABI MM : Clinicai biomechanics of the spine . Ed 2. Philadelphia, Lippincott, 1990, pp 342-78. Original recebido em junho de 2004 Aceito para publicação em outubro de 2004 Endereço para correspondência: Marcelo Ferraz de Campos Rua Cônego Xavier, 276, 9" andar CEP 04231-030 -São Paulo, SP E-mail: f [email protected]. br Fratura múltipla da coluna cervical - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 133 Campos MF e col s. Arq Bras Neurocir 23(3}: 134-137, 2004 Cisto ósseo aneurismático do osso parietal Relato de caso Carlos Umberto Pereira*, João Domingos Barbosa Carneiro Leão** Egmond Alves Silva Santos*** Serviço de Neurocirurgia do Hospital João Alves Filho. Aracaju, SE RESUMO O cisto ósseo aneurismático é uma tumoração óssea vascular benigna de crescimento rápido e destruição extensa do osso. Sua localização craniana ocorre entre 1% e 6% dos casos. Os autores relatam um caso de cisto ósseo aneurismático na região parietal esquerda, em uma criança de 4 anos de idade, sem história de traumatismo craniano e doenças sistêmicas associadas. Foi submetida á ressecção total da lesão, com evolução excelente. Discutem sua etiopatogenia, diagnóstico, tratamento e prognóstico. PALAVRAS-CHAVE Cisto ósseo aneurismático. ABSTRACT Aneurysmal bone cyst of the parletal bone. Case report Aneurysmal bone cyst is a benign vascular lesion of the bone with fast growth and bone destruction. Cranialloca/ization occurs in about 1% to 6% ofthe cases. The authors report a case of an aneurysmal bone cyst in the left parietal bone, in a four years-old chi/d, without history of head trauma and systemic disease. A total excision was done with an excellent result. The authors discuss the physiopathology, diagnosis, treatment and prognosis. KEYWORDS Aneurysma/ bone cyst. Introdução Relato do caso O cisto ósseoaneurismático (COA) foi identificado como uma entidade nosológica distinta em 1942, por Jaffe e Lichtenstein 10 • Caracteriza-se por ser urna lesão óssea vascular benigna com crescimento rápido e destmição extensa do osso21 •24 • Sua localização craniana é encontrada entre 1% e 6% dos casos3•9•12 • Os ossos cranianos mais acometidos em ordem decrescente são: temporal, occipital, orbital, frontal, parietal, etmoidal e esfenoidal6•12 • Os autores relatam um caso de COA de osso parietal, em uma criança de 4 anos de idade, e discutem sua etiopatogenia, diagnóstico e tratamento. Na literatura nacional, os relatos são raros, justificando assim sua publicação. MSO, 4 anos de idade, sexo masculino, esteve no Serviço de Neurocirurgia do Hospital João Alves Filho (Aracaju, SE), acompanhado da sua genitora, com queixa de dor de cabeça e caroço na cabeça há seis meses. Relatou-se que a dor de cabeça era ocasional e que cedia ao uso de analgésicos simples. A tumoração vinha crescendo gradativamente e, por isso, o profissional de saúde da sua cidade o encaminhou ao especialista. Antecedentes patológicos: nega traumatismo craniano e doenças sistêmicas associadas. Exame fi si co: bom estado geral, eupnéico, hidratado, presença de tumoração de consistência amolecida, indolor à palpação superficial e dolorosa à profunda, localizada na região parietal esquerda, sem lesões primárias e *Professor Adjunto Doutor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Aracaju, SE. **Neurocirurgião do Serviço de Neurocirurgia do Hospital João Alves Filho. Aracaju, SE. ***Doutorando de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Aracaju, SE. - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - Arq Bras Neurocir 23(3): 134-137, 2004 secundárias de pele dessa região. Radiografia simples de crânio: lesão osteolítica circunscrita na região parietal esquerda. Tomografia craniana: erosão do osso na região parietal esquerda (Figuras 1 e 2). Foi realizada a exérese ampla da lesão, que apresentou sangramento abundante durante a operação; a dura-máter encontrava-se íntegra. O exame anatomopatológico mostrou tratar-se de cisto ósseo aneurismático do crânio. Recebeu alta médica bem. Figura 1 - TC demonstrando lesão osteolítica na região parietal esquerda. Figura 2 - TC com janela 6ssea, apresentando lesão osteolítica na região parieta/ esquerda. Ci sto ósseo aneurismático - - - - -Pereira CU e cols. - - -- Discussão O COA é uma lesão óssea benigna caracterizada por espaços vasculares císticos múltiplos cheios de sangue e com paredes formadas por tecido fibroso e osso 7•12 • É um tumor de evolução rápida e representa cerca de I ,5% dos tumores ósseos e lesões pseudotumorais7· 13 . O sexo feminino é o mais acometido, com uma freqüência maior nas segunda e terceira décadas da vida 7·u Sua etiopatogenia é ainda desconhecida6 De acordo com Jaffe e Lichtenstein 10 , a lesão poderia ser secundária a distúrbios hemodinâmicos associados com aumento da pressão venosa ou por hemon·agia induzida por trauma. Não obstante, a maioria dos autores acredita que o COA pode se desenvolver como lesão primária ou, como na maioria dos casos, a partir de lesão óssea preexistente como um cisto ósseo simples, granuloma eosinófilo, tumor de células gigantes, fibroma condromixóide , osteoblastoma e condroblastoma 6•21 •24 Schonauer e cols. 21 descreveram um caso de COA no osso frontal de um jogador de futebol. Segundo esses autores, a origem desse COA estava relacionada aos microtraumas repetidos que romperam alguns vasos anômalos dentro do osso e levaram à hemorragia e conseqüente envolvimento do osso . O diagnóstico do COA é feito basicamente por meio dos exames de imagem e o anatomopatológico 7 •14 · 17 . Na avaliação radiológica, o COA apresenta quatro fases : 1) área bem definida de osteólise e discreta elevação de periósteo; 2) fase de crescimento, na qual a lesão evolui rapidamente com destmição progressiva do osso e aparência apagada à radiologia (b!own-out); 3) fase de estabilização, maturação da cápsula óssea; 4) progressiva calcificação e ossificação da lesão 11 • 14 •17 . A tomografia computadorizada (TC) de crânio deve ser usada para definir a lesão e principalmente em áreas nas quais a anatomia do osso é complexa e não pode ser avaliada por radiologia convencional; áreas de níveis fluidos também são vistas à TC 7 · 14 •17 • A TC fornece informações a respeito do tamanho da lesão, do conteúdo cístico e da presença de septos internos. As imagens por ressonância magnética (RM) revelam com maior clareza os detalhes da lesão, seus contomos, os níveis líquidos e os septos internos, que podem ter bordas finas e bem definidas 1•1w. A RM tem sido o método de diagnóstico por imagem preferido, em virtude dos maiores detalhes que fornece, em casos de COA. É conhecido que os cistos ósseos são muito vascularizados quando aparecem na coluna vertebral ou nos ossos longos . Entretanto, a vascularização do COA no crânio não é tão grande, podendo não ser demonstrável à angiografia6 . - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 135 - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bras Neurocir 23(3): 134-137, 2004 Ao exame de microscopia óptica, apresenta cavidades sangüíneas revestidas por fibroblastos achatados, não apresentando endotélio ou parede muscular; há septos com tecido conectivo fibroso denso ou frouxo, com trabéculas de tecido ósseo imaturo ou osteóide do tipo fibroso e tecido condromixóidé 18•20•22 •24 •26 • Clinicamente, o COA pode se manifestar como uma massa palpável e dolorosa, de alguns meses de evolução, sem outros achados aparentes ao exame físico 5•6 • Porém, cefaléia, déficit neurológico focal, proptose, hipoacusia, tumoração indolor e sinais de aumento da pressão intracraniana podem ocorrer5•6 •12 • O COA apresenta diagnóstico diferencial com sarcoma osteogênico, hemangioma, osteoblastoma, granuloma eosinófilo, displasia fibrosa, cisto ósseo simples e tumor de células gigantes 14 •17•23 • O tratamento do COA pode ser feito com bons resultados apenas com curetagem parcial ou biópsia excisionaF·13 •14•17 • No entanto, a remoção cirúrgica total associada a enxertos ósseos é o tratamento mais eficiente, pois evita a recidiva observada após curetagem parcial 6 •11 •12•14•17 • Sheikh2\ analisando uma série de 61 casos de COA no crânio, conclui que a embolização arterial é um procedimento usado no préoperatório, com o objetivo de diminuir o sangramento transoperatório e também como tratamento definitivo em casos de dificil acesso. Nos casos tecnicamente viáveis, a excisão completa é o procedimento de escolha2 •11 •16 • Lesões envolvendo a base do crânio são mais difíceis de se remover e a excisão parcial ou a curetagem se tomam alternativas, entretanto, com risco de recidiva4•15 •19.2 5•2 7 • A recidiva é rara nos casos em que a dura-máter não está envolvida 12 • Na presença de recidivas, há de se pensar no tratamento radioterápico, sempre avaliando o risco de aparecimento de sarcomas 6• A radioterapia também tem sido indicada em casos de COA localizados na base do crânio, sendo contra-indicada na presença de displasia fibrosa 12 • Referências 5. 6. 7. 8. 9. 1 O. 11. 12. 13. 14. 15 . 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 4. BELTRAN J, SIMON DC, LEVY M, HERMAN L, WEIS L, MUELLER CF: Aneurysmal bone cysts. MR imaging at 1.5 T1 . Radiology 158:689-90, 1986. BILGE T, COBAN O, OZDEN B, TURANTAN I, TURKER K, BAHAR S: Aneurysmal bone cysts of the occipital bone . Surg Neurol 20:227-30, 1983 . BORGES G, GUERREIRO MM : Cisto ósseo aneurismâtico orbitârio: relato de um caso. Arq Neuropsiquiatr (São Paulo) 44 :293-5, 1986. CALLIAUW L, ROELS H, CAEMAERT J: Aneurysmal bone cysts in the cranial vault and base of skull. Surg Neurol 23 :193-8, 1985. 21. 22. 23. CHATEIL JF, DOUSSET V, MEYER P, PEDESPAN JM, SAN-GALLI F, RIVEL J, CAILLÉ JM , DIARD F: Cranial aneurisma! bone cyst presenting with raised intracranial pressure : repor! of two cases. Neurorradiology 39:4904, 1997. CLAVEL ESCRIBANO M, ROBLES BALIBREA A, CLAVEL LARIA P, ROBLES CANO V: Quiste óseo aneurismâtico del hueso frontal. Caso clínico . Neurocirugía 12:166-9, 2001 . DeDIOS AMV, BOND JR , SHIVES TC, MCLEOD RA, UNNI KK : Aneurysmal bone cyst. A clinicopathologic study of 238 cases. Cancer 69 :2921-31, 1992. FECHNER RE, MILLS SE: Non-neoplastic lesions mimic neoplasm . In Tumors of the bons and joints . Atlas of tumor pathology. Washington, DC, Armed Forces lnstitute of Pathology, 1993, pp 253-77. GRANATO L, PROSPERO JD , LOUREIRO JT: Cisto ósseo aneurismático do osso maxilar. Rev Bras Otorrinolaringol47:7-17, 1981 . JAFFE HL, LICHTENSTEIN L: Solitary unicameral bone cyst with emphasis on lhe roentgen picture, the pathological appearance and the pathogenesis. Arch Surg 44:1004-25, 1942. KEUSKAMP PA, HOROUPIAN DS, FEIN JM : Aneurysmal bone cyst of the temporal bone presenting as a spontaneous intracerebral hemorrhage: case repor!. Neurosurgery 7:166-70, 1980. KRANSDORF MJ, SWEET DE: Aneurysmal bone cyst: concept, controversy, clinicai presentation and imaging. Am J Roentgenol 63:1-8, 1995. KUMAR R, MUKHERJEE KK: Aneurysmal bone cysts of lhe skull : repor! of three cases. Br J Neurosurg 13 :824, 1999. LICHTENSTEIN L: Aneurysmal bone cyst: pathologic entity commonly mistaken for giant-cell tumor and occasionally for hemangioma and osteogenic sarcoma . Cancer 3:279-84 , 1950. ODCKU EL, MAINWARIN AR: Unusual aneurysmal bone cyst, a case repor!. J Neurosurg 22:172-6 , 1975. PAIGE ML, CHIU YT, CHRIST M: Aneurysmal bone cyst of the temporal bone. Neuroradiology 18:161-4, 1979. PEREIRA CU, SOUZA PRM, GODINHO AS , LEÃO JDBC : Tumores benignos e lesões pseudotumorais do crânio . Aspectos clínicos e radiológicos . Arq Bras Neurocir 20:94-100, 2001. PEREIRA CU, BARBOSA CSP, MELO RS : Cisto ósseo aneursimático. In Defino HLA, Pereira CU, Barbosa CSP (eds): Tumores benignos e lesões pseudotumorais da coluna vertebral. Rio de Janeiro, Revinter, 2002, pp 6773 . RONNER HJ, JONES IS : Aneurysmal bone cyst of the orbit: a review. Ann Opthalmol15:626-9, 1983. SCHAJOWICZ F: Tumors and tumorlike lesions of bone. Pathology, radiology and treatment. Berlin-Heidelberg, Springer Verlag, 1994, pp 505-612. SCHONAUER C, TESSITORE E, SCHONAUER M: Aneurysmal bone cyst of the frontal bone in a soccer player. Acta Neurochir (Wien) 142:1165-6, 2000. SCHWAMM HA, MILLWARD CL: Hysthologic Differential Diagnosis of Skeletal Lesions. New York/Tokyo, lgakuShon, 1995, pp 82-96 . SHEIKH BY: Cranial aneurysmal bone cyst "with special emphasis on endovascular management" . Acta Neurochir (Wien) 141 :601-11 , 1999. Cisto ósseo aneurismático - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 36 Pereira CU e cols. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arq Bras Neurocir 23{3): 134-1 3 7. 2004 24. 25. 26. 27. TILLMAN BP, DAHLIN DC, LIPSCOMB PR, STEWART JR: Aneurysmal bone cyst: an analysis of ninety-five cases . Mayo Clin Proc 43 :478-95, 1968. TRACI G, GIORDANO R, FlORE D, PIZZI G, GEROSA LT, GEROSA M: Exopthalmos from aneurysmal bone cyst of lhe orbital roof . Childs Brain 6:206-17, 1980. VIGORITA VJ: Orthopaedic Pathology. Philadelphia, Lippincot Williams & Wilkins, 1999, pp . 253-74. WOJNO KJ, McCARTHY EF: Fibro-osseous lesions of face and skull with aneurysmal bone cyst formation . Skeletal Radiol23 :15-8, 1994. Original recebido em dezembro de 2003 Aceito para publicação em junho de 2004 Endereço para correspondência: Carlos Umberto Pereira Av. Augusto Maynard, 2451404 CEP 49015-380- Aracaju, SE E-mai/: [email protected] Ci sto ósseo aneurismático - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 137 Perei ra CU e cols.
Download