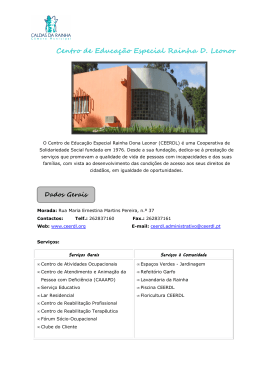Em 1894 a coroa portuguesa debatia-se com um crescente descontentamento social e uma crise política que já levara à queda de diversos governos desde o Ultimato britânico, quatro anos antes, quando Londres obrigara Lisboa a retirar as suas forças do território que ia de Angola a Moçambique. Tratava-se duma extensa região, pintada a cor-de-rosa no mapa africano e reclamada por Portugal a partir da Conferência de Berlim, organizada pela Alemanha por sugestão do governo português, e que, decorrendo entre Novembro de 1884 e o mesmo mês do ano seguinte, ditou a partilha de África pelos países europeus participantes. Contudo, as potências europeias com ambições territoriais em África sabiam das dificuldades portuguesas para estabelecer praças fortes nas zonas mais interiores e menos acessíveis do continente africano. E, perante a incapacidade de resistir militarmente, o governo português assinara o Tratado de Londres que doravante definia os limites territoriais das duas colónias. Esta cedência, aliada a uma percepção popular de que as afinidades da família real portuguesa com a coroa britânica eram demasiado estreitas e prejudiciais para os interesses nacionais, abriu caminho a uma crise política, a qual seria incentivada e explorada pela oposição republicana, culminando com a queda da monarquia constitucional em 1910. 11 A TEMPESTADE I A corveta de três mastros adornou assustadoramente para bombordo com a força do vento a enfunar as velas. Em seguida mergulhou a pique, como que deslizando por uma rampa com a proa apontada à vaga que crescia à sua frente, e atravessou a parede de água, quebrando-a num choque violento e tornando a erguer-se enquanto uma enorme massa de água galgava a proa, correndo pelo convés com uma força imparável e voltando a escoar-se para o mar pelos embornais. Era um navio sólido, a corveta mista Afonso de Albuquerque, de sessenta e dois metros, e chegava a fazer 13,3 nós, velocidade que estava longe de conseguir atingir naquela tarde de mar encapelado e ventos furiosos. Tinha largado do porto de Lisboa havia quatro dias, sempre com mau tempo. O seu destino era Luanda, onde, por ordem do Comando da Divisão Naval, iria reforçar a frota nacional naquele território africano. Ao quarto dia a tempestade ganhou maior ímpeto. O duelo desigual da Afonso de Albuquerque com as forças da natureza prolongou-se desde as primeiras horas da madrugada até ao entardecer. O baloiçar impiedoso do navio já fizera os seus estragos entre os passageiros menos habituados ao alvoroço dos estômagos massacrados. Contudo, ao cair da noite, a ondulação foi misericordiosamente acalmando, o vento amainou e o tecto de nuvens baixas e negras rompeu-se para dar lugar a uma lua cheia deslumbrante que espelhou o seu brilho prateado na superfície do oceano Atlântico. Parecia milagre, eram os meados de Março, os derradeiros dias do Inverno no hemisfério norte, e o clima tempestuoso ainda não poupara o navio, particularmente nestas últimas horas. Debruçado sobre o mar, com os cotovelos apoiados na amurada, o tenente Carlos Montanha aproveitou aquela trégua improvável dos elementos para gozar um pouco o ar puro da noite e fumar, enquanto se espantava com a beleza da paisagem: uma imensidão de água surpre15 endentemente apaziguada e de aspecto inofensivo que havia apenas umas escassas horas se enfurecia, agigantando-se em vagas sucessivas, de vários metros, que pareciam querer engolir a corveta. Agora o mesmo oceano, há pouco indomável, transformara-se num mar chão iluminado por um luar de cortar a respiração. Por um instante, Carlos Montanha sentiu-se desconcertado com os caprichos meteorológicos. Levantou a cabeça e deitou para o ar húmido da noite o fumo do cigarro, esvaziando os pulmões com um suspiro. Mas a sua mente estava ocupada com outros pensamentos mais longínquos. A corveta navegava ao largo da costa ocidental de África, tendo passado as Canárias, e o tenente do exército português tentava imaginar como seria o seu futuro próximo, consciente de que ia a caminho da maior aventura da sua vida. Uma sombra silenciosa deslizou no convés e aproximou-se por detrás do tenente, levando-o por reflexo a girar nos calcanhares das botas regulares que usava com o uniforme caqui de campanha. Todavia, antes de conseguir ver alguém, ouviu uma voz de mulher. — Boa noite, tenente. — Boa noite — retribuiu o cumprimento, surpreendido. A mulher estendeu-lhe uma mão pequenina, frágil, enluvada. — Ainda não tivemos ocasião de nos apresentarmos — disse. — Muito prazer, tenente… — …Carlos Montanha, eu sei. — Sorriu, satisfeita por voltar a surpreendê-lo. Carlos sorriu também, fazendo que sim com a cabeça. O seu lábio superior mal se adivinhava por baixo do farto bigode de pontas aristocráticas. Em contrapartida, ela reparou que os seus dentes brancos formavam uma linha perfeita, proporcionando-lhe um sorriso bonito, e decidiu de imediato que era um homem atraente, possante, habituado com toda a certeza a uma vida saudável, plena de exercício. Muito diferente da maioria dos homens de sociedade que ela conhecia, em geral uns emproados de maneiras afectadas. Mas não fez qualquer comentário impróprio, evidentemente, nem sequer deixou transparecer os seus pensamentos. — Leonor de Carvalho — apresentou-se ela. — Filha do coronel Henrique Loureiro de Carvalho, eu sei. — Foi a vez de ele mostrar que também sabia quem ela era. — É um mundo pequeno. — É um barco pequeno — comentou Leonor. O tenente virou a cabeça para a esquerda e depois para a direita, tirando as medidas da popa à proa com uma expressão teatral. 16 — Minha cara menina — corrigiu-a —, não é um barco, é um navio, uma corveta, para ser mais exacto, e se o comandante a ouvir falar assim do seu vaso de guerra vai ficar escandalizado, e triste. Leonor inclinou a cabeça de lado, divertida. — Então, o melhor é não lhe dizermos nada. — Também acho — concordou Carlos, a rir-se. Leonor apontou para o pequeno charuto que ele segurava firmemente entre os dedos, como se fosse um taco de bilhar. — Incomoda-a o fumo? — Não, pelo contrário, adoro. Estava mesmo a pensar se o tenente seria capaz de me oferecer um e guardar segredo. Carlos fitou-a, atónito, de olhos arregalados, procurando descobrir na expressão dela se falava a sério ou se se entretinha a provocá-lo. Leonor mordeu o labiozinho inferior. — Se a minha mãe soubesse, dava-lhe um chilique. — E onde está a senhora sua mãe? — Acamada, no camarote, enjoada como uma pescada, coitadinha. Desde que largámos de Lisboa, ainda não disse uma palavra. Só vomitou. Carlos achou graça ao modo como ela disse aquilo, imaginando logo o martírio da mamã, patética na sua desgraça, naufragada numa açorda malcheirosa. Mas sem saber se devia, não se riu, receando melindrá-la com alguma impertinência. Era a mãe dela, mas, mais importante ainda, era a mulher do coronel. Seria bom que não se esquecesse disso, ponderou, de cenho fechado, por momentos distraído dela, concentrado no esforço para não soltar uma gargalhada bem sonora que talvez estragasse a noite. — Tenente?... — Hum?... Sim, claro, tem sido uma viagem bastante violenta. Um exagero, um exagero… — E a minha irmã está na mesma — disse ela, fatalista. — Imagine, eu feita enfermeira, a correr de um camarote para o outro a esvaziar bacios. Um horror. — Acenou com a mão à frente da cara, como se quisesse apagar da memória o calvário dos últimos dias. — E a menina, não enjoa? — Meu caro tenente, é preciso muito mais do que uns abanicos para me deitar abaixo. Carlos soltou a gargalhada que tinha entalada na garganta, aliviado por ela ter dito qualquer coisa vagamente espirituosa que lhe permitiu rir-se da figura da mãe, ainda presente na sua imaginação. Uma imagem bastante ridícula, por sinal. — Não se ria — protestou ela, bem disposta. — É verdade! 17 — Acredito, acredito… Fez-se um silêncio. Ele prendeu entre os lábios o charuto em risco de se apagar e puxou-o várias vezes, desaparecendo momentaneamente numa nuvem de fumo. — Vai continuar a fazer-me inveja com esse charuto? — Não, não… — Apressou-se a tirar de um dos quatro bolsos do dólman um porta-charutos de couro. Com um cortador redondo, arrancou a ponta a um deles e ajudou-a a acendê-lo. Quando riscou o fósforo e o aproximou do charuto, o rosto de Leonor iluminou-se e Carlos pensou que nunca não estivera tão perto dela. Colocou a mão em forma de concha para proteger do vento a chama bruxuleante. Leonor fez o mesmo, chegando-se à frente. As suas mãos tocaram-se. Ele inclinou-se. Ela dava-lhe pelos ombros. Tinha uma figura esguia enganadoramente frágil e um rosto cândido que talvez não correspondesse ao espírito rebelde que parecia marcar o seu carácter. O cabelo claro como âmbar dava-lhe uma graça única, de cortar a respiração, literalmente, pensou Carlos ao aperceber-se de que susteve o ar enquanto lhe acendia o charuto, mais concentrado nos seus caracóis naturais caídos por cima das orelhas enfeitadas com brincos compridos de ouro fino. Os olhos eram castanho-claros, vivos, o narizinho perfeito, os lábios carnudos, sensuais. Apesar do cheiro adocicado da fumarada, ainda teve o grato prazer de sentir um aroma de perfume fresco exalado da sua pele branca e macia, bem cuidada. Leonor fumou o charuto sem nenhum constrangimento. Não o fazia com o intuito de quebrar uma qualquer convenção, pois via-se que apreciava genuinamente o ritual do fumo. Encostaram-se à amurada, ombro com ombro e olhos postos no mar. Sentia-se a humidade na atmosfera aguada. Estava frio, mas nada que não se pudesse suportar. — Então tenente, preparado para a grande aventura africana? — Sem dúvida. — O que o levou a escolher Angola? — Hoje em dia, Lisboa está uma confusão, uma intriga pegada, muita política. Angola é mais simples, mais apropriado a um militar. — Concordo consigo — disse ela, abanando a cabeça. Deixou escapar o fumo sem o engolir e observou o charuto preso na ponta dos dedos. — Mas não é a minha primeira vez em Luanda. Eu vivo lá faz dois anos. Só fui a Lisboa, porque precisava de tratar de alguns assuntos pessoais, e para matar saudades. Apenas o tempo suficiente para querer fugir da pasmaceira e regressar à vida activa. 18 — Ah, bom… não tinha percebido. E onde está colocado? — Na secretaria da Capitania dos Portos da Província de Angola. Quer dizer, tenho prestado serviço na Capitania, mas agora fui colocado em Malange. É para lá que vou. — Uma nova missão, mais difícil, talvez? Carlos encolheu os ombros. — Fui eu que solicitei a transferência. Quero experimentar a vida do sertão. Sou um soldado e, para lhe falar com franqueza, estou farto de burocracia. Luanda é muito agradável, mas não tem acção, uma pessoa morre de tédio. — Não me diga isso, que eu vou para lá. — Para si é diferente. — Por ser mulher, suponho? — Naturalmente. Leonor pôs-se séria e soltou uma fumarada exasperada, como se estivesse a ferver por dentro. — Não me interprete mal — apressou-se Carlos a acrescentar, detectando-lhe o desagrado —, não estou a dizer que as mulheres têm menos valor. — Quer parecer-me que o tenente é daqueles que pensam que o lugar das mulheres é em casa e não podem ter uma vida activa, serem úteis à sociedade. — De maneira nenhuma, a sociedade seria um caos sem a inestimável capacidade feminina para evitar que os homens descarrilem. Apenas digo que cada um tem o seu papel. As mulheres são demasiado preciosas para serem expostas aos perigos da guerra e à selvajaria dos povos que se opõem ao avanço da civilização cristã. Eu, pelo contrário, sou um soldado e o meu destino é correr riscos e dar a vida pela pátria, se tal for necessário. — Não concordo nada com isso. A vida de uma mulher não é mais preciosa do que a de um homem. — Talvez, mas cada um é para aquilo que nasceu. — Pois sim, não vou ao exagero de dizer que o exército devia recrutar mulheres, mas insisto que todas as vidas são preciosas por igual. — Certamente, certamente… — aquiesceu Carlos, apaziguador. Despediram-se com amabilidades formais, usando as mesuras próprias de um conhecimento acabado de travar. Embora fosse homem de linhagem decente e pudesse orgulhar-se da educação superior recebida do seu pai, um general de brigada do exército real, e da sua mãe, irmã do primeiro conde de Mahém, e fosse também descendente dos condes dos Arcos, o tenente Carlos Montanha sentia-se inibido no ter19 ritório feminino. Faltava-lhe a prática, não se ajeitava com as subtilezas do espírito fino do sexo fraco, perdia a paciência para cortejar e afastava-se. Tivera os seus casos, é claro, mas tinham sido sempre amores furtivos e inconfessáveis com mulheres sem importância, mulheres que não eram ninguém, que não mereceriam a aprovação de uma certa sociedade demasiado presunçosa e ciosa da sua pretensa superioridade de carácter para transigir sem preconceitos com gentinha de outro meio. Não obstante, Carlos nunca se detivera por causa da sua condição social. Importava-se com a honra, isso sim, e não deixaria que fosse posta em causa por via da má-língua das almas mesquinhas que frequentavam os salões nobres do reino. Por isso, mantinha-se discreto quando tinha de ser, e era tudo. A vida de quartel, iniciada nas campanhas coloniais de Moçambique com apenas dezasseis anos, tornara-o um homem duro, habituado a concentrar todas as suas energias na tarefa de sobreviver. Ao contrário do que ele imaginava serem as relações habituais de Leonor, Carlos nunca tivera nem disponibilidade nem vocação para levar a existência glamorosa e inútil da alta sociedade lisboeta. As temporadas do S. Carlos não eram para ele. Como costumava dizer com uma vaidade amplamente justificada pelos muitos actos de bravura que ostentava no seu currículo, o único teatro que frequentava era o teatro de guerra. Talvez por ser um homem de paixões, arrebatado, incapaz de se confinar às fronteiras dos homens comuns, irrequieto e sempre pronto a partir, desejoso de conquistar novos mundos, talvez por isso, tenha apreciado tanto a companhia de Leonor. Ela pareceu-lhe um espírito livre, indiferente às convenções, o que se lhe afigurava ainda mais notável pelo facto de ser filha de um oficial do exército. Aparentemente, o rigor militar que norteava o coronel não produzira uma filha dócil e conservadora. Com efeito, a relação de Leonor com o pai nunca fora fácil. Ela insurgia-se contra as regras em excesso, não se deixava domar, nunca deixara, desde criança; e ele tinha dificuldade em compreender a propensão da filha para lhe desobedecer. Sendo um militar obcecado pela disciplina, acostumado a mandar sem ser contrariado, o coronel convivia mal com rebeldias. Pensava que Leonor tinha gosto em desafiá-lo, quando, na realidade, ela só fazia questão de preservar o seu espaço. Achava-se no direito de tomar as suas próprias decisões e, especialmente agora que já completara os vinte anos e era uma mulher adulta, não precisava de que o pai lhe controlasse todos os passos. Dizia que não estava na tropa para andar a toque de marcha. Em contrapartida, o pai irritava-se com o espírito difícil da filha, mas, lá bem no fundo, admirava a sua força de carácter e tinha um fraquinho por ela que o levava a transigir com os seus caprichos mais vezes do que era capaz de admitir. 20 Leonor ansiava por uma vida nova em Luanda, de onde o pai, há quase um ano colocado no palácio do Governador-Geral, finalmente mandara vir a família. Ela sentia uma excitação enorme, motivada pela expectativa de ir encontrar ali uma sociedade mais aberta e todo um mundo ainda por desbravar. Neste capítulo o destino reservava-lhe grandes surpresas, e Leonor teria a oportunidade de descobrir no fundo da sua alma uma coragem de que nem ela suspeitava ser dona. 21 II Carlos deu com ela pela manhã, no convés, por baixo da mezena. Leonor andava por ali, de braço dado com a mãe, a passarinhar pela popa. — Bom dia, tenente — cumprimentou-o, deslumbrante com o seu sorriso genuíno, sugerindo uma intimidade que levou a mãe a esticar o pescoço para trás para a observar de esguelha, admirada com a familiaridade. Dona Maria Luísa Loureiro de Carvalho era uma mulher de estatura média, possante, de quadril avantajado e, a adivinhar pelo tom afarinhado do rosto pálido, já conhecera melhores dias. Carlos achou-a distante, com uma expressão severa de maus fígados. Ou talvez fosse apenas a provação do enjoo que a trazia particularmente amarga. Não sabia dizer, não a conhecia. Em todo o caso, naquela manhã, definitivamente, não estava para graças. — Tenente?... — resmungou. — Carlos Montanha, minha senhora, às suas ordens — apresentou-se, com um bater de calcanhares firme e aprumado. Segurou-lhe a ponta dos dedos enluvados e dobrou-se pela cintura num beija-mão respeitoso, muito formal, muito militarão, um encosto de luva à face perfeitamente barbeada, de propósito para deixar uma boa impressão. Ela retirou a mão lentamente, desconfiada, e virou-se para a filha. — Não nos conhecemos, pois não? — perguntou. — Não, mãezinha. A senhora tem estado tão mal disposta que não teve oportunidade de conhecer ninguém a bordo. — Lá isso é verdade. — Arrepiou-se toda, fazendo uma careta sofrida. — Que horror! — O tenente Montanha teve a bondade de me fazer um pouco de companhia ontem à noite, depois da borrasca. — Foi um gosto, foi um gosto — disse ele, pondo as mãos atrás das costas e rodando nos calcanhares para as acompanhar. 22 Uma menina dos seus dez, onze anos correu pelo convés e alcançou-os numa questão de segundos. — Isso são maneiras, Luísa? — repreendeu-a a mãe. Leonor abraçou-a. — A minha maninha está muito bem disposta esta manhã! — Pois estou — disse a menina. — Felizmente. Já não era sem tempo. — Cumprimente o senhor tenente — ordenou a mãe. Ao que ela fez uma vénia teatral, dobrando os joelhos e cruzando as pernas fininhas, ao mesmo tempo que levantava ligeiramente a saia com os dedos em pinças, como uma bailarina a fingir. Carlos afivelou um ar sério, mas a brincar. — Como está a menina? — Muito melhor! Usava uma camisa de algodão com gola de marujo, por baixo de um nobre casaco comprido, azul-claro, e meias até ao joelho, com uns sapatinhos pretos envernizados, a brilhar. Pareceu-lhe uma criança feliz. — O tenente não enjoa — informou Leonor, demonstrando que sabia coisas dele, o que provocou um tremor de olhos na mãe. — Sou como a Leonor — acrescentou ele, levando a senhora a engasgar-se em seco. Leonor deu-lhe umas palmadinhas nas costas para a ajudar com a tosse. — Vamos andando — disse a mãe — que está a ficar fresco. Ao jantar o comandante convidou a mulher do coronel e as filhas para a sua mesa. O tenente mereceu a mesma honra, bem como os restantes oficiais da tripulação. Elas eram as únicas civis a bordo e só agora, desde o início da viagem, se sentiam capazes para tomar uma refeição. De qualquer modo, nos dias anteriores o navio balouçara tanto que se tornara impraticável jantar com pratos, pois teria sido impossível manter a loiça quieta em cima da mesa. O compartimento acanhado e espartano não oferecia grandes luxos. Era um navio de guerra, construído para ser funcional e destituído de comodidades desnecessárias. A família do coronel ia à boleia, uma gentileza da marinha que lhe permitia poupar alguns contos de réis. Carlos ficou à esquerda de Leonor — uma sorte, pensou —, mas sob o olhar atento da mãe, que se sentou à frente dela e que, nessa altura já lembrava ao tenente uma ave de rapina com o seu nariz adunco e os seus olhos saltitantes, sempre vigilantes, protectores. — Constou-me que vai para Malange fazer história, tenente — afirmou o comandante, alimentando a conversa na pausa entre a sopa e o resto. 23 — É exacto, senhor comandante, vou para Malange, mas quanto a fazer história, já me parece um pouco exagerado. — A sua fama precede-o. — Ah, sim? — animou-se Leonor, que não o sabia um herói consumado. — Não ligue, Leonor, o senhor comandante não está a falar a sério. Mas Leonor observou-o com cuidado e tudo nele lhe dizia que, quer o comandante falasse a sério, quer não, Carlos tinha mesmo queda para herói. — Não está? — perguntou. — Não, é claro que não — repetiu ele, modesto. Ela conformou-se com a certeza de que costumava ser boa a avaliar carácteres e de que raramente se enganava a respeito das pessoas. — O exército tem uma tremenda responsabilidade no interior de Angola — comentou o comandante. O tenente abanou a cabeça, dizendo que sim, lentamente, gravemente. — Ainda há tanto para fazer — disse — e todos os efectivos são poucos para um território tão vasto. — Se ao menos confiassem nas pessoas — deixou escapar Maria Luísa. — Mas não, querem governar as províncias a partir de Lisboa. — Depois do que o outro disse — comentou Leonor com desprezo —, que não queria que nenhum ministro do seu governo, para além dele, se desse ao incómodo de pensar, está tudo dito. — Foi uma frase infeliz do senhor Dias Ferreira, realmente — concordou o comandante, referindo-se ao ex-presidente do conselho de ministros. — Mas há que reconhecer que fez um bom trabalho e, de qualquer forma, agora temos outro governo, que quer solidificar o império. — São todos iguais — insistiu Leonor. — Falta-nos capacidade militar e meios humanos para estabelecer linhas de penetração e concretizar a ocupação das províncias — opinou Carlos, voltando à questão do exército. — De repente — continuou Leonor —, o império colonial é a coisa mais importante deste país. Mas, se não fossem os ingleses, continuávamos a não ligar nenhuma às províncias. — Talvez, talvez — concedeu o comandante —, mas, pelo menos, o ultimato britânico serviu para acordar a pátria e agitar as consciências adormecidas. Já perdemos uma parte do território, não vamos perder nem mais um bocadinho. — Cá para mim — replicou Leonor —, as províncias só têm servido para sangrar as finanças públicas. 24 Este último comentário tão pouco nacionalista deixou o comandante bastante irritado, a remexer-se na cadeira, fazendo-se distraído com a travessa que o criado de bordo lhe apresentou e servindo-se em silêncio para não prolongar o diálogo com aquela fedelha atrevida. A conversa começava a incomodá-lo, e Carlos, divertido, pensou com os seus botões que o homem só não mandava pendurar imediatamente Leonor pelo pescoço no mastro grande por se tratar de uma mulher, civil e filha do coronel. Contudo, a mãe reparou igualmente na azia que as opiniões dela provocavam no altivo comandante e apressou-se a acabar com aquilo. — Leonor, filha — disse, fazendo uma careta de repugnância —, que assuntos tão feios para uma menina ocupar a cabecinha. — Sem dúvida, senhora dona Maria Luísa, sem dúvida — aproveitou o comandante. Os olhos de Leonor faiscaram. Odiava que a diminuíssem só por ser mulher. Não conseguia compreender a passividade das mulheres, e até a colaboração da maioria delas, perante uma mentalidade social que as remetia para um papel secundário, como se fossem umas idiotas sem ideias próprias e cujas opiniões devessem ser desprezadas. O pai, se estivesse ali, teria achado que as provocações dela só pretendiam deixá-lo mal visto perante o comandante. Mas o coronel não estava ali e Leonor sentia, realmente, um genuíno prazer em afrontar a sobranceria intelectual masculina. Tinha génio, a filha do coronel, e daí os permanentes choques de personalidade entre ambos. Fez-se um silêncio pesado, quebrado apenas pelo bater dos talheres nos pratos, o que acentuou ainda mais a tensão à mesa. O comandante decidiu ser benevolente e pacificar o ambiente com um brinde. — Pelo menos — disse, levantando o copo —, penso que estaremos todos de acordo em brindar ao senhor D. Carlos. Fez-se o brinde ao rei, e o jantar continuou sem outros percalços, entretendo-se os comensais com assuntos mais mundanos e triviais. À sobremesa, Leonor aproveitou uma distracção da mãe e inclinou-se discretamente para dizer um segredo a Carlos. — Fazemos o nosso passeio nocturno mais logo? — Com todo o gosto — conseguiu o tenente responder, esforçando-se para não se engasgar com o pudim. Leonor baixou os olhos para o prato, a sorrir, radiante com o efeito das suas palavras. Não menos feliz, embora espantado com a audácia dela, Carlos decidiu que nunca conhecera uma mulher tão extraordinária como Leonor. 25
Baixar