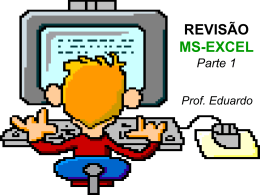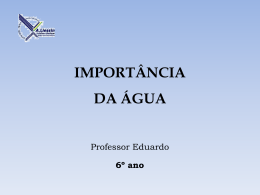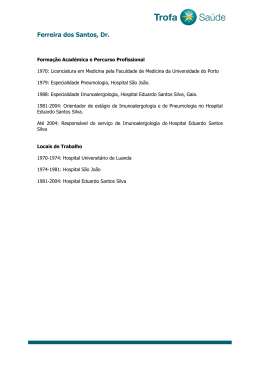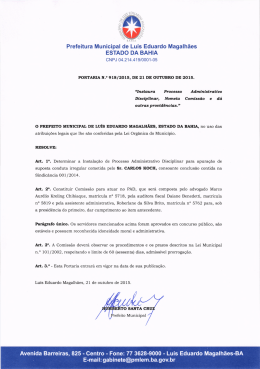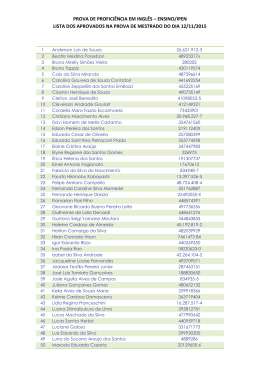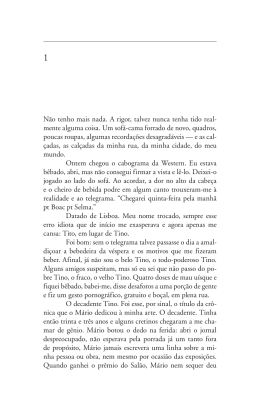© As joias do abismo, Floriano Martins, 2010, 2013 © Fotografias, Floriano Martins, 2012 © ARC Edições, 2013 Abraxas | Biblioteca Virtual Floriano Martins, XIX Caixa Postal 52817 - Ag. Aldeota | Fortaleza CE 60150-970 BRASIL [email protected] | [email protected] | [email protected] AS JOIAS DO ABISMO 2010 I. EPÍLOGO Selma abria um sorriso luminoso na foto. Desses que juramos guardar por toda a vida. Selma era a mulher perfeita para durar a vida inteira. O infinito conhecia seus caprichos. Já não recordo onde encontrei a foto, porém sei que o sorriso ali permanecia. As fotos habitam sítios por vezes incompreensíveis, metem-se em lugarejos da casa que jamais habitamos. Selma era quem melhor conhecia a casa. Ríamos das vezes em que eu não a encontrava em nossos jogos. Fincava a roupa no sorriso. Bordava um labirinto no olhar. Soletrava o espinhaço do abismo em meu rosto. Selma era um delírio incomum. A casa não ia a parte alguma sem ela. II. TRÊS ANOS DEPOIS Por um instante as cenas voltaram a se repetir. Pequenos rasgos na banheira delatavam o que ainda havia na memória. Tua nudez em pedra branca já não era de todo visível, o corpo lido apenas em fragmentos. Um último beijo reteve-se em meus lábios até poucos dias. Sem lugar para ficar, aos poucos nossas lembranças vão se ausentando. O imprevisível refaz o mundo com que sonhamos. E antes que aprendamos o nome de cada coisa, volta a refazê-lo. Não importa a vontade de Deus ou que eu te ame um pouco mais. Nada se demora em seu lugar. Ainda que eu te mate. Não permanecerás comigo sequer na memória. Não há nada mais sombrio que o tempo. [Dentro dele a tua morte sussurra meu nome.] Os últimos recortes da banheira eram quase indescritíveis. A dor não se reconhecia. Nenhum de nós sabia o que estava ali fazendo. Fui refazendo aos poucos meu esquecimento. Já não sei quem és. III. ANTES QUE FOSSE ESCRITO O meu corpo inteiro me dizia que não ficasse em casa. Uma frase assim, apanhada como um enigma retorcendo a manhã pode, quando menos, saturar o dia. Doía-me o corpo todo insistindo no assombro. Onde iria afinal, sem motivo algum para sair de casa? Tropeçava em contas do inexplicável ao sentir um risco na espinha. O gosto do sangue antecede o teatro de sua floração. Quando ouvi meus gritos, Eduardo já me havia desfigurado parte do corpo. Meu desespero duvidava que fosse eu mesma. Uma aflita palavra se repetia, sem mais nenhuma influência. De uma maneira ou de outra, a morte sempre nos surpreende. Que a minha se chamasse Eduardo era algo que eu simplesmente não podia entender. O que falta ao mundo nem sempre é aquilo que se supõe uma necessidade. Amei Eduardo mesmo enquanto o via rasgando-me a carne. Mesmo morta. Nem sei ao certo se o deixei de amar. Não houve tempo para isto. Desta vez, a morte é que foi surpreendida. IV. O ILUSIONISTA Despeço-me da natureza humana. Confundem-se corpo e alma em seus últimos espasmos. Mesclam-se as raízes do que fomos e de todo um mundo impossível. Quando me tocas já não estou. Em um vislumbre, escapas de meu ser. Um jorro de abismos se expõe em minha nudez. Tenho a pele supliciada. Uma ribanceira de êxtase ampliada em sítios ermos. Para que me cobices onde nem mesmo a memória alcance. E para que argumentes que eu te moldei como uma vítima secreta. Agora já sabes como pude mover-me de um extremo a outro de tua ilusão. A paisagem pressentida sempre esteve ali, como uma visão despida de toda crença. V. O ELEMENTO SURPRESA O tempo tropeça em sua própria rotina. Eduardo refaz o percurso de suas sombras. Em vão, tenta regressar ao que um dia imaginou ser. A cada nova página de seus anseios repete-se unicamente o corpo sem vida de Selma. Pensa em roubá-lo de sua memória. Afundá-lo em um lago que em seguida esconderia de si mesmo. Na medida em que busca uma solução para livrar-se daquele cadáver, seus planos vão sendo escritos na pele feminina. O corpo se enche de frases que são como um livro secreto de últimos recursos. Receituário de truques espantosos que ressoam como um fosso de incriminações. Um rio suspenso que lhe atormenta os passos. A dor multiplicada e amontoada como a ruína do que não soube evitar. Eduardo avança as páginas do tempo implorando por um naco de instabilidade. Um elemento surpresa. Uma chuva que chegasse a confundir as evidências. Contudo, não chove. Selma está irremediavelmente morta. E seu corpo agora é o que Eduardo mais teme. VI. DEVOÇÃO Teu corpo é feito de lábios. Onde quer que eu te beije, renasço. Um secreto plantio de cores, penugens, revoadas através das estações. Acalanto de senhas, dos pés à nuca. O que sei de ti é o que encontro a cada caminhada por teu corpo. À noite admiro teus limites, como me preenchem. Adormeço entre luzes flutuantes, renomeando os arcanos do fogo em tua pele. Assim te amo. O dia aprende a ler as migrações de teu desejo. Estranhas formas que mudam de olhar enquanto as alimentas. Eu sei como te fazes assim. Como pousas no horizonte de meu ser, com tudo o que vai ficando pelo caminho. Sem que me chames. Tudo em mim sabe onde te encontrar. Meus lábios são a fábula de teu corpo. VII. NUNCA ESTIVE PRONTO A dor não atende por seu nome. Procurei por tua sombra pela casa inteira. O corpo ali estático envolto em um novo dilema. Pasto de horas movediças. Debato-me por entre cômodos, reviro utensílios, arranco o assoalho. Não há traços de tua sombra. A tua morte foi um mau pressentimento. Encaro meus erros todos reunidos à volta de teu corpo. Pressiona-me a desconfiança de que a sombra permanecerá oculta. Desfaço-te de roupas, hábitos, lembranças. Desprendo a mobília do olhar. Emudeço lâmpadas, torneiras, janelas. Ponho a casa toda a procurar por ela. Assusta-me não saber onde encontrá-la. Desespero a mudar os nomes da aflição. Esqueço o meu próprio nome e mesmo assim não te mostras. Não te vejo mais onde estás. Tento não respirar para amenizar a dor, porém a respiração não se desprende de mim, latejante como um castigo. Dói-me infinitamente o silêncio mortificante de tua sombra ausente. Não importa o que eu tenha aprendido. A dor não me atende mais por nome algum. VIII. ALGUNS MINUTOS ANTES O que vamos subtraindo ao tempo é nosso pânico ante a confidência. O medo de estar certo. Quando te insinuas e frequentas meu desejo, desmascaro a vigília e elimino suas pistas. Não me escutes. Não devemos estar aqui. O simples roçar de teus mamilos em meus lábios e o sítio nos parece outro. Lâminas atiradas de imagens que nos querem cada uma à sua maneira. O suor soletrando quimeras. A saliva espreitando novos mistérios. Meu corpo se inscreve no teu, com suas ranhuras, iscas, astúcias. Um pátio de enredos, desfrute de harmonias, tuas saliências escandalosas. Memória desforrada por toda omissão. Não me toques outra vez este fio incontido. Esvazia teu ser como uma ferida transitiva, o abismo interino de teu gozo. Não me retenhas. Se te falta uma sílaba, o espírito desfalece. Transpira sem queixas. Já não sei qual de nós tem a última palavra. Abre um novo erro em mim. IX. AS SOBRAS DO VAZIO A casa se agita entre o esgoto e a chaminé. Constrangida por dois enigmas a tarde se retorce, quase em desmaio. Eduardo não encontra mais o nome de Selma e passa a chamá-la por uma palavra que se esquece sempre que pronunciada. O relógio não perde as horas. A chuva não cai na rua. A louça na cozinha não vai ao chão. Nenhum ruído fora de lugar. Não chama atenção alguma o vulto sentado na poltrona da sala. Observa sem malícia a palidez de Eduardo. Sem que o perceba, vaga pela casa transpirando inquietude, como se procurasse a própria imagem consumida. Ao entrar na sala, confunde-a com o vulto imóvel. Imagina-se o outro sem saber mais de si. Ilude-se ante o fantasma de sua perda. Em vão apela para alguma destreza oculta, um artifício que lhe devolva os ossos do tempo, a máscara, um indulto que o faça suportar a memória. A ausência de espelhos no cômodo o desperta de sua demência. E junta-se a ela um argumento insepulto, o som legítimo e implacável que vem da cozinha, a faca com que mortificara Selma mergulhando da mesa ao chão. Aturdido pelo estrondo daquele utensílio, Eduardo finalmente compreende que jamais estará só. X. ESBOÇOS DE CENA Estivemos discutindo por alguns instantes, uma tensão injustificável se apoderava de nós. De um momento para outro, sem que me contivesse, lhe arremessei uma caneca, ele abaixou-se, enquanto gritava meu nome: Selma, Selma. Despertei como se de um transe, porém não ao ouvi-lo e sim graças ao som da caneca se partindo. Era uma caneca pesada, de louça, que me havia sido dada por uma amiga que a trouxera do Equador. O que me pareceu um absurdo é que no dia seguinte eu a encontrei na cristaleira, intacta, como se nada lhe tivesse ocorrido. Como poderia ter se quebrado e agora estar ali, novamente inteira? Naquela mesma noite, quando estávamos no quarto, nos preparávamos para dormir, ouvimos um estranho ruído vindo da cozinha, um estrondo que se repetia e nos dava a impressão de que toda a cozinha vinha abaixo, como se toda a louça estivesse se partindo. Corremos para lá, juntos. Quando chegamos já não havia um único som e toda a cozinha estava tomada por intrigante ordem. O que teria ocorrido ali? Quantos somos, afinal, sem que o percebamos? . XI. VERSÃO EM SILÊNCIO . O rosto de Selma como o de uma esfinge alheia ao próprio enigma. Na medida em que suprimo sua vida, a mesma se esvoaça à minha frente de maneira violenta. O sangue golpeia sua escrita delirante por toda a carne. Certas anotações são como truques, ilegíveis para mim. Quando a ponho na banheira, as pernas como que se multiplicam em convulsão. Em meio à agitação de seus verbos sanguíneos, eu a desembaraço do vestido aberto rasgado aflito como a pele cortada em apelos instáveis. O metal da faca vibra sua melodia impassível. É o único som que se escuta. Selma esbraveja silêncio a cada incisão. Seu corpo transborda espanto, porém o rosto preserva uma pavorosa ausência. Busco acertá-lo com a lâmina. Não alcanço um rasgo sequer no olhar despido de qualquer reação. Nem mesmo o sangue lhe atinge. O rosto de Selma impede que eu complete meu testemunho de sua morte. Em sua loucura posta à prova, o rosto não morre. Como um agravo, não morre. Eu não posso matá-la mais do que isto. XII. NA SOLEIRA DO ABISMO A memória do ocorrido parecia tão desfeita quanto o corpo de Selma. A casa ausentava-se do bairro, imersa em um matagal fechado. A noite revirando o interior do lugar. Ninguém esperava que Deus entrasse ali sozinho. Eduardo afagando os retalhos do corpo da amada. Alheio ao horror que ele próprio lapidara, fita o vazio como se pousasse alguma recordação feliz. Parecia quase sorrir em certo momento. E amparado em um semblante pueril tocava a intimidade dos restos de Selma. Queria ouvi-la gemendo e pedindo que não parasse. Sua mão, no entanto, retornava descontente daquele púbis marcado a sangue. Eduardo soluçava desamparado. A casa se abrindo a seus olhos como uma transparência frondosa. O mundo visível de sua danação. Da banheira podia distinguir o vulto que permanecia na poltrona, como se esperasse a hora de entrar em cena. Onde estaria a voz de Selma? Quem a teria levado para longe dela? Eduardo voltou a fitar o vazio, acariciando um mamilo quase de todo despregado do seio daquele corpo imóvel. XIII. UMA EPÍGRAFE Se eu vejo alguém matar outra pessoa, e matá-la de verdade, é um gesto terrível, dramático, mas que está isolado em seu próprio horror. Ao contrário, sabemos muito bem que a arte deve ser exemplar, como uma coisa que será a significação de outra. Eugène Ionesco (Diálogos com Claude Bonnefoy, 1970) XIV. NA SEMANA PASSADA Colávamos apelidos um no riso do outro. Corríamos pela casa buscando nomes distintos, termos engraçados, alguns de puro espalhafato. Eu o chamava de todas as tolices que pousavam em minha mente. Ele imitava minha voz, repetindo-me com entusiasmo. Infinitos batismos depois o meu cansaço me fazia sentar. Eduardo cheirava-me o regaço com um regozijo infantil. Punha-me uma escala acima na desordem de sua língua. Eu não escolhia os gritos, em seu deleite agudo. Tudo em nós era automático, com sua mina explosiva de mistérios. Mesmo quando me abria com exagero, curioso como se diante de um espelho, buscando algo de si em meu íntimo. Eu lhe pedia que evitasse a dor. Ele dizia conhecer o caminho. Desabotoava-me toda resistência. Por vezes guardava seus dedos em mim e mudava de excessos. Doía-me em tais casos. Eduardo arranhava meus gemidos. Em seu olhar incontido parecia não haver ninguém. Eu o queria de volta, antes que a dor se alastrasse. Deixei escapar seu nome com algumas lágrimas e vi, em seguida, como retornava ao olhar e às carícias insuspeitas. E voltava a improvisar apelidos em meu rosto. Nada em Eduardo fazia sentido prolongadamente. XV. CONVERSA COM O AUTOR Os móveis perambulavam pela casa. Alguns utensílios vasculhavam a memória de quinas, gavetas, esgotos. Cada movimento sugeria vínculos estreitos com a cena funesta. Como se a casa disfarçasse alguma conivência com o crime. Algo que antecipara o desatino de Eduardo. Algo que drenara a memória ao ponto de não haver resquício algum de motivos. Um bocado de gestos já quase de todo desfigurados. Selma reagira àqueles ataques com algum desalento. Como se a morte fosse parte de seu conflito. Morrer nas mãos de Eduardo, sem maior tumulto. Flutuar com ele em direção ao núcleo de sua alienação. Porém algo destoava na mecânica daquele plano. A casa parecia ocultar uma suspeita hesitação. A falsa opinião dos talheres, um desacerto na mobília, a doutrina gasta do encanamento. A súbita aparição de um princípio fora de lugar. A casa a sangrar como quem perde a noção de si mesmo. Selma e Eduardo como espectros assimilados por esse itinerário de destroços. A casa empalidecida ante o roteiro extraviado. Uma nódoa no suprimento de sinais. Em definitivo, algo dera errado. XVI. SELMA ENTRE NUVENS Despertei, a noite estendida por toda a cama. A meu lado, Eduardo no compasso sempre inquieto de seu sono. Sempre dormimos nus. Porém sua nudez era um mar revolto. A minha assemelhavase a um banho de nuvens. Tão calma estive sempre em meu recolhimento que, por vezes, me ausentava de mim sem que o percebesse. Uma noite me vi permanecida na cama ao regressar da cozinha. Vi-me ali deitada capinando sonhos. E toquei-me, recostada à porta, a conferir qual das duas eu era. Eduardo punha a mão a escorregar sobre minha barriga. Buscava uma umidade perdida em meu sono. Com que doçura me encontrava onde eu já não lhe correspondia de todo. Como se atiçasse um enxame de carinho, separava-me as pernas e se punha a penetrar-me. Aproximei-me com tudo o que sentia dentro e perto de mim. O espelho no quarto não me refletia sob o corpo de Eduardo. Quem éramos se tornou impossível saber. Quantas fui assim nas noites em que não tive sede? Quantas de mim eu vejo agora que não me reconhecem? Onde estou, afinal? Trato de acordar Eduardo, para que me diga o que sabe. XVII. NENHUMA CARTA ENCONTRADA Um vulto dedica-se a abordar os argumentos invisíveis da casa. Seu disfarce atrai sombras de todos os cômodos. Espelhos que se comunicam entre si como sílabas do vento renomeando janelas a noite inteira. O corpo de Selma viola a astúcia da beleza. Confunde labirintos ao descrever seus fragmentos. Eduardo alimenta-se de uma dor disforme que não lhe permite escapar de seus encargos. A chave está em círculos e curvas, os anéis que foi espalhando Selma por toda a casa, ocultados como provas invisíveis de que por ali havia passado. Ela o desejava com toda sua inocência nessas pistas sinuosas, com seu piano úmido assaltado pelo desejo. Ele a quis por outra ilegítima morada. O vulto seguia retocando os detalhes da cena. A casa deseja refazer-se de tudo, porém um corpo permanece impedindo seus truques. O corpo de Selma, com seu enigma retalhado. Ou o corpo de Eduardo, tropeçando em sua própria maldição. Ambos já não se superam. XVIII. UM DIA A MAIS A memória se encarrega de garantir que ainda estamos ali. Quando escurece procuro manter meu nome, ao menos até descobrir qual destino dar aos restos de Selma. A escuridão é muito suja e não sei bem como atravessá-la. Ocupo-me de suas pequenas vertigens, desastres ocasionais, ruídos rasgando os tímpanos da cena. A noite não pode estar assim apenas por descuido. Toda esta imundície que carregamos em nosso íntimo. Como arruinar tudo isto, fingindo alguma normalidade em nossas vidas?
Download