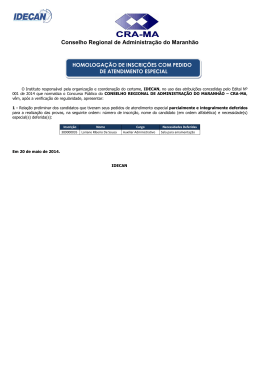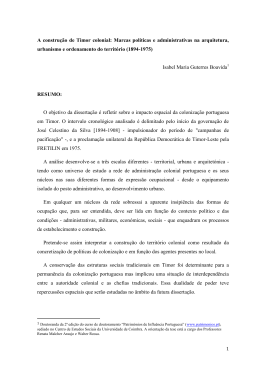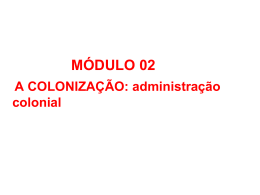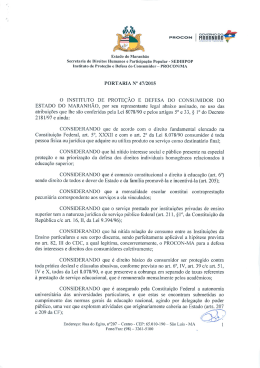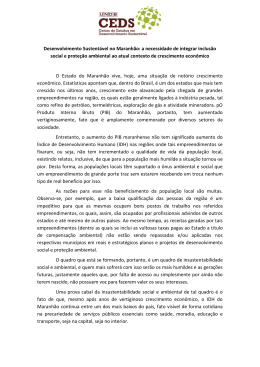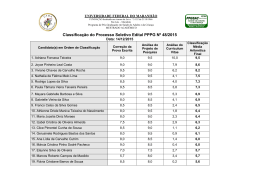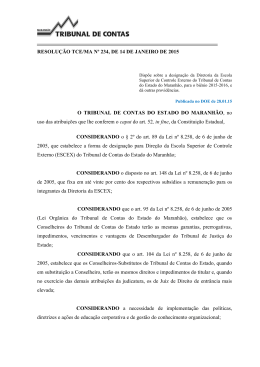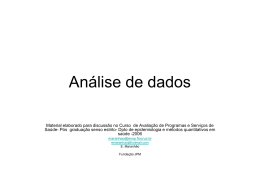Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Universidade Federal do Pará Belém, 15 a 18 de junho de 2015 A map of Terra Firma Peru, Amazoneland…, 1732 Volume 2 Colonização & mundo atlântico PPHIST/Universidade Federal do Pará PPGHIS/Universidade Federal do Maranhão PPGH/Universidade Federal do Amazonas ISBN 978-85-61586-85-0 Ficha Catalográfica Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos / Colonização e mundo atlântico. Rafael Chambouleyron (Org.). Belém: Editora Açaí, volume 2, 2015. p. 220 ISBN: 978-85-61586-85-0 1. História – Colonização. 2. Espaço – Mundo atlântico Território. 3. Colonização – América - Amazônia. 4. História. CDD. 23. Ed. 349.9976 Apresentação Apresentamos os Anais do II Seminário de História em Estudos Amazônicos, realizado em Belém, de 15 a 18 de junho de 2015. O primeiro Seminário foi realizado em São Luís, em 2013, fruto do esforço conjunto dos programas de pós-graduação em História da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Federal do Pará, aos quais se junta agora o da Universidade Federal do Amazonas. Neste ano, o SHEA congregou docentes e discentes das três instituições, resultando na apresentação de mais de cem trabalhos, aqui publicados, organizados em sete volumes, cada um referente a um Simpósio Temático. O objetivo é reforçar os laços entre as pós-graduações de instituições amazônicas, que historicamente, compartilham trajetórias comuns. Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Sumário NA CONQUISTA DA TERRA: DOAÇÕES DE SESMARIAS E OCUPAÇÃO NA REGIÃO DO RIO PERICUMà NO SÉCULO XVIII Alessandra Cristina Costa Monteiro ..........................................................................4 AMAZÔNIA NA GUERRA HISPANO-HOLANDESA. COMPARAÇÕES COM A GUERRA DO BRASIL. (1598-1655) Alírio Cardoso............................................................................................................ 15 DE MANILA AO AMAZONAS: A COLONIZAÇÃO IBÉRICA EM CONNECTED HISTORIES (SÉC. XVI-XVII) André José Santos Pompeu ..................................................................................... 24 “REMETIDOS A INJUSTO CATIVEIRO”: A LIBERDADE INDÍGENA E A ATUAÇÃO DA JUNTA DAS MISSÕES NA CAPITANIA DO MARANHÃO (1738 – 1754) André Luís Bezerra Ferreira Karl Heinz Arenz ...................................................................................................... 31 “VÃO E FAÇAM COM QUE TODOS OS POVOS SE TORNEM MEUS DISCÍPULOS, BATIZANDO-OS EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPIRITO SANTO”: LAÇOS DE COMPADRIO E ESCRAVIDÃO NA SÃO LUÍS DO SÉCULO DEZOITO Antônia de Castro Andrade ..................................................................................... 41 ESPAÇOS AFRO-INDÍGENAS NO MAPA BRASILIA QUA PARTE PARET BELGIS Bartira Ferraz Barbosa José Luis Ruiz-Peinado............................................................................................. 50 A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA DO CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS EM MOÇAMBIQUE: O PERÍODO PÓS-COLONIAL E A BUSCA POR UMA IDENTIDADE NACIONAL Claudia Silva Lima ..................................................................................................... 58 1 Colonização e mundo Atlântico CHEFE TUPINAMBÁ, RELAÇÕES SOCIAIS E TENSÃO NO MARANHÃO COLONIAL: REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL INTERMEDIÁRIO ENTRE TUPINAMBÁ E EUROPEUS NO CHAMADO TEMPO DA CONQUISTA (1607-1624) Darlan Rodrigo Sbrana ............................................................................................. 69 POLÍTICA ILUMINISTA ATRAVÉS DO COMÉRCIO DE LIVROS NA CAPITANIA DO MARANHÃO E PIAUÍ (1798-1801) Flávio P. Costa Júnior............................................................................................... 79 INVESTIGANDO A POLÍTICA LINGUÍSTICA JESUÍTICA: ALGUMAS PROPOSTAS ACERCA DAS PRÁTICAS DE APRENDIZADO DA LÍNGUA GERAL DA AMAZÔNIA A PARTIR DE UM DICIONÁRIO SETECENTISTA Gabriel de Cássio Pinheiro Prudente ..................................................................... 90 LIDERANÇAS INDÍGENAS, REDES E DIRETÓRIO NASCAPITANIAS DO NORTE (PARAÍBA E PERNAMBUCO – SÉCULO XVIII) Jean Paul Gouveia Meira ........................................................................................ 100 CLÉRIGOS SECULARES NA AMAZÔNIA COLONIAL: FORMAÇÃO E ATUAÇÃO João Antonio Fonseca Lacerda Lima................................................................... 106 VIOLÊNCIAS, CONFLITOS E REVOLTA NOS TERRITÓRIOS DO MARANHÃO E GRÃO-PARÁ NA PRIMEIRA DÉCADA DA CONQUISTA (1616-1626) João Otavio Malheiros............................................................................................ 117 DA GUINÉ AO MARANHÃO: AS RAÍZES CULTURAIS MANDINGAS DE COMUNIDADES NEGRAS RURAIS DO MARANHÃO Kalil Kaba ................................................................................................................. 130 MISSIONAÇÃO E NEGÓCIOS: A COMPANHIA DE JESUS NO GRÃO-PARÁ, NO SÉCULO XVII Luana Melo Ribeiro ................................................................................................ 138 2 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos O SISTEMA (DE EXPLORAÇÃO) COLONIAL DE SALAZAR: POLÍTICAS CULTURAIS PARA UMA (RE)INVENÇÃO DE TRADIÇÕES EM MOÇAMBIQUE (C. 1920-1940) Luciano Borges Barros ........................................................................................... 147 BELÉM E ANGOLA: REDES COMERCIAIS DO TRÁFICO (1777-1831) Marley Antonia Silva da Silva ................................................................................ 158 QUANDOS OS MORTOS FALAM: AS RELAÇÕES ESCRAVISTAS A PARTIR DAS ANÁLISES DOS TESTAMENTOS DO MARANHÃO SETECENTISTA Nila Michele Bastos Santos Marize Helena de Campos ..................................................................................... 169 LA ANTROPOFAGIA EN EL NUEVO MUNDO DURANTE EL SIGLO XVI. LA CREACIÓN DE UNA DE LAS PRIMERAS POLÍTICAS INTERNACIONALES Raúl Aguilera Calderón........................................................................................... 180 SERTÃO ERRADIO? NARRATIVA E A CONCEPÇÃO DE OCUPAÇÃO DA FRONTEIRA ENTRE PARÁ E MARANHÃO (1790-1803) Sueny Diana Oliveira de Souza ............................................................................. 189 AS AÇÕES DOS DIRETORES DE POVOAÇÕES ENTENDIDAS A PARTIR DE SEUS PRÓPRIOS INTERESSES NO GRÃO-PARÁ DO DIRETÓRIO DOS ÍNDIOS Vinícius Zúniga Melo ............................................................................................. 200 SERVIÇO MILITAR: RECONFIGURAÇÃO FAMILIAR NA CAPITANIA DO GRÃO-PARÁ (PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII) Wania Alexandrino Viana ...................................................................................... 212 3 Colonização e mundo Atlântico NA CONQUISTA DA TERRA: DOAÇÕES DE SESMARIAS E OCUPAÇÃO NA REGIÃO DO RIO PERICUMà NO SÉCULO XVIII Alessandra Cristina Costa Monteiro1 Resumo Este trabalho tem por objetivo compreender o processo de ocupação, povoamento e cultivo na região do rio Pericumã ao longo da segunda metade do século XVIII. Para tanto, busca-se entender a formação territorial a partir das concessões de sesmarias que foram doadas nesse período. Assim, entre os desafios desta pesquisa está identificar por quais motivos e a partir de quais aspectos se deu a conquista e ocupação dessa área. Desse modo, analisei os meios que permitiram a constituição desta sociedade proprietária de terras, gados e escravos no Pericumã, como as justificativas apresentadas pelos requerentes para a referida mercê. Se por um lado a distribuição de terras representou um instrumento de reafirmação do poder metropolitano, por outro, trata-se de um projeto cultural de homens e mulheres em uma região isolada da colônia brasileira que permitiu a modificação do espaço e a formação da sociedade ao longo dos rios e campos alagados. Palavras-chave: Rio Pericumã. Ocupação. Povoamento. Sesmarias. A região analisada nesta pesquisa faz parte de uma vasta rede hidrográfica com extensas planícies fluviais inundáveis2 chamada de Baixada Maranhense. Embora tal denominação não existisse entre os séculos XVII e XVIII enquanto conceito histórico-geográfico, a documentação primária nos permite circunscrever o que hoje atende por Baixada a partir dos rios que cortavam essas terras e da região alagadiça durante parte do ano, característicos a esta região do Estado do Maranhão. Nessas circunstâncias, o próprio expansionismo para o Norte do Brasil esteve ligado a possível riqueza e fertilidade da região e na possibilidade de conexão entre o Maranhão e as Índias espanholas, o que inspirava diferentes ideias e especulações acerca das possibilidades de expansão e ocupação do território. Desse modo, como mostra Cardoso, havia uma concorrência Aluna do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. 2 FARIAS, Marcelino Silva Filho (org). O Espaço Geográfico da Baixada Maranhense. São Luís: JK, 2012. p. 19. 4 1 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos internacional oceânica interessada pela condição especial da rede fluvial maranhense3. Afinal, diferente do Estado do Brasil, os rios do Maranhão, apresentavam um nível de navegação inigualável. Se no primeiro, os rios nem sempre constituíram o “meio de comunicação ideal”, neste último, ao contrário, “todos os caminhos eram fluviais”4. Dessa feita, tratando-se da história da expansão territorial da região do rio Pericumã, os registros de concessões de terras datam a segunda metade do século XVIII, período em que aparecem os primeiros registros de sesmarias. Assim, o foco desta pesquisa é tratar da produção histórica dessa área a partir da conquista deste espaço pelos requerentes com os lotes de terras recebidos e da implementação das fazendas de criar e das lavouras. Assim, busca-se uma problematização temática através da leitura dos manuscritos que possibilitam compreender por quais motivos e a partir de quais aspectos se deu a conquista e ocupação dessa região. Dessa maneira, as Cartas de Sesmarias – documentos com chancelaria real que legitimavam a posse da terra ao colono – são fonte privilegiada para reconstruir as atividades e ações de diversos grupos sociais que motivaram essa ocupação e permitiram o povoamento ao longo dos rios e campos alagados. É importante lembrar que, elaborada em 28 de maio de 1375 no reinado de Dom Fernando I, a Lei das Sesmarias foi criada para resolver as necessidades peculiares de uma conjuntura econômica pela qual Portugal passava no século XIV: a crise de alimentos e carência da mão-de-obra5. Contudo, enquanto em Portugal sua criação se deu devido “a falta de mão de obra no campo e a consequente redução da produção de gêneros alimentícios”6, na colônia, o sistema de sesmarias se diferiu em vários aspectos, visto que nesta “o interesse principal foi a conquista e ocupação da área despovoada, viabilizando a produção de açúcar e materiais derivados do boi”7. Assim, entendendo trata-se de um projeto cultural de homens e mulheres em uma região isolada da colônia brasileira, este esforço justifica-se uma vez CARDOSO, Alírio. Maranhão na Monarquia Hispânica: intercâmbios, guerra e navegação nas fronteiras das Índias de Castela (1580-1655). Tese de Doutorado - Universidade de Salamanca, 436, f. 2012. 4 HOLANDA, 1990, p.19 e 29 apud CHAMBOULEYRON, Rafael; BONIFÁCIO, Monique da Silva; MELO, Vanice Siqueira de. Pelos Sertões “Estão todas as utilidades”. Trocas e conflitos no sertão amazônico (século XVII). Revista de História 162 (1 semestre de 2010) 13-49, p. 23. 5 SILVA, Rafael Ricarte da. Formação da Elite Colonial dos Sertões de Mombaça: Terra, Família e Poder (Século XVIII). Dissertação de mestrado- Universidade do Ceará - Fortaleza-CE, 188 f. 2010, p. 46. 6 Ibidem. 7 Ibidem. 5 3 Colonização e mundo Atlântico que existe uma grande lacuna sobre a história da Baixada Maranhense, especificamente a região do rio Pericumã, pois não há estudos mais sistemáticos com a documentação da segunda metade do século XVIII. O que encontramos são estudos feitos por não especialistas que embora nos proporcionem grandes contribuições, necessitam de rigor metodológico e teórico. Além disso, os trabalhos desenvolvidos até agora, ocuparam-se marcadamente da fundação das vilas8, momento em que essa ocupação já estava consolidada. Dinâmica colonial no interior do Maranhão e novas interpretações na historiografia brasileira A conquista do Maranhão fez parte de uma política preestabelecida da Coroa para estruturar a economia e criar os serviços administrativos, de maneira que organizasse a vida na Capitania e a consolidação da conquista 9. Dessa maneira, torna-se relevante pensar as especificidades regionais e locais nessa dinâmica da expansão territorial. Desse modo, nos últimos anos a historiografia sobre a América Portuguesa tem apontado para novos aspectos acerca das interpretações sobre o Brasil Colônia e sua sociedade. Assim, abandonada uma apreensão mais global da história do Brasil, a nova historiografia tem amparando suas interpretações numa longa e minuciosa investigação arquivística documental, procurando colocar em prática novas perspectivas teóricas e metodológicas para o estudo da época colonial. Nessas circunstâncias, a partir dos anos 90, surgem trabalhos que demonstram a importância do mercado interno e das relações hierárquicas que o Brasil desenvolvia na sociedade colonial, que, na verdade, tratava-se de uma forma de captação de riquezas que possibilitou em muitos lugares a formação de uma elite colonial baseada na propriedade de terras, gados, escravos e/ou no comércio de abastecimento interno10. Desse modo, a conquista do interior com a implantação da pecuária e da lavoura ganha outro sentido, pois passa a ser interpretada a partir das conexões estabelecidas em diversas partes da colônia. Torna-se evidente que as atividades ligadas à agropecuária nos sertões das capitanias do norte permitiram o Ver: ALVIM, Aymoré de Castro. Pinheiro em Foco. Pinheiro, MA: [s.n.]. p. 26-29, 2006. VIVEIROS, Jerônimo de. Quadros da Vida Pinheirense. São Luís: Instituto Geia, 2006. 9 CABRAL, Maria Socorro Coelho. Caminhos do Gado: conquista e ocupação do Sul do Maranhão, São Luis, SIOGE, 1992, p. 23. 10 SILVA, 2010, p. 29. 6 8 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos desenvolvimento de um mercado interno entre as regiões destas e demais lugares do Estado do Maranhão. Tal interpretação sobre o mercado interno colonial e as relações estabelecidas para além das relações econômicas, permite entender a conquista do espaço, uma vez que seria impossível compreender a América portuguesa sem a sua estreita conexão com a metrópole e seu Império. Portanto, ancorado firmemente na documentação manuscrita, este estudo vem contribuir com o avanço da historiografia à medida que possibilitará uma interpretação da bacia do rio Pericumã. Procurou-se resgatar a história das atividades e práticas que modificaram a paisagem de diversas áreas permitindo a consolidação das relações econômicas, políticas e culturais na região. Terras devolutas e desaproveitadas no rio Pericumã: distribuição e regulamentação das concessões Comparando as Cartas de Sesmarias referentes a região do rio Pericumã, é notório que a maioria das solicitações de terras geralmente não ultrapassava três léguas de extensão, prevalecendo esta medida em 25% do total de 32 requerimentos. Enquanto isso, duas léguas foi dimensão mais solicitada, predominando em torno de 70% dos pedidos. Por outro lado, a partir de 1794, as terras concedidas não excediam duas léguas em quadro. Se tomarmos os dados das doações desse período, constata-se que em alguns casos apesar dos requerentes solicitarem três léguas de terra, somente duas são confirmadas. É o caso de Maria Joaquina Correia de Azevedo Coutinho que “possuía alguns escravos os quais pretendia empregar na lavoura de cultura de terras e porque não tem próprias em que o faça”, pedia que lhe fosse concedido “em Nome de Sua Majestade três léguas de terra de comprido e huma de largo”. Contudo, o Governador Dom Fernando Antonio de Noronha acha “por bem conceder-lhe somente duas léguas em quadro”11, com a confirmação desta sesmaria em 1802. Diante disso, podemos aventar a possibilidade da diminuição de áreas para a distribuição. Na mesma carta de sesmaria o governador afirma que “não havendo ao humo do Noroeste Datta alguma”12, o requerente solicita as terras ao Nordeste. Não que isso significasse que houve uma quantidade expressiva de doações na região, pois de 1767 a 1804 foram concedidas somente 32 datas de terras. Um período de 37 anos apresentando espaços temporais de até seis anos sem nenhum registro de doação, como de 1771 a 1776. E de 1771 a 1783, 11 12 AHU, Maranhão, caixa 122, doc. 9283. Ibidem. 7 Colonização e mundo Atlântico isto é, em doze anos, foi encontrado apenas um único registro de carta de sesmaria para a região. Nesse sentido, a distribuição das sesmarias teve sua maior concentração no período entre 1788 a 1796, onde 20 concessões foram dadas, totalizando 62,5% das terras doadas, num período de oito anos. Destarte, é possível presumir que a população que ocupava essa área era bem maior do que esta encontrada nos documentos, uma vez que nem sempre os ocupantes solicitavam à Coroa a confirmação de terras. Exemplo disso são as próprias cartas que algumas vezes fazem referência a existência de outros proprietários de terras na localidade onde é feito o pedido, mas para os quais não foi encontrado nenhum documento com chancelaria real que legitimasse a posse de terra ao colono mencionado. Ademais, constata-se que a política de expansão e ocupação da região estava com frequência ligada às atividades agrícolas e à escravização, bem como com a pecuária. Assim, “possuindo bastantes Escravos que empregava em lavouras” sem ter “terras suficientes para continuar” 13, ou sendo “possuidor de huma fazenda de Gado, [...], sem que para apascentar tivesse terras próprias”14, apresentavam-se como fatores preponderantes para pedir que ao Rei que lhe “comcedesse em nome se Sua Majestade toda dita Terra declarada para a cituação dos Seus gados, como para Suas Lavouras [...]” 15. Contudo, a agricultura foi a principal justificativa elencada pelos solicitantes para a referida mercê, prevalecendo em torno de 72% dos pedidos. Além disso, a agricultura aparece em 13% das solicitações associada à pecuária. Nessa perspectiva, em 1767, o requerente Antonio Inocêncio indica que sendo “possuidor de huma fazenda de Gado Vacum e cavallar, sem que para apascentar tivesse terras próprias nem tão pouco para as suas Lavouras” 16, usaria as áreas recebidas para o dito fim. Em outros casos como o de Antônio Francisco de Sá, apontam somente para a necessidade da lavoura, tendo como objetivo “cultivar todas e quaisquer gênero do Paiz, também para suas plantações e de seus escravos”17. Do mesmo modo, em 1793, Luis Antonio Sarmento da Maia apresenta “que elle tem posses suficientes para cultivar as terras, como as não possuía, e tem notícia que [...] nas cabeceiras do Pericumã a beira do lago há terras devolutas”, AHU, Maranhão, caixa 76, doc. 6516. AHU, Maranhão, caixa 43, doc. 4215. 15 AHU, Maranhão, caixa 43, doc. 4215. 16 AHU, Maranhão, caixa 43, doc. 4215. 17 AHU, Maranhão, caixa, 93, doc. 7641. 13 14 8 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos solicita que “lhe concedesse [...] três legoas de terra de comprido e uma de largo”18. Aqui, mais uma questão fica latente: na colônia portuguesa a terra devoluta passou a ser uma justificativa para os pedidos, conforme visto acima. Nessas circunstâncias, verifica-se que as solicitações eram justificadas mediante três argumentos: as áreas estariam desaproveitadas; os requerentes possuíam gados, escravos e almejavam cultivar as terras; entretanto, não possuíam espaço para tal fim. Nelas encontramos três aspectos fundamentais característicos das sesmarias: a necessidade da demarcação da terra, comprovação de sua exploração e a confirmação pelo rei. Nota-se ainda o uso recorrente do argumento sobre a fertilidade do solo. Todavia, a produtividade das terras junto ao rio destinadas a agropecuária acabava, muitas vezes por se esgotarem, haja vista as necessidades exigidas por tais atividades como relatava os próprios requerentes. Observa-se este fato no pedido de Teodoro Correia de Azevedo Coutinho, feito em 1777, no qual solicitava uma sesmaria nos campos do Pericumã e onde consta a afirmação de que já havia recebido uma, todavia, ela não estava mais própria para o cultivo. Desse modo, [...] possuindo bastantes Escravos que empregava em Lavouras não tinha terras suficientes para continuar, porquanto as que possuíam, que tinhão Sido dos proscritos Jesuítas, arrematadas na Real Fazenda que Continhão terras de lavrar, crear gados, estavam já destruídas e Cançadas19. Em outro documento, datado de 1798, o capitão Manuel Ferreira dos Santos ao solicitar “hûa légua de terra [...] abeirando os Campos do Pericumã” 20, alega que “se occupava em lavouras com hûa sorte de terras, que havia comprado e que se achavão já imcapazes de darem fructos”21. Nessas circunstâncias, as riquezas naturais foram de grande importância para a sobrevivência das plantações e animais. Isso significa que havia uma relação direta entre o ambiente escolhido e as práticas econômicas desenvolvidas. A terra escolhida deveria facilitar, entre outras coisas, a criação das pastagens, tendo em vista que o gado era de extrema importância para auxiliar no trabalho do engenho, alimentar a população, além de permitir o mercado do couro. AHU, Maranhão, caixa 86, doc. 7188. AHU, Maranhão, caixa 76, doc. 6516. 20 AHU, Maranhão, caixa 101, doc. 8181. 21 AHU, Maranhão, caixa 101, doc. 8181. 18 19 9 Colonização e mundo Atlântico Isso posto, a implantação da agricultura e pecuária deveu-se em parte à disponibilidade de terras férteis e recursos naturais abundantes o que viabilizava a plantação de gêneros do país e a criação do gado. No entanto, além das preocupações econômicas com a lavoura e criação do gado, entre os deveres de quem recebia as terras estava a obrigação de erigir igrejas, construir acessos por terra ou rio e, finalmente, construir vilas. Embora as Cartas de Sesmarias não deixem claro os produtos cultivados, referindo-se apenas as lavouras do paiz, em algumas delas foi possível encontrar trechos que evidenciam a economia da época, como “sacas de algodão” 22 e “derrama de farinhas”23. Além disso, em uma representação de Antonio Corrêa de Azevedo Coutinho na qual pedia o hábito da Ordem de Cristo ou de São Bento de Avis, mandou dizer a Portugal que só no ano de 1776 exportara 9.831 arrobas de algodão, e que de impostos pagara um conto, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa réis. Em 1778, a exportação triplicara e só de impostos recolhera mais de 6 contos de réis24. Vale ressaltar, que os molinetes foram motivos de representações dos moradores devido às más práticas dos homens que bebiam, causando prejuízo às lavouras e perturbação aos habitantes e escravos com as violências dos índios. Em finais do século XVIII, o alferes Teodoro Correia de Azevedo Coutinho, o capitão José Roberto de Sá e Antônio José de Azevedo, requeriam à rainha D. Maria provisão para que o governador do Maranhão José Teles da Silva mandasse demolir molinete de aguardente25 localizado no sítio do Pericumã. Conforme o requerimento, AHU, Maranhão, caixa 67, doc. 5897. AHU, Maranhão, caixa 69, doc. 6028. 24 AHU, Maranhão, caixa 90, doc. 6930 apud COUTINHO, 2005, p. 87. 25 Sobre molinetes de aguardentes, ver: CUNHA, Ana Paula Macedo. Engenhos e Engenhocas: Atividade Açucareira no Estado do Maranhão e Grão- Pará (1706-1750), Belém, Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade do Pará, 2009. Disponível em: <http://www3.ufpa.br/pphist/images/dissertacoes/2009/2009_Ana_Paula_Cunha.p df>. A autora mostra que a aguardente também tornou-se instrumento de colonização quando passou a figurar nas listas de produtos necessários às expedições para descimentos dos índios, ou para a coletas de drogas do Sertão. Contudo, a Coroa portuguesa chegava a proibi-los conforme reclamações e interesses dos moradores. Outras vezes procurou proibir os engenhos que deixassem de fazer açúcar, ou fizessem de má qualidade para fazer aguardente. No entanto, a questão da proibição não teve tão cedo uma definição, visto que o produto gerava renda á Fazenda Real, surgindo só na segunda metade do século XVII. Uma das Provisões que determinava esta medida foi a Provisão de 18 de setembro de 1706 em que proibia os molinetes e as fábricas de aguardente. 10 22 23 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos [...] Manoel Antonio Gomes de Castro; homem; que vive de industrias, morador no destricto daq.la villa de Guim.es do Cumã [...] Sem licença levantou hu’ emq’(ilegível) actualmente fabrica aguardentes d q’ ali vem comprar os Índios moradores da Villa por ser perto, porém toda Escravatura do Sup.tee mais vizinhança fazem o mesmo e São emquetados, tanto emdezordens, e bulhas, q formao das suas cidades assim como levando a Seus Senhores Algodoes [...] ao do Cap.am Manoel Antonio, por aqleque era proibido, q lhe está prompto pa Comprar de Sorte, q’ Sendo hum (ilegível) Lavrador, por aqle meio faz anualmente bastantes Sacas de Algodão e proporção das Suas Lavouras de q’ se segue aos Sup.tes e mais vizinhanças um notável prejuízo[...]26. Observa-se a preocupação da Coroa portuguesa com a conservação das lavouras, apresentado-se como um dos motivos pelos quais proibiu “[...] Similhantes Engenhocas em todo este Estado e mto principalmente no districto das villas”27. Assim, manda demolir o molinete “ [...] por Ser certo q’ as Fazendas dos dous presentes Sup.tes São as mayores e de mais numero de escravos que há em toda capitania” e com a imposição que “nenhum de qualquer quallidade condição, [...], fabrique de novo Molinete de moer aguardente [...] de que fabricando será condenado em penna” 28. Nas cartas de solicitações, nota-se ainda que alguns colonos que já haviam ocupado e produzido nas terras careciam de que lhes fossem garantidos os títulos da mesma. Por isso, voltam a requerer da Coroa a demarcação e tombamento das suas áreas de cultivo e criação. Assim ocorreu com o morador Luis Antonio Sarmento da Maia que no ano de 1793 fez o pedido de três léguas de terras nas cabeceiras do Pericumã, recebendo em 1794 a confirmação de somente duas léguas29. Segundo um requerimento de 1795, o dito sesmeiro se dirige novamente à Coroa apresentando-se como “possuidor de hûa Sesmaria Confirmada por V. Magde na Cappnia do Maranhão a qual pretendia tomar, e demarcar para evitar contendas com os confinantes no Sitio chamado Pericumã [...]”30. Para tanto, atendendo à solicitação do requerente, a Coroa acha por bem “passar Provisão de Tombo na Capp.nia do Maranhão, pa pegar o novo direito que deven Se lhe dar”31. Ademais, é possível aventar a possibilidade que com as posses de sesmarias estes homens buscavam aumentar seu status e poder. Pois, conforme visto, as AHU, Maranhão, caixa 67, doc. 5897. AHU, Maranhão, caixa 67, doc. 5897. 28 AHU, Maranhão, caixa 67, doc. 5897. 29 AHU, Maranhão, caixa 86, doc. 7188. 30 AHU, Maranhão, caixa 87, doc. 7243. 31 AHU, Maranhão, caixa 87, doc. 7243. 26 27 11 Colonização e mundo Atlântico terras foram recebidas por sujeitos que possuíam patentes militares ou cargos na administração colonial, o que reforçava seu prestígio na hierarquia social. Nessa perspectiva, a menção de patentes ou cargos ocupados pelos requerentes frequentemente são mencionados nas Cartas. Dentre os citados encontramos principalmente: alferes, tenente, padre e capitão. Possivelmente os sesmeiros acreditavam que este critério garantia a obtenção com mais facilidade das terras pedidas. Para Silva, a posse de terras “permitiu a construção e manutenção da diferenciação social entre proprietários de terras, obtidas por meio da concessão de sesmarias, e demais sujeitos pertencentes à população livre que não tinha acesso à posse de terra. Essa diferenciação social foi reforçada pela presença destes proprietários de terras nos cargos camarários e de administração colonial”32. Dessa maneira, a propriedade das terras aliada à obtenção de patentes militares representou também uma forma de distinção social na bacia do rio Pericumã. Portanto, entende-se que a ocupação econômica por meio da atividade agrícola algumas vezes ligada à pecuária, efetivada pelas concessões de terras, representou um importante passo para a ocupação de várias regiões, inclusive da área estudada. Desse modo, a agricultura assumiu no período colonial um papel central ao se pensar o lugar das conquistas. Considerações finais A conquista desta região teve relação direta com a prática de distribuição das terras sob o regime das sesmarias. Este sistema constitui-se como o principal instrumento de reafirmação do poder metropolitano bem como para o estabelecimento de uma elite proprietária de terras, gados e escravos na região do rio Pericumã. Logo, através da adoção do regime de Sesmarias, a distribuição das terras aconteceu atrelada ao seu cultivo. Foi desse modo que surgiram as lavouras e algumas fazendas de criar que compuseram o cenário do Pericumã no Período colonial. Ademais, a orientação expressa pela administração colonial era explorar, defender e ocupar a terra com a intenção de expandir o território e aumentar seus rendimentos. Neste ponto, a agricultura como justificativa central para as solicitações, algumas vezes associada à pecuária, teve um significado importante para o pensamento político-econômico daquela época. Nesse sentido, as áreas 32 SILVA, 2010, p. 19. 12 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos concedidas em sesmarias para os agentes coloniais foi uma prática encontrada pela Coroa para povoar e aumentar a produção agrícola da região. Nota-se ainda que a existência dos campos naturais aparece como aspecto indispensável para o desenvolvimento das atividades econômicas. Com base nisso, o rio Pericumã mostrou-se como um fator importante na consolidação de uma economia voltada para o cultivo e para a criação de animais, uma vez que suas águas abundantes e fartas de alimentos favoreceram para que isso acontecesse. Concomitante a isso, as autoridades metropolitanas incentivam a produção agrícola, algumas vezes concedendo privilégios aos produtores, como a isenção de impostos. Desse modo, ficou evidente que a proximidade dos rios era um aspecto que acarretava grandes vantagens para os requerentes de sesmarias. Por isso, a conquista não pode ser entendida somente como um reflexo da necessidade de espaço para a criação de animais e desenvolvimento de lavouras, mas como um projeto de homens e mulheres de uma colônia isolada da América portuguesa que estavam em busca de melhores condições sociais. Conforme visto, a posse de sesmarias representou também um diferencial na hierarquia social. Entregues principalmente a sujeitos que possuíam patentes ou cargos na administração colonial, esta serviu para reforçar o prestígio social entre os proprietários de terras e os demais sujeitos que não tinham acesso às concessões. Além disso, diretamente ligada ao movimento de conquista e ocupação do espaço para a implantação das lavouras e criação do gado, esteve a formação de adensamentos populacionais e vilas, pois, foi a partir destas atividades que as povoações começavam a ser formadas. Nessa perspectiva, a configuração espacial das margens do rio Pericumã foi sendo moldada no século XVIII pelas doações de terras aos requerentes que provinham principalmente de Alcântara. Ao passo que se deslocavam para ocupar suas doações, novas relações sociais, econômicas e culturas eram estabelecidas neste espaço. Embora não haja um grande número de registros de terras para a região, totalizando apenas 32 concessões, as próprias Cartas de Sesmarias deixam escapar que essa população era bem maior ao fazerem referencia a outros sujeitos moradores nas áreas, mas para os quais não há registros da posse de terras. Da mesma forma, apesar da constante preocupação da Coroa portuguesa, que através de Leis, Alvarás, Provisões, Ordens Régias, tentava manter o controle sobre a terra, na prática muitas vezes isto não ocorria. Portanto, o estudo apresentado buscou, para além de uma análise das Cartas de Sesmarias, mostrar que havia uma dinâmica colonial posta em prática a partir da segunda metade do século XVIII e que esta não acontece separada do ambiente. Sobre esta questão, houve uma alteração progressiva do espaço desenvolvida por homens e mulheres que se deslocavam para esta região em 13 Colonização e mundo Atlântico busca de melhores condições de vida. Desse modo, tal pesquisa vem de encontro com a historiografia local que insistentemente descreve o rio Pericumã como um espaço vazio, longe de interferência humana até o século XIX, quando supostamente a região é então “descoberta”. 14 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos AMAZÔNIA NA GUERRA HISPANO-HOLANDESA. COMPARAÇÕES COM A GUERRA DO BRASIL. (1598-1655) Alírio Cardoso1 Resumo O objetivo deste texto é refletir sobre as comparações possíveis entre a Guerra do Brasil (1630-1654) e os projetos neerlandeses no antigo Estado do Maranhão (1598-1655). Na Amazônia, a guerra hispano-holandesa ganhou contornos específicos em função da enorme presença indígena, da onipresença dos caminhos fluviais, da distância relativa em relação às capitanias do Estado do Brasil e da proximidade com as rotas hispano-peruanas. Uma comparação criteriosa entre os dois processos, o luso-brasileiro e o luso-amazônico, possibilitará uma melhor reflexão acerca do impacto da presença batava na América portuguesa nos anos da guerra contra Espanha. Palavras-Chave: Guerra; Holandeses; índios, século XVII. Entre os séculos XVI e XVII ocorreu a mais importante rebelião contra o domínio espanhol no cenário europeu, a revolta dos Países Baixos (1568-1648). A Europa conhece esse conflito como Guerra de Flandres, mas seu impacto é muito mais abrangente e global atingindo territórios da África, Ásia e América. Não por acaso, um dos seus maiores historiadores, Charles Boxer, considerou aquele embate nos termos de uma autêntica I Guerra Mundial.2 A partir do governo de Filipe III (1598-1621) começa uma época de relativo arrefecimento da guerra na Europa, chamado algumas vezes de Pax Hispanica. Entretanto, ironicamente, esses são anos de maior internacionalização do conflito. Com efeito, as Províncias Unidas desenvolvem sua política mais agressiva, com a tomada de importantes praças do comércio hispano-luso nas quatro partes conhecidas do Mundo.3 PPGHIS- UFMA. BOXER, Charles. The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800. London: Hutchinson & co, 1965. 3 EMMER, Pieter, “Los holandeses y el reto atlántico en el siglo XVII”. In: SANTOS PÉREZ, José Manuel y CABRAL DE SOUZA, George F. (eds.). El Desafío Holandés al Dominio Ibérico en Brasil en el siglo XVII. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2006, pp. 17-23. 15 1 2 Colonização e mundo Atlântico A criação da WIC (West-Indische Compagnie), em 1621, confirma aquilo que muitos moradores dos territórios hispano-lusos sugeriam em cartas e pareceres, o objetivo dos neerlandeses era estender o conflito até o Atlântico, tentando atingir a joia da coroa filipina: a rota de distribuição da prata hispano-peruana.4 Os anos 1620 também marcaram uma importante reorientação da política oceânica dos Países Baixos, cuja característica mais marcante será a expansão para o Caribe, Guianas, e a ocupação e domínio militar-político sobre grandes áreas produtoras de açúcar no Estado do Brasil.5 No caso do Brasil, os neerlandeses passam a tentar controlar diretamente a produção, financiamento e distribuição do açúcar, uma mudança de postura considerável em relação às práticas anteriores referentes a esse mercado.6 No entendimento das Províncias Unidas, o domínio sobre o território luso-brasileiro era a chave do controle deste negócio, mas também uma forma eficiente para desequilibrar a interação, existente desde antes da união monárquica, entre os mercados luso-espanhóis.7 Sobre o tema, ver: FRITSCHY, W.. “A financial revolution’ reconsidered: public finance in Holland during the Dutch revolt, 1568-1648”. The Economic History Review, vol. LVI, n. 1 (Fevereiro, 2003), pp. 57-89. Ver também: DEN HEIJER, H. “The Dutch West India Company, 1621-1791”. In: POSTMA, J & ENTHOVEN, V. Riches from Atlantic Commerce. Dutch Transatlantic trade and shiping, 1585-1817. Leiden/Boston: Brill, 2003, pp. 97-100. 5 JACOBS, Jaap. New Netherland: a Dutch colony in seventeenth-century America. Boston: Brill, 2005, p. 3. 6 CARDOSO, Alirio. “A Conquista do Maranhão e as disputas atlânticas na geopolítica da União Ibérica (1596-1626)”. Revista Brasileira de História, v. 31, nº 61, 2011, pp. 317338; CARDOSO, Alírio. Maranhão na Monarquia Hispânica. Intercâmbios, guerra e navegação nas fronteiras das Índias de Castela (1580-1655). Salamanca: Tese de doutorado apresentada à Universidad de Salamanca, 2012. 7 Sobre o tema, ver entre outros: Para o tema, ver entre muitos outros: MELLO, Evaldo Cabral de. Olinda Restaurada. Guerra e açúcar no Nordeste, 1630-1654. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998; MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro Veio: O Imaginário da Restauração Pernambucana. Rio de Janeiro: Topbooks, 2a edição, 1997; MELLO, José Antônio Gonsalves de. Tempo dos flamengos: influência da ocupação holandesa na vida a na cultura do norte do Brasil. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/editora Massangana/Instituto Nacional do Livro, 1987; SANTOS PÉREZ, José Manuel & CABRAL DE SOUZA, George F. (Orgs.). El Desafío Holandés al Dominio Ibérico en Brasil en el siglo XVII. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2006; BOXER, Charles. The Dutch Seaborne Empire, 16001800. London: Hutchinson & co, 1965; BOXER, Charles R. Os holandeses no Brasil (16241654). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1961; ISRAEL, I. J. La República Holandesa y el Mundo hispánico, 1606-1661. Madrid: Editorial NEREA, 1997; DEN HEIJER, H. “The Dutch West India Company, 1621-1791”. In: POSTMA, J & ENTHOVEN, V. Riches from Atlantic Commerce. Dutch Transatlantic trade and shiping, 15851817. Leiden/Boston: Brill, 2003, pp. 97-100; EBBEN, Maurits A. “De Republiek der 16 4 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos A partir principalmente da tomada da fortaleza do Ceará, em 1637, os documentos de época sugerem, cada vez mais, uma suposta segunda fase da expansão neerlandesa pelo território português, visando agora praças do novíssimo Estado do Maranhão, então criado em 1621, mesmo ano da fundação da WIC neerlandesa. De fato, esse é um dos capítulos menos conhecidos da expansão oceânica batava. A historiografia tem adotado uma postura bem caracterizada tanto nas obras clássicas quanto nas recentes: considerar o controle neerlandês sobre o Maranhão como uma consequência lógica, num espaço periférico do mar-oceano, das vicissitudes do Brasil holandês. Nos últimos anos, o esforço por compreender a América portuguesa nos limites do Atlântico sul tem contribuído para acentuar tal tendência, ao enfatizar certas semelhanças entre o Brasil holandês e o breve Maranhão holandês. Assim, o objetivo deste texto é repensar, a partir de fontes espanholas e holandesas, o papel do Maranhão e Grão-Pará na guerra mundial hispanoholandesa. Ao mesmo tempo, o escopo desta análise é apontar os limites das possíveis comparações entre a presença holandesa nesta região e as estratégias adotadas na chamada Guerra do Brasil. Não se pode perder de vista, também, que a presença neerlandesa na Amazônia não está desvinculada das estratégias de domínio que os Países Baixos desenvolveram nas quatro partes conhecidas do Mundo. Nesse sentido, não parece verossímil pensar a guerra hispano-holandesa em termos de disputas regionais. Este conflito deverá ser dimensionado a partir de suas conexões verdadeiramente planetárias, literalmente das Filipinas até o Cabo do Norte. Trabalhos recentes têm reconhecido tais conexões a partir da miríade de relatos que a guerra deixou.8 No caso do Maranhão e Grão-Pará, há acervos ainda subutilizados, ou mesmo quase ignorados pela historiografia brasileira, como são as fontes do Nationaal Archief (Arquivo Nacional de Haya), e do Stadsarchief Amsterdam (Arquivo Municipal de Amsterdam), para documentação holandesa. Nestes Zeven Verenigde Provinciën tot Omstreeks 1650/A República das Sete províncias até aproximadamente 1650”. In: WIESEBRON, Marianne (Ed.). Brazilië in Nederlandse Archiven/ O Brasil em arquivos neerlandeses (1624-1654). Leiden: CNWS, 2004, pp. 30-80 [edição bilíngüe]. Para um estudo sobre os aspectos simbólicos do domínio holandês na América Portuguesa, especialmente para o Estado do Brasil, ver também: WEHLING, Arno. “A organização política do Brasil holandês e o papel das liturgias de poder no governo de Nassau”. In: TOSTEL, Vera Lúcia B; BENCHETRIT, Sarah Fassa; MAGALHÃES, Aline Montenegro (Eds). A presença holandesa no Brasil. Memória e imaginário. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2004, pp. 11-30. 8 SANTOS PÉREZ, José Manuel & CABRAL DE SOUZA, George F. (Eds.). El Desafío Holandés al Dominio Ibérico en Brasil en el siglo XVII. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2006. 17 Colonização e mundo Atlântico arquivos estão depositados os relatórios da Velha Companhia das Índias Ocidentais e dos Estados Gerais (Staten Generaal). Para Espanha, há muito por pesquisar nos Archivo General de Simancas (Valladolid) e Archivo General de Indias (Sevilha), nos fundos das Secretarias Provinciales ou nos acervos dos Estados da Monarquia. Em ambos países, é possível encontrar informações sobre os projetos neerlandeses na região amazônica ao longo da guerra hispanoholandesa, principalmente no tempo do domínio efetivo sobre a capitania do Maranhão, entre 1641 e 1644. Entre os documentos mais importantes, estão os relatórios, com o do coronel Henderson, que fundamentavam a escolha da região como alvo do poderia batavo, traçando eventualmente comparações com outras áreas do Atlântico.9 Há diferentes fases da guerra na Amazônia. Estabelecer uma cronologia para a presença holandesa nessa macrorregião não é tarefa fácil, nem a propomos aqui de maneira sistemática. Entretanto, parece haver três momentos relevantes. O primeiro, entre 1590 a 1636, marcado pela instalação de uma rede de entrepostos comerciais, auxiliada por fortificações neerlandesas de caráter militar-econômico.10 O segundo momento, entre 1637 e 1644, foi a época da ocupação efetiva do antigo Estado do Maranhão, iniciada na prática com a tomada da fortaleza do Ceará, e depois, em novembro de 1641, com a tomada da cidade de São Luís pelo exército holandês. O terceiro momento, entre 1645 e 1654, foi o período em que o Maranhão, direta ou indiretamente, participa do esforço luso-brasileiro para reconquistar a América lusa. Há certos problemas na comparação entre o Brasil holandês e a presença neerlandesa na Amazônia. No Maranhão e Grão-Pará, como vimos acima, tal presença é mais antiga do que se costuma pensar. De fato, desde o final do século XVI os holandeses haviam construído uma rede de entrepostos comerciais na região. Eram, na verdade, feitorias fortificadas que funcionavam ativamente com o auxílio de nações indígenas. Faltam ainda mais pesquisas sobre o papel destas fortalezas na estratégia geral dos holandeses na Amazônia. A presença neerlandesa aqui é anterior à Guerra do Brasil (1630-1654), e mesmo à tomada da cidade de Salvador (1624). Tais atividades também eram já conhecidas dos Conselhos hispano-lusos bem antes da organização da armada de conquista da cidade de São Luís (1614). Há indícios de que o verdadeiro objetivo da tomada daquela cidade aos franceses (1612) eram informações HULSMAN, Lodewijk. Colonial fortifications in the state of Maranhão. Historical research in the Netherlands. Amsterdam: New Holland Foudation, 2007. 10 Sobre a relação entre a Pax hispánica e a diplomacia espanhola, ver: GARCÍA GARCÍA, José Bernardo. La Pax Hispanica. Política exterior del Duque de Lerma. Leuven: Leuven University Press, 1996, pp. 27-81. 18 9 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos fragmentadas acerca da presença holandesa nos rios do Grão-Pará.11 O objetivo dessa navegação furtiva neerlandesa pela região era relativamente conhecido: a exploração de certos produtos naturais com valor na Europa, encontrados nas margens dos rios Orinoco, Xingu e Amazonas.12 Nada disso era grande novidade em Portugal ou Espanha. Com efeito, traficantes e negociantes neerlandeses de madeira, tabaco e algodão já eram conhecidos na Europa. O sistema adotado por eles, o das feitorias fortificadas, era considerado uma fonte segura de lucros, na medida em que o investimento inicial não era demasiado, bem longe do tipo de capital necessário para a manutenção de possíveis praças fortificadas no Estado do Brasil. Nos Países Baixos, esse sistema de comércio furtivo era conhecido como retourvracht (frete de retorno). Esses negociantes são chamados indistintamente de “piratas” pela burocracia portuguesa e espanhola. Entretanto, parece claro que o objetivo era negociar em áreas até então desprezadas pela Monarquia Hispânica, embora perigosamente próximas, como era o Maranhão e o Cabo do Norte, das rotas do comércio caribenho. 13 Outra diferença fundamental entre o Maranhão e o Brasil era de natureza geopolítica. O Maranhão não pertencia à rota do Atlântico Sul. A navegação para o Maranhão e Grão-Pará não é alimentada pela Corrente do Brasil, mas pelas correntes Norte Equatorial e Contracorrente equatorial, as mesmas que dificultavam a navegação entre Pernambuco e São Luís, por exemplo. Portanto, a Amazônia portuguesa não faz conexão natural com rotas de comércio ou de contrabando sul-atlânticos. O Maranhão sempre foi, na verdade, parte do circuito de navegação do Atlântico Norte. Por isso, a ligação por mar entre Lisboa e São Luís era, a todo momento, facilitada e durava apenas cinco semanas, principalmente entre os meses de abril e junho. Distante, tanto do Brasil quanto de Angola, o possível interesse das Províncias Unidas no Maranhão durante a guerra com Espanha residia na sua proximidade com o CARDOSO, Alirio. “Guerra híbrida no Atlântico Equinocial. Índios, portugueses e espanhóis na conquista do Maranhão e Grão-Pará (1614-1616)”. História Revista, vol. 18, p. 143-167, 2013. 12 EDMUNDSON, G.. “The Dutch on the Amazon and Negro in the seventeenth century”. In: English Historical Review, nº 18, vol. 72 (Outubro, 1903), pp. 642-663; LORIMER, Joyce. English and Irish Settlement on the River Amazon, 1550-1646. Londres: The Hakluyt Society, 1989, pp. 24-28. 13 HULSMAN, Lodewijk. “Swaerooch: o comércio holandês com índios no Amapá (1600-1615)”. Revista Estudos Amazônicos, vol. VI, nº 1 (2011), pp. 178-202. 19 11 Colonização e mundo Atlântico Caribe e com o Peru.14Assim, para a compreensão devida dos objetivos batavos na região do Maranhão parece fundamental entender a sua situação de fronteira. Há também informações prévias sobre o Maranhão e Grão-Pará em relatórios enviados ao Heeren XIX, o conselho supremo das Províncias Unidas. De fato, os neerlandeses já tinham muitas informações acumuladas sobre a região antes da invasão, em novembro de 1641. Dentre esses informes, um dos mais relevantes é, sem dúvida, o relatório produzido por Gedeon Morris, em outubro de 1637. Neste documento, escrito na cidade de Middelburg, Morris faz uma detalhada análise sobre as vantagens que a WIC teria numa possível tomada do Maranhão. Dentre os supostos benefícios, constam informações sobre os caminhos fluviais e oceânicos, a proximidade com as rotas peruanas, e a possibilidade de obtenção do apoio de grandes quantidades de combatentes para a guerra contra Espanha.15 Mais do que isso, o relatório de Morris enfatiza certas diferenças em relação ao projeto do Brasil Holandês. De fato, Morris aparentemente havia obtido vantagens junto a WIC em função da fama de ser um dos únicos holandeses práticos na rota entre o Brasil e o Maranhão. Além dos relatórios, a própria cartografia holandesa do período sugere a proximidade com os projetos caribenhos. Em documentos como o Maragnon in Zud America, do Nationaal Archief, é sugestivo o interesse neerlandês pelas conexões norteatlânticas que incluíssem a fronteira entre Guiana e Maranhão, por exemplo. 16 Outra diferença entre a Guerra do Brasil e a presença holandesa no Maranhão é a própria composição dos exércitos. Sabe-se hoje que os neerlandeses utilizavam diversas estratégias para o recrutamento de jovens nascidos fora das Províncias Unidas. Os estrangeiros poderiam chegar a 60% do total dos contingentes militares.17 Nas guerras do Brasil, este contingente Ver: SANTOS PÉREZ, José Manuel. “Colonial fortifications in the State of Maranhão: historical Research in Spain and Portugal”. In: Atlas of Dutch Brazil. Amsterdam: New Holland Foundation, 2009. 15 MORRIS DE JONGE, Gedeon. “Breve descripção aprezentada aos Srs. directores da outorgada Companhia das Indias Occidentais, delegadas à Assembléia dos Dezenove sobre os lugares situados no Brasil septentrional denominados Maranhão, Ceará, Cametá, Grão-Pará, e outros rios comprehendidos na bacia do famozo rio do Amazonas, onde os portuguezes tem assento, com toda a dispozição e circunstancias respectivas, como deixei no ultimo de novembro de 1636”. Middelbourg, 22 de outubro de 1637. In: HYGINO, José. “Relatórios e cartas de Gedeon Morris de Jonge no tempo do domínio holandês no Brazil”. RIHGB, tomo LVIII, parte I (1895), pp. 237-250. 16 “Maragnon in Zuid America”. NA, 4 VEL H 619-72. 17 MIRANDA, Bruno Romero Ferreira. “Gente de guerra: origem, cotidiano e resistência dos soldados do exército da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil (1630-1654)”. Tese de doutorado (História) apresentada à Universitet Leiden, 2011, pp. 35-6. 20 14 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos não neerlandês certamente era bem maior. Do outro lado da guerra, a resistência luso-pernambucana sempre contou com soldados nativos, entretanto, a composição destas forças sempre foi bastante diversificada. Em Pernambuco, não havia apenas soldados indígenas, mas também afrodescendentes, os chamados “terços negros”. Por outro lado, havia muita resistência sobre a utilização sistemática de tais combatentes na luta contra os holandeses. No Brasil, a utilização mais alargada de guerreiros indígenas só será uma solução consensual a partir de 1640.18 Não podemos esquecer que a Monarquia Hispânica também promoveu a ida de soldados napolitanos para Pernambuco, comandados por Giovanni de San Felice, o conde de Bagnuolo, um conhecido crítico da utilização em larga escala dos guerreiros indígenas.19 No Maranhão e Grão-Pará, a utilização generalizada de soldados indígenas, tanto do lado holandês quando do português, era sistemática e considerada absolutamente necessária em todas as fases do conflito. De fato, os neerlandeses já utilizavam, há muito tempo, os serviços dos índios na manutenção e vigilância das fortalezas do rio Xingu, período anterior à Guerra do Brasil.20 Outra característica marcante da guerra na Amazônia é a onipresença dos caminhos fluviais. As grandes distâncias entre as capitanias, em todas as fases da guerra, só poderiam ser superadas pelo conhecimento nativo sobre o sistema de baixa-mar e de preamar. Os portugueses não se deslocavam de um ponto a outro sem o auxílio indígena. No Brasil, os caminhos fluviais são mais obstáculos que rotas de conexão. Com efeito, a guerra em Pernambuco, e nas capitanias do Norte do Estado do Brasil, é majoritariamente terrestre. 21 Ao contrário, na Amazônia a guerra era aquática. Os próprios europeus deveriam, a todo momento, acostumar-se a essa peculiaridade. Sabe-se, por outro lado, que as próprias fortalezas neerlandesas na Europa não ignoravam, por exemplo, a transição entre terra e água, investindo em obras bélicas de natureza também hidráulica.22 No Estado do Maranhão, a guerra fluvial incentivou o uso MELLO, Evaldo Cabral de. Olinda Restaurada. Guerra e açúcar no Nordeste, 1630-1654. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998, p. 230-1. 19 MELLO, Evaldo Cabral de. Olinda Restaurada, p. 242. 20 HULSMAN, Lodewijk. “Swaerooch: o comércio holandês com índios no Amapá (1600-1615)”. Revista Estudos Amazônicos, vol. VI, nº 1 (2011), pp. 178-202. 21 MELLO, Evaldo Cabral de. Olinda Restaurada, p. 66; PEREIRA, Sidclay Cordeiro. “Caminhos na resistência. O espaço do Recife durante ocupação neerlandesa (16301637) em Pernambuco (Brasil)”. Recife: Dissertação de Mestrado (geografia) apresentada à Universidade Federal de Pernambuco, 2006, p. 53. 22 CÁMARA, Alicia. “Esos desconocidos ingenieros”. In: CÁMARA, Alicia (ed.). Los ingenieros militares de la Monarquía Hispánica en los Siglos XVII y XVIII. Madrid: Ministerio de Defensa, 2005, pp. 13-29. 21 18 Colonização e mundo Atlântico generalizado da canoa indígena, formando aquilo que se pode chamar, sem exagero, de infantaria fluvial. Na última fase da guerra, entre os anos de 1645 e 1654, existe um rico intercâmbio entre as duas macrorregiões, Brasil e Maranhão, com a transferência de recursos, contingentes indígenas e experiências bélicas entre os dois Estados. Como consequência da adoção de estratégias indígenas nas batalhas, até a segunda metade do século XVII, há uma revalorização da rede de intermediários, homens estacionados entre os dois mundos, o europeu e o nativo.23 Nesse sentido, chefes militares indígenas, como Antônio da Costa Marapirão, ou portugueses, como o famoso capitão do Ceará, Martim Soares Moreno, passam a ganhar enorme importância ensejando a distribuição, inédita, de mercês e mesmo processos de nobilitação.24 * * * Por fim, faltam muitas pesquisas, sobretudo nos arquivos holandeses, para que possamos ter uma ideia mais clara acerca dos objetivos que impulsionaram a WIC a tomar a capitania do Maranhão. Entretanto, as fontes holandesas e espanholas disponíveis não parecem confirmar a tese de que a tomada da Amazônia portuguesa pode ser um simples desdobramento da Guerra do Brasil. Em primeiro lugar, pelos problemas de navegabilidade entre Brasil e Maranhão; em segundo lugar, pela especificidade da região, dominada por insondáveis caminhos fluviais, em comparação com a guerra terrestre luso-pernambucana; em terceiro lugar, pela condição de fronteira dessa região, perigosamente próxima das Índias espanholas, das Guianas e do Caribe. De fato, a estratégia holandesa no Maranhão e Grão-Pará parece mais próxima dos projetos batavos nas rotas caribenhas e hispano-peruanas. O Maranhão, como os próprios relatórios holandeses podem demonstrar, estava justamente localizado perto do epicentro da economia espanhola, alvo central do esforço neerlandês de desgaste da Monarquia Hispânica. Essa condição fronteiriça parece fundamental em qualquer comparação com a chamada Guerra do Brasil. A historiografia dos séculos XIX e XX, inclinada a uma Sobre o tema, ver: GRUZINSKI. Serge. As Quatro Partes do Mundo. História de uma mundialização. Belo Horizonte/São Paulo: Editora UFMG/Edusp, 2014. 24 CARVALHO JUNIOR, Almir Diniz de. Índios Cristãos. A conversão dos gentios na Amazônia Portuguesa (1653-1769). Campinas: Tese de doutorado (história) apresentada à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 2005. Para um estudo mais amplo acerca dos processos de nobilitação na América, ver: RAMINELLI, Ronald. Nobrezas do Novo Mundo. Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro: Editora FGV/Faperj, 2015. 22 23 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos interpretação nativista do processo, investiu numa unidade “brasileira” que seria estranha a qualquer estrategista militar ou navegador do período. 25 Talvez a melhor maneira de prevenir esse anacronismo seja assumir, tal como alguns conhecidos cronistas do período fizeram, que a América portuguesa era caracterizada pela diversidade, não pela unidade. Sobre a memória da ocupação neerlandesa, ver o clássico: MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro Veio: O imaginário da restauração pernambucana. Rio de Janeiro: Topbooks, 2a edição, 1997. 23 25 Colonização e mundo Atlântico DE MANILA AO AMAZONAS: A COLONIZAÇÃO IBÉRICA EM CONNECTED HISTORIES (SÉC. XVI-XVII) André José Santos Pompeu1 Resumo O presente trabalho propõe a discussão das possibilidades de “histórias conectadas” entre os projetos coloniais do Pacífico e da Amazônia. Entendendo que as monarquias ibéricas mantém uma estreita ligação entre o local e o global em seus projetos colonizadores, o presente trabalho levanta o exemplo das Filipinas e do Maranhão como conexão possível ao entendimento do impulso colonizador ibérico. A pesar das diferenças residuais na esfera local, os projetos atendem a um anseio maior do império, no que tange ao global, por isso, passiveis de serem entendidos como conectados obstante as diferenças. Segundo Serge Gruzinski, o papel do historiador deve estar preso à função de restabelecer as conexões históricas entre diferentes lugares e sociedades. Ligações que muitas vezes passam despercebidas aos historiadores, quando não, apenas minimizadas em sua importância. No cerne, Gruzinski tenta dizer que um dos papeis do historiador é se dedicar a um tipo de historiografia que possa derrubar as trincheiras das divisas de Estados – como a divisão entre história de Portugal e história de Espanha – uma forma de demonstrar como a história é múltipla e se mantém conectada, principalmente, no caso analisado por Gruzinski que envolve muito mais uma monarquia católica, do que uma história colonial da aculturação mexicana2. Utilizando a ideia bastante popularizada por Sanjay Subrahmanyam3 sobre connected histories, é possível identificar conexões entre histórias se realizando em diferentes partes do globo, história que possivelmente se cruzam e se alinham diferentes de uma história continua e linear, geralmente centrada na Europa. Pensando nessa possibilidade de conexões globais entre diferentes pontos locais, me proponho pensar a questão das fronteiras de avanço colonial do mundo ibérico. Mestrando do Programa de Pós-graduação em História Social da Amazônia da Universidade Federal do Pará. Bolsista Capes. 2 GRUZINSKI, Serge. “Os mundos misturados da monarquia católica e outras connected histories”. Topoi, Rio de Janeiro, mar. 2001, pp. 175-195. 3 Sobre as connected histories ver: SUBRAHMANYAM, Sanjay. Explorations in connected history: Mughals and Franks. Oxford: Oxford University Press, 2012. SUBRAHMANYAM, Sanjay. The Portuguese empire in Asia, 1500-1700: A political and Economic History. 2ª. Ed. Nova Jersey: Willey-Blackwell, 2012. 24 1 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Notadamente, as potencias ibéricas expandiram primeiramente os seus impérios em direção ao oriente. A Ásia despertava o fascínio dos ibéricos principalmente pelo comercio que existia através do mediterrâneo, comércio este, feito de forma indireta com a colaboração de italianos e muçulmanos. O objetivo sempre foi o monopolia sobre as especiarias vindas de lugares no extremo oriente de preferência as que vinham da Indochina. Tanto espanhóis, quanto portugueses, se lançaram no caminho pela costa africana em busca de rotas para uma Carreira da Índia, que resultaria em grandes ganhos para os ibéricos com relação a vários produtos que seriam comercializados. A Ásia dourada sempre foi o brilho nos olhos dos ibéricos – culminando com o avanço de outras nações europeias sobre a região também – em sua sede de conquista dos caminhos para o oriente, as primeiras experiências de conquista foram testadas naquelas possessões. Apesar de no caso espanhol, as ilhas do Caribe estarem sendo ocupadas sistematicamente no século XVI, quase que ao mesmo tempo do avanço para o Pacífico e da chegada ao mundo Asteca, às possibilidades de enriquecimento vão se escassear mais rapidamente no Caribe que detinha apenas ouro em aluviões4, assim como as rotas comerciais orientais já estavam fixadas. Neste trabalho, pretendo versar principalmente sobre duas experiências coloniais, a Filipina – que inicia já no século XVI – e a amazônica – que se desenvolve principalmente a partir do século XVII. A ideia de procurar as conexões entre as duas experiências em pontos tão distantes entre si, já que uma concerne à experiência ibérica no Pacífico, enquanto a outra já corresponde ao processo de atlantização – sobretudo exercido pelos portugueses. Como já relatei antes, o avanço sobre o oriente remete aos primeiros esforços colonizadores entre os ibéricos, enquanto a conquista do Maranhão é na visão de Alírio Carodoso, uma tentativa de encontrar uma nova Ásia para o Império5. Segundo Cardoso, a possibilidade levantada com a União Ibérica abriu um leque de oportunidades muito grande para a Amazônia, que desde 1621, desconectada do Estado do Brasil, engendrava outra dinâmica independente deste último6. A dinâmica imaginada para o Maranhão estava intimamente ligada como espaço de conexão entre os mundos Pacífico e Atlântico. Em suma, a Amazônia foi pensada como uma rota entre as especiais do Pacífico e a prata SCHWARTZ, Stuart; LOCKHART, James. A América latina na época colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, pp. 114-151. 5 CARDOSO, Alírio. “Outra Ásia para o império: formulas para a integração do Maranhão à economia oceânica (1609-1656)”. In: CHAMBOULEYRON, Rafael; ALONSO, José Luís Ruiz-Peinado. T(r)ópicos de História: gente, espaço e tempo na Amazônia (séculos XVII a XXI). Belém: Açaí, 2010, pp. 9-11. 6 Ibidem, pp. 11-17. 25 4 Colonização e mundo Atlântico peruana pelo grande rio, até a península. Uma ideia bastante recorrente na documentação7 e que poderia ser posta em prática devida as facilidades de Espanha e Portugal terem o mesmo monarca. A possibilidade de embarcar os gêneros em Manila, na ilha de Luzon – nas Filipinas – até o Peru e daí até a península através do Rio Amazonas, seria segundo os cronistas, uma forma de vencer as intempéries provocadas pela presença de piratas no Caribe que já aguardavam os galeões que vinham de Vera cruz e Cartagena. As Filipinas estavam sob a jurisdição do Vice-rei do Novo México até praticamente o fim do período colonial, tendo em alguns casos de ausência do Vice-rei, a administração ser exercida pela Real Audiência de Manila, o que leva a ligação entre México e as Filipinas. A possível conexão entre a Amazônia e as Filipinas, quebraria a corrente que ligava as ilhas pacíficas ao México, mas, além disso, essa possível conexão reafirmaria o poder de Quito, enquanto cidade mais importante do Peru, pois, seria por essa cidade e por um território controlado por ela, que todas as mercadorias deveriam passar, seja a prata peruana, sejam as especiarias orientais. Entretanto, o que leva a similitude do Maranhão com o extremo oriente do Império? Ainda segundo Cardoso, as similitudes estão em três aspectos entre a Índia e o Maranhão, a saber: 1) a definição imprecisa das duas entidades geográficas8; 2) o perfil administrativo e o estabelecimento de poderes locais; 3) a comparação entre as especiarias orientais e as drogas maranhenses9. Deixando um pouco da generalização do Estado da Índia e partindo para outro espaço do Pacífico, mais precisamente o arquipélago das Filipinas10, que Sobre as obras que tratam sobre a possibilidade de conexão através do Rio Amazonas entre o Peru, pode-se destacar: ACUÑA, Cristóbal de. Novo descobrimento do grande rio das Amazonas [1641]. Rio de Janeiro: Agir, 1994. SILVEIRA, Simão Estácio da. Relação sumária das cousas do Maranhão. 9ª. Ed. São Luís: Edições AML, 2013. “Noticias dada pelo capitão Manuel de Sousa D’Eça acerca da importância do Rio das Amazonas”. Madri, 07 de julho de 1615. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 26, 1904, p. 279. 8 Segundo Charles Boxer e Luiz Felipe Barreto, apesar do aumento substancial do conhecimento geográfico da Índia, durante o período da Carreira, o Estado da Índia compreendia tudo que existia depois do Cabo da Boa Esperança, podendo, inclusive, adicionar partes da África onde houvesse feitorias portuguesas. BOXER, Charles. O império marítimo português, 1415-1825. São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 55. BARRETO, Luiz Felipe. “O orientalismo conquista Portugal”. In: NOVAES, Adauto. A descoberta do homem e do mundo. São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 276. 9 CARDOSO, op. cit. 2010, p. 12. 10 O arquipélago em questão, fonte de muitas das especiarias consumidas na Europa, recebeu o seu nome após 1571, com o movimento de conquista por parte dos espanhóis que nomearam o lugar em homenagem ao Rei Filipe II, assim como um distrito no 26 7 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos também conheceu a empresa colonizadora europeia no século XVI. As ilhas que formam as Filipinas são habitadas por uma mistura bastante interessante entre grupos nativos com práticas ancestrais e as ilhas mais densamente povoadas – como é o caso de Luzon – com os grupos convertidos ao islamismo. Segundo John Larkin, o perfil da conquista na área que compreende as Filipinas, vai ser o mesmo que se mostrou tão eficaz com relação aos indígenas americanos. Larkin aponta que o controle dos grupos nativos passou por uma quebra das redes sociais já existentes e que eram dominadas pelos muçulmanos. Para preencher esse vácuo deixado pela saída dos muçulmanos, houve a substituição destes por potentados locais nativos que estavam em conluio com os conquistadores espanhóis11. Em meu campo de análise, trocando algumas palavras, a ideia de Larkin para a dominação das Filipinas pelos espanhóis me parece exatamente igual à ideia de Rede Furada, propagada por Gruzinski com relação à, conquista e evangelização dos índios mexicanos e em grande medida todos os nativos americanos12. Apesar de tratar do processo de ocidentalização do México, a ideia de Gruzinski me parece bastante pertinente a outras áreas de colonização ibérica, lembrando também da já referida ligação entre o Novo México e as Filipinas, parece propicio imaginar que o laboratório colonial das experiências de um, recaiam sobre o outro, assim como sejam expandidas pelo resto das conquistas. Quando me refiro as demais conquistas, penso que, durante o principal período da colonização do Maranhão, ele esteve sob a jurisdição de Madri. Alírio Cardoso vislumbra os planos de conquista da Amazônia como genuinamente castelhanos, assim como, os prospectos do Estado do Maranhão pós-restauração bragantina também são considerados pelo autor como uma herança castelhana13. Dessa forma, cabe pontilhar que a política colonizadora do Maranhão envolveu exatamente a mesma ideia que Larkin aponta para as Filipinas – de colonização anterior – como a ideia de Rede Furada proposta por Gruzinski no seu processo de ocidentalização. nordeste do Estado do Brasil também se chamava Filipeia em homenagem ao rei, demarcando os limites de seu império ultramarino do Atlântico até o Pacífico. 11 LARKIN, John. “Phillippine history reconsidered: a socioeconomic perspective”. In: The American Historical Review, vol. 87, nº 03 (Junho de 1982), pp. 595-598. 12 GRUZINSKI, Serge. A colonização do imaginário: Sociedades indígenas e ocidentalização no México espanhol (Séculos XVI-XVIII). São Paulo: Cia das Letras, 2003, pp.33-40. 13 CARDOSO, Alírio. Maranhão na monarquia hispânica: intercâmbios, guerra e navegação nas fronteiras das Índias de Castela (1580-1655). Tese de doutorado, Faculdade de Geografia e História, Universidade de Salamanca, 2012, p. 322. 27 Colonização e mundo Atlântico Evidentemente que os pilares da colonização são os mesmos independentes do território a ser colonizado. João Fragoso articula que a conquista dos territórios na Época Moderna pelos ibéricos estava intimamente ligada ao processo de evangelização, que segundo o autor, o Estado Moderno português e espanhol estava absolutamente ligado ao pensamento escolástico, sendo a gerencia dos povos fundamental para os seus governantes 14. Nessa perspectiva, assim como Larkin vê o controle de uma elite nativa para o bom andamento da colonização das Filipinas, podemos ver também na Amazônia a utilização dos Principais indígenas com o intuito de controle das populações nativas que a cabo da colonização, garantiam de fato a posse e a ocupação do vasto território na hinterlândia da floresta. Pensando, sobretudo que o Maranhão é uma conquista tardia, em comparação com as Filipinas e o México no século XVI, o definitivo estabelecimento do Maranhão concerne a meados do século XVII, ou seja, após os laboratórios coloniais terem dado certo ou errado em outras partes da monarquia. Analisando como a cessão de privilégios nas aos chefes nativos das Filipinas15 se repete aos chefes nativos na Amazônia, se pode deduzir que tenha dado certo. Não obstante, sempre fica a ideia de que o modelo colonizador tenha sido o mesmo em todas as partes das conquistas ibéricas, a ideia seria um engano se pensarmos que muito do que acontece na África não se repente na América e na Índia. Os ibéricos tinham a total consciência de projetos exitosos e projetos falhos, fazendo adaptações dos exitosos que deviam se espalhar. Os projetos de conquistas, principalmente em regiões com certa proximidade, como é o caso das situações do Atlântico Sul, tipo Brasil-África16. Assim como uma região que pretensamente deveria se juntar ao Pacífico, pode ter o seu projeto colonial retirado dos exitosos da mesma região. Nesse processo de reestruturação das estruturas coloniais e captação das chefias nativas, as Ordens Religiosas vão ter um papel destacado, tanto em Filipinas, quanto no Maranhão. Segundo as Ordenações sobre Descobrimentos, promulgada por Filipe II em 1572, cabia aos missionários o papel de atores principais nas fronteiras, sendo os responsáveis pelos primeiros contatos com os nativos a serem reduzidos ao catolicismo e ao seio da monarquia. Talvez a FRAGOSO, João. “Monarquia pluricontinental como hipótese de trabalho”. In: FRAGOSO, João; GUEDES, Roberto; KRAUSE, Thiago. A América portuguesa e os sistemas atlânticos na Época Moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2013, pp. 33-46. 15 LARKIN, op. cit. 1982, p. 601. 16 Situações estudadas de forma bastante pertinente por Alencastro e Mauro. ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul (séculos XVI-XVII). São Paulo: Cia das Letras, 2000. MAURO, Fréderic. Portugal, Brasil e o Atlântico (1570-1670). Lisboa: Estampa, 1989. 28 14 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos mais destacada Ordem presente nas duas frentes de colonização é a Companhia de Jesus, que segundo o exemplo de Boxer para o México e o Peru, foi à última a chegar ao Novo Mundo, portanto, acabou tendo que se deslocar para longe dos grandes centros17. Assim como no exemplo mexicano e peruano, a Cia de Jesus também esteve ligada as fronteiras da Amazônia e das Filipinas. Pelo menos do lado espanhol, os jesuítas de Maynas vão a partir de 1637, intensificar um processo de evangelização de cerca de 142 reducciones18, mais que o dobro da missão do lado português. Com relação às Filipinas, segundo Nicolas Cushner, os missionários jesuítas vão ser os responsáveis não só pela cristianização dos grupos nativos não-islamicos, mas também responsáveis pela expansão das fronteiras e da sua manutenção, assim como assegurar a civilidade entre elas19. A relação de utilização dos missionários jesuítas parece ser a mesma para o mundo americano como um todo, principalmente por parte dos espanhóis. Lembrando que os jesuítas foram retirados da fronteira lusitana do Amazonas em 1693, quando da repartição dos distritos missionários, sendo substituídos pelos carmelitas20. O que venho tentando articular até o presente momento é o quanto as experiências coloniais estão conectadas. As experiências que são exitosas em lugares que apresentam similitudes são reimplantadas com o objetivo de uma conquista mais eficaz. Utilizei nestas linhas o exemplo Filipino com o amazônico, mas ao pensarmos no império formado pela monarquia católica, sem dúvida vão aparecer outras conexões que precisam de tempo e estudo mais acurado para serem analisadas. Exatamente por pensar na perspectiva do império, me coloco pensando que as soluções para os problemas coloniais que existiam deviam ser pensados como um todo par ao império e não em pequenas formulas. Não teria cabimento a uma entidade administrativa tão grande pensar apenas em pequenas localidades, mas sim em grandes áreas transoceânicas, principalmente se pensarmos na negociação com os poderes locais, que no fim das contas eram os responsáveis pela administração do dia-a-dia da colônia. BOXER, Charles. A igreja militante e a expansão ibérica (1440-1770). São Paulo: Cia das Letras, 2007, pp. 91-97. 18 TAYLOR, Anne Christine. “História Pós-colombiana da Alta Amazônia”. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos índios no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1999, p. 219. 18 Ibidem, pp. 213-238. 19 CUSHNER, Nicolas P. “Early jesuit missionary methods in the Phillippines”. In: The Americas, vol. 15, nº 04 (Abril de 1959), p. 361. 20 “Carta régia em forma de Alvará ao Governador do Maranhão, de 19 de março de 1693, sobre a repartição dos distritos missionários”. In: Anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Vol. 66, 1904, pp. 142-144. 29 17 Colonização e mundo Atlântico O que fica de mais instrutivo ainda é a ideia de uma herança espanhola para os empreendimentos portugueses pós-restauração. As ideias de Cardoso perpassaram por isso o tempo todo, assim como Chambouleyron também identifica para a economia do cacau de meados do século XVII a presença desta herança21. Essa herança, principalmente após 1640, pode ser caracterizada como a identidade ibérica da colonização. Ou até mesmo o estopim da ocidentalização, desta feita, deixa a ideia de que é impossível pensar nos projetos coloniais sem ter em mente as conexões que estreitam os laços não só entre o clássico binômio de metrópole-colônia, mas na ideia de que existe uma circulação ascendente entre as próprias coloniais que independe da vontade do centro. CHAMBOULEYRON, Rafael. “Como se hace en Indias de Castilla”. El cacao entre la Amazonía portuguesa y las Indias de Castilla (siglos XVII y XVIII). Revista Complutense de Historia de América, vol. 40, pp. 23-43, 2014. 30 21 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos “REMETIDOS A INJUSTO CATIVEIRO”: A LIBERDADE INDÍGENA E A ATUAÇÃO DA JUNTA DAS MISSÕES NA CAPITANIA DO MARANHÃO (1738 – 1754) André Luís Bezerra Ferreira1 Orientador: Karl Heinz Arenz2 Introdução O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa intitulado “Legislação, Cativeiro, Liberdade: os índios e a Junta das Missões no Maranhão (1738 – 1754)”, que encontra-se em desenvolvimento pelo Programa de PósGraduação em História Social da Amazônia da UFPA. Destarte, o referido projeto de pesquisa visa analisar as políticas indigenistas que asseguravam a liberdade dos índios no Maranhão, tendo como marco temporal o período pré-pombalino. Para tanto, busco compreender e identificar os principais caminhos encontrados pelos índios para solicitarem sua liberdade, enfatizando o funcionamento e atuação da Junta das Missões. Os estudos sobre a escravidão figuram há bastante tempo no rol das principais temáticas da historiografia brasileira. Desde o limiar dos anos 30, quando se iniciou no Brasil a proliferação de estudos com a finalidade de elaborar uma nova imagem nacional marcada por suas singularidades, como a mestiçagem e a construção de uma democracia racial, a escravidão foi uma das pedras basilares dos referidos estudos. Contudo, é conveniente apontar que prestes a completar um século das análises voltadas para o sistema escravista no período colonial, ainda existem abordagens que o tratam somente por sua opressão e pela perspectiva do imperialismo cultural europeu perante aos povos indígenas e africanos, resultando na presença de preconceitos e mitos que se propagam na historiografia. No entanto, não se pode negar que tal cenário está passando por modificações, novos estudos estão florescendo com o intuito de “dar voz” aos 1Graduado em Licenciatura em Ciências Humanas - História pela Universidade Federal do Maranhão (2014). Especialização em andamento em História e Cultura AfroBrasileira pela Universidade Cândido Mendes. Mestrando em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará. E-mail: [email protected]; [email protected] 2Professor efetivo na Universidade Federal do Pará - UFPA, credenciado no Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia. Possui doutorado em História Moderna e Contemporânea com concentração em História do Brasil e do Atlântico Sul pela Université Paris IV (Paris-Sorbonne), França (2007). 31 Colonização e mundo Atlântico grupos que compuseram a sociedade colonial. A esse respeito, Russel-Wood chama atenção para um “caráter excepcional” do Brasil colonial, que em meio às consolidadas estruturas de comunicações da administração portuguesa, havia brechas para que os indivíduos peculiarizados como “sem voz” pudessem escrever petições diretamente a Coroa lusitana. Segundo o autor, no corpo textual de tais petições estariam os pedidos para soluções contra a crueldade de proprietários, a ilegalidade do cativeiro, ou a negação de cartas de liberdade. “O dado de que indivíduos eram suficientemente familiarizados com estratégias e canais viabilizados por mecanismos de apelação extrajudicial, remetendo seus casos diretamente ao rei”, complementa Russell-Wood, “sugere o argumento de que os não europeus não eram tão desavisados assim acerca da natureza mais particular do sistema legal e de seus mecanismos de funcionamento, como tem sido aventado pela historiografia”3. Quando nos reportamos ao período colonial da capitania maranhense4, sobretudo ao século XVII e a primeira metade do século XVIII, comumente esbarramos em um cenário marcado pelo desconhecimento historiográfico. Não seria exagero apontar que a produtividade historiográfica sobre o período colonial da referida capitania está direcionada para época em que está viveu sua fase áurea, em face da atuação do Marquês de Pombal. A historiografia maranhense costuma atribuir méritos ao período pombalino como efetiva colonização do Maranhão, pois como nos relata Antonia Mota, o período anterior ao Marquês de Pombal “é destacado pela historiografia como um período de pobreza e quase inexistência de um processo colonial”, assim “antes da Companhia não existia nada, e depois dela a região conhece sua fase áurea”5. Há muito que se relativizar. Apenas uma análise mais detida nas fontes poderá apontar as continuidades e rupturas dessa dinâmica colonial antes da atuação do Marquês de Pombal. No que diz respeito aos estudos sobre a história indígena, a produção é praticamente escassa para esse período. Os estudos existentes são necessariamente referentes à atuação das ordens religiosas, principalmente a jesuíta. Cabe pontuar, além do aspecto religioso, o papel dos índios foi objeto de estudos em outros momentos para tratar das questões econômicas que 3RUSSELL-WOOD, J. "Centro e periferia no mundo luso-brasileiro, 1500-1808". Revista Brasileira de História, vol. 18, n° 36, 1998, pp. 187-249. (disponível no site: www.scielo.br) 4Neste caso me refiro a capitania do Maranhão no período colonial. 5MOTA, Antonia da Silva. A dinâmica colonial portuguesa e as redes de poder local na Capitania do Maranhão. Tese de doutorado em História, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. 32 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos resultaram em tensões sociais, políticas e econômicas entre as autoridades régias, as ordens religiosas e a população do Maranhão. Sendo assim, os objetivos traçados para a realização da presente pesquisa tem como seu eixo central a análise das políticas indigenistas e as legislações vigentes no período pré-pombalino, buscando compreender as iniciativas indígenas visando sua liberdade frente à Junta das Missões. Para tanto, busco entender o funcionamento jurídico e o regimento das Juntas das Missões, verificando as políticas indigenistas adotadas para o Maranhão no período em análise e, principalmente, identificar possíveis espaços de ação dos índios para solicitarem sua liberdade, compreendendo se se tratariam de assimilação ou uso das leis portuguesas a seu favor. Desta forma, a pesquisa, ora proposta, apresenta relevância por abordar questões sobre as jurisprudências, legislações indigenistas e sua liberdade no Maranhão pré-pombalino, como também, se insere num ciclo de estudos que florescem na historiografia maranhense sobre o período colonial como um todo. Essa efervescência é fruto do processo de reestruturação pelo qual está passando a historiografia brasileira em todos os seus parâmetros, fomentando, assim, o surgimento de novas metodologias e perspectivas de análises sobre os diversos temas que não foram explorados. Além disso, seja qual for a análise que tem como foco principal o índio, é de suma importância para o cenário nacional. Muito há que ser feito. Sendo assim, o estudo que proponho poderá colaborar sobremaneira com a histografia local, bem como com a nacional, especialmente pelo cruzamento das fontes e sua perspectiva jurídica, que ainda é inédita para o Maranhão seiscentista. A temática indigéna na historiográfia amazônica Nos últimos anos, as análises dirigidas para História do Império Português no Atlântico vêm passando por significativas transformações. Suplantaram-se perspectivas que analisavam países e continentes individualmente, buscando-se a elaboração de novas abordagens que visam integrar Reino português em uma esfera intercontinental. Sendo assim, os debates historiográficos voltados para o período colonial brasileiro não ficaram ausentes de tais transformações, pois como aponta Stuart Schwartz, nos últimos vintes anos houve uma “redireção na escrita e conceitualização da história do Brasil dos primeiros tempos” 6. Nesse panorama de reformulações e integração do Império português, novas temáticas passaram a florescer e temas como o da história indígena foram 6SCHWARTZ, 2009, p. 179 33 Colonização e mundo Atlântico postos em pauta. Segundo Maria Regina Celestino de Almeida7, durante muito tempo, a história desses povos não despertou as atenções do debate historiográfico, sendo vista de uma perspectiva periférica. Manuela Carneiro da Cunha foi uma das pioneiras quando em 1992 organizou a coleção intitulada “História dos índios no Brasil”8, chamando atenção para o fato de que “uma história propriamente indígena ainda está por ser feita”9. Abriu-se assim um leque de possibilidades para novas interpretações, para além de aspectos como passividade e barbarismo, atribuindo a esses povos um protagonismo no processo histórico de formação da sociedade colonial. Apesar da nomenclatura singular, os povos indígenas eram caracterizados por seu espírito guerreiro e sua pluralidade étnica, linguística, cultural, etc. Seja na condição de aliados ou inimigos dos colonos, foram agentes do processo de conquista e colonização das terras do Novo Mundo. Por seu turno, a temática sobre as leis e políticas indigenistas tem despertado grande interesse entre os historiadores na atualidade. Cabe salientar, que o principal motivo para a elaboração das referidas leis e políticas, diz respeito à liberdade dos índios. Sendo assim, Beatriz Perrone-Moisés afirma que a “questão da liberdade dos índios é o motor da história colonial”. Em sua análise, a autora pontua uma lacuna historiográfica sobre as leis direcionadas aos índios, já que “os estudos de legislação indigenista colonial privilegiam o aspecto político econômico da questão em detrimento de seu aspecto propriamente jurídico”, ou seja, lançam um olhar sobre as leis como fruto das tensões políticas, sociais e econômicas exercidas perante a metrópole pelos colonos e jesuítas, que por ora, almejavam o controle dos povos indígenas na colônia 10. No que concerne à produção historiográfica sobre a temática indígena voltada para o norte da colônia ou a chamada região amazônica, devo salientar que os trabalhos já produzidos apresentam uma grande relevância, não somente por seu ineditismo, como também, por suas qualidades teóricas e metodológicas. 7ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na História do Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2010. p. 9 – 10. 8CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 9CUNHA, 1992, p.20 10PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial (século XVI a XVIII). In: CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios no Brasil. 34 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos A exemplo disso está a obra “Quando os índios eram vassalos” de autoria de Ângela Domingues11. Logo em suas primeiras considerações, a autora trata do instigante desafio que é tratar sobre os ameríndios no sertão amazônico, principalmente por dois motivos: “para quem escreve que se propõe dar uma visão lúcida e clara do assunto; e para quem o lê que será confrontado com uma perspectiva que não é nova, mas polêmica, das relações de poder” 12. A autora chama atenção para o fato de que as comunidades indígenas eram ligadas por “laços de parentesco, de comércio ou de guerra, os quais punham em contato grupos afastados e de áreas distantes” 13, e “já estavam constituídas cadeias de comunicação e troca, vias de circulação de pessoas e mercadorias”14. É de grande valia ressaltar a importantíssima contribuição do pesquisador Almir Diniz de Carvalho Júnior, em estudo intitulado “Índios cristãos: a conversão dos gentios na Amazônia Portuguesa (1653-1769)”15. O autor busca discutir uma categoria de suma importância para estruturação da sociedade colonial, a qual seria os “índios cristãos”. Como já sabemos, em um primeiro momento, “índio”, foi uma classificação europeia para atribuir a unidade identitária dos diversos povos que viviam no continente que veio a se tornar América. Portanto, trata-se de um termo genérico que constantemente esteve associado a outras classificações (aliado, inimigo, ladinos, selvagens, domésticos, etc.), principalmente a característica cristã. Sendo assim, ser cristão representava a adesão definitiva dos grupos indígenas ao “processo civilizatório” europeu, passando a designar o nível da integração de cada grupo indígena na esfera colonial, mas precisamente suas transformações em “vassalos e cristãos úteis”. Segundo o autor, “os “índios cristãos” definem melhor as fronteiras e assinalam de forma mais concreta os limites de identificação”. São caracterizados por suas pluralidades étnicas, “mas definem um tipo de inserção social particular”. A identidade cristã complementa o autor, “significou a resposta inovadora que as populações ameríndias, subjugadas e integradas, deram ao projeto civilizador. Era uma forma de se apropriarem de seu destino. Era uma decisão fruto de uma ação, mesmo que muitas vezes, forçada”16. DOMINGUES, Ângela. Quando os índios eram vassalos: colonização e relações de poder no Norte do Brasil na segunda metade do século XVIII. Coleção Outras Margens. Lisboa, 2000. 12 DOMINGUES, 2000, p.15 13 Ibidem, p. 16 14 Idem 15CARVALHO JÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos: a conversão dos gentios na Amazônia portuguesa (1653-1769). Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2005. 16CARVALHO JUNIOR, 2005, p. 6 35 11 Colonização e mundo Atlântico As questões do cotidiano indígena perante a sociedade colonial não passaram despercebidas aos estudos do pesquisador José Alves de Souza Junior, resultando na elaboração da obra “Tramas do cotidiano”17. A obra é de valiosíssima contribuição para historiografia amazônica, na medida em que busca enxergar as tramas do cotidiano para além da moldura da perspectiva do tradicionalismo da história oficial, visando “mergulhar na vida dos personagens coloniais, para tentar ver, ouvir, sentir, o que eles viviam, ouviam e sentiam”. Segundo o autor, durante o processo de ocupação e colonização do Norte da colônia, os índios foram grandes interventores do processo de colonização e construtores das suas histórias. Sendo assim, José Alves chama atenção para singularidade ecológica da região amazônica, apontando a pluralidade étnica dos grupos indígenas, a riqueza da fauna e da flora, os cursos dos seus rios que entrecruzavam os sertões. Este foi o cenário geográfico que os portugueses encontraram para “aplicação” do seu projeto colonial, que transformou a Amazônia em um lócus de grandes tensões sociais, políticas, econômicas e jurídicas, onde “os índios não eram meros expectadores ou vítimas passivas na peça teatral representada no Grão-Pará colonial”, conclui o autor, “metaforizando a ordem dominante e fazendo funcionar as suas leis e suas representações num outro registro, no quadro de sua própria tradição”18. No que diz respeito à Junta das Missões, principal órgão administrativo responsável pela proteção indígena, foi o objeto de estudo da historiadora Marcia de Souza e Mello19. A autora focaliza a atuação da Junta das Missões na capitania do Grão-Pará, situada na Amazônia, uma região caracterizada por sua singularidade geográfica, política, econômica e social. A Junta das Missões era o principal órgão administrativo criado pela Coroa para tratar das particularidades sobre os índios, isso porque o norte da colônia no século XVII é marcado pelas tensões entre colonos e jesuítas em face do controle da mãode-obra indígena. Sendo assim, a Junta seria o instrumento metropolitano para controlar a posse da mão de obra indígena20, desempenhando a função de controlar as missões, os descimentos, resgates, guerras justas, como também, 17SOUSA JUNIOR, José Alves. Tramas do Cotidiano: religião, política, guerra e negócios no Grão-Pará do setecentos. Um estudo sobre a Companhia de Jesus e a Política Pombalina. Tese (Apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social, do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para obtenção de título de Doutor em História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 18 SOUSA JUNIOR, 2009, p. 13 – 14. 19MELLO, Márcia Eliane Alves de Souza. Fé e Império: as Juntas das Missões nas Conquistas Portuguesas. Manaus: EDUA, 2007. 20 MELLO, 2007, p. 205 36 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos julgar a legitimidade da liberdade dos índios, pois como aponta a autora, “a Junta era considerada um tribunal de defesa da liberdade indígena”21. A causa da liberdade ou controle dos indígenas também foi alvo dos estudos de Rafael Chambouleyron. Comumente, quando nos reportamos a “proteção” ou posse dos índios associamos os jesuítas como detentores de tal situação. No entanto, Chambouleyron22 propõe um estudo que analisa o trabalho indígena transcendendo a centralidade religiosa, exaltando os mecanismos adotados pela Coroa para usufruir dos seus vassalos nativos, como também, o jogo de cintura dos moradores para encontrar espaços nas ordens régias que lhe permitissem o uso dos índios. Em circunstância alguma devemos negar que a região amazônica na centúria seiscentista teve seu trabalho alicerçado na força da mão-de-obra escrava indígena, implicando na presença de grandes conflitos e tensões entre as ordens religiosas e colonos. Na mesma medida que a Coroa ordenasse a proibição do cativeiro dos nativos, também tinha ciência que era imprescindível à manutenção do trabalho indígena para o provimento daquela região. Sendo assim, afirma Chambouleyron, “a provisão sobre os descimentos privados, fazia parte de um conjunto de outras decisões que certamente representavam um rearranjo necessário, quatro anos depois de decretada a liberdade irrestrita dos índios”23. Procedimentos teórico-metodológicos Devido as reformulações durante o século XX, o debate historiográfico passou a problematizar e historicizar o cotidiano de sujeitos sociais e históricos que outrora não despertaram seus interesses. A partir de então, os historiadores ultrapassaram os limites teóricos de suas especificidades e passaram a comungar dos diálogos interdisciplinares com os demais ramos das Ciências Humanas, pois como aponta Marc Bloch24, “todo conhecimento da humanidade, qualquer que seja, no tempo, seu ponto de aplicação, irá beber sempre nos testemunhos dos outros uma grande parte de sua substância”25. 21Idem. 22CHAMBOULEYRON, Rafael; BOMBARDI, Fernanda Aires. Descimentos privados de índios na Amazônia colonial (séculos XVII e XVIII). Varia Historia, Belo Horizonte, vol. 27, nº 46, 2011, pp. 601 – 623. 23 CHAMBOULEYRON; BOMBARDI, 2011, p. 606 24BLOCH, Marc. Apologia da História ou O ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. p. 70 25Em face disso, Lynn Hunt chama atenção para a proximidade entre a História e a Sociologia, salientando para o fato da “história social ter superado a história política como área mais importante de pesquisa”25, refletindo a marcante influência de dos dois 37 Colonização e mundo Atlântico Assim, balizado por uma perspectiva interdisciplinar, minha pesquisa está inserida na abordagem da história social dos indígenas, que privilegia a agência desses sujeitos no processo histórico em estudo. Pretendo analisar a relação dos grupos indígenas com a Junta das Missões, pensando os caminhos encontrados pelos índios para se apropriarem de um discurso legítimo, entendendo suas próprias acepções sobre o cativeiro, como também, suas interpretações das legislações que lhes asseguravam a liberdade. Desta forma, não se trata somente em descobrir uma nova documentação, como me é caro o diálogo entre historiadores e antropólogos, onde eu possa me munir de novas teorias e conceitos para realizar uma leitura detalhada das fontes de que disponho. A História Cultural apresenta sua relevância na presente pesquisa, na medida que pretendo nortear minhas análises a partir das interpretações sobre as legislações e as análises dos discursos produzidas através dessas interpretações. Desta forma, Roger Chartier em artigo intitulado “Texto, impressão, leituras”26, analisa como as interpretações de um texto refletem posicionamentos divergentes27, uma vez que “as aptidões e expectativas são diferenciadas de acordo com os usos extremamente variados que os leitores fazem do mesmo texto” 28. Sendo assim, na medida em que as legislações indigenistas eram “textos oficiais” produzidos pela metrópole, objetivo analisar as interpretações empreendidas a partir das expectativas dos grupos envolvidos no processo de colonização do Maranhão, dando maior ênfase para os índios. Outra vertente que pretendo utilizar reside nas categorias passividade e disciplinamento. Nesse sentido, a obra de Michel de Certeau me parece de grande utilidade no que diz respeito à compreensão das práticas cotidianas como mecanismos que transcendem a ordem social. Aldeamento, catequização, negociações e as próprias legislações eram aspectos que integravam os grupos indígenas ao processo de colonização portuguesa, porém, apesar de serem aspectos representativos do grupo dominante, é conveniente ressaltar como os grupos indígenas também lançavam suas próprias perspectivas sobre tais aspectos. O referencial teórico que aqui apresento se caracteriza por seu pluralismo, que não deixa de ter o risco de conceitos e percepções contraditórias entre os teóricos que utilizo. Prefiro isso a cair num ortodoxismo teórico que tenta encaixar vivências e acontecimentos complexos em teorias que foram forjadas principais paradigmas teóricos, o Marxismo e a Escola dos Annales. (HUNT, 2001, p. 2) 26CHARTIER, Roger. Texto, impressão, leituras. In: HUNT, Lynn. A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 27CHARTIER, 2001, p.211 28 Ibidem, 2012 38 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos para explicar outras realidades. Pretendo tratar a história indígena por um caminho que ultrapasse as barreiras teóricas e metodológicas da historiografia tradicional. Desta forma, é de suma importância o elo da história com as “ciências vizinhas”, ou seja, uma análise interdisciplinar, não perdendo de vista o período colonial, pois como aponta Braudel, “o homem é fruto do seu tempo”. Isto é, deve-se entender a relação dos grupos indígenas com as legislações e as políticas indigenistas da época, pela complexidade econômica, social, jurídica e cultural inerente do processo de colonização das Américas. No que concerne aos procedimentos metodológicos para a realização das análises e processamentos das fontes, emprego como minha principal referência Carlo Ginzburg, utilizando o método do paradigma indiciário. Além disso, utilizo a micro-história italiana, uma prática historiográfica que resultou em uma grande inovação nos procedimentos metodológicos da historiografia ocidental, buscando identificar as rupturas e o espaço para a liberdade de ação humana presente nos interstícios das estruturas, propondo igualmente a problematização dos conceitos estruturalistas. Desta forma, na medida em que analiso os grupos indígenas como sujeitos sociais e históricos, existe a real possibilidade do surgimento de várias histórias individuais desses grupos, semelhantes aos personagens dos estudos inquisitoriais de Ginzburg. Por fim, também me é caro a questão da questão da mentalidade coletiva apresentada nos estudos de Ginzburg, principalmente a obra Andarilhos do bem29. Quando os índios recorriam à Sua Majestade por sua liberdade, ora produziam solicitações coletivas, ora eram manifestos individuais. Parece-me ser mais conveniente aderir aos procedimentos da mentalidade coletiva, na medida em que as atitudes individuais dos indígenas fazem parte de toda uma conjuntura social, política e econômica. Fontes De imediato, é importante ressaltar a potencialidade da documentação sobre as legislações, cativeiro e liberdade indígena que fundamenta o presente estudo. Não somente pelo seu ineditismo ou por pouca exploração, mas principalmente por sua riqueza de dados, informações, “rastros e vestígios” que nos fazem perceber a importância da construção de uma historiografia indígena, além de nos possibilitar enxergar os nossos personagens como ativos agentes sociais do período colonial, adentrando em seus espaços e suas vidas cotidianas. Sendo assim, pretendo fundamentar o presente estudo através do entrelaçamento de documentos em acervos diversos, dando maior ênfase para 29 GINZBURG, 2010. 39 Colonização e mundo Atlântico as fontes disponíveis no Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM) e no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU). No que diz respeito às fontes do APEM, tive acesso ao Livro de assentos, despachos e sentenças da Junta das Missões na cidade de São Luís (1738 – 1777). Este acervo documental é de suma importância para a realização deste estudo, pois apresenta uma relevante quantia de documentos, onde sistematizei em temáticas como: autos de liberdade, legislação reguladora da liberdade, relações familiares, pagamentos de direitos sobre escravos, descimentos, conversão dos índios, educação e catequização, assaltados e assassinatos cometidos por índios, entradas de paz, descrição da região e ambientes, fugas, matrimônio, alforria, aldeamentos; guerras, salários dos índios, etc. Também tive acesso aos arquivos do Arquivo Histórico Ultramarino, através do Projeto Resgate.30 Através da consulta em seu fundo documental, tive acesso a valiosas fontes, principalmente referentes às leis, autos de devassa contra o cativeiro ilegal dos índios, solicitações de liberdade, pagamentos dos índios pela realização de trabalhos, suas administrações, entre outros. 30Por seu turno, o Projeto Resgate foi institucionalizado em 1995 através da aliança luso-brasileira, com o intuito de fornecer em seu sítio eletrônico documentos históricos correspondentes ao período do Brasil colonial. Seu acervo é composto por documentos do Conselho Ultramarino que datam do século XVI até a centúria oitocentista. 40 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos “VÃO E FAÇAM COM QUE TODOS OS POVOS SE TORNEM MEUS DISCÍPULOS, BATIZANDO-OS EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPIRITO SANTO”1: LAÇOS DE COMPADRIO E ESCRAVIDÃO NA SÃO LUÍS DO SÉCULO DEZOITO Antônia de Castro Andrade2 Resumo Estudo sobre a relação de compadrio entre a população escrava na São Luís do século dezoito. Compreender quais os possíveis significados que este rito cristão assumiu para os sujeitos históricos nele envolvidos. Como as relações cotidianas tecidas no seio daquela realidade social, influenciariam no momento da escolha dos parentes em cristo. Palavras-chave: Escravidão; Compadrio; Cotidiano; Significados; Escolhas. Introdução O presente artigo faz parte de um trabalho apresentado na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), como pré-requisito para a obtenção do título de especialista em História do Maranhão. Pretende-se discutir quais as possíveis representações que o Batismo Cristão assumiu para a população escrava da São Luís do século XVIII. Quais seriam os interesses que poderiam ter influenciado na hora da escolha de seus parentes espirituais. Para tanto, foi analisado um conjunto de 717 registros de batismo de escravos, realizados entre 1713 e 1774, na Freguesia de Nossa Senhora da Vitória. Objetiva-se, a partir do estudo das relações que foram sendo gestadas a partir dos laços de compadrio, aclarar algumas questões sobre os vínculos sociais que permearam o cotidiano da escravidão no Maranhão. O batismo representa, neste contexto, um rico espaço de constituição de múltiplas relações sociais, que vão muito além dos lugares previamente definidos pelos status jurídicos das pessoas ou por sua situação econômica. Rito cristão, o ato de levar alguém diante da pia batismal, simboliza para as pessoas envolvidas um momento em que podem obter o perdão de todos os seus BIBLIA SAGRADA. Ed. Pastoral. Edições Paulinas, São Paulo, 1990. Mt. 28,29. p.1279. 2 Mestranda do Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 41 1 Colonização e mundo Atlântico pecados. É considerado pela Igreja Católica, como podemos ver nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, o primeiro de todos os sacramentos e condição indispensável para àqueles que querem alcançar a salvação eterna. Socialmente, o batismo adquire significados que não estão normatizados nos preceitos cristãos. A escolha dos padrinhos na São Luís setecentista foi determinada não só pelas leis canônicas, mas muitas vezes obedeceu a situações aparentemente inusitadas naquela realidade, como os casos em que o senhor apadrinha seu próprio cativo. Por outro lado, o ritual simboliza perfeitamente a sociedade bastante hierarquizada, quando os padrinhos e madrinhas têm, geralmente, condição social superior a dos batizandos. O rito católico constituiu-se, portanto, como uma ponte a ligar pessoas que pareciam irremediavelmente separadas, mostrando quão complexo era aquele universo social. Na escolha dos padrinhos de crianças ou de adultos, a condição sociojurídica das pessoas não representou um grande obstáculo, embora a preferência tenha recaído naquelas de classes sociais superiores ou iguais à do (a) afilhada (o). Os pais dos batizandos escolhiam pessoas que tivessem condições de ajudá-los a criar seus filhos ou mesmo os assumissem integralmente se por acaso viessem a desaparecer. Ou seja, dar aos filhos guias espirituais de grupos sociais preferentemente superiores ao seu, poderia representar uma esperança de vê-los beneficiarem-se de algum dos privilégios que a condição jurídica e/ou sócio-econômica dos padrinhos poderia lhes proporcionar. Desse modo, o batismo alargou os espaços de sociabilidade da população cativa ludovicense, pois além dos padrinhos pertencerem geralmente a grupos sociais diferentes, mesmo nos casos em que os padrinhos eram escravos, nem sempre pertenciam ao mesmo proprietário da criança levada à pia. Padrinho e madrinha eram presença necessária e constante nas cerimônias de batismo. Segundo os preceitos da Igreja Católica, a eles cabia a responsabilidade de instruir seus afilhados nos caminhos da fé e dos bons costumes. Deveriam prestar ajuda espiritual, sem dúvida, mas também material, bem como substituir os pais naturais do batizando em uma eventual necessidade. E, em se tratando de uma organização social cujas bases assentamse em princípios pregados pela religião católica, “são raros no Brasil os padrinhos que não levam a sério suas responsabilidades” 3, segundo Kátia Mattoso. MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. Trad. James Amado. São Paulo: Brasiliense, 2001. p.132. 4 REGISTRO DE BATISMO. Livro nº101. (manuscrito). 1730. Folha 94. 5 Ibid., Livro nº 107. (manuscrito). 1771. Folha 39v. 42 3 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos A escolha dos padrinhos e seus possíveis significados Através da análise dos registros de batismo, percebemos que, em algumas cerimonias, uma das partes não se fez presente. Na maioria das vezes, essa situação envolveu a madrinha, pois das 161 ausências encontradas ao longo do período em estudo, elas respondem por 144. Foi o que ocorreu no batizado do pequeno Raimundo, filho da escrava Simplícia, em 1730. Tal cerimônia foi abençoada apenas por seu padrinho, o capitão Diogo Pedro. 4 O mesmo aconteceu com Manoel, batizado em 30 de junho de 1771. Diante da pia, compareceu apenas seu padrinho, o capelão José Antônio Alves.5 Na ausência das madrinhas, os padrinhos possivelmente acabariam assumindo uma responsabilidade muito maior. Talvez por terem consciência desse fato, os pais dessas crianças tenham escolhido homens livres, em sua maioria, como compadres. A esperança de ver seus filhos amparados por alguém que possuísse alguma representatividade dentro daquela sociedade, deve ter influenciado na hora da escolha. A escrava Boaventura, adulta, também não conheceu, ou pelo menos, não teve o nome de sua madrinha registrado: “aos coatro de outubro de hum mil setecentos e setenta e hum baptizei e pus os Santos Oleos a Boaventura, adulta, africana, cacheo, escrava de Felicio Antonio foi padrs. Caethano escravo do ditto Felicio Antonio [...]”. 6 Boaventura não foi à única que, ao chegar em terras tupiniquins, não pôde contar com o auxílio de uma “mãe espiritual”. Dos 144 batismos, em que as madrinhas não compareceram, 61 deles eram referentes a escravos africanos adultos. Para exemplificar citaremos o caso de Alexandre e Leandro, “pretoz de caches escravos do capitão Domingoz da Rocha Araújo”, que ao serem levados a receber os “santos óleos”, em 1759, também só contaram com a presença do padrinho: “Antonio servo do ditto Domingoz da Rocha”. 7 Santas também foram evocadas para abençoar a entrada daqueles homens/mulheres na vida cristã. Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, em cinco de junho de 1754, foi convocada para abençoar o batismo da menina Quitéria Maria, filha de Adriana “escrava de Izabel Ribeyro e pay incerto”. 8 Nossa suposição é que o costume de indicar santas para substituir a madrinha teria uma função eminentemente espiritual. Tal costume identificavaREGISTRO DE BATISMO. Livro no101. (manuscrito). 1730. Folha 94. Ibid., Livro no 107. (manuscrito). 1771. Folha 39v. 6 Ibid., Livro nº 101. (manuscrito). 1771. Folha 40v. 7 Ibid., Livro nº 104 (manuscrito). 1759. Folha 294. 8 REGISTRO DE BATISMO. Livro nº101. (manuscrito). 1754. Folha 36. 43 4 5 Colonização e mundo Atlântico se com a natureza religiosa do rito e com o desejo de proteção divina para purificar-se dos pecados. Acreditamos, ainda, que tal escolha, funcionaria também como uma ponte que ligaria dois mundos: o terreno (profano) com o espiritual (sagrado). Poderíamos supor, também, que as santas estariam substituindo uma pessoa que não pôde ou não quis ser madrinha daquelas crianças. Alguns padrinhos, por não poderem comparecer diante da pia batismal, também mandaram alguém representá-los. Jozephe, por exemplo, representou, através de uma procuração, Lopes Roiz de Vasconcelos, no batismo de Matheus “filho de pay incerto e de Maria escrava do capitam Sebastião Pa r. da Sylva”.9 A inocente Claudina “filha da mulata Joaquina, escrava de Bernadina Marinho” quando foi receber os “santos óleos”, também não pôde contar com seu protetor espiritual, este se fez representar “por seu procurador Jozé Maria Nogra”, homem livre.10 Casos como os citados apontam para a importância que o simples convite a participar do rito batismal teria para àquelas pessoas. Em uma sociedade essencialmente católica, participar de um rito cristão com certeza teria um significado que ia para além do espiritual. Poderia representar um ato que reafirmasse sua condição de homem/mulher católico (a) e, portanto plenamente inserido (a) e aceito (a) naquele universo social. Quanto às ausências, em relação aos padrinhos, apenas 17/717 não compareceram à cerimônia e também não se fizeram representar. Dessas ausências, sete eram em batismos de escravos adultos. Teodora, “adulta, preta de caches”, que participou de um batismo coletivo em 1759, teve apenas o nome de sua madrinha registrado, “Maria (...) forra” do serviço de “Joaquim Vidal de Almeyda”. 11 O mesmo aconteceu com o pequeno Antônio, filho da cafuza e escrava Isabel, que ao ser ungido com os Santos Óleos, contou apenas com a presença de sua madrinha, a livre “Quitéria Maria Campello”, moça solteira.12 As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia determinavam serem os pais ou pessoas responsáveis pela criança quem deveria nomear os padrinhos, cabendo ao pároco respeitar tal escolha. Como já dissemos, os pais do batizando, pessoas que não pudessem (surdos - mudos) ou não “quisessem” professar a fé católica (infiéis) e todo e qualquer eclesiástico, não poderiam ser escolhidos como padrinhos.13 Ibid., Livro nº101. (manuscrito). 1771. Folha 143. Ibid., Livro nº107. (manuscrito). 1771. Folha 27. 11 Ibid., Livro nº104. (manuscrito). 1759. Folha 292. 12 Op. cit. Livro nº 102. (manuscrito). 1771. Folha 17. 13 VIDE, D. Sebastião Monteiro da. CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS DO ARCEBISPADO DA BAHIA. São Paulo: Typographia 2 de dezembro, 1853. Livro I. Título XVIII p.26. 44 9 10 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos As relações sociais latentes nos registros de batismo indicaram uma restrição mais séria e eficaz do que aquela prevista pela lei eclesiástica: os senhores não costumavam apadrinhar seus próprios escravos. No conjunto de 717 registros de batismo de escravos, realizados entre 1713 e 1774, analisados por nós, em apenas 4 o senhor aparece como padrinho de seu próprio cativo. A menina Aieroyma, filha de Mônica, escrava de Constantino de Oliveira Porto, teve como padrinho “o dito Constantino”.14 A inocente Micaela, de apenas um ano de idade, também teve seu batismo abençoado por seu senhor: Em primeiro de junho de hum mil setecentos de sessenta, nesta Igreja da Sé e Freguesia de Nossa Senhora da Victoria do Maranhão e nella baptizey solenemente e pus os Santos Oleos a innocente Micaela filha de Ana, criola, e pay incerto, escrava de João Antonio de Aguiar foy o dito seu senhor padrinho.15 Gudeman e Suchwartz depararam-se com uma situação próxima a essa em algumas áreas do Recôncavo baiano. Lá, em nenhum caso o senhor serviu de padrinho a seus próprios escravos; estes, invariavelmente, tiveram como seus protetores espirituais outras pessoas que não seus proprietários. 16 No entanto, mesmo tendo encontrado um número bem reduzido de senhores apadrinhando seus próprios escravos, acreditamos que quando ocorressem essas exceções, estes cativos poderiam tirar grandes proveitos de tais vínculos. João Raimundo Baldes, identificado como um cidadão ludovicense, por exemplo, concedeu, através de uma carta de alforria, a liberdade a “seu escravo Lourenço”, e o fez “por ser (seu) afilhado”. Lourenço, a partir daquele dia, quinze de agosto de 1807, passava a ser “forro, livre e isento de todo o cativeiro como que do seu ventre materno já fosse”. Tal liberdade foi conseguida sem nenhum custo financeiro. 17 A carta de alforria da escrava Brites também nos chamou atenção. Nela, sua senhora, Dona Joana Maria da Costa, declara que “por ser sua madrinha a mandei forrar e lhe dei inteira liberdade” fazendo isso de “livre vontade sem constrangimentos de pessoa alguma”, em 25 de agosto de 1812. O lugar onde Brites consegue sua liberdade REGISTRO DE BATISMO. Livro nº101. (manuscrito). . 1771. Folha 97. Ibid., Livro nº104. (manuscrito). 1771. Folha 27. 16 GUDEMAN, Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o Pecado Original: compadrio e batismo de escravos na Bahia no século XVIII. In. João José Reis (Org). Escravidão e invenção da liberdade: estudo sobre o negro no Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1988. p.40. 17 CARTA DE ALFORRIA, Livro nº65. (manuscrito). Folha 143v. 45 14 15 Colonização e mundo Atlântico é bastante significativo: diante da pia batismal. Brites dessa forma, renascia espiritual e socialmente do mundo dos pecados. 18 Nos registros de batismo analisados, não há referências sobre as práticas de se alforriar diante da pia batismal. Entretanto, foi durante a cerimônia do batismo de seu filho Norberto que a escrava Vicencia, casada com o forro Francisco, conseguiu comprar a liberdade dessa criança, que se encontrava enferma. Nestas circunstâncias, “attendendo a [...] suplica da dita escrava [...] o Frei Manoel de Sant’anna [senhor dos referidos escravos] ver por bem libertar o criolinho Norberto”.19 O ato de dar alforria na pia batismal parece-nos que, em si, já trazia seus próprios limites. As crianças beneficiadas por essa concessão eram juridicamente livres, mas nas práticas cotidianas continuavam tão escravas quanto suas genitoras. Talvez, por ter consciência deste fato, Dona Joana Maria, faça questão de registrar junto ao nome de Brites a palavra liberta, para que “não possão em tempo algum [seus] herdeiros ascendentes ou descendentes ter menor dúvida a este respeito”. Assim, mesmo vivendo com sua mãe, uma escrava, Brites seria livre perante a lei e perante a sociedade. 20 Enquanto Dona Joana e o Sr. João Raimundo concederam a seus escravos/afilhados sua “inteyra e real liberdade”, o Sr. José Garcês da Fonseca, ao libertar o pequeno José Joaquim, seu afilhado, impõe como condição, a permanência deste junto a ele “enquanto vivo for”. A tão sonhada e esperada liberdade, conquistada por meios outros que não a violência, teria que ser adiada por alguns dias, meses ou anos. 21 Temos consciência de que os casos citados acima não correspondem à totalidade das relações forjadas naquele universo social; também sabemos que tais exceções não só vêm confirmar a regra, mas mostram quão complexas eram as relações que constituem àquela sociedade. E que, longe de representarem apenas vínculos de interesses econômicos, as relações estabelecidas diante da pia batismal demonstram antes formas sutis de relações afetivas. Contrariando hipóteses de autores que vêem o compadrio como uma forma que os escravos tinham para reconstruir laços grupais desfeitos com o tráfico, os indícios presentes nos registros de batismo na São Luís do século XVIII demonstram que tal ritual serviu principalmente para criar/reforçar vínculos “extra comunidade” ou “extra grupo”. São pessoas livres que aparecem, em sua maioria, como padrinhos ou madrinhas de crianças escravas. É, entre tantos, o caso da REGISTRO DE BATISMO. Livro nº26 (manuscrito). 1771. 1812. Folha 76. REGISTRO DE BATISMO. Livro nº 65 (manuscrito). 1800. Folha 234. 20 Ibid., Livro nº65. (manuscrito). Folha 143v. 21 Ibid., Livro nº63. (manuscrito). Folha 206. 46 18 19 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos pequena Ana, filha de Julia, escrava de Manoel Pedro. Quando ela foi levada à pia batismal, em 1730, deram-lhe padrinhos livres Aos vinte e seis dias do mez de fevereiro de hum mil setecentos e trinta baptizey e pus os Santos Oleos a Anna filha de Julia serva de Mel. Pedro e pay Domingos servo de Amaro de Souza foram padrinhos Francisco Xavier Arnout Saltino e Izabel dos Rdos, livres. 22 Dentro do grupo de padrinhos “livres”, 136 deles ocupavam uma certa posição de destaque dentro da sociedade ludovicense. A maioria era composta de representantes diretos do Estado português em terras de além mar: padres, cônegos, capitães, oficiais, soldados entre outros figuravam como padrinhos de várias crianças levadas junto à pia batismal da Freguesia de Nossa Senhora da Vitória. A importância de formar vínculos com pessoas de condição social/jurídica superior à sua, teve um peso maior na hora da escolha, é o que podemos afirmar diante desses indícios. Ao escolherem pessoas livres para apadrinhar seus filhos ou a si próprios, os escravos certamente alimentavam a esperança de encontrar alguém que pudesse assisti-los diante de uma necessidade, ou mesmo concederlhes a liberdade. Além de pessoas juridicamente livres, padrinhos e madrinhas eram, em sua maioria, solteiros. A inocente Josefa, filha “natural de Maria, escrava de Bernardo da Silva”, batizada em 1759, teve como padrinhos “Luís Domingues [...] solteyro e Quitimna, mossa, solteyra”.23 O mesmo ocorreu com Joaquim, batizado no mesmo ano. Aos quinze dias do mez de dezembro de hum mil setecentos e cincoenta e nove annos nesta Igreja da Sé Freguezia de Nossa Senhora da Victoria do Maranhão. Nela baptizey solennemente e puz os Santos Oleos ao innocente Joaquim filho de Thereza mulata escrava de Joze (ileg.) e de pay incerto forão padrinhos: Francisco (ileg.) Sousa e sua irmã Dona Francisca de Paula ambos solteyros [...] 24 Ter padrinhos e madrinhas solteiros (as), portanto, sem herdeiros forçados, poderia representar para àqueles escravos uma esperança de ver seu nome entre os seus legatários, embora isso não constituísse uma obrigatoriedade. Escravos também apadrinhavam seus irmãos de infortúnio. Nos registros analisados encontramos 389 escravos e escravas sendo padrinhos e madrinhas, REGISTRO DE BATISMO. Livro nº 101 (manuscrito). 1760. Folha 91. Ibid., Livro nº 104. (manuscrito). 1759. Folha 291. 24 REGISTRO DE BATISMO. Livro nº 101 (manuscrito). 1759. Folha 299. 25 REGISTRO DE BATISMO. Livro nº 104. (manuscrito). 1771. Folha 346. 47 22 23 Colonização e mundo Atlântico isto é, sendo escolhidos como pais e mães espirituais de outros cativos, ao lado de pessoas livres, libertas e também de outras pessoas escravizadas. Vejamos o exemplo da escrava Justiniana, que escolheu como padrinhos de sua filha Luiza, “Thomaz, preto, cazado, escravo [...] e Lourença, solteyra, forra do serviço de Domingos dos Reys”;25 e do “preto Antonio e da preta Roza” ambos escravos, que em 1771, batizaram a pequena Rita, filha da escrava Suzana e de “pai incerto”.26 No entanto, o batismo cristão pouco serviu para ligar a população cativa àqueles que talvez, há pouco tempo, tivessem conquistado a tão sonhada liberdade, os forros ou libertos. Na documentação trabalhada, um pequeno número de ex-escravos apareceu como padrinhos. Entre as madrinhas, apenas 49 foram identificadas como forras e, de 696 padrinhos que compareceram à cerimônia, somente 29 forros aparecem como pais espirituais de algumas crianças ou adultos escravos batizados. Tênues vestígios demostram, mais uma vez, o papel secundário da mulher na liturgia batismal setecentista. Dos 216 casos em que os padrinhos tinham estatuto jurídico diferente, em 159 deles a madrinha se encontrava em condição inferior: era forra, escrava ou não teve seu nome registrado, enquanto os padrinhos eram livres. Podemos citar, como exemplo, o batismo da menina Juliana, “filha de Sebastiam forro e de Leonor escrava Donna Anna Frois”, que teve como padrinho “Luis Frra” e como madrinha “Joanna escrava de Mariana de Barros”. 27 Ou ainda, o registro do pequeno Bartolomeo, filho “natural de Lourença solteyra, escrava [...] e pay incerto”, batizado aos vinte e nove dias do mês de dezembro de mil setecentos e sessenta, cuja cerimônia foi abençoada pelo livre “Lourenço da Costa barboza” e por “Mª escrava do capitão Domingos da Rocha”.28 Na São Luís dos setecentos, a maioria dos padrinhos e madrinhas, tanto de homens quanto de mulheres, foram buscados em uma classe social superior a de quem estava dando o (a) filho (a) a batizar. Para os 299 batismos de escravas em 213 deles, pessoas livres aparecem como padrinhos. O mesmo ocorreu com os escravos, dos 418 assentos analisados, em 249 deles mulheres e homens livres foram registrados como seus protetores espirituais. Não temos elementos para descrever as relações que existiam entre estes compadres e comadres. Pensamos, no entanto, que de alguma forma essas pessoas se conheceram e estabeleceram vínculos de solidariedade que foram ratificados com o rito do batismo. REGISTRO DE BATISMO. Livro no 104. (manuscrito). 1771. Folha 346. Ibid., Livro nº 107. (manuscrito). 1771. Folha 29. 27 Ibid., Livro nº 101. (manuscrito). 1730. Folha 91v. 28 Ibid., Livro nº 104. (manuscrito). 1760. Folha 359 v. 48 25 26 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Conclusão Pelo exposto acima, entende-se que as relações entre senhores e escravos e entre livres e escravos, enquanto sujeitos históricos pautavam-se em suas experiências cotidianas e estas se encontravam permeadas de contradições, lutas, conflitos, resistências, acomodações e cheias de ambigüidades. Assim, a História da escravidão no Brasil e no Maranhão, a partir de tal perspectiva, precisa ser entendida como feita não por seres inanimados, a serviço de um sistema, mas, sim, por pessoas imersas em uma vasta rede de relações sociais. Na análise dos registros de batismos, não se encontra apenas informações de cunho religioso, mas também vestígios que podem nos falar sobre o ser social de cada pessoa envolvida, torna-se uma das possibilidades para tentarmos compreender a complexa rede social que foi sendo tecida pela população escrava ludovicense. O batismo alargou os espaços de sociabilidade da população cativa, pois além dos padrinhos pertencerem geralmente a grupos sociais diferentes, mesmo nos casos em que os padrinhos eram escravos, nem sempre pertenciam ao mesmo proprietário da criança levada à pia. Pensar essa sociedade a partir desses laços é pensar em uma realidade extremamente dinâmica. Onde homens e mulheres, estavam constantemente criando e recriando espaços de sociabilidades e de sobrevivência dentro de um universo que lhe era muito hostil. Não sabemos, e nem poderemos saber, como os escravos, que levavam seus filhos (as) para serem urgidos (as) com os santos óleos, realmente experienciavam o batismo cristão. Podemos sim, a partir do contexto e das pistas deixadas por aqueles sujeitos históricos, imaginarmos que o rito assumiu pra eles um significado que foi para além do aspecto religioso, assumia uma representatividade social, que poderia ter sido percebida e utilizada pelos escravos como forma de estabelecer laços que ultrapassavam os limites das senzalas. Ou de reforçar laços criados dentro dela. 49 Colonização e mundo Atlântico ESPAÇOS AFRO-INDÍGENAS NO MAPA BRASILIA QUA PARTE PARET BELGIS Bartira Ferraz Barbosa1 José Luis Ruiz-Peinado2 A escolha do mapa mural O mapa mural Brasilia qua parte paret Belgis vem sendo estudado por especialistas de vários campos da história e da geografia como uma das obras financiadas pela Companhia das Índias Ocidentais (WIC) das mais avançadas para sua época. Comemorando, em 2012, os 365 anos da sua primeira publicação, realizada em 1647, pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e da Universitat de Barcelona reuniram-se para uma investigação sobre os espaços com presença de indígenas, de africanos, de mestiços e de afrodescendentes nele representados. Neste trabalho, os textos e os desenhos contidos no mapa serviram como base para a realização das interpretações históricas sobre os territórios colonizados e os não colonizados, isto é, os contíguos aos já dominados pelos europeus, apresentados neste mapa como espaços indígenas com presença de africanos e de afrodescendentes colocados fora do domínio colonial. Utilizando um conjunto de documentos históricos constituídos por mapas, informes e cartas indígenas produzidos no período colonial foi possível dialogar como o mapa como uma 'linguagem' viva, base para a pesquisa histórica e social sobre o contato entre natureza, europeus, indígenas e africanos ocorrido durante a conquista e a ocupação holandesa do Brasil no século XVII. Mapa que registra mudanças e continuidades na cartografia holandesa e na paisagem colonial brasileira, onde diferentes ações ocorridas nos espaços coloniais podem ser acompanhadas. Temas novos envolvendo colonização, escravidão, monoculturas, expedições e conquistas foram inseridos por Margrave em seus registros cartográficos durante esta época de ouro para as ciências e as artes desenvolvidas nos Países Baixos (Matsura, 2011: 330). O Brasilia qua parte paret Belgis confirma esta afirmação por ser a mais precisa das representações geográficas da costa do Nordeste do Brasil do século XVII. Durante o período colonial, os interesses por mapas geopolíticos e planos urbanos sobre diferentes regiões da América estavam, sobretudo, relacionados a aspectos históricos enredados às fronteiras econômicas estabelecidas a partir da expansão marítima de estados e reinos europeus modernos. Portanto, rotas 1 2 Universidade Federal de Pernambuco. Universidade de Barcelona. 50 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos de navegação, mercadorias, contatos entre diferentes regiões e assentamentos populacionais são alguns dos temas encontrados na cartografia histórica produzida. A costa Nordeste do Brasil foi a primeira região das americanas a receber um grupo de cientistas financiado pela WIC, para desenvolver pesquisas em diferentes campos da geografia, da cartografia, da botânica, da astronomia, do desenho, da pintura, da medicina, entre outros. As atividades ocorridas neste período tiveram apoio no comércio atlântico o que permitiu a Johanes de Laet, geógrafo e diretor da WIC, a edição de alguns estudos como os de Willen Piso e Georg Marcgrave na obra Historia Rerum Naturalius Brasiliae (Historia Natural do Brasil), datada de 1648. Sobre o duplo enfoque comercial e científico da WIC, Cabral de Mello afirma terem os neerlandeses os recursos financeiros tanto para a ocupação do Nordeste do Brasil como para o financiamento de importante desenvolvimento cartográfico, iniciado no século XVI. Textos holandeses e portugueses, mapas e descrições pormenorizadas da costa, estudos econômicos das plantações de açúcar e o custo das invasões, foram alguns dos aspectos financiados que passaram a ser enfocados por uma ampla e variada documentação histórica produzida no século XVII (Cabral de Mello, 2010). Incluem-se entre estes documentos as cartas e os relatos de indígenas escritos em tupinambá, holandês e português assim como documentos assinados por mestiços e afrodescendentes.3 Em Portugal, desde o início do século XVI, documentação e cartografia vieram a ser produzidas, mas foi na Holanda, a partir de 1580, que a cartografia mais detalhada sobre a América passou a ser desenvolvida. No final do século XVI, Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) cria, com base na projeção de Mercator, um padrão que será seguido nos mapas sobre as Índias Ocidentais da época, posteriormente, também utilizado por Georg Marcgrave, Johan de Laet e Jean Blaeu, entre outros cartógrafos. A demanda por esse gênero de imagem leva da cidade de Antuérpia para Amsterdam a liderança das publicações de mapas, relatos de viagens e textos científicos. Ainda que os grandes cartógrafos e cosmógrafos das monarquias ibéricas se encontrassem em Lisboa, Sevilha e, depois da independência dos Países Baixos, em Antuérpia e Amsterdam, os novos conhecimentos cartográficos também passaram a ser impressos em outras partes do mundo incorporando conhecimentos de culturas e indivíduos Sobre o tema pode ser mencionada uma série de artigos e textos produzidos desde o século XX, como o de Pedro Souto Maior, o de Teodoro Sampaio, o de Hullswyck, e o de Bartira Ferraz Barbosa. Os documentos citados que se encontram arquivados no Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa e no Arquivo da Companhia das Índias Ocidentais em Haia, Holanda. 51 3 Colonização e mundo Atlântico em contato. 4 Um exemplo é o Atlas Universal de Fernão Vaz Dourado, feito em Goa. Fernão, um mestiço de português com uma indiana, autor das 17 cartas náuticas reunidas neste atlas é considerado, hoje, um dos melhores cosmógrafos do Renascimento. (Gruzinski, 2010: 214-215). Os mapas e os textos que se fizeram sobre essas relações interétnicas focavam principalmente as áreas coloniais conquistadas e seus contornos, onde viviam populações nativas ainda em liberdade. Sobre esta periferia dos espaços coloniais, portugueses, castelhanos e holandeses aproveitaram dos saberes nativos recolhidos por informações orais e por imagens nas quais eram representados os espaços socioculturais e as toponímias de maneira própria e suscetível a serem compreendidas por públicos europeus. Sem os lançados, pombeiros ou tangomaus,5 com vivências na costa da África, ou sem os chamados ‘lenguas ou línguas’, nativos conhecedores de vários idiomas existentes na América espanhola A produção de mapas impressos em Amsterdam com financiamento da Companhia das Índias Ocidentais inclui o de De Laet, a Novus Orbis publicada em Francês, em 1640, tinha a missão de colocar resumidamente os espaços holandeses entre os continentes do globo; o mapa mural gravado em 1646 por Joan Blaeu (embora só publicado no ano seguinte), continha levantamento e desenho cartográfico de Georg Marcgrave de 1643 com vinhetas de paisagens sobre o Brasil, atribuídas a Frans Post; o primeiro mapa sobre o litoral brasileiro publicado pela WIC em 1632, intitulado Caerte vande Custe van Brasiijl é atribuido ao capitao Geleijn van Stapels e trata sobre o litoral entre o rio Formoso e o Rio Grande do Norte. Também fazem parte dele 4 desenhos sobre parte da costa perfilada e aquarelada. Stapels compõe o mapa a partir de antigas informações e medições próprias. Outros mapas foram posteriormente impressos no livro publicado por Caspar Barleus, e os do Atlas de Vingboons (c. 1665), todos revelam avanços técnicos representativos do domínio geopolítico sobre a região do Nordeste do Brasil conquistada. Grande parte da documentação original e de cópias guardadas na Holanda passou a ser divulgada através do atlas De Oude WIC, 1621 – 1674, publicado, em 2011, na Holanda (Storms, 2011). 5 Lançados: inicialmente foram degredados portugueses lançados pela borda dos barcos para entrar em contato com os povos africanos da costa da Guiné. Os sobreviventes chegaram a criar redes comerciais entre os europeus e os diferentes reinos africanos. Posteriormente tratados como mestiços de portugueses com africanas dedicados ao comercio no interior de continente. Pombeiro: termo da língua quimbundo que significa negociante ou emissário que atravessa o sertão comerciando. Também alude a una classe muito importante de comerciantes que controlavam o comercio de escravos em Angola (Thomas 1997: 166 e Blackburn 1997: 176). Os Tangomãos eram portugueses que falavam línguas africanas, tinham contatos com os povos do interior e intermediavam entre comerciantes e chefes locais. Podiam residir no interior e tinham certo prestigio na costa africana, centrando seus trabalhos na reunião de escravos para a exportação. Foram acusados por religiosos católicos e autoridades portuguesas de terem "origem judaica" e de viver como os "negros" (Lobo 1991: 67). 52 4 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos e na portuguesa, qualquer indagação teria fracassado (Gruzinski, 2010: 241). Os detalhes das informações contidas no mapa mural de Marcgrave apontam para uma fundamental participação de indígenas, cafuzos, caboclos e africanos como intérpretes, intermediários, colaboradores, informantes locais e testemunhas oculares. Apesar de utilizar aspectos gerais encontrados na cartografia europeia da época, o mapa Brasilia qua parte paret Belgis reúne de maneira original e com mais complexidade e quantidade de informações temas envolvendo distintas culturas em espaços do mundo colonial e o ainda não colonizado, localizados no Nordeste do Brasil, no século XVII. Seu poder de comunicação chama atenção quanto ao uso de símbolos e paisagens que seguem ideais de ordem, riqueza, beleza e sentimentos. Ideias que parecem seguir propositalmente uma ordem de importância. Traduzindo seu título colocado em latim temos uma primeira explicação sobre o que mais importa comunicar neste mapa mural, ou seja: a parte do Brasil que cabia aos Países Baixos. Título que, portanto, nos dá a entender tratarse de mapa que reúne vários interesses envolvendo grupos do e no Brasil e nos Países Baixos. Uma segunda questão recai sobre o possível ano em que o mapa foi gravado (1646) e o ano de sua publicação em 1647 por Joan Blaeu envolvendo a inclusão de um número significativo de ilustrações atribuídas a Frans Post e a Albert Ekhout. As datas batem com o final do período do governo de João Maurício de Nassau no Brasil e com a publicação de outras duas obras: a de Caspar van Baerle (1584-1648), ou Gaspar Barleus, como veio a ser conhecido no Brasil, intitulada O Brasil Holandês sob o Conde João Maurício de Nassau, com primeira edição no ano de 1647 (Barleus, 2005); e a obra Historia Rerum Naturalius Brasiliae de Piso e Marcgrave, publicada em 1648, cuja edição foi subvencionada por Nassau. As três obras citadas merecem destaque pelas informações inéditas sobre o Nordeste brasileiro produzidas no século XVII e pelos conteúdos artísticos e científicos nelas registrados. O conjunto de informações sobre a fauna, a flora e os nativos de um Brasil até então pouco divulgado e conhecido pelos Países Baixos ainda causa impacto quando comparado a outros registros do período colonial e parecem acompanhar de forma especial os interesses dos investimentos coloniais. Quanto ao sentido geral encontrado em mapas do século XVII, o mapa mural de Marcgrave inclui, como de costume para a época, elementos cartográficos, paisagísticos, heráldicos, etnográficos, zoos-botânicos, geopolíticos e textuais dados em um mesmo documento. O que o difere dos demais é o esforço da justaposição ou colagem de diversas imagens com paisagens mais detalhadas e ricas em elementos etnográficos nativos e em relação a localização de aldeias indígenas, engenhos, caminhos, portos, currais, salinas e missões, entre outros elementos. Trata-se de um mapa mural extraordinário pelo conjunto de detalhes inseridos em 9 pranchas com um pequeno mapa Joan Bleau na parte inferior com 53 Colonização e mundo Atlântico o título Maritima Brasiliae Universae e o mapa de Marcgrave que ocupa a maior parte das pranchas que o compõe. A Joan Bleau foi confiada a primeira edição do mapa mural Brasilia qua parte paret Belgis impressa em 1647. O número de edições impressas no século XVII demonstra ter sido esta uma obra de relevância também para a sua época. Por outro lado, seus diferentes gravadores nos fazem pensar em como o campo da cartografia crescera junto com a profissionalização das oficinas de impressões existentes nos Países Baixos. Um dos gravadores do mapa mural pode ter sido Jan Brosterhuitzen, responsável pelas gravuras dos trabalhos de Frans Post para o livro de Barleus (Corrêa do Lago, 2009: 413- 415). Nas diferentes edições do Brasilia qua parte paret Belgis os desenhos das vinhetas foram atribuídos a Frans Post tendo em vista à semelhança aos assinados por ele na obra de Barleus. Um mapa, portanto, que inovava pelo conteúdo e inclusão de trabalhos artísticos apoiados por Nassau e pela WIC e que dava início a divulgação das primeiras experiências artísticas europeias no Brasil. As várias edições do mapa apresentam pequenas diferenças quanto às adaptações, ao tamanho e às costuras dos desenhos de Frans Post. Na edição de 1659, o formato segue o mesmo conjunto de 9 pranchas apenas mudando o tamanho da prancha para 159 x 115 cm, somando no total 5,10 metros de largura por 3,95 metros de altura e na versão de 1664, editada por Clemendt de Jonghe, por exemplo, as 9 pranchas mediam 121 x 160 cm cada uma (Bibliothèque Nationale de France). Todas as edições exibem título, Notularum Explicatio, guirlandas e escudos iguais. O que há de diferente entre elas são algumas modificações nos detalhes existentes nas gravuras das paisagens e a subtração de detalhes completos em outras. Os desenhos com paisagens atribuídos a Frans Post compuseram cinco cenas, todas elas referindo-se ao mundo sócio cultural colonial envolvendo população escrava africana, índios livres em diferentes situações, trabalho escravo em engenho de açúcar e na casa de produção de farinha de mandioca. As cenas incluem ainda índios saindo para guerra, indígenas tapuyas praticando o canibalismo, pescadores negros e animais em meio à flora. O mapa está recheado de termos e textos explicativos em mais de quatro línguas como latim, português, tupinambá e holandês. Os termos das línguas indígenas carecem de estudo mais aprofundado para verificar sua origem, adaptação e entendimento. Embora a mistura das línguas no primeiro momento nos leve a refletir sobre a complexidade dos espaços culturais tratados, a escrita no mapa espelha as políticas defendidas por estrategistas da República das Províncias Unidas dos Países Baixos. Principalmente, quanto aos resultados da expansão do império marítimo batavo para o Atlântico, apresentando portos, rotas comerciais e terras que possibilitaram a construção de espaços coloniais. 54 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos As diferentes visões no mapa mural A cartografia de Marcgrave pode ser interpretada por várias aproximações em relação a sua visão sobre o mundo colonial atlântico luso holandês. Uma delas é a aproximação oferecida através de paisagens realizadas por Frans Post sobre espaços e ações ocorridas em terra e em mar ilustrados em vinhetas inseridas no mapa Brasilia qua parte paret Belgis. Sobre os territórios conquistados pelos holandês no Nordeste do Brasil, o mapa apresenta duas concepções distintas no sentido do litoral para o interior. Esta bipolaridade permite ver o litoral com um olhar de cima apontando para combates navais ocorridos ao longo da costa, topônimos referentes aos acidentes geográficos e às construções coloniais distribuídas na costa e regiões da Mata Atlântica; em outra perspectiva em voo de pássaro o mapa apresenta vinhetas colocadas em espaços deixados em branco que correspondem ao interior e regiões que compreendem, hoje, ao Agreste e ao Sertão nordestino. As vinhetas de Frans Post sobre espaços socioeconômicos representados por Marcgrave formam várias cenas, cinco delas enfocam aspectos da vida entre os nativos, sendo quatro sobre usos e costumes de tapuias e uma referente a um terço de índios saindo para guerra. Uma única cena é dedicada a um grupo de negros pescando. Outras três vinhetas tratam sobre um engenho real, um engenho de farinha e uma missão de índios incluindo aspectos de arquitetura e de ações desenvolvidas na produção do açúcar, da farinha e dos espaços para trabalhos religiosos nas missões. Os espaços urbanos assinalados por símbolos no mapa não receberam vinhetas nem desenhos especiais como os realizados por Frans Post para o livro de Barleus. As vilas do litoral, os engenhos e os portos aparecem em número menor que a soma de aldeias com missões, aldeias tapuias e aldeias da costa. As aldeias da costa aparecem também em maior número que as casas de moradores espalhadas pelo litoral e ribeiras de rios e riachos pelo interior Em seu mapa mural, Marcgrave assinala também várias expedições científicas e militares; uma delas se destaca, por se tratar de uma expedição militar comandada por Felipe Camarão e Henrique Dias. Camarão, um nativo potiguar e com patente de Governador dos Índios de Pernambuco liderava um terço armado de índios e o liberto Henrique Dias liderava um terço de negros, ambos estavam envolvidos na luta contra os holandeses e quilombolas. Nesta expedição, eles voltavam para Bahia após a perda de Pernambuco para os holandeses, partindo com eles pelas mesmas trilhas o resto das tropas luso-brasileiras. Os espaços do interior das capitanias de Sergipe, Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e a do Rio Grande do Norte apresentados no mapa aparecem controlados por grupos armados de tapuias assinalados pelas vinhetas de Post. Negros em liberdade podem ser associados a uma tapera, assinalada pelo termo “Tapera de Angola”. Certamente um espaço baseado em alianças com diferentes 55 Colonização e mundo Atlântico grupos indígenas instalados em aldeias fora do controle colonial. Negros, também, foram registrados em vinhetas pescando, festejando e trabalhando em engenho de açúcar e em outro de farinha como bem ilustra por Post para nos aproximar dos detalhes que incluem gestos, usos e vestimentas. Negros possivelmente estariam trabalhando também nos currais do litoral e interior do Agreste e do Sertão como confirma a crônica de padre Martinho de Nantes, um missionário franciscano que teve índios de suas aldeias envolvidos em conflitos localizadas no médio rio São Francisco com vaqueiros negros e mestiços dos senhores da Casa da Torre. Os espaços nas fronteiras entre as áreas de produção colonial e as áreas tapuias apresentam elementos culturais híbridos, veja-se a cena de caça ao gado nos sertões representando o aproveitamento da criação solta sem os cuidados do vaqueiro pelos nativos. Também, observam-se as embarcações indígenas utilizadas por negros em atividades de pesca no interior e embarcações nativas colocadas no litoral como sinais de trocas de tecnologia e conhecimentos. Nas vinhetas sobre os espaços indígenas ainda sem o controle colonial pelos sertões aparecem cenas de lutas, rituais com canibalismo e redes em campina para o descanso de um grupo de homens e mulheres tapuias. As crianças indígenas aparecem em número pequeno e as crianças de escravos negros não constam nas ilustrações de Post para o mapa, certamente, pelo não interesse na reprodução da mão de obra escrava nas Américas. À típica cena da família cristã não foi dada importância. Comidas e bebidas são levadas em cestos, panelas e cabaças como demonstram as cenas sobre os nativos pelos sertões. As armas indígenas parecem pouco amedrontadoras, nenhum destaque foi dado ao mundo da defesa ou sobre os ataques de tapuias ao mundo colonial do litoral, como se eles estivessem longe das fronteiras coloniais e fora de combate. A luta entre os portugueses e holandeses só parece no mar e em pontos ao longo do litoral. Na guerra entre eles pelo domínio da região em destaque, os caminhos indígenas indicam ter sido mais um meio a ser conhecido, o “Caminho de Camarão”, anteriormente citado, forma uma rota importante entre pontos de povoamento indígena, engenhos, fontes de água, missões e currais. Nas vinhetas e na cartografia são destacadas redes de informações que acompanhavam as rotas internas entre os diferentes assentamentos populacionais incluindo, neste mapa, uma área de negros e índios livres vivendo no interior indicado pelo local que chamaram de “Tapera de Angola”. Como mencionado anteriormente, seria este um dos pontos da rede de grande interesse para o sistema colonial tanto português quanto holandês. Ressaltado, portanto, como uma área de fuga de escravos africanos e indígenas para os territórios 56 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos pertencentes aos sertões da capitania de Pernambuco.6 Buscando explicação sobre a utilização e localização do termo “Tapera de Angola”, chegamos a conclusão de que sua localização no mapa indica lugar que corresponde a uma área de fronteira marcada por escrita registrada verticalmente. Como hipótese, a leitura sugere que esta escrita seria utilizada como área do espaço controlado por afro-indígenas, neste caso o velho Palmares descrito pelos holandeses. Sobre o termo Angola encontramos uma referência em documentação portuguesa do século XVII, na qual, em São Tomé e Príncipe, aparecem revoltas de escravos e formação de um importante quilombo que chamavam de “Angola do Pico”. Vale salientar que nestas ilhas ocorreram as primeiras experiências com engenhos de açúcar e trabalho escravo africano do Atlântico, associado a eles as primeiras fugas e revoltas de escravos. Citando parte do texto desta documentação: “...escaparam a maior parte dos ditos escravos, e fizeram a sua aldeia num Pico. E foram-se multiplicando de tal sorte, que, sem receio, com armas de flechas, destruíram muitos engenhos, e no mesmo ano [1574] [...]. Desbaratando-os os soldados e apelidando a vitória, desanimaram os negros Angola do Pico”. Chama a atenção a utilização do genérico “Indiarum” como concepto aplicado aos grupos Tupinambá da costa colonizada, em contraposição as Aldeias das Tapujas como espaços poblados fora ainda do marco colonial. A diferença e levada aos termos em latino: “Domus Indiarum”, a casa/morada fixa dos índios Tupinambá reduzidos e “Domicilium Tapijyurum” como sede/domicilio dos itinerantes Tapuias do interior. A etiqueta de “Lugar despovoado” o “Domicilia deserta” indicaria zonas o aldeias anteriormente ocupadas por grupos que, o acabaram sendo reduzidos as aldeias missionares o, grupos que, ante a pressão portuguesa u holandesa, tem fugido pra as áreas de refugio nos interiores, lembrando-nos, dos estragos das epidêmicas que assolaram o território e que poderiam explicar alguns despovoamentos. 57 6 Colonização e mundo Atlântico A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA DO CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS EM MOÇAMBIQUE: O PERÍODO PÓS-COLONIAL E A BUSCA POR UMA IDENTIDADE NACIONAL Claudia Silva Lima1 Resumo A pesquisa em questão tem como objeto a produção historiográfica do Centro de Estudos Africanos (CEA), no período de 1975 a 2010 e se desdobra a partir de algumas hipóteses. De um lado, intenta-se enfocar as condições sociais e históricas de produção das interpretações e narrativas sobre a história daquela região de África, que passam a ser difundidas pelo CEA a partir da independência de Moçambique, em 1975, até 1990, quando se encerra a chamada transição socialista. O recorte aqui proposto, vai para além dos anos 1990, aquele pensando por Carlos Fernandes (2011), pois, pretende-se compreender as possíveis mudanças ocorridas, no período pós-transição socialista, nas formas de pensar e escrever a história do período. Através desta pesquisa se intenta dar visibilidade aos silenciados da história, na busca por entender como se constituiu as correntes e tendências teóricas e epistêmicas da produção do Centro de Estudos Africanos (CEA) no período de 1975 a 2010, bem como descrever as condições sociais e históricas de produção desse conhecimento que, de modo geral, estavam fundamentadas nas lutas pela libertação nacional através de um conhecimento engajado e de uma consciência coletiva comprometida com as questões político-sociais. O Centro de Estudos Africanos e sua contribuição para o processo de libertação em Moçambique Esta pesquisa, ora apresentada, tem como objeto a produção historiográfica do Centro de Estudos Africanos (CEA), no período de 1975 a 2010, e se desdobra a partir de algumas hipóteses e pretensões. De um lado, intenta-se enfocar as condições sociais e históricas de produção das interpretações e narrativas sobre a história daquela região de África, que passam a ser difundidas pelo CEA a partir da independência de Moçambique, 1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História/UFMA. 58 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos em 1975 até 1990, quando se encerra a chamada “transição socialista” 2; pretende-se que a análise siga até as décadas posteriores, quando, ao que tudo indica, haveria exemplos de narrativas e representações historiográficas menos politicamente engajadas, como aquelas dos tempos da transição, e mais, sobretudo, acadêmicas. De outro lado, parte-se da hipótese de que as formulações teóricas e as narrativas da história desse contexto se conectam às discussões sobre o recomeço de Moçambique, agora independente. É sabido que nas regiões de África, ao se tornarem independentes, os diferentes sujeitos africanos precisam pensar em como recomeçar esses novos tempos, depois de décadas e mesmo séculos de exploração direta de seu território e de seus povos. Nesse contexto, parte-se do pressuposto de que do mesmo modo que acontecera com países como a Nigéria3 e a África do Sul4 poder-se-ia observar a escrita da história atuando, direta ou indiretamente, no processo de redefinição da identidade nacional via reescritura da memória e do passado. Nessa perspectiva, certamente, também será possível observar, mapear e classificar ideias do negro e branco, de Moçambique e moçambicano, e de África e de africanos, bem como as propostas do CEA para o ensino de história de Moçambique e de África. A apresentação desta proposta de pesquisa se justificaria por diferentes motivos. Destaque-se que este trabalho se situa na confluência dos Estudos Sobre o socialismo em África, ver, dentre outros, Thiam, Mulira e Wondji (2010). Por questões didáticas e metodológicas, a historiografia especializada tem destacado algumas datas como marcadores cronológicos relevantes para a história da região: 1975, ano da independência; 1977, quando a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) se transforma num partido marxista-leninista durante seu III Congresso; 1990, quando passa a vigorar a nova Constituição da Republica, que marcaria um sistema de democracia multipartidária. Esse período vem sendo caracterizado como o momento socialista. Outras referências importantes seriam o ano 1984, quando são assinados os acordos de não-agressão com a África do Sul, o ano de 1986, quando morre o presidente Samora Machel e o diretor do CEA, Aquino de Bragança, e ainda, 1987, quando a Frelimo introduziu um programa de reajustamento estrutural (PRE) financiado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Em 1989, a Frelimo abandona formalmente o marxismo-leninismo, até então sua ideologia oficial. Todos esses eventos, como aponta Carlos Fernandes (2011), teriam impactos significativos nas agendas do Centro de Estudos Africanos. 3 OLADIPO, Olusegun. The idea of African Philosophy. A Critical Study of the Major Orientations in Contemporary African Philosophy. 3. ed. Nigeria: Hope Publications, 2000. 4 BARROS, Antonio Evaldo Almeida Barros. As faces de John Dube: Memória, História e Nação na África do Sul. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, UFBA, 2012. 59 2 Colonização e mundo Atlântico Africanos e do Ensino de História. No Brasil, o interesse pelos estudos africanos tem crescido acentuadamente, sobretudo nas últimas décadas. De acordo com Anderson Oliva5, diversos são os motivos que podem ser indicados como variáveis para que tal ocorresse: uma questão subjetiva, já que para os africanos, trata-se da procura de uma identidade por meio da reunião dos elementos dispersos de uma memória coletiva; o aumento das pesquisas sobre África nas universidades brasileiras; a formação de pesquisadores a partir de alguns núcleos de pesquisas em história da África existentes no país; e o aumento do número de publicações internacionais sobre a história do continente. Evidentemente, este processo está relacionado à Lei 10.639/036, que torna obrigatório o ensino não apenas da história e cultura afro-brasileira, como também das histórias e culturas africanas nas escolas brasileiras. Esta Lei, portanto, se conecta ao Ensino de História como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu texto de 1996, que seria alterado seguidamente posteriormente, e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1997, que, de modo geral, focam na inclusão da diversidade cultural no currículo de história, na formação para a cidadania, e na intenção de integrar o ensino ao cotidiano do aluno. Cabe destacar que já na Constituição de 1988 dá-se um grande passo no sentido de considerar a história de África, dos africanos e dos afrodescendentes, posto que na Carta Magna se criminaliza o racismo, protegem-se as manifestações culturais indígenas e afro-brasileiras, fixam-se “datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos nacionais” 7, como o 20 de Novembro, dia da Consciência Negra, “ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos”, e se determina que “o ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro”8 . O fato é que, se a algum tempo, a África ocupava parte do espaço do esquecimento historiográfico brasileiro, atualmente, vê-se o florescimento de OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares. Representações e imprecisões na literatura didática. Estudos Afro-asiáticos, 2003, v. 25, n. 3, p.421461. 6 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 jan. 2003. 7 Ibid 8 Ibid 60 5 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos diversos estudos sobre o continente. Através dos estudos africanos, como se pode concluir a partir do trabalho de Devés-Valdès9, tem-se problematizado teorias, e mesmo questionado a ordem social e epistemológica presente, desmistificando-se conceitos e práticas assentadas nas ideias hegemônicas ocidentais, bem como o prevalecimento de uma escrita histórica que muitas vezes silencia a existência de diversos sujeitos históricos. Desse modo, esta pesquisa pretende se conectar ao emergente e plural campo dos estudos africanos no Brasil. Em outras palavras pode-se dizer também que esta pesquisa se relaciona diretamente ao campo dos Estudos Africanos que têm crescido de forma significativa, no sentido de questionar e problematizar a suposta universalidade do eurocentrismo, as perspectivas de cunho histórico, filosófico e até mesmo denominadas de humanistas que reforçam cotidianamente as práticas e representações preconceituosas em torno do homem e da mulher negras e, particularmente, africanos. Nesse contexto, o homem europeu e branco se apresenta como superior, um ser universal. “É essa leitura que permite a Edward Said considerar que o Ocidente inventa o Oriente e, lançando mão deste discurso, projeta sobre ele suas próprias questões” 10. Ao mesmo tempo, nesta pesquisa, dentre outros processos, o que se busca notar é como os narradores de histórias do Centro de Estudos Africanos de Moçambique se envolveram diretamente no debate sobre a redefinição da identidade nacional da região, para o que a lida com a memória parece ter sido essencial. Por isso, este trabalho se vincula à linha Cultura e Identidade. Ora, o que se tentará é observar serão os usos da cultura e da memória nas suas múltiplas formas em Moçambique como elemento fundamental da narrativa histórica que serviria para construir uma identidade nacional, e outras identidades, que contribuem para o pertencimento social. Sob certo aspecto, espera-se que o conhecimento dessa história possa, numa perspectiva transcultural e comparativa, servir para que se reflita sobre processos similares no Brasil, mas especialmente sobre as histórias de África ensinadas do lá de cá do Atlântico. Assim, esta pesquisa se justificaria por se apresentar como uma possível contribuição para a desconstrução do um imaginário baseado em estereótipos pejorativos, contra as perspectivas epistemológicas de dominação-agressão e DEVÉS-VALDÉS, Eduardo. O pensamento africano subsaariano: conexões e paralelos com o pensamento Latino-Americano e o Asiático (um esquema). Rio de Janeiro: CLACSO /EDUCAM, 2008. 10 Apud, SANTOS, Gislene Aparecida dos. Selvagens, exóticos, demoníacos: ideias e imagens sobre uma gente de cor preta. Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, 2002. 61 9 Colonização e mundo Atlântico representação negativa dos africanos, tanto no seu sentido cultural, religioso, subjetivo, intelectual. Assim, o que se almeja é dar maior visibilidade às interpretações africanas da história de África. Além disso, o tema desta pesquisa, ao enfocar as relações entre memória, identidade e historiografia, situa-se num conjunto de temas que, de modo inter-relacionado, tem sido extremamente relevantes para as atuais pesquisas no campo da história cultural, nacional e global. A história de Moçambique só pode ser compreendida com a influência intelectual sistematizada pelo Centro de Estudos Africanos, criado em janeiro de 1976, portanto, no pós-independência. O primeiro diretor do centro chamava-se Aquino de Bragança, professor da Universidade Eduardo Mondlane. A primeira equipe de pesquisadores foi constituída por jovens pesquisadores moçambicanos, sem considerar a contribuição de alguns intelectuais externos. A priore, os pesquisadores ocupam-se com a história colonial de Moçambique, sendo que cada um de forma peculiar, preocupava-se com diferentes períodos históricos. Entretanto, pode-se evidenciar que o CEA teve papel fundamental na sistematização de diversas pesquisas realizadas a partir do contexto social, cultural, econômico e educacional de Moçambique, dinamizando sistematicamente o rigor da pesquisa com novas análises e métodos no campo das ciências sociais e humanas, na perspectiva das ciências sociais aplicadas, construídas coletivamente. Nesse sentido, através desta pesquisa ainda em andamento se intenta dar visibilidade aos silenciados da história, na busca por entender como se constituiu as correntes e tendências teóricas e epistêmicas da produção do Centro de Estudos Africanos (CEA) no período de 1975 a 2010, bem como descrever as condições sociais e históricas de produção desse conhecimento que, de modo geral, estavam fundamentadas nas lutas pela libertação nacional através de um conhecimento engajado e de uma consciência coletiva comprometida com as questões político-sociais, como muito bem postulou Fernandes11. Interessa-me analisar, como esse centro do saber ousou fazer rupturas do pensamento dominante do colonizador português, problematizou os sistemas vigentes, questionou o foco etnocêntrico de matriz europeia, sobretudo de ideologia capitalista/excludente/racista, na busca por uma identidade intelectual, social, cultural, histórica. 11 Ibid. 62 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Pretende-se levar adiante a sugestão de Devés-Valdés12, segundo a qual seria necessário considerar a “circulação de ideias”, as “redes de intelectuais” que possibilitaram o estudo e o fortalecimento da democracia através da circulação externa e interna de redes teosóficas, comunistas, pan-africanistas, de cientistas sociais, de estudiosos do desenvolvimento, de teólogos, historiadores, feministas que suscitam numerosos cruzamentos dos múltiplos ecossistemas intelectuais africanos13. Questiono-me como esse centro no contexto do pós-independência, imerso em conflitos políticos, possibilitou a construção de ideias na luta pela libertação, e particularmente, sobre como a história e a memória foram posicionadas nesse contexto. Nessa perspectiva analítica, interessa-me pesquisar que tipo de conhecimento histórico foi sistematizado pelos intelectuais moçambicanos e que tipo de eco o CEA fez ressoar na busca por uma identidade moçambicana. É importante ressaltar também que esta pesquisa se assenta teoricamente nas discussões entre memória, identidade, especialmente, identidade nacional e narrativas. Sabe-se que foi no início dos anos 1980, “que alguns historiadores se sentiram motivados a pesquisar os meios pelos quais as nações conseguiram tornar-se uma referência fundamental para a constituição de sentimentos de pertença”. Esses pesquisadores, como Eric Hobsbawm e Benedict Anderson, mostraram que comunidades nacionais constituem fortes referenciais para a formação de identidades e contextos nos quais podem nascer ou se intensificar conflitos14. Anderson15 entende que haveria uma melhor compreensão do nacionalismo se este fosse tratado similarmente a “parentesco” e “religião”, mais do que a “liberalismo” ou “fascismo”. Assim, partindo de uma perspectiva antropológica, compreende que a nação é “uma comunidade política imaginada – e imaginada como implicitamente limitada e soberana”. Para Verdery 16, a simbolização nacional inclui processos pelos quais os grupos e setores de uma DEVÉS-VALDÉS, Eduardo. O pensamento africano subsaariano: conexões e paralelos com o pensamento Latino-Americano e o Asiático (um esquema). Rio de Janeiro: CLACSO /EDUCAM, 2008 13 Ibid. 14 BARROS, Antonio Evaldo Almeida Barros. As faces de John Dube: Memória, História e Nação na África do Sul. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, UFBA, 2012. 15 ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 1983. APPIAH, Kwame Anthony (1997). Na casa de meu pai. Rio de Janeiro, Contraponto. 16 VERDERY, Katherine. Para onde vão a “nação” e o “nacionalismo”? In.: BALAKRISHNAN, Gopal (org.). Uma mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000. 63 12 Colonização e mundo Atlântico sociedade tornam-se visíveis ou invisíveis, portanto, as diferenças são destacadas e, em seguida, obliteradas. “Numa visão clássica comum acerca da relação entre história e memória, caberia ao pesquisador do passado, nomeadamente o historiador, converter-se num guardião da memória e dos acontecimentos tidos como significativos”. Neste contexto, “a história refletiria a memória que, por sua vez, refletiria o que realmente aconteceu, portanto, a história seria uma representação acurada e mesmo fiel dos fatos passados” 17. Contudo, como salientar Peter Burke18, a relação entre história e memória vem sendo problematizada, de modo que os processos de rememorar e escrever sobre o passado não constituem atividades inocentes. De acordo com Pierre Nora19, no tempo presente, “fala-se tanto de memória porque ela não existe mais”, e “se ainda habitássemos nossa memória não teríamos necessidade de lhe consagrar lugares”. Ainda para Nora, “tudo que é chamado hoje de memória não é”, na verdade, senão história. O desaparecimento da memória espontânea faz co que surja a história, que registraria aquela memória. Esse processo se daria através da instituição de lugares de memória. Por isso, criam-se arquivos, museus, datas comemorativas, e etc. Importante salientar que historiografia algo fundamental para esta pesquisa já alertado por Nora e outros: a historiografia é um dos lugares de memória 20. Peter Burke21 sugere que se considere a memória como um fenômeno histórico. Assim, se poderia produzir uma “história social da recordação”, uma “história social do lembrar”. De fato, como reconhece Carlos Fernandes22, em sua tese de doutorado intitulada “Dinâmicas de pesquisa em Ciências Sociais no Moçambique pósindependente: o caso do Centro de Estudos Africanos, 1975-1990”, “um dos grandes anseios da FRELIMO logo após a independência nacional foi sempre BARROS, Antonio Evaldo Almeida Barros. As faces de John Dube: Memória, História e Nação na África do Sul. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, UFBA, 2012, p. 26-27. 18 BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna – Europa, 1500-1800. São Paulo: Companhia das Letras. 1989, p. 234. 19 NORA, Pierre. Entre Memória e História. A problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo, n. 10, dez. 1993, p. 7. 20 Ibid. 21 BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna – Europa, 1500-1800. São Paulo: Companhia das Letras. 1989, p. 237. 22 FERNANDES, Carlos Manuel Dias. Dinâmicas de pesquisa em Ciências Sociais no Moçambique pós-independente: o caso do Centro de Estudos Africanos 1975-1990. Salvador, 2011 64 17 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos o de criar condições para a construção de uma narrativa histórica nacional, que pudesse manter viva a memória da experiência da luta de libertação nacional”. Também se pretendia “restituir a dignidade do povo moçambicano que tinha sido ‘silenciada’ pela historiografia colonial” 23. Coube, portanto, ao CEA, a tarefa de reescrever a história de Moçambique. Formou-se a Oficina de História, um coletivo de historiadores do Centro, que pretendia construir uma nova história, em clara oposição à historiografia colonial. Este grupo de historiadores do CEA fundaria a revista intitulada Não Vamos Esquecer!, onde eram publicados artigos científicos, documentos políticos, entrevistas e canções de participantes na luta de libertação nacional, de operários e camponeses moçambicanos. Em sua tese, Carlos Fernandes se ocupa sobretudo com a produção das Ciências Sociais propriamente ditas, dedicando apenas um dos nove capítulos de sua para o produção historiográfica do período por ele enfocado. Conclui sua pesquisa evidenciando que o desenvolvimento do ensino e pesquisa em Ciências Sociais no novo Moçambique implicou na sua génese, uma tentativa de romper com o sistema de ensino colonial e das suas limitações. O sistema de educação colonial, para ele, foi baseado em princípios discriminatórios, racistas e elitistas, esteve mais ao serviço dos filhos dos colonizadores portugueses do que da maioria africana. Em suma, argumenta que a educação iria ser concebida como instrumento fundamental para reverter os constrangimentos da herança colonial, de resgatar a dignidade do povo moçambicano, a sua cultura e, ao mesmo tempo, dar sustentação ao projeto sociopolítico da FRELIMO. Assim, nesta pesquisa, pretende-se aprofundar o estudo sobre a Oficina de História e seus desdobramento no que concerne à reinvenção da história e da memória nacional. Além disso, o recorte aqui proposto vai para além dos anos 1990, aquele de Carlos Fernandes, pois, pretende-se compreender as possíveis mudanças ocorridas, no período pós-transição socialista, nas formas de pensar e escrever a história do período. Ao analisar a produção historiográfica do CEA se pretende partir da crítica de Achille Mbembe24. Para Mbembe25, a escravidão, a colonização e o apartheid tem consistido em eventos aos quais comumente se aprisiona o sujeito africano na humilhação, no desenraizamento e no sofrimento indizível, mas também em uma zona de não-ser e de morte social caracterizada pela negação da dignidade, pelo profundo dano psíquico e pelos tormentos do exílio. Mbembe sugere que os africanos deveriam pensar suas histórias a partir de outros lugares, que não Ibid, p. 165. MBEMBE, Achille. As Formas Africanas de Auto-Inscrição. Estudos AfroAsiáticos, 2001 pp. 171-209 25 Ibid. 65 23 24 Colonização e mundo Atlântico apenas aqueles. Desse modo, esta pesquisa averiguará as formas teóricas, as narrativas e as tendências epistemológicas por meio das quais os intelectuais do CEA dão sentido e forma ao passado dos sujeitos africanos moçambicanos. Quais formas de auto-inscrição africana se poderia observar – eis uma questão que se pretende considerar. Outro significativo trabalho com o qual esta pesquisa pretende dialogar é aquele recentemente concluído por Muryatan Santana Barbosa 26 intitulado A África por ela mesma: a perspectiva africana na História Geral da África: UNESCO. Em grande medida, esta pesquisa, sobretudo no que concerne à sua perspectiva analítica, se inspira nesse trabalho. Uma pesquisa que centralizou seu objeto em dar uma definição da perspectiva africana, na tentativa de comprovar a veracidade da mesma e delinear as abordagens que ela trouxe para a história da África, tendo como foco de análise a HGA. Para tanto, definiu uma perspectiva que privilegia os fatores internos ao continente, em oposição aos externos, na explicação histórica, científica da África27. Se Carlos Fernandes28 está mais ocupado com as condições sociais de produção do conhecimento no CEA, Muryatan Barbosa29 está mais interessado em observar as abordagens teórico-epistemológicas dominantes naquela coleção da UNESCO. Regionalismo, difusionismo intra-africano e sujeito africano constituiriam, para ele, as abordagens dominantes na Coleção. Aqui se consubstanciaria uma perspectiva pós-eurocêntrica da história de África. Nesse contexto, é relevante lembrar a periodização clássica da história de África sugerida por Carlos Lopes. Para ele, existiriam três grupos, três grandes conjuntos de falas, de narrativas sobre África a partir do século XIX: a Corrente da Inferioridade Africana, a Corrente da Superioridade Africana, e uma Nova Escola de estudos africanos. No século XIX, os povos africanos costumavam ser vistos como estando num estado de povos sem história. O filósofo alemão Friedrich Hegel, na primeira metade do século XIX, declara a inexistência da História em África, ou de sua insignificância para a humanidade30. África, aqui, é condenada ao BARBOSA, Muryatan Santana. A África por ela mesma: a perspectiva africana na História Geral da África (UNESCO). São Paulo, 2012 27 Ibid. 28 FERNANDES, Carlos Manuel Dias. Dinâmicas de pesquisa em Ciências Sociais no Moçambique pós-independente: o caso do Centro de Estudos Africanos 1975-1990. Salvador, 2011 29 BARBOSA, Muryatan Santana. A África por ela mesma: a perspectiva africana na História Geral da África (UNESCO). São Paulo, 2012 30 OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares. Representações e imprecisões na literatura didática. Estudos Afro-asiáticos, 2003, v. 25, n. 3, p.421-461. 66 26 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos esquecimento e à inferioridade. A mudança dessa perspectiva teria iniciado pouco antes das lutas pelas independências, nos anos 1950 e 1960, estendendose até o final da década de 1970. Reconhece-se que segunda metade do século XX, teria acontecido uma espécie de revolução nos estudos sobre a África, com a diversificação de abordagens. Para o filósofo africano Kwame Appiah31, o pan-africanismo e a negritude foram fundamentais para redefinir a identidade africana. Buscava-se uma identidade comum africana, que serviria como sinal distintivo e de qualificação, muitas vezes apaixonada, dos africanos com relação ao resto da humanidade. Essas correntes tiveram uma grande influência nos estudos organizados até o final dos anos 1970. Os líderes dessa geração foram Joseph Ki-Zerbo e Cheikh Anta Diop. Carlos Lopes chama este grupo de “Pirâmide Invertida” ou Corrente da Superioridade Africana. Eles colocam a África no centro da história do mundo, como outrora fora a Europa. A África é colocada como ponto de partida para explicar a História Ocidental32. A História Geral da África, da UNESCO, analisada por Muryatan Barbosa, é fruto desse contexto. Finalmente, entre fins dos anos 70 e início dos 80, surge uma “nova escola de historiadores africanos”, menos emocionalmente envolvidos como seriam aqueles da geração anterior. Passou-se a estudar epidemias, cotidiano, novas tendências da economia e da ciência política, da importância do regional, do gênero, da escravidão, da cultura política, das influências da literatura e muitos outros temas33. Nesta pesquisa, se pretende situar o CEA nesse contexto. Tudo indica que a produção acadêmica desse centro se posiciona entre perspectivas mais próxima daquela geração da Pirâmide Invertida e, nos dias mais recentes, mais ligados àquela nova escola, marcada, segundo Devès-Valdès34 por pensadores mais acadêmicos, mais recatados politicamente e mais refinados _____. A história da África em perspectiva. In.: Revista Múltipla, Brasília, ano 9, v. 10, n. 16, jun. 2004. p. 9-40. 31 APPIAH, Kwame Anthony (1997). Na casa de meu pai. Rio de Janeiro, Contraponto. 32 LOPES, Carlos (1995). "A pirâmide invertida. Historiografia africana feita por africanos" . Actas do Colóquio Construção e Ensino da História da África. Lisboa, Linopazes, p. 25-26. 33 OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares. Representações e imprecisões na literatura didática. Estudos Afro-asiáticos, 2003, v. 25, n. 3, p.421-461. _____. A história da África em perspectiva. In.: Revista Múltipla, Brasília, ano 9, v. 10, n. 16, jun. 2004. p. 9-40. 34 DEVÉS-VALDÉS, Eduardo. O pensamento africano subsaariano: conexões e paralelos com o pensamento Latino-Americano e o Asiático (um esquema). Rio de Janeiro: CLACSO /EDUCAM, 2008 67 Colonização e mundo Atlântico intelectualmente, a exemplo de Samir Amin, Walter Rodney, Ali Mazrui, Nadine Gordimer, Valentin Mudimbe, K. A. Appiah e Carlos Lopes, entre tantos outros. Mas apenas uma análise detida dos dados poderá levar a conclusões mais seguras. 68 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos CHEFE TUPINAMBÁ, RELAÇÕES SOCIAIS E TENSÃO NO MARANHÃO COLONIAL: REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL INTERMEDIÁRIO ENTRE TUPINAMBÁ E EUROPEUS NO CHAMADO TEMPO DA CONQUISTA (1607-1624) Darlan Rodrigo Sbrana1 Introdução A história se passa na larga faixa territorial chamada de Maranhão e terras circunvizinhas. Era o tempo da aliança entre tupinambás e franceses.2 Os inimigos lusoespanhóis se aproximavam cada vez mais, e o objetivo era apenas um: conquistar o território que consideravam de seu direito. O combate era quase inevitável. Por isso, o interesse que partia de Upaon-açu3 em reforçar os laços entre os novos aliados era forte. Yves d’Évreux conta-nos que, nesse tempo, “havia na Ilha um louco da raça dos Tupinambás que quis ir ao Mearim, na frente dos Tabajaras”, seus tradicionais inimigos, mas que agora iriam compor a mesma aliança. No meio do caminho, esse “louco” encontrou uma velha carcaça de cabeça de homem e voltou correndo em direção aos seus. “Ali começa a se aquecer, pega sua espada de madeira, bate nas nádegas e no peito”, vai e vem de um lado a outro e diz a todos que estão assistindo: “Eu sou valente e grande guerreiro, quero mostrar agora, vou destruir a cabeça do nosso inimigo”. Após essas palavras, o “louco” aproxima-se novamente da velha carcaça, “avançando e recuando”. Ele dá ainda uma volta em torno de si mesmo e começa a repetir incessantemente: “ché aiuca, ché aiuca, eu vou matá-lo, eu vou matá-lo”. Em seguida, começa a bater forte e firmemente naquela “cabeça seca como linho”, deixando-a em pedaços. E bate novamente, quebrando os Bacharel em História pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA); mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social (UFMA); membro do Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA); componente do Grupo de Estudos Família e Poder no Maranhão Colonial; e integrante do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal do Maranhão. 2 Na introdução o termo tupinambá será mantido no plural quando necessário. No restante dos tópicos, será sempre utilizado no singular acompanhando a “Convenção para grafia de nomes indígenas” realizada no Rio de Janeiro pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e publicada na Revista de Antropologia (Vol. 2. Nº 2. São Paulo, 1954: pp. 150-152). As referências virão no final do tópico. 3 Ilha Grande. Atuais municípios de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Tratava-se do centro político da aliança entre tupinambá e franceses. 69 1 Colonização e mundo Atlântico pedaços e reduzindo o todo a pedacinhos. Depois disso o “louco” volta-se para o grupo já sem forças e com o suor escorrendo copiosamente pelo corpo. E então se deita, esperando que venham os “principais”, que segundo o costume deveriam honrá-lo com um novo nome. Como percebe, porém, que ninguém aparece, o “louco” levanta-se e vai encontrá-los, pedindo a honra do triunfo e a aposição de um novo nome. É quando todos começam a rir e a zombar disso tudo. Percebendo a zombaria que lhe faziam, o “louco” diz: “Já que vocês não querem me dar um, eu tomo um nome”, e não deixou de tomar ele próprio um nome. A passagem é narrada pelo padre Yves d’Évreux4 em tom de desdém. Mas o personagem anônimo tratado por “louco” nos põe diante de uma forte contradição entre os imaginários daqueles dois povos, da qual o adjetivo dado pelo padre franciscano francês oferece indícios. Para tratar dessa contradição uma das possibilidades está no conceito de “espaço cultural intermediário”, o qual será abordado a seguir. Construção do espaço cultural intermediário Ao tratar do que se está chamando aqui de espaço cultural intermediário e, mais especificamente, como o título do trabalho indica, de sua “construção” a partir do contato entre sociedades distintas, deve-se considerar, a priori, essa construção em dois sentidos complementares e interdependentes. Um relativo a sua aplicabilidade na contextualização de um processo histórico. Neste caso, devemos considerá-lo, por um lado, no início da formação da sociedade colonial no Maranhão, constituída a partir do processo histórico marcado pela difícil relação entre tupinambá e europeus. E mais genericamente, podemos considerá-lo, por outro lado, como passível de ser vislumbrado em outras situações, desde que se trate do início de um processo de contato entre sociedades que se formaram apartadas. É possível observá-lo, por exemplo, no período que se convencionou chamar de “grandes navegações”, quando os europeus expandiram e intensificaram seus contatos até regiões longínquas da África, da Ásia e depois da América, cujos povos lhes eram ainda desconhecidos. Outro sentido, esse mais diretamente tratado aqui, é de ordem teórica. Esse “espaço intermediário” deve também ser construído enquanto conceito: uma abstração utilizada na análise de dadas representações – neste caso, tratam-se das representações que os conquistadores europeus, sejam clérigos ou sejam ÉVREUX, Yves d. Continuação da História das coisas mais memoráveis acontecidas no Maranhão nos anos 1613 e 1614. Brasília: Conselho Editorial do Senado Federal, 2007. Pg. 111-112. 70 4 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos leigos, fizeram dos chefes tupinambá – e das práticas fundadoras e fundamentadas nelas5. A utilidade do conceito está, nessa pesquisa, na compreensão das tensões ocasionadas a partir do contato entre duas sociedades cujas cosmovisões, mesmo tão dispares, ao mesmo tempo em que se repeliam, também se conectavam. O resultado dessas tensões pode ser verificado nas chamadas permanências e rupturas ocasionadas ao longo do processo histórico. O conceito de espaço intermediário situa-se nessa mesma linha, possibilitando ainda, como veremos, pensar as permanências nas rupturas e as rupturas nas permanências. O conceito foi criado, por um lado, a partir da articulação da ideia de “circularidade cultural” de Carlo Ginzburg6. O historiador italiano partiu de processo inquisitorial contra o moleiro Menocchio para perceber a circularidade entre a cultura letrada e a cultura popular. Parte-se aqui, de outro modo, das representações que cronistas europeus fizeram dos chefes tupinambá, a fim de apreender a articulação entre caracteres dessas duas culturas, observáveis nas resistências, nas apropriações, nas ressignificações, nas conexões e nos apagamentos ocorridos ao longo do processo temporal coberto pelas fontes. Nesse sentido, acrescenta-se que ao contrário do que ocorre com a distinção entre as culturas “popular” e “letrada”, difícil de estabelecer de antemão7, a articulação entre cultura tupinambá e europeia pode ser efetuada a partir de matizes bem definidas. Por outro lado, partiu-se também de uma crítica àquela formulação na proposta de “cultura intermediária” de Hilário Franco Júnior8. Ao tratar da Considera-se assim que as “representações” não podem ser separadas das práticas sociais. Sobre essa temática, ver: ROGER, Chartier. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. ROGER, Chartier. A História ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010. ROGER, Chartier. Defesa e Ilustração da noção de representação. In: Fronteiras, Dourados, MS, v. 13, n.24, pg. 15-29, jul./dez. 2011. 6 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 7 Sobre a crítica a respeito da relação entre cultura popular e letrada em Carlo Ginzburg, ver: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997. Pg. 153. Sobre a crítica ao conceito de “cultura popular”, ver: FRANCO JR., Hilário. Meu, teu, nosso: reflexões sobre o conceito de cultura intermediária. In: A Eva barbada: ensaios de mitologia medieval. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010. 8 FRANCO JR., Hilário. Modelo e Imagem: o pensamento analógico medieval. In: Os três dedos de Adão: ensaios de mitologia medieval. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010. Pg: 93-128 FRANCO JR., Hilário. Meu, teu, nosso: 71 5 Colonização e mundo Atlântico articulação entre a “cultura clerical” e a “cultura vulgar” na Europa Medieval, esse historiador defendeu que a cultura intermediária era um conjunto coerente de elementos comuns presentes tanto na cultura clerical quanto na cultura vulgar, “na qual clérigos e leigos encontravam e criavam elementos compreensíveis aos dois grupos, apesar de todas suas diferenças sociais, econômicas, políticas e funcionais”.9 Tais elementos seriam comuns às duas culturas e estariam fundamentados pela visão analógica do mundo. Decidir pela utilização de um conceito outro ao invés de manter aqueles dois conceitos, deve-se ao fato de que tanto no caso de Carlo Ginzburg quanto no de Hilário Franco Júnior, trata-se da relação de uma sociedade consigo mesma desde sua formação. Trata-se, melhor dizendo, de relações estabelecidas em um processo de longa duração entre segmentos sociais pertencentes a uma mesma sociedade. Na utilização do conceito de espaço intermediário, considera-se que ao contrário dos leigos e clérigos que já estavam em intenso contato antes mesmo de se reconhecerem enquanto europeus, tupinambá e europeus passariam a se relacionar sem que uma matriz cultural comum aos dois povos estivesse definida previamente. Aqui, de outro modo, haveria um espaço simbólico vazio – o espaço cultural intermediário – a ser preenchido com elementos que se não eram exatamente comuns, como na conceituação de “cultura intermediária”, eram semelhantes. São nestes termos que podemos avançar com a demonstração de como esse conceito foi construído na pesquisa da qual originou-se o presente estudo. Chefes tupinambá, relações sociais e contradições Importava alcançar três objetivos para compreender a relação entre as cosmovisões tupinambá e europeia10. Primeiramente, a análise se concentrou nos chefes tupinambá. A escolha se resumiu ao fato de que esse “tipo social” era o mais referenciado nas narrativas coloniais, como também o é nos documentos avulsos do Arquivo Histórico do Conselho Ultramarino levantados até aqui. A partir do volume de referências, constatou-se também que as representações em torno desse “tipo social” apresentam fortes contradições, a começar pelo próprio conceito de chefe, traduzido, não sem reflexões sobre o conceito de cultura intermediária. In: A Eva barbada: ensaios de mitologia medieval. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010. Pg: 28-64. 9 Embora a conceituação de Hilário Franco Júnior não exclua as distinções sociais, fazse necessário pontuar que se Ginzburg é criticado por manter, entre dois polos, uma a diferenciação que nem sempre existiu, o conceito de cultura intermediária pode anular distinções que talvez fosse mais interessante destacá-las. 10 A conceituação do “espaço intermediário” foi possível a partir dos resultados de pesquisa acadêmica a respeito dos “chefes tupinambá”. 72 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos ruídos, do termo tupi morubixaba11, isso para ficar apenas em um único exemplo acerca dos filtros que se impõem no caminho entre a narrativa do colonizador e os tupinambá por ela representados e que formam um imenso cipoal a ser desbastado ao longo da caminhada por quem se envereda pelo tema. Mas os filtros ocidentais não deveriam ser considerados como barreira intransponível para o entendimento da sociedade tupinambá. Pelo contrário, um método bem estabelecido deve fazer do filtro a sua força, pois a cosmovisão de quem inscreve um corpo outro permite que se possa observar os afastamentos e aproximações entre ambos os corpos. Ademais, os chefes tupinambá não eram apenas o tipo social mais referenciado nas narrativas, como também os mais buscados pelos conquistadores, pois era a partir deles que o europeu poderia perceber qual o teor da relação que se estabeleceria entre os dois povos, se pacífica ou belicosa12. E havia também outra situação de ordem prática. Com mais capacidade de trabalho – devido à quantidade de esposas, genros e “escravos” ao seu dispor – os chefes tupinambá eram os únicos capazes de garantir a estrutura necessária para a estadia dos europeus na nova terra. Assim, o primeiro objetivo era o de caracterizar esses chefes. No andamento da pesquisa, distanciou-se de uma primeira relação com a arqueologia e a antropologia política13. Dessa forma, ao se abandonar a busca por questões relacionadas à hierarquização social – como defender a eminência de um cacicado ou propor um mecanismo social que barraria o nascimento do Estado Muito desse ruído em torno das representações acerca dos chefes tupinambá pode ser percebido na ambiguidade do poder político – ora coercitivo, ora nulo – com o qual os cronistas os revestem. 12 Pela carta de Pero Vaz de Caminha, para ficar em um único exemplo, podem ser verificados vários mecanismos – como na organização em forma de corte em que o capitão ficava ao centro, em uma cadeira, e os demais sentados ao chão; ou no momento em que o capitão fora carregado por outros nomes – para demonstrar que Pedro Álvares Cabral era o capitão da expedição, bem como para encontrar a figura de um líder político entre os tupinambá. Verifica-se ainda o juízo de valor que foi se formando – gente bestial, vivem como pardais ou como animais monteses – quando aqueles mecanismos (desenvolvidos no contato com povos africanos) se mostravam ineficazes. CASTRO, Silvio. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 2010. 13 No primeiro caso, citam-se: RENFREW, Colin; BAHN, Paul. Arqueología: teorías, métodos y práctica. Madrid: Fernández Ciudad, 2007; YOFFEE, Norman. Mitos do Estado Arcaico: evolução dos primeiros Estados e civilizações. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013. No segundo caso, citamse: CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de Antropologia Política. São Paulo: Cosac Naify, 2013. CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 73 11 Colonização e mundo Atlântico –, passaram a ser buscadas as práticas sociais que estavam por trás das características dos chefes. Essa mudança de foco direcionou a continuidade da pesquisa, impondo uma nova questão: quais as relações e práticas sociais que possibilitavam a reprodução e a manutenção da condição de chefe tupinambá? O segundo objetivo fez a pesquisa afastarse também do uso do “tipo ideal” tal como se encontra nos escritos de Sérgio Buarque de Holanda, que havia sido, antes, um inspirador. Esse historiador utilizou o método weberiano para criar o “tipo ideal português” e o “tipo ideal espanhol” com a finalidade de compará-los14. Mas o risco da utilização desse procedimento está, por um lado, em excluir arbitrariamente da análise outros tipos ideais – o tipo tupinambá, por exemplo. Por outro lado, porque tal método, embora consiga demonstrar com muita consistência as diferenças entre os tipos ideais, não é a melhor maneira de perceber as conexões existentes entre dois “Todo” que, ao longo do processo histórico, muitas vezes se constituem mutuamente, fazendo das distinções apenas discursos historiográficos15. Dessa forma, apesar da utilização do “tipo ideal” inspirada nos trabalhos de Sérgio Buarque de Holanda, não se efetuou para comparar o “tipo tupinambá” com o “tipo europeu”. Mas sim para destacar características dos chefes tupinambá dispersas ao longo das narrativas e lançar luz, a partir delas, sobre as relações sociais que lhes davam sustentação. Chegar nas relações sociais que possibilitavam a reprodução da condição de chefe tupinambá ao longo do tempo permitiu a proposição de um terceiro objetivo: perceber as contradições ocasionadas nestas mesmas relações a partir da presença do europeu. Resumindo: ao invés de utilizar o tipo ideal de chefe tupinambá para comparar ao tipo europeu, foi utilizado para alcançar as relações sociais que possibilitavam a sua caracterização. E a partir das relações sociais apreendidas pela caracterização dos chefes tupinambá, verificou-se as contradições entre os imaginários dos tupinambá e dos europeus. Os resultados da pesquisa puderam, até aqui, demonstrar que relações sociais desenvolvidas a partir de diferenças oceânicas em relação à cosmovisão europeia, mesmo com todo processo violento do encontro, mesmo com o grande abalo que lhes propiciou a inserção do Cristianismo e, de maneira geral, mesmo diante do que significou para o povo tupinambá a inserção do sistema HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1975; HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Brasiliense; Publifolha, 2000. 15 A respeito dessa discussão, ver: GRUZINSKI, Serge. Os mundos misturados da monarquia católica e outras connected histories. Topoi, Rio de Janeiro, mar. 2001. Pg. 175195. 74 14 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos agroexportador e escravista colonial, ainda assim, elas, além de se repelirem, se conectaram. Essa conexão – as rupturas nas permanências e as permanências nas rupturas – podem ser percebidas a partir do espaço cultural intermediário, como será exposto a seguir. Verificação do espaço intermediário no processo de contato com os europeus Como observado a pouco, os chefes tupinambá não só eram o tipo social mais referenciado nas narrativas, como também eram – e por isso o grande volume de referências – de suma importância para que os europeus pudessem estabelecer os primeiros contatos com esses povos. E mais. Eram também os únicos a garantir o estabelecimento dos europeus em terra longínqua e estranha. Porém, contraditoriamente a isso, para efetivação da aliança entre europeus e tupinambá, centralizada na necessidade do batismo, seria necessário que importantes portas de acesso à condição de chefe fossem fechadas, minando, no decorrer do processo, a viabilidade de sua reprodução. Todos os chefes tupinambá se caracterizavam, primeiramente, por serem 1) homens e 2) de idade avançada. Ademais, todos se destacavam por seus 3) dotes oratórios. Outra característica importante era a 4) pluralidade de esposas. Todos eles deveriam necessariamente se mostrar 5) grandes guerreiros. Os chefes poderiam ser evidenciados ainda por seus 6) vários nomes inscritos na própria pele e por seus 7) muitos “escravos”. Tais chefes, além da experiência adquirida fora do convívio familiar (nas guerras) também deveriam se mostrar como 8) modelos exemplares no interior de suas aldeias. Por fim, eles também podiam ser reconhecidos pelos 9) bens de prestígio e pelos 10) demonstrativos de hierarquia. Tais características eram asseguradas por relações sociais que, muito embora não estivessem alheias à experiência dos homens em situações que lhes eram novas, vinham se reproduzindo desde um tempo de longa duração, comparável ao processo de cristalização do cristianismo na Europa16. Pode se dizer, por Os povos que depois seriam chamados de tupinambá advieram de povos tupi que teriam alcançado o litoral das terras baixas do território que hoje corresponde ao Brasil desde pelos mesmo o século II de nossa era, o que teria possibilitado a cristalização de suas práticas. Sobre esse tema, ver: NOELLI, Francisco da Silva. As hipóteses sobre o centro de origem e as rotas de expansão dos tupi. Revista de Antropologia, São Paulo: Universidade de São Paulo, v. 39, n. 2, 1996; PROUS, André. Arqueologia Brasileira. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1993; PROUSS, André. O Brasil antes dos Brasileiros: a pré-história de nosso país. Rio de Janeiro, Zahar ed., 2006; HECKENBERGER, Michael; NEVES, Eduardo; PETERSEN, James. De onde surgem os modelos? As origens e expansões tupi da Amazônia. Revista de Antropologia, v. 41, n. 1. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1998; ROBRAHN75 16 Colonização e mundo Atlântico exemplo, que os chefes eram anciãos devido ao forte controle social exercido pelos mais velhos. Para que um tupinambá iniciasse percurso necessário para alcançar a condição de chefe, deveria esperar até os 25 anos de idade até lhe ser permitido falar em assembleia17 e assim exercer os dotes oratórios necessários para adquirir prestígio e conquistar alianças. Acrescenta-se que era só a partir dos 25 anos que um tupinambá poderia casar com parceira fértil e assim, depois de escapar do controle do sogro18, iniciar o longo processo de aquisição de prestígio conquistado pelas alianças que estavam por trás da poligamia. E era a partir dessa idade também que esse tupinambá poderia trocar pela primeira vez de nome, depois de esfacelar o crânio de um inimigo em ritual antropofágico. E, por fim, era só a partir dos 25 anos que um tupinambá poderia participar efetivamente dos combates, mas nunca no comando, o que só ocorreria concomitante ao lento processo de costura de alianças pela poligamia, pelo convencimento nas assembleias e pela aquisição contínua de prestígio representado nos nomes tirados dos crânios esfacelados dos inimigos. A necessidade do batismo, como exigência para efetivar de fato a aliança entre os povos europeus e tupinambá, vinha romper com tudo isso. Primeiramente, porque esse sacramento proibia a antropofagia, o que trazia consequências indiretas nas características relacionadas à experiência no combate, à aquisição de vários nomes e ao quantitativo de inimigos capturados na guerra, que passariam de tabajara a “escravos”. Mas a exigência do batismo também trazia consequências diretas a uma das principais características dos chefes: pluralidade de esposas. O que garantia o prestígio dos chefes não era o fato de possuir várias esposas, como pretendia um Claude d’Abbeville19, eram as alianças que estavam por trás delas. A proibição da poligamia inviabilizava a reprodução dos chefes tupinambá, que desse momento em diante, seriam cada vez mais recrutados nas famílias de chefes já aliados aos europeus. E aqui chega-se a uma pergunta importante: se o batismo significava uma forte ruptura nas relações sociais ligadas à reprodução e manutenção da GONZÁLES, Erika Marion. A expansão tupi, em busca da Terra Sem Mal In: Brasil 50 mil anos: uma viagem ao passado PréColonial. São Paulo: USP, 2003. 17 Tratava-se de uma reunião no centro da aldeia na qual os chefes e anciãos tratavam de assuntos públicos, como a guerra, as alianças e o comércio. 18 Após o matrimônio, um tupinambá ia residir na casa do sogro, para quem prestava serviços obrigatórios 19 ABBEVILLE, Claude d. História da missão dos padres Capuchinhos na ilha do Maranhão e terras circunvizinhas. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2008. Pg. 300. 76 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos condição de chefe tupinambá, ainda assim, a julgar pelas narrativas, por que os chefes procuravam insistentemente o batismo? Há várias respostas possíveis. Uma delas é que o batismo possuía, no espaço cultural intermediário, elementos semelhantes entre os imaginários tupinambá e europeu. Basta pensar no fato de que assim como no esfacelamento do crânio de um inimigo, o batismo também possibilitava a honra de um novo nome. Acrescenta-se outra semelhança: depois do esfacelamento do crânio de um inimigo, eram os guerreiros experientes que costumavam renomear um indivíduo. Análogo a isso, depois que um tupinambá passava pelo ritual do batismo, o novo nome era dado por um dos generais europeus. E a permanência na ruptura não era só essa. Ao ser batizado, o tupinambá ganhava o direito de participar do rito da comunhão. Assim, se a proibição da antropofagia inviabilizou muito dos mecanismos de coesão social que os rituais antropofágicos possibilitavam, a comunhão cumpriria função semelhante 20. E se a hóstia não tinha o mesmo sabor do que o corpo do inimigo, ainda assim, guardava, no espaço intermediário, suas semelhanças com a antropofagia, só que agora o alimento era o corpo do Deus cristão. Aliás, alimentar-se do inimigo ou virar alimento dele, entre os tupinambá, era garantia do acesso à Terra Sem Mal: uma espécie de paraíso onde os seus antepassados estariam bebendo e dançando eternamente. O novo nome cristão e o direito de se alimentar do corpo de Cristo advindo com o batismo, de maneira semelhante, ofereceria acesso direto para o Paraíso Cristão. Mas não mais apenas para os grandes guerreiros, como era no costume tupinambá. Mais democrática, a “terra sem mal” dos europeus, ao menos no discurso, estava aberta a todos. Mas não se deve enganar. Embora a troca de nome proporcionada pelo batismo representasse uma permanência nas práticas tupinambá que permitiam a aquisição do prestígio necessário para galgar a condição de chefia, representaria também graves rupturas, a ponto de subverter, por completo, relações sociais consolidadas desde um período imemorável. E o maior exemplo disso está no abalo que esse sacramento cristão significava às duas características fundamentais de todo chefe tupinambá, a saber: ser homem de idade avançada. Primeiramente porque o novo nome – e o acesso ao Paraíso – passava a ser garantido também para as mulheres. Depois, se um tupinambá, Sobre o ritual antropofágico como mantenedor da coesão social, ver: FERNANDES, Florestan. A função social da guerra na sociedade tupinambá. São Paulo: Globo, 2006. Sobre o ritual da comunhão como mantenedor da coesão social, ver: FRANCO JR., Hilário. Cristianismo medieval e mitologia: reflexões sobre um problema historiográfico. In: A Eva barbada: ensaios de mitologia medieval. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010. 77 20 Colonização e mundo Atlântico devido ao controle social exercido pelos mais velhos, deveria esperar até os 25 anos de idade para adquirir um novo nome ao esfacelar o crânio de um inimigo em um ritual antropofágico, essa fonte de prestígio passaria a ser distribuída, “gratuitamente”, já nos primeiros anos de vida. E essa contradição não passava tão despercebida pelos tupinambá. É o que se evidencia, por exemplo, na lamentação de Jacupen, “um dos principais da tribo dos canibaleiros”21. Ao apontar a contradição que existia no fato de seu filho ser batizado primeiro do que ele, indaga: “Não tenho pesar e nem inveja, que meu filho, que aqui está, se batizasse primeiro do que eu. Mas dizei-me: não é coisa nova, que ele seja filho de Deus antes de mim, seu pai, e que eu dele aprenda o que devia ensinar-lhe?” [grifos nossos].22 E assim ia a sociedade tupinambá no tempo de contato com os europeus. O espaço intermediário – uma máquina de pacificação23 – que se constituía entre os imaginários daqueles dois povos, permitia que o ritual antropofágico se aproximasse do ritual da comunhão. Permitia também que a Terra Sem Mal guardasse as suas semelhanças com o Paraíso Cristão. Permitia ainda que a troca de nome proporcionada pelo esfacelamento do crânio de um inimigo se aproximasse da troca de nome propiciada pelo batismo. Porém, ao mesmo tempo, fazia com que práticas sociais consolidadas desde um tempo de longa duração sofressem tamanho abalo a ponto de dar a impressão, para um velho chefe tupinambá, de que o mundo estava – concluindo – de “pernas para o ar”. “Canibaleiros” era como os franceses designavam os tupinambá potiguar. ÉVREUX, Yves d. Continuação da História das coisas mais memoráveis acontecidas no Maranhão nos anos 1613 e 1614. Brasília: Conselho Editorial do Senado Federal, 2007. Pg: 339. 23 O espaço intermediário atuava como instituição pacificadora, pois conformava, a partir de elementos semelhantes, imaginários os mais díspares. Essa pacificação, violência simbólica, permitiu que a ocupação tupinambá, ao longo do processo, fosse cedendo lugar à ocupação colonial estabelecida no Maranhão. Por outro lado, engessados e cristalizados no imaginário que se desenvolveria desde então, tais elementos, recalcados, se prolongariam pelos tempos, latentes nesse novo imaginário, quem sabe, como uma galha de figueira branca que, desgarrada da matriz, abraça outra árvore e cresce até, no final do processo, tomar o seu lugar. 78 21 22 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos POLÍTICA ILUMINISTA ATRAVÉS DO COMÉRCIO DE LIVROS NA CAPITANIA DO MARANHÃO E PIAUÍ (1798-1801) Flávio P. Costa Júnior1 Resumo Ao analisar os documentos do AHU relativo as correspondências administrativas trocadas entre o ministro de ultramar D. Rodrigo de Sousa Coutinho e o governador do Maranhão e Piauí, D. Diogo de Sousa (1798-1801), nota-se a articulação política relativa ao envio, recepção e circulação de impressos nas capitanias administradas por este. E isso estava condizente com a política iluminista de D. Rodrigo frente ao ministério que ocupava. É fator chave neste trabalho apontar questões como a quantidade e a tipologia destes impressos. Palavras-chave: Iluminismo – impressos – política Iluminismo lusitano Nas correspondências administrativas (Arquivo Histórico Ultramarino AHU) trocadas entre o ministro da marinha e ultramar D. Rodrigo de Sousa Coutinho e o governador e capitão-general da capitania do Maranhão e Piauí D. Diogo de Sousa é notável uma política voltada para fauna, flora e minerais da região governada por este. Assim sendo o envio de livros e sua venda na capital da capitania, São Luís, por ordem direta daquele demostra um interesse de que um determinado conhecimento fosse difundido entre aqueles que pudessem ler. Tais obras tinham conteúdos muito bem homogêneo voltados para a filosofia da natureza e representava a administração iluminista. O termo iluminismo foi formulado por historiadores do século XIX para representar um determinado período que foi o século XVIII, mas os termos ilustração e Luzes estavam presentes no vocabulário setecentista. 2 No entanto, Formado em história pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente é mestrando pelo Programa de Pós-graduação em história pela Universidade Federal do Maranhão e é bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA). Orientado pelo professor Alírio Cardoso (PPGHIS-UFMA). 2 Luzes (e suas variações idiomáticas) também estava presente na cultura popular. No cristianismo tinha sentido de revelação da palavra divina, no sentido de entendimento 79 1 Colonização e mundo Atlântico diferia não somente do conceito empregado atualmente pela historiografia, mas também regionalmente. Assim luzes, lumières, Aufklӓrung, enlightenment, lumi, ilustración não só distinguiam pelo viés linguístico, mas no sentido empregado em cada país.3 E estas variações estavam longe de forma uma base de pensamentos homogêneos, mesmo dentro de um país4. Daí a diferença visível entre os pensadores Voltaire e Rousseau, reconhecidos como iluministas. Mas há questões que podem ser apontadas para se apresentar o conceito iluminismo e suas característica. Desde o século XVII é o conhecimento científico que se vai valorizando em detrimento aos demais conhecimentos (religioso, filosófico e artístico). Os pensadores Bacon e Newton são representantes deste período que defendiam um conhecimento baseado na Razão. E este será o mote das discussões que estavam presentes para o conhecimento científico. A Europa será voltada para o pragmatismo pautado na Razão, no conhecimento científico. Assim usar o termo iluminismo para retratar a política do império lusitano, sobretudo do D. Rodrigo de Sousa Coutinho é trabalhar como categoria já consagrada pela historiografia desde século XIX. A política no império lusitano foi se conscientizando que para fazer frente os demais países europeus que buscavam a hegemonia mundial, tinha que desenvolver seu conhecimento científico. E isso é fundamental por que se vai formando o homem da ciência5 para conhecer melhor o império, sobretudo a América portuguesa que eram a meninas dos olhos do império naquele momento. O século XVIII é marcado pela exploração continental em detrimento das descobertas oceânica que foi principal dos períodos anteriores. 6 desta palavra, além de ser a própria manifestação divinal. Neste sentido luzes se opõe a trevas que é justamente a ausência de Deus ou a manifestação do Mal. O conceito nesta perspectiva é completamente distinto do que será apresentado pelos “homens de letras” e ao mesmo tempo análogo, pois para estes se há luzes para razão há diametralmente o oposto que é as trevas da ignorância. Porém é a secularização advogado por estes que prevalecerá no mundo ocidental a partir do século XVIII. ( FALCON, Francisco José Calazans. Iluminismo. São Paulo: Editora Ática, 2002, p. 32-33). 3 Idem, op. cit., p. 5-8. 4 FORTE, Luiz R. Salinas. O iluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 1982, passim. 5 Para este artigo se usará o termo homem da ciência, conforme Ferrone. Para o período setecentista, o conhecimento científico vai se desenvolvendo, mas não o conceito de cientista, mas se usava outros termos como filósofo natural, entre outros. Cf. FERRONE, Vicenzo. “O homem da ciência”. In. VOVELLE, Michel (org.). O homem do iluminismo. Lisboa: Editora Presença, 1997. 6 PRATT, Mary Louise. Os olhos do Império: relatos de viagem e transculturação. Bauru: EDUSC, 1999. 80 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos É no ministério de Pombal7 que se inicia uma política caracterizada como absolutismo ilustrado.8 A reforma da Universidade de Coimbra (1772) é exemplo ilustrativo, valorizando-se o experimental e prático, no curso de medicina, reestruturando a grande curricular.9 Além das implementações de filosofia e matemática.10 No que se refere aquele curso, foi divido em Filosofia Racional e Moral, com bases na lógica, matemática e ética; e Filosofia Natural subdivida em física experimental e pela química filosófica e médica11. Em suma traz para o centro de interesse do universo do ensino superior o conhecimento técnico-científico. D. Rodrigo de Sousa Coutinho e D. Diogo de Sousa D. Rodrigo de Sousa Coutinho foi um político e diplomata no império lusitano. Sua formação é devedora das políticas ilustradas de Pombal, que aliás era seu afilhado de batismo. Formou-se no Colégio dos Nobres e em nível superior pela Universidade de Coimbra12. Na diplomacia ocupou o cargo de ministro plenipotenciário na corte da Sardenha em Turim nos anos de 1779 a 1796. Assume o cargo de ministro da marinha e ultramar (1796-1801) no período regencial do príncipe D. João. D. Rodrigo em seu ministério será caracterizado por ser reformador. E isso quer dizer antes de mais nada que rejeita o iluminismo francês revolucionário, que acabou por destronar a monarquia em França. Mas é adepto do iluminismo Como de práxis na historiografia especializada será referido neste artigo ao Sebastião José de Carvalho e Melo como Marquês de Pombal, independente do tempo em que se discutirá, já que a bem da verdade ele recebe tal título nobiliárquico em 1769. 8 Absolutismo ilustrado ou despotismo esclarecido como é mais referido se trata de políticas realizadas por monarcas europeus com base nos conhecimentos difundidos pelos pensadores iluministas. É característica destas gestões a secularização do Estado, além de incentivo ao conhecimento técnico e científico. Cf. FALCON, Francisco José Calazans. Despotismo esclarecido. São Paulo: Editora Ática, 1986. Para ler obra sobre o Marquês de Pombal veja: MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 9 SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Inventando a Nação: intelectuais ilustrados e estadistas luso-brasileiros na crise do antigo regime português (1750-1822). São Paulo: HUCITEC: FAPESP, 2006, p. 73. 10 Idem, op. Cit, p. 73. 11 Idem, op. Cit., p. 74. 12 Um fundado e a outra reformada, respectivamente, no período pombalino. 81 7 Colonização e mundo Atlântico reformador13, que pudesse tornar a administração mais competente e capacitada, além de se valorizar o desenvolvimento técnico-científico para o uso pragmático a favor da economia estatal, em outras palavras para manter o absolutismo ilustrado.14 Será uma política naturalista-utilitário, ou seja, voltado para um pragmatismo acerca do conhecimento para ser usado em benefício do desenvolvimento econômico do império. E para tanto se valerá de uma burocracia especializada que se valesse do conhecimento necessário para se aprender das potencialidades que a natureza do império pudesse oferecer, tanto da fauna, flora e minerais. E para tanto se valeu do maquinário estatal com o fomento à educação, a viagens de exploração científica e à publicação e circulação de livros. D. Rodrigo mantinha contatos regulares com os governadores das capitanias, além de possuir relatórios técnicos da marinha que detalhavam os recursos naturais e humanos que poderia dispor. Nisso sabia quais seriam os homens de ciência que poderia recrutar para produzir conhecimentos sobre a natureza. E isto é significativo, pois para a época o conhecimento dos fenômenos naturais era a chave do controle não somente da própria natureza, mas do administrativo.15 Ele funda instituições complementares à marinha no intuito de modernizála: Observatório Real da Marinha (15 de março de 1798 – função de complementar os estudos ministrados pela Academia Real da Marinha, já está fundada em 1779) que além de se realizar observações astronômicas, ensinavase o curso de astronomia; a Sociedade Real Marítimo e Geográfico (30 de junho de 1798) tinha como objetivo confeccionar cartas militares e hidrográficas; e um hospital para a marinha.16 Exigia dos governadores relatórios sobre recursos humanos e materiais. A quantidade de habitantes em cada capitania, de casamentos, nascimentos, Neste sentido se refere aos países que foram governados por monarcas do absolutismos ilustrado (os déspotas esclarecidos). Cf. SILVA, Ana Rosa Cloclet, op. cit., p. 33. 14 VILLALTA, Luiz Carlos. 1789-1808: o império luso-brasileiro e os brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 17-18. MUNTEAL FILHO, Oswaldo. “O liberalismo num outro Ocidente: política colonial, idéias fisiocratas e reformismo mercantilista”. In. GUIMARÃES, Lucia M. Paschoal; PRADO, Maria Emília (orgs.). O liberalismo no Brasil imperial: origens, conceitos e práticas. Rio de Janeiro: REUAN: UERJ, 2001. 15 CAROLINO, Luís Miguel. “Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, a ciência e a construção do império luso-brasileiro: a arqueologia de um programa científico.” In. GESTEIRA, Heloisa Meireles; CAROLINO, Luís Miguel; MARINHO, Pedro (orgs.). Formas de Império: Ciência, tecnologia e política em Portugal e no Brasil. Séculos XVI ao XIX. São Paulo: Paz e Terra, 2014, p. 193;196. 16 Idem, op. cit., p. 198-200. 82 13 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos óbitos, os gêneros produzidos, os valores correntes.17 Eram os chamados mapas, que acumulava na época o sentido cartográfico, mas que poderia ter também o sentido moderno de senso. Exigia ainda que fosse enviado plantas nativas para o reino e por lado incentiva o plantio de gêneros promissores que não fossem tradicionalmente explorados na região. Além disso está diretamente envolvido como o desenvolvimento técnico do extrativismo mineral das colônias, sobretudo da América portuguesa que já estava sofrendo com o esgotamento aurífero na região das Minas, onde décadas antes eram o principal rendimento econômico do Império. 18 O absolutismo ilustrado de D. Rodrigo tinha como selo o naturalismoutilitário19. Isso quer dizer que as pesquisas realizadas nas capitanias eram para conhecer as potencialidades que a natureza poderia oferecer e como se poderia estruturar estratégias para aproveitar este conhecimento em favor do império. O iluminismo lusitano era reformador, mas de forma alguma era para pôr em questão a Igreja Católica ou a primazia da realeza portuguesa, mas para um conhecimento desenvolvimentista acerca do Império como todo. 20 E medida fundamental para consolidação da política ilustrada de D. Rodrigo é a fundação da Tipografia e Cacografia do Arco do Cego. A administração ficou a cargo do luso-americano da Minas o frade Jose Mariano da Conceição SILVA, Maria Beatriz Nizza da. “Um grande inventário da Natureza: políticos da Coroa em relação ao Brasil na segunda metade do século XVIII”. In. . GESTEIRA, Heloisa Meireles; CAROLINO, Luís Miguel; MARINHO, Pedro (orgs.). Formas de Império: Ciência, tecnologia e política em Portugal e no Brasil. Séculos XVI ao XIX. São Paulo: Paz e Terra, 2014, p. 51. 18 DIAS, Maria Odila da Silva. “Aspectos da Ilustração no Brasil”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. volume 278. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1968, p. 118-119. 19 O termo naturalismo-utilitário é de Oswaldo Munteal Filho, utilizado aqui para destacar a simbiose de um conhecimento pragmática acerca da natureza e a visão deste conhecimento para ser usado para manter a balizes do Império lusitano. No entanto é de se destacar que os conhecimentos naquele momento das Luzes eram em sua maioria pragmático, inclusive aquele voltado para a natureza, e não uma especificidade portuguesa como as vezes dá entender no texto do autor citado. Cf. MUNTEAL FILHO, Oswaldo. “Política e Natureza, no reformismo ilustrado de D. Rodrigo d Souza Coutinho”. In. O Estado como vocação: idéias e práticas políticas no Brasil oitocentista. Rio de Janeiro: Access, 1999. Idem. “O liberalismo num outro Ocidente: política colonial, idéias fisiocratas e reformismo mercantilista”. In. GUIMARÃES, Lucia M. Paschoal; PRADO, Maria Emília (orgs.). O liberalismo no Brasil imperial: origens, conceitos e práticas. Rio de Janeiro: REUAN: UERJ, 2001. 20 MUNTEAL FILHO, Oswaldo. Op. cit.. 83 17 Colonização e mundo Atlântico Veloso21. As publicações de impressos (originais e traduções) nesta tipografia eram majoritariamente voltadas para o conhecimento das potencialidades econômicas da natureza. Tinham como temas a fauna, flora e minérios. Mas é a flora que a predomina nas temáticas destes impressos, talvez por que sejam os vegetais os bens da natureza que mais o ser humano utiliza desde a fabricação de artefatos, como casas, barcos, e etc. Ou no caso de alimentos ou por usos medicinais.22 D. Diogo de Martins de Sousa Teles Menese (1755-1829) era doutor em matemática pela Universidade de Coimbra (1789) e foi governador de Moçambique (1793-1798). E são possivelmente esses antecedentes que o qualificavam (por escolha de D. Rodrigo) para ser governador e capitão-general da capitania do Maranhão e Piauí (1798). Foi apresentado pela historiografia maranhense do século XIX e XX por vezes com características autoritárias e imorais, e por vezes retratado como um homem da ciência. A bem da verdade isso não excluía uma coisa nem outra relativo a um indivíduo, mas essa era a forma como os historiadores dos séculos passados realçavam as características de um determinado indivíduo para o defini-lo como um bom governante ou mal.23 Mas essa não é a questão deste trabalho, mas perceber as características de um governante iluminista que trabalhava como um funcionário para o bem do império em conjunto. Muitas questões são significativas na gestão de D. Diogo e que fazem refletir sobre a razão da escolha de dele para o cargo por D. Rodrigo. A de confiança é uma ponto chave, já que Meireles destaca que havia grau de parentesco entre ambos, assim colocar parentes em cargos de confiança é uma prática comum no Imperio. Todavia ainda não foi possível até o momento averiguar esta informação e este ilustre historiador não menciona qual é a relação de parentela.24 Caso isso seja confirmado teria uma indicativa de preocupação que D. Rodrigo teria para escalonar pessoas de sua parentela para o norte da América portuguesa, já que seu irmão, D. Francisco de Sousa Coutinho era governador do Pará e Rio Negro. Veloso dirigiu a Casa Literária do Arco do Cego por todo seu período de funcionamento que foi de quase três anos, entre 1799 a 1801. Antes, em 1797 tinha sido indicado por D. Rodrigo para realizar traduções de memórias que pudesse ser utilizadas para o conhecimento acerca da natureza. Talvez em razão do cumprimento com sucesso da ordem o citado ministro o tenha escolhido para ser o diretor da tipografia. 22 WORSTER, Donald. “Para fazer história ambiental”. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 4, n. 8, 1991, p. 1999. 23 Cf. MEIRELES, Mário M. Dom Diogo de Sousa: governador e capitão-general do Maranhão e Piauí (1798-1804). São Luis: SIOGE, 1979, p. 38-39.. 24 Idem, op. cit., p. 33. 84 21 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos O envolvimento de D. Diogo com a ciência é outro fator chave. Neste fim de século na capitania do Maranhão havia um surto de bexigas que afligia a população local. Como governador já havia vivenciado situação similar quando era gestor de Moçambique, poderia ser uma outra razão de seu nome ser preterido para governar esta parte da América portuguesa. 25 Sua ligação com o conhecimento técnico-científico é visível com as práticas de incentivo a pesquisa, na capitania, como o fomento ao inventor Antônio Belford na construção de uma máquina propulsora de água.26 Outro investimento científico foi o fomento ao Vicente Jorge Dias Cabral que era um explorador naturalista que adentrou os sertões do Maranhão e Piauí na recolha de plantas e sementes para estudo, enviando-as para São Luís, e daí para Portugal.27 E por fim criação de uma quarta cadeira escolar é a de história natural e química, somando-se as de filosofia, retórica e gramática latina.28 Nesta breve lista acerca de um homem que a historiografia pouco se apropriou em estudos é notável sua ligação com a ciência e com o iluminismo, o que poderia indicar as razões elementares da escolha de D. Rodrigo para ser governador do Maranhão e Piauí. É de se destacar a relação dos livros que vinham para a Capitania e seus fundamentos na difusão do conhecimento voltado ao naturalismo-utilitário. Comércio do iluminismo na capitania Por ordens expressas de D. Rodrigo de Sousa Coutinho manda ao governador do Maranhão e Piauí, D. Fernando Antônio de Noronha no ano de 1798, repartir entre os habitantes 90 exemplares do livro Cultura e manipulação do açúcar. Questão importante de notar é esse repartir não pressupõe a venda. Mas uma difusão do conhecimento acerca de uma cultura agrícola que era já era praticada nesta capitania. O texto diz “fiz repartir por esses habitantes”, 29 porém não se é especificado quem são estes habitantes, mas que provavelmente era para uma elite agrária que estava envolvida com essa cultura. O sucessor no governo desta capitania, D. Diogo de Sousa também repartiu exemplares de impressos Fiz repartir os quatro exemplares da Instrução sobre a cultura das Batatas por igual número de pessoas, que me parecem mais aplicadas à Agricultura, como V.Ex.a me Idem, op. cit., p. 62. Idem, op. cit., p. 40. 27 Idem, op. cit., p.40-41. 28 Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) – Maranhão (MA), Projeto Resgate, D. 8767. 29 AHU-MA, D. 8019. 85 25 26 Colonização e mundo Atlântico determinou em o seu Aviso de 17 de julho do corrente ano, que acompanhou os ditos exemplares.30 Desta mesma forma parece difundir o conhecimento ilustrado na dita capitania, no entanto algumas questões diferem da situação anterior. A proporcionalidade relativa aos 90 exemplares do açúcar contra os 4 sobre as batatas. Estes números decorrem sobre a cultura mais praticada nesta região que é o canavial do que a de batata. Outro quesito é que apesar de ainda não ser especificado quem seriam os agraciados com os impressos, D. Diogo indica que os entregou àqueles que mais pareciam capacitados, o que isso quer dizer ou que seriam aqueles que já estavam envolvidos com este tipo de plantio e assim possibilitaria um melhoramento técnico ou seria um incentivo para este tipo de plantação àqueles que poderiam fazer. Maria Odila relata um caso parecido sobre ordem direto de D. Rodrigo. 31 Para autora o caso sucede porque não estava havendo vendagem e assim sendo era preterido que fosse distribuído gratuitamente. Isso é importante destacar, já que no caso último, quando D. Diogo de Sousa distribui entre 4 indivíduos, já havia um comércio de livros em São Luís. Meireles destaca que a vendagem de impressos na capitania foi um desastre32. Ainda no ano de 1799 D. Diogo relata que colocou para ser vendido no Correio da cidade, segunda ordem do ministro da marinha e ultramar, a tradução do Mercúrio Britânico (80 exemplares) e Memoria sobre o Algodão (25) 2º tomo do Fazendeiro do Brasil (90) com valores de 300, 120 e 1$000 reis respectivamente.33 O local da venda é emblemático pois é o Correio da Cidade. Este órgão formado por ordem de D. Rodrigo tinha a função de recepção e envio de correspondências e no caso de São Luís da venda de impressos. 34 Curiosamente Bernadino Pereira Lago (em 1822) afirmava que não havia um comércio de livro regular na cidade.35 O Correio funcionava na casa do administrador, Luiz da Rocha Compasso. AHU-MA, D. 8832. DIAS, Maria Odila. Op. cit., p. 119. 32Idem, op. cit., p. 63. 33 AHU-MA, D. 8242. 34 Formado pelo alvará régio de 20 fevereiro de 1798, os correios marítimos, possibilitou uma maior troca de correspondências entre os governadores e o poder central da metrópole. 35 Esta informação de Pereira Lago é em decorrência de não ter encontrado lugares específico para este tipo de comércio, a época conhecidos por loja de livros. E assim se vai destacar a historiografia maranhense do século XIX e XX, como é o caso do historiador Jerônimo de Viveiros. Mas é importante salientar que apesar de não haver lugares próprios de venda é notável em anúncio de jornais no começo do XIX 86 30 31 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Outras obras foram sendo postas a venda no Correio como curso de estudos para uso do comércio com 10 exemplares pelo valor de 1$200 réis. 36 Estes impressos tinham este duas tipologias, a primeira majoritária que era voltado para a agricultura a outra em menor quantidade para o comércio. Importante destacar que D. Rodrigo ordena a D. Diogo que cada obra deve ser lida pelo governador.37 Assim pelo menos um exemplar ia para a sede do governo, acredito que para compor uma biblioteca. Documento ímpar é o comentário realizado por D. Diogo sobre uma destas Ainda que a presa li a tradução da Obra sobre a Arquitetura Naval, a qual V Ex.a remeteu em Carta de 10 de dezembro do ano passado a meu Antecessor pelo Correio Marítimo: Achei-a muito científica; mas parece-me que a posição das Letras, mesmo algumas de sucessões da fig. 2.º precisão [de] correção.38 A leitura do governador, indicada acima, é para cumprir com a ordem do ministro (por isso que está sendo em relatada em documento oficial). Para demostrar que a está cumprindo indica que a fez a leitura no livro Arquitetura Naval. O modo de leitura é indicado, realizado as presas; seria pela dificuldade de realiza-las juntamente com a administração da capitania? Ou seria pela dificuldade de ler todas as obras? Ademais sua opinião é clara, quando diz que achou o livro muito científico. E aqui se percebe a fala de um matemático que também era engenheiro (o livro é de engenharia naval) e talvez por esta familiaridade que o fez pegar este (não há indicação antes ou depois de ter lido outro). E por fim a crítica, ou seja, mesmo que tenha sido feita de forma ligeira, não foi desatenta, ou é pelo menos o que diz no documento. Referindo-se a possíveis erros da posição das letras e na ordem das figuras.39 indicativos de livros em boticas e nas próprias tipografias. Além é claro, do Correio da Cidade no final do XVIII. Cf. VIVEIROS, Jerônimo. História do comércio do Maranhão (1612-1895). São Luís: Associação Comercial do Maranhão, 1954, p. 339, v.2. LAGO, Bernadino Pereira do. Estatística Histórico-Geográfica da província do Maranhão. São Paulo: Siciliana, 2001, p. 77. 36 AHU-MA, D. 8490. 37 AHU-MA, D. 8689. 38 AHU-MA, D. 8259. 39 Chartier indica que a leitura pressupõe dois vieses inerente, a da autoridade do texto e da flexibilidade do entendimento do leitor. Além de que esse processo de leitura vai para além do que o autor deseja informa, já que além da liberdade de entendimento do leitor, os aspectos mercadológicos, a conjectura, a editoração, dentre outros resignificam o sentido primeiro. Cf. A história ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 87 Colonização e mundo Atlântico Há uma quantidade expressiva de livros para se vender em início do século XIX em São Luís. No ano de 1800 são 883 livros e impressos40, todos com seus respectivos valores, que totalizando dá 401$400 rs como vai ser indicado no próprio documento. Um exemplar de cada obra vai para a sede do governo, como indicado anteriormente. Neste mesmo ano ocorre outra remessa de livros que são enviados pelo frade Jose Mariano da Conceição Veloso. São ao todo 294 livros com a totalização do lucro 158$850 rs.41 Faz notar também que são títulos diferentes daqueles que vem na primeira remessa. São títulos como o Fazendeiro do Brasil, Memoria sobre os algodões, memoria sobre a caneleira, memória e extratos da pipereira negra, memoria sobre a cultura do loureiro cinamoro, dentre outros, que foram publicados no ano de 1799 (exceto memória sobre a caneleira, de 1797), demostrando a celeridade do processo de difusão destas obras. Como já foi relatado anteriormente eram impressos voltados para a natureza, ou para ser mais exato, para a agricultura. É salutar que tivessem relacionado com culturas já praticadas na região como o algodão e a cana-deaçúcar como por culturas promissores, como é o caso da pimenta da índia (pipereira negra) e canela (loureiro cinamoro). 42 Porém parece que as vendas não foram boas. Meireles indica que poucos livros foram vendidos e que o prejuízo foi de 2:401$478 rs. No entanto, mais uma vez o autor não indica de que fontes tirou esta informação. E nem a documentação analisada indicou a remessa total da vendagem destes livros. De todo modo havia a clara intensão de que se fosse “vendido” o conhecimento com aqueles que estavam na colônia. Maria Odila cita o caso do governador de São Paulo, no mesmo período, e que este reclamava que os habitantes locais não se interessavam pelas letras.43 Talvez esta seja o caso, mas que ainda precisa de mais substrato documental para afirmar isto. Para concluir As relações administrativas entre D. Rodrigo de Sousa Coutinho e D. Diogo de Sousa, demostram que a partir de uma valorização do conhecimento técnicocientífico, tentou-se difundir um conhecimento que estivesse ligado aos aspectos ilustrados que os caracterizavam. E isso é perceptível pelas suas AHU-MA, D. 8698. AHU-MA, D. 8803. 42 GALVES, Marcelo Cheche. Saberes impressos, correspondências e expedições científicos: a capitania do Maranhão e o Reformismo Ilustrado na virada para o Oitocentos. São Luís: Outros Tempos, vol. 11, n. 18, 2014, p. 127. 43 DIAS, Mario Odila. Op., cit. p. 119. 88 40 41 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos trajetórias de vidas e seus atos dentro do maquinário estatal nas funções que lhe cabiam. Este comércio contrapõe uma historiografia44 que dizia que era praticamente nulo o comércio de livros na capitania. Por outro lado, com a possibilidade dessa vendagem de obras não tenha sido o esperado e que ainda que os mencionados administradores tenham superestimado o interesse de leitura dos habitantes locais, é deveras importante que havia uma atenção desta administração que um determinado tipo de conhecimento, aquele que fosse para o desenvolvimento dos saberes acerca da natureza, do melhoramento da agricultura e do extrativismo mineral fosse acessível aqueles que moravam na colônia. 44 VIVEIROS, op. cit., p. 339. LAGO, Antonio Bernadino Pereira do, op. cit., p. 77. 89 Colonização e mundo Atlântico INVESTIGANDO A POLÍTICA LINGUÍSTICA JESUÍTICA: ALGUMAS PROPOSTAS ACERCA DAS PRÁTICAS DE APRENDIZADO DA LÍNGUA GERAL DA AMAZÔNIA A PARTIR DE UM DICIONÁRIO SETECENTISTA Gabriel de Cássio Pinheiro Prudente1 Introdução Um dicionário anônimo escrito em Língua Geral foi encontrado na Biblioteca e Arquivo Municipal de Trier (Stadtbibliothek/Stadtarchiv Trier) na Alemanha pelo linguista luxemburguês Jean-Claude Muller2. O documento, até então inédito e desconhecido dos especialistas, contém em suas primeiras folhas a indicação do ano de 1756. É dividido em duas partes: Português - Língua Geral (fólios 1-45) e Língua Geral - Português (fólios 48-65). O dicionário de 1756 apresenta interconexões com outros documentos. Foram localizadas no manuscrito diversas referências a catecismos e gramáticas em tupi dos séculos XVI-XVII. Também foram encontrados muitos comentários escritos pelo autor ao longo de alguns verbetes principalmente em latim, mas também em menor medida, em alemão e português. Estas observações pessoais podem revelam nuances do processo de confecção do dicionário, da trajetória do autor na Amazônia, de sua identidade, e de seu aprendizado da Língua Geral. Após uma análise preliminar do documento, Muller e os pesquisadores Karl Arenz (UFPA) e Cândida Barros (Museu Goeldi) identificaram o dicionário como sendo originário da região amazônica. Apesar de não se saber com exatidão o nome do autor, nem onde precisamente o manuscrito foi confeccionado, Muller levantou a hipótese de que o autor foi, com muita probabilidade, um missionário jesuíta de língua alemã que atuou na Amazônia na década de 1750. Posteriormente, esta hipótese foi reforçada com a descoberta de trechos escrito em alemão antigo com uma grafia similar ao estilo gótico, além de informações sobre a chegada de um grupo de jesuítas de língua alemã na Amazônia na década de 1750, período provável da confecção do Aluno de mestrado do Programa de pós-graduação em História Social da Amazônia na Universidade Federal do Pará. 2 MULLER, Jean-Claude. "Die Identifizierung eines Sprachschatzes in der Trierer Stadtbibliothek das jesuitische Wörterbuch Alt-Tupi/Portugiesisch". Kurtrierisches Jahrbuch, v. 52, p. 371-387, 2012. 90 1 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos dicionário3. Através de um projeto de pesquisa desenvolvido e coordenado no Museu Paraense Emílio Goeldi por Cândida Barros iniciou-se a transcrição diplomática do dicionário (buscando preservar a grafia, acentuação e pontuação originais) para que este seja editado e publicado em forma impressa e digital. Na condição de bolsista, realizei a transcrição do manuscrito, o que me permitiu conhecer profundamente o documento e sua estrutura. A partir da experiência adquirida durante a transcrição do dicionário de 1756 e da leitura inicial sobre a historiografia sobre a política de língua no Brasil colonial escolhi como tema de pesquisa para o mestrado o processo de aprendizado da Língua Geral por jesuítas na Amazônia tendo como objeto de estudo o referido dicionário. Levando em consideração a hipótese de Muller acerca da origem do autor e do dicionário, o recorte temporal se concentrará na década de 1750. O objetivo é entender como o missionário-autor do dicionário de 1756 confeccionou este documento para servir como instrumento de aprendizado da Língua Geral na Amazônia, colocando em prática a política lingüística jesuítica nos primeiros anos da administração pombalina. Apresento neste trabalho alguns objetivos e hipóteses iniciais de pesquisa. Linguistas e Historiadores: levantamento bibliográfico sobre a Língua Geral no Brasil Colonial No Brasil não são numeroso trabalhos de historiadores que dão conta dos usos da Língua Geral, política lingüística no Brasil e produção de instrumentos lingüísticos no período colonial, podendo ser brevemente elencados. Em geral, esta questão foi mais abordada por especialistas em lingüística histórica e sociolingüística como Aryon Rodrigues, Cristina Altman, Cândida Barros e José Horta Nunes4. Esses estudiosos viram a necessidade de relacionar lingüística e FERNÁNDEZ ARRILLAGA, Inmaculada & GARCÍA ARENAS, Mar. "Dos caras de una misma expulsión: el destierro de los jesuítas portugueses y la reclusión de los missioneros alemanes". Hispania Sacra, Madrid, LXI, 123, p. 227-256, enero-junio, 2009; LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomos III e IV. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1943; MEIER, Johannes & AYMORÉ, Fernando Amado. Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-America. Ein bio-bibliographisches Handbuch. Band 1: Brasilien (1618-1760). Münster: Aschendorff Verlag, 2005. 4 RODRIGUES, Aryon Dall’Igna. "As línguas gerais sul-americanas". Papia. São Paulo, v. 4, n. 2, p. 6-18, 1996; ALTMAN, Cristina. "As línguas gerais sul-americanas e a empresa missionária: linguagem e representação nos séculos XVI e XVII". In: FREIRE, José Ribamar Bessa & ROSA, Maria Carlota (orgs.). Línguas Gerais: política lingüística e catequese na América do Sul no período colonial. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2003, p.57-83; BARROS, Maria Cândida D. M. "A relação entre manuscritos e impressos em tupi 91 3 Colonização e mundo Atlântico história para a produção de trabalhos que versem sobre a Língua Geral na América portuguesa e a política lingüística missionária, haja vista que não muitos historiadores de ofício tenham se dedicado ao tema. Todavia, também há algumas importantes contribuições de historiadores para a história da Língua Geral como a de Sergio Buarque de Holanda em um texto seminal sobre a Língua Geral Paulista posteriormente compilado em seu Raízes do Brasil5. O historiador português Serafim Leite em seu monumental História da Companhia de Jesus no Brasil chega a fazer algumas breves considerações sobre a Língua Geral6. Nos anos 1980, José Ribamar Bessa Freire produziu um artigo sobre a Língua Geral na Amazônia e a política de línguas, sua instituição e declínio do período colonial até o império, tema que posteriormente foi desenvolvido com maior maturidade no livro Rio Babel fruto de sua tese de doutorado, um dos poucos trabalhos de cunho historiográfico de fôlego sobre a questão7. Sobre a política lingüística no Brasil colonial, Charlotte de Castelnau- L’Estoile também dedicou um capítulo de sua tese para tratar do tema, enfatizado a formação de um quadro de jesuítas bilíngües no século XVI8. A antropóloga Cristina Pompa também escreveu em sua tese algumas considerações sobre a política lingüística jesuítica, mas abordando apenas em linhas gerais a questão do aprendizado do tupi pelos missionários9. Sobre instrumentos lingüísticos em Língua Geral temos ainda menos trabalhos feitos por historiadores entre os quais podemos destacar as contribuições de Andrea Daher e John Manuel Monteiro sobre catecismos e gramáticas como instrumentos de conversão que traduzem (convertem) tradições européias cristãs ao reduzir a língua indígena do plano oral ao escrito como forma de estudo da política lingüística jesuítica no século XVIII na Amazônia". Revista Letras, Curitiba, n. 61, especial, p. 125-152, 2003; NUNES, José Horta. Dicionários no Brasil: análise e história do século XVI ao XIX. Campinas, SP: Pontes Editores, 2006. 5 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 122-133. 6 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1943, p. 310-316. 7 FREIRE, José Ribamar Bessa. "Da “fala boa” ao português na Amazônia brasileira". Ameríndia, Paris, n° 8, 1983, p. 39-83; FREIRE, José Ribamar Bessa. Rio Babel: a história das línguas na Amazônia. Rio de Janeiro: Atlântica, 2004. 8 CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte de. Les ouvriers d’une vigne stérile: les jésuites et la conversion des indiens au Brésil (1580-1620). Lisboa/ Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian/Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000. 9 POMPA, Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil colonial. Bauru, SP: EDUSC, 2003. 92 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos em um processo de sistematização, dicionarização e gramaticalização10. Mas foi Adone Agnolin que fez, nos últimos anos, um dos poucos trabalhos de fôlego sobre a questão. Em seu livro Jesuítas e Selvagens, o antropólogo italiano debruçou-se sobre os catecismos em Língua Geral em um esforço de contextualização de sua produção e análise de seus usos e funções11. Embora exista no Brasil uma produção de artigos e livros versando sobre a Língua Geral, política de línguas e instrumentos lingüísticos no período colonial, ainda é possível, em algumas poucas linhas, elencar as principais produções historiográficas sobre essas questões. Isso demonstra que há muito a ser feito. Um dos entraves para os historiadores interessados no tema são próprias as fontes, mas que segundo Freire “embora fragmentadas e dispersas, são ricas, mas ainda não foram suficientemente interrogadas”12. Nesse sentido, ao tentar entender o processo de confecção do dicionário de 1756 pretendo analisar uma questão pouco abordada na historiografia brasileira: o processo de aprendizado da Língua Geral pelos missionários. O dicionário de 1756 contém informações que podem revelar como seu autor, que pelo perfil já estabelecido, era um jesuíta letrado, com domínio do latim, mas sem grande proficiência em língua portuguesa tentou fazer um dicionário. Minha hipótese é que autor usou obras como gramáticas e catecismos e registrando termos que ouvia entre os índios para poder se comunicar com os indígenas e fazer seu trabalho de conversão. Esses dados obtidos no dicionário, cotejados com a documentação podem revelar muito acerca deste processo e a entender através do estudo do caso deste jesuíta ainda anônimo, a política lingüística jesuítica em ação. O estudo de instrumentos lingüísticos como dicionários e catecismos do período coloniais produzidos pelos missionários pode ajudar a entender como foram confeccionados estes mecanismos necessários para a evangelização dos indígenas, pois suas respectivas produções estavam correlacionadas e inseridos dentro de uma política de línguas missionária. Para viabilizar o projeto colonizador e missionário português fazia-se necessário, dentre outras coisas, estabelecer uma língua franca na colônia que DAHER, Andréa. "Escrita e conversão: a gramática tupi e os catecismos bilíngües no Brasil do século XVI". Revista Brasileira de Educação. São Paulo, n° 8, p. 31-43, 1998.; MONTEIRO, John Manuel. "Traduzindo Tradições: Gramáticas, Vocabulários e Catecismos em Línguas Nativas na América Portuguesa". In: BRITO, Joaquim Pais de. (Org.). Os Índios, Nós. Lisboa: Museu Nacional de Etnologia; Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 2000, p. 36-43. 11 AGNOLIN, Adone. Jesuítas e selvagens: a negociação da fé no encontro catequético-ritual americano-tupi (séculos XVI-XVII). São Paulo: Humanitas, 2007. 12 FREIRE, op. cit., p. 31. 93 10 Colonização e mundo Atlântico garantisse um mínimo grau de comunicação com os indígenas, como já acontecia nas colônias espanholas nas Américas desde o século XVI. As Línguas Gerais foram idiomas nativos que eram “escolhidas pela administração e pela Igreja como veículo supra-regional de contato entre as diversas populações coloniais”13. Segundo Borges, buscou-se escolher a língua mais difundida entre nativos. No caso do Brasil, a língua escolhida foi a dos índios Tupinambá, que era a mais falada pelos índios na costa brasileira. O tupi chegou a receber outras denominações antes e depois de ficar conhecido como Língua Geral. Recebeu a alcunha “língua brasílica” pelo padre Luís Figueira no século XVII, de “Tupinambá” no século XVIII (para designar a língua e não o grupo indígena), “Nheengatu” (que significa "fala boa") e “Tupi” foram usadas correntemente a partir do século XIX. Segundo Aryon Rodrigues, a expressão “Língua Geral” começou a ser usada na América colonial em meados do século XVII para “qualificar línguas indígenas de grande difusão numa área”. De acordo com Rodrigues, também há de se levar em consideração são as próprias diferenças da Língua Geral paulista falada no sul da colônia e a Língua Geral amazônica que era falada no Maranhão e Pará 14. O estabelecimento de uma “Língua Geral” ocorreu devido à dificuldade dos europeus em dar conta da diversidade lingüística existente na colônia o que prejudicaria a comunicação e conseqüentemente o processo de conquista no campo espiritual e territorial. Isso não impediu, porém, que ocorressem variações na própria língua que se instituiu como “geral”, como Rodrigues pode perceber ao notar variações lingüísticas na língua geral falada no Estado do Brasil da que era falada no Estado do Grão Pará e Maranhão. Os missionários perceberam que o aprendizado das línguas nativas era essencial para o trabalho de conversão e que, com efeito, o processo de homogeneização do tupi foi uma ação consciente dentro de uma política linguística missionária e que exigiu a confecção de instrumentos que materializou e legitimou esse processo. Sendo assim, a Língua Geral serviu como instrumento de mediação entre os diversos indígenas e missionários15. Mais do que uma necessidade, o aprendizado de línguas, em especial pelos missionários da Companhia de Jesus, era uma prática obrigatória, recomendada desde os primórdios da Ordem pelo próprio fundador, Inácio de Loyola, e reforçada pelos superiores gerais. Documentos oficiais dos inacianos instituíram, ainda no século XVI, o aprendizado das línguas indígenas pelos padres que vinha para América portuguesa como quesito obrigatório. O mesmo ALTMAN, op. cit., p. 58. RODRIGUES, op. cit., p. 99-103. 15 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeia coloniais do Rio de Janeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, p. 159 94 13 14 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos aconteceu em outras colônias onde os jesuítas atuavam. Essas recomendações estavam embasadas em argumentos teológico-políticos, na exegese bíblica e no principio apostólico de acomodatio previsto em documentos como as Constituições dos jesuítas16. Tendo como base o modelo gramatical latino, as variações da língua dos Tupinambá foram adequadas e padronizadas pelos missionários instituindo, através de instrumentos lingüísticos (dicionários, gramáticas e catecismos), uma Língua Geral na América Portuguesa. Apesar das variações regionais que a Língua Geral sofreria ao longo do tempo, o estatuto dos instrumentos lingüísticos como “autoridades” em relação esta língua era respeitado pelos missionários. Como exemplo disso, pode-se observar em diversos dicionários manuscritos do período colonial, como o dicionário encontrado em Trier, onde aparecem referências a catecismos e gramáticas do período colonial como a gramática do padre José de Anchieta (1595) e o catecismo de Antonio Araújo (1686) com contribuições de Bartolomeu de Leão. Entretanto, o trabalho de tradução lingüística de conceitos religiosos e culturais europeus não ocorreu sem problemas. As línguas indígenas tinham seus próprios termos que davam significado ao mundo amazônico em que viviam e as experiências que compartilhavam. A língua portuguesa não conseguia traduzir esses múltiplos significados das culturas indígenas, pois foi forjada a partir de critérios próprios da história, cultura e experiências européias. Isso ajuda explicar porque as tentativas de tradução de determinadas categorias culturais e religiosas indígenas para o português e vice-versa era extremamente difícil, dificuldade também enfrentada missionários que estavam em outras áreas coloniais. O missionário colocado como sujeito principal desse processo de conversão de sentidos entre as línguas, acaba atuando como um mediador cultural na medida em que busca equivalências de termos dos mundos europeus e indígenas, em especial conceitos religiosos17. Cria instrumentos lingüísticos que institucionaliza e legitima essa mediação, como os dicionários, listas de palavras, catecismos e gramáticas, textos esses que ganham “autoridade” lingüística referendada muitas vezes pelo próprio Estado e pelos superiores religiosos, como podemos observar em muitas dessas obras que foram impressas. Nesse sentido, como definiu Paula Montero, a atuação missionária foi “uma atividade DAHER, Andrea. "De los interpretes a los especialistas: el uso de las lenguas generales de América en los siglos XVI y XVII". In: WILDE, Guillermo (ed.). Saberes de la conversión: jesuitas, indígenas e imperios coloniales en las fronteras de la cristiandad. Buenos Aires: SB, 2011, p. 205. 17 MONTERO, Paula (org.). Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006, p. 31-66. 95 16 Colonização e mundo Atlântico de classificação e comparação das diferenças de modo a localizá-las em quadros universais”, ou seja, generalizações a partir do sistema lingüístico e religioso cristão europeu18. A produção de sentidos não ocorreu em “via de mão única” e sim através de interações entre os atores envolvidos, índios e missionários, logo a experiência missionária local também influenciou sensivelmente este processo tradução linguística e cultural. Um dos produtos dessa conversão de sentidos são os dicionários, gramáticas e catecismos. Na definição de Cláudio Costa Pinheiro, [...] os dicionários funcionam, tanto quanto as espadas, armas e canhões como instrumentos de conquista, mas da conquista de um espaço epistemológico aberto pelo confronto de sistemas cognitivos. São armas de um império e não simples listas, ou por outra, são listas de classificação que se remetem a todo um universo de embates de sistemas classificatórios, de cognição e significação associados à língua e à cultura e tomados a partir dos processos moderno de ação e conquista imperiais19. A necessidade de padronizar a Babel de línguas de modo a facilitar a comunicação, gerou esses instrumentos que objetivava traduzir mundos completamente diferentes. Neste sentido, o presente projeto visa entende como a partir do dicionário de 1756 de tradução linguística foi utilizado pelo seu autor como instrumento de aprendizado da Língua Geral na Amazônia. Hipóteses de Pesquisa No final da década de 1750, os jesuítas, em especial os estrangeiros (não lusos), estavam sendo paulatinamente expulsos. Concomitantemente, se forjava uma política lingüística por parte do Estado contrária ao uso da Língua Geral, sendo esta posteriormente explicitada no Diretório dos Índios 20. Analisarei a estrutura do manuscrito comparando os dados obtidos com documentação do período (em especial, outros dicionários, gramáticas e catecismos). O dicionário pode ser compreendido como parte de uma política missionária de línguas21 que se desenvolveu na América portuguesa e de um MONTERO, op. cit., p. 10. PINHEIRO, Cláudio Costa. Traduzindo Mundos, inventando um império: língua, escravidão e contextos coloniais portugueses dos alvores da modernidade. (Tese de doutorado em Antropologia Social). Rio de Janeiro: UFRJ, 2005, p. 157. 20 No sexto parágrafo do Diretório dos Índios há a recomendação para que os diretores estabeleçam a língua portuguesa nas povoações em lugar da Língua Geral. 21 Utilizarei a expressão "política de línguas" (e, eventualmente, sua variação "política lingüística") em concordância com o professor José Ribamar Bessa Freire que a define 96 18 19 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos projeto missionário de catequização para qual era imperioso, dentre outras, a fabricação de instrumentos lingüísticos para o aprendizado de línguas indígenas e, assim, possibilitar a viabilização da comunicação com os indígenas, fator importante para o sucesso da empresa catequético-colonizadora22. Portanto, espera-se que partindo da análise do dicionário de 1756 seja possível entender a aplicação da política lingüística missionária na Amazônia em meados do século XVIII através do entendimento das práticas do missionário jesuíta que confeccionou o documento. A utilização do conceito de mediação cultural23 será relevante para o desenvolvimento do problema da pesquisa, pois coloca o missionário como agente privilegiado para a produção de sentidos compartilhados. Partindo dessa premissa, o dicionário será interpretado como um instrumento para a realização da mediação cultural entre missionário e os indígenas, haja vista que este tipo de documento busca traduzir sentidos lingüísticos (e culturais) europeus e indígenas, reduzindo a língua nativa do plano oral para o escrito24 sendo também resultado de negociações de sentidos. Paralelamente ao objetivo supracitado, outras questões deverão ser analisadas. A pesquisa abordará como se desenvolveu a política de lingüística missionária jesuítica. Deverão se verificar quais eram as orientações oficiais da Companhia de Jesus quanto ao aprendizado de línguas pelos missionários, valendo-se de documentos da Ordem como suas Constituições e o Ratio Studiorum, o método pedagógico jesuítico. O entendimento dessas orientações auxiliará na compreensão da função do dicionário de 1756 como um instrumento de aprendizado. Como já mencionado, o missionário-autor faz diversas menções a gramáticas e catecismos do período colonial ao longo de vários verbetes do dicionário, a saber: as gramáticas de José de Anchieta (1595) e de Luis Figueira (1687) e aos catecismos de Antonio de Araújo e Bartolomeu de Leão (1686), de João Felipe Bettendorff (1687) e de Antonio Ruiz de Montoya (1640), este último escrito na língua Guarani do Paraguai, as demais obras em Língua Geral. como "um conjunto de medidas, explícitas ou implícitas, adotadas predominantemente pelo Estado – mas também por outros agentes sociais – para ordenar as línguas faladas em um determinado território". Cf. FREIRE, José Ribamar Bessa. Rio Babel: a história das línguas na Amazônia. Rio de Janeiro: Atlântica, 2004. p. 90. 22 POMPA, Cristina. op. cit., p. 84-89. 23 Segundo Paula Montero “[...] compreende-se a mediação cultural como um processo de comunicação – isto é, construção de situações e textualidades que engendram sentidos compartilhados nas zonas de interculturalidade.” (MONTERO, 2006, p. 59). 24 AGNOLIN, Adone. Catequese e tradução: Gramática cultural, religiosa e linguística do encontro catequético e ritual nos séculos XVI-XVII. In: MONTERO, Paula (org.). Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006, p. 143-207. 97 Colonização e mundo Atlântico Aparentemente, o autor consultou e copiou palavras ou frases dessas obras e as incluiu ao longo de alguns verbetes. Cotejando as citações no manuscrito com as obras supramencionadas buscar-se-á entender qual a função das citações às gramáticas e catecismos no dicionário. A atuação de jesuítas da Europa Central na Amazônia, durante o período pombalino também será investigada. Como já foi supracitado, sabe-se que um grupo de jesuítas de língua alemã esteve na Amazônia na década de 1750, muito provavelmente, entre estes se encontrava o autor do dicionário de 1756. Segundo um relato deixado por um dos missionários, o padre Anselm Eckart, a vinda desse grupo de jesuítas para a Amazônia foi articulada pelo padre Roque Hundertpfund na corte em 1749 junto a então rainha de Portugal Maria Ana de Áustria25. Assim, pretendo investigar a atuação deste grupo de missionários centro-europeus26, que permaneceram menos de dez anos na Amazônia e que começaram a ser expulsos a partir de 1757, durante o governo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado no Grão-Pará e Maranhão. A questão da autoria do dicionário também será abordada haja vista que o manuscrito é anônimo. O documento apresenta várias observações pessoais do missionário ao longo dos verbetes, a maioria de cunho lingüístico. Contudo, também foram encontrados indícios que apontam para a provável trajetória do autor na Amazônia. Há referências à região do Xingu, a duas missões jesuíticas xinguanas (Aricará e Piraguiri) e a três grupos indígenas (Coribaré, Goyapi e Xapi). Análises iniciais mostraram que dos oito missionários alemães que vieram para a Amazônia na década de 1750 pelo menos três certamente passaram pela região do Xingu. Buscar-se-á aprofundar a análise dos dados para contextualizando as missões referidas no dicionário e localizando nas fontes os grupos indígenas mencionados. Dessa forma, se poderá inferir acerca da trajetória do autor e, se possível, seu nome, através do cotejo documental, biográfico e bibliográfico. Podemos ver no dicionário de 1756 dados que nos pode nos levar a inferir sobre o processo de aprendizado da Língua Geral e a tentativa de buscar estabelecer a todo custo um entendimento com os indígenas. O autor não se limitou a apenas copiar outros dicionários e buscar referências em catecismos e gramáticas da época. Ele registrou a fala de grupos indígenas que, possivelmente, entrou em contato nas missões como os Coribaré, Goayapi e PAPAVERO, Nelson & PORRO, Antonio (orgs.). Anselm Eckart, S.J. e o Estado do Grão-Pará e Maranhão (1785). Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2013, p. 63 26 Em 1750 chegaram ao Grão-Pará e Maranhão os padres Anton Meisterburg e Laurenz Kaulen. Em 1753 aportaram na Amazônia os padres David Fay, João Nepomuceno Szluha, Joseph Kayling, Martin Schwartz, Anselm Eckart, Heinrich Hoffmayer. 98 25 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Xapi como se pode ver nos exemplos abaixo: Quadro 1: Referências a grupos indígenas Castanha. nhã. Coribaré diz: nhũ. (grifo meu) [Fl. 9 v, 1ª col.] Temer. acykyiè. Goyapi diz: akyjè v xekyjè. (grifo meu) [Fl. 40, 1ª col.] Comandaí. feijoens. Xapi muruì. (grifo meu) [Fl. 45 v; 1ª col.] Outros dados que denunciam parte da trajetória missionária do autor são as referências a região do rio Xingu como nos comentários feitos nos seguintes verbetes: Quadro 2: Referências ao rio Xingu Comprar. aiàr v apyrupàn. Top. aiporepyàn. inusit. aporypàn ouvi no Xingu. (grifo meu) [Fl. 10v; 2ªcol.] Murutitýba. igarape do Xingù em baixo de Aricarà, e quer dizer lugar aonde està muitò murutì. itur uruçacanga tyba. nomen Coü (grifo meu) [Fl. 47v, 2ª col.] Ao longo da pesquisa buscarei explorar dados como os supracitados que podem apontar para a possível trajetória do autor pela Amazônia. Análises preliminares dos comentários do autor feitos ao longo dos verbetes apontam que estes podem ser umas importantes chaves de compreensão de como o autor confeccionou o documento, pois neles o missionário faz menções a catecismos e gramáticas, grupos indígenas e lugares amazônicos. Ao colocar o missionário autor do dicionário como mediador cultural entre o mundo ocidental e o mundo indígena amazônico, buscando entender como este sujeito “construiu” o dicionário de 1756 através dos instrumentos lingüísticos existentes na época juntamente com suas experiências missionárias nas aldeias, podemos compreender o manuscrito não apenas como um documento pessoal de aprendizado, mas como parte de uma política missionária e de colonização da coroa portuguesa que visava a arregimentação de mão-de-obra através da conversão de nativos para a religião cristã e da dominação territorial e do nativo. Dessa maneira, a sistematização e padronização da linguagem ameríndia era um elemento fundamental para esse projeto colonial, para tanto a criação de instrumentos lingüísticos, como o dicionário de 1756, foi essencial para executar o que Cláudio Pinheiro da Costa chamou de "domínio de espaço epistemológico" como parte do processo de colonização dos territórios e dos nativos. O dicionário esta ligado a esse processo, portanto entender sua confecção também pode ajudar a entender a ação missionária e o projeto catequético-colonizador na Amazônia colonial. 99 Colonização e mundo Atlântico LIDERANÇAS INDÍGENAS, REDES E DIRETÓRIO NAS CAPITANIAS DO NORTE (PARAÍBA E PERNAMBUCO – SÉCULO XVIII)1 Jean Paul Gouveia Meira2 Resumo Esta pesquisa procurou analisar à mobilidade ou circulação das lideranças indígenas nos espaços de poder pelo Mundo Atlântico Português, com suas experiências políticas, mentalidades, comportamento e valores. Ao longo deste estudo, podemos entender o universo político alargado das lideranças indígenas, ou seja, em constante movimento, conexão, articulação essa, que promoveu uma mudança na dinâmica interna dos povos indígenas em contato com outros grupos humanos. Nas idas e vindas, indivíduos e grupos indígenas obtiveram conquistas através dessas experiências ultramarinas e agiram de acordo com os seus próprios interesses. Para a efetivação desta pesquisa, o diálogo com manuscritos coloniais disponíveis no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa tornou-se fundamental. Tal arquivo possui grande número de requerimentos ou petições dos capitães indígenas, que buscaram, constantemente, recompensas bastante cobiçadas. Palavras-chave: Elites Indígenas, Lideranças e Redes. Os indígenas vão à corte. O estudo se dedica à mobilidade ou circulação das lideranças indígenas nos espaços de poder pelo mundo atlântico português, com suas experiências políticas, mentalidades, comportamento e valores. Indivíduos de distintas posses, origens e destinos historicamente marcados pela interação com a sociedade colonial. As confirmações régias das patentes militares para as lideranças indígenas, por exemplo, somente foram obtidas com viagens destes indivíduos à corte, o que não era exigido dos outros oficiais e militares não indígenas. Além disso, a importância simbólica da presença indígena no reino se confirma na 1Texto baseado no meu projeto de doutorado em História, intitulado “Costurando redes: a participação de oficiais indígenas na Sociedade de Corte Portuguesa (Capitanias da Paraíba e Pernambuco – Século XVIII), que teve início em março do presente ano de 2015, na Universidade Federal do Pará, sob a orientação do professor Dr. Mauro Cezar Coelho. 2 Doutorando em História pela Universidade Federal do Pará 100 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos possibilidade de apropriação dos elementos representativos do rei, da sua imagem, assim como da monarquia lusa.3 Em requerimento ao rei D. José I, datado em 16 de outubro de 1752, o sargento-mor do povo Kariri, Manuel Homem da Rocha, assim como o capitão Francisco Quaresma e outras lideranças, solicitaram soldos e fardas para os soldados e cabos das companhias militares, como se praticou com os aldeados em Jacuípe (capitania de Alagoas), mas também a garantia do retorno de Portugal para a sua terra, nas naus que partem para a Bahia.4 As “redes” são aqui percebidas de acordo com a concepção de “autoridades negociadas” presente nos estudos de história colonial realizado pelo sociólogo estadunidense Jack P. Greene, que resultaram em nova interpretação acerca do vínculo colonial, ou seja, as monarquias europeias na modernidade passaram a serem vistas de forma menos centralizada e coercitiva, mas negociada pelos seus mais diversos agentes sociais.5 Indígenas em rede. A partir desta perspectiva, podemos entender o universo político alargado das lideranças indígenas, ou seja, em constante movimento, conexão, articulação essa, que promoveu uma mudança na dinâmica interna dos povos indígenas em contato com outros grupos humanos. Nas idas e vindas, indivíduos e grupos indígenas obtiveram conquistas através dessas experiências ultramarinas e agiram de acordo com os seus próprios interesses. Em consulta do conselho ultramarino ao rei D. João V, datada em 12 de setembro de 1720, o então Governador Geral dos Índios 6, D. Sebastião Pinheiro Camarão, requereu o entretenimento (afastamento) do referido cargo, 3ROCHA, Rafael Ale. Os oficiais índios na Amazônia Pombalina. Sociedade, Hierarquia e Resistência (1751-1798). Rio de Janeiro: UFF, 2009. Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, 2009. p. 62. 4 Requerimento do sargento-mor dos Índios Cariris, Manuel Homem da Rocha, capitão Francisco Quaresma e demais soldados da aldeia, ao rei D. José I. 16 de outubro de 1752. Lisboa. AHU_ACL_CU_014, Cx. 16, D. 1338. 5GREENE apud HESPANHA, Antonio Manuel. Antigo Regime nos Trópicos? Um debate sobre o modelo político do império colonial português. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Na trama das redes: política e negócios no império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 47. 6 O cargo de Governador Geral dos Índios foi criado durante às guerras contra os neerlandeses para recompensar Antônio Filipe Camarão pelas sucessivas vitórias nas batalhas em Pernambuco e região. Este líder indígena ficou responsável pelo controle político e militar das aldeias localizadas nas chamadas capitanias do Norte do Brasil. Cf. RAMINELLI, Ronald. Honras e malogros: trajetória da Família Camarão 1630-1730. In: MONTEIRO, Rodrigo Bentes; VAINFAS, Ronaldo. Império de várias faces: relações de poder no mundo ibérico da época moderna. São Paulo: Alameda, 2009. p. 177. 101 Colonização e mundo Atlântico devido à cegueira e aos graves achaques (doenças) que lhes eram acometidos, e que em seu lugar seja provido seu filho D. Antônio Domingos Camarão Arcoverde.7 Entretanto, o prestígio e a posição social do indivíduo que pertencia a muitas das sociedades Tupi, no período colonial, era conquistada pela provação nos combates e nas guerras, além da mostra de sinais de valentia, experiência e oratória. O poder não se transmitia de forma hereditária.8 A lógica colonial incorporada pelas lideranças indígenas contrariou os elementos tradicionais existentes na dinâmica interna destes grupos. Essa apropriação permitiu que os líderes da família Camarão desfrutassem, por muito tempo, não somente do cargo de governador dos índios, mas de outras mercês (favores políticos, títulos nobiliárquicos, insígnias de cavaleiro, sesmarias, etc.) obtidas graças aos serviços prestados à coroa portuguesa, notadamente àqueles ligados com a guerra, seja nas campanhas contra os neerlandeses ao longo do século XVII, seja contra os inimigos internos no período setecentista: povos indígenas no sertão, não aliados, e considerados como “bárbaros”9; e escravos fugidos e organizados em quilombos; dentre outros.10 Na pesquisa de mestrado que realizei na Universidade Federal de Campina Grande (2012 – 2014), intitulada “Cultura política indígena e lideranças Tupi nas capitanias do Norte – século XVII”, revisitei os manuscritos coloniais do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (AHU) e discorri acerca dos membros dessa família Camarão, assim como da família Arcoverde11, quando ocuparam Consulta do Conselho Ultramarino ao Rei D. João V. 12 de setembro de 1720. Lisboa. AHU_ACL_CU_015, Cx. 29, D. 2607. 8 FERNANDES, Florestan. A Organização Social dos Tupinambá. Brasília: Editora UNB; São Paulo: Hucitec, 1989. P. 286. 9 Cf. PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros. São Paulo: HUCITEC/EDUSP, 2002. 10 RAMINELLI, Ronald. Honras e Malogros: Trajetória da Família Camarão 16301730. In: MONTEIRO, Rodrigo Bentes; VAINFAS, Ronaldo. Império de Várias Faces: Relações de Poder no Mundo Ibérico da Época Moderna. São Paulo: Alameda, 2009. pp. 175 – 191. p. 177. 11 A documentação colonial nos informa que indígenas que pertenceram à chamada “Família Camarão” fizeram parte do Povo Potiguara. Muitos deles viveram em aldeias e lugares nas Capitanias do Norte, notadamente no litoral ao norte da Capitania Real da Paraíba. Por sua vez, indígenas que pertenceram à “Família Arcoverde” fizeram parte integrante do Povo Tabajara, que viveram em aldeias e lugares nas referidas capitanias, sendo constantemente registrada sua presença ao sul do litoral da Paraíba, mas também na região do Rio São Francisco, sertão de Pernambuco. Ambos os povos Potiguara e Tabajara pertencem ao tronco linguístico e cultural Tupi. 102 7 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos espaços de poder ou cargos de prestígio social dentro do império ultramarino português. O interesse agora está voltado para a formação de elites indígenas na Capitania Real da Paraíba, e em Pernambuco, ao longo do século XVIII, procurando refletir acerca da experiência política de chefes pertencentes a povos indígenas diferenciados, muito deles necessários para a manutenção do império atlântico português, por causa dos serviços prestados nos espaços coloniais das referidas capitanias. Como na carta de Vicente Ferreira Coelho, procurador dos índios Panati, datada em 5 de maio de 1755, sobre o que se praticou com os mesmos, que, estando aldeados, foram despejados pelos moradores do sertão do Piancó, na Capitania Real da Paraíba, sob o pretexto de que lhes furtavam os gados; e conseguindo os indígenas a restituição de sua aldeia, houve tamanha violência que culminou com a morte de seu capitão-mor; e solicitando, em nome dos Panatis, justiça e proteção real.12 Sendo assim, postos como o de mestre de campo, sargento-mor e capitãomor nos aldeamentos, mas também o de capitão das ordenanças nas vilas de índios, dentre outros, foram ocupados pelas chefias dos mais diversos povos indígenas, que faziam uso dos mesmos para se diferenciarem, socialmente, dos seus liderados, assim como de outros indígenas não aldeados e dos escravos. Destarte, a opção pelo século XVIII como recorte temporal desta pesquisa justifica-se na crescente valorização das lideranças indígenas, a partir do momento em que ocuparam espaços de poder no império atlântico português. Na segunda metade do século XVIII ocorreu a implantação da Lei do Diretório dos Índios13, pelo então ministro do rei D. José I, o marquês de Pombal. Com o objetivo de “civilizar”14 homens e mulheres indígenas, o também chamado Diretório Pombalino visava a transformação dos antigos aldeamentos na América Portuguesa em vilas de índios. Em outras palavras, as tradicionais aldeias missionárias poderiam se tornar vilas de índios, que seriam governadas por juízes ordinários, vereadores e demais oficiais de justiça; ou lugares de índios, aldeias independentes e governadas pelas lideranças indígenas, sob o comando dos diretores. A CARTA de Vicente Ferreira Coelho ao rei D. José I. 5 de maio de 1755. Paraíba. AHU_ACL_CU_014, Cx. 18, D. 1435. 13 Criado no contexto da demarcação das fronteiras portuguesas na região amazônica, este estatuto legal foi posteriormente estendido para toda América portuguesa e se transformou na principal referencial indigenista do fim do período colonial. Cf. FARAGE, Nádia. Muralhas do sertão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, ANPOCS, 1991. 14 Cf. ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 103 12 Colonização e mundo Atlântico mudança mais significativa foi a proposta de assimilação: a proibição dos costumes indígenas nas aldeias, a imposição da língua portuguesa, o forte incentivo ao casamento com os não indígenas, etc.15 Na tentativa de buscar tal intuito, a coroa portuguesa facilitou a entrada de não indígenas nos aldeamentos tendo em vista o desaparecimento dos costumes ou práticas culturais dos povos indígenas, mas, principalmente, a perda das suas terras. Entretanto, os povos indígenas cada vez mais se fortaleceram, na medida em que se valiam dos direitos assegurados pela condição de aldeados garantindo assim a posse das suas terras. As lideranças foram importantes neste processo, pois solicitaram mercês, inclusive sesmarias, pelos serviços prestados à coroa portuguesa e fortaleceram o seu poder dentro dos aldeamentos coloniais. Em várias regiões, algumas lideranças indígenas se tornaram oficiais das câmaras, outras vereadores, e muitos participaram dos tradicionais cargos militares nos aldeamentos, mas também do novo cargo de capitão-mor das ordenanças nas novas vilas de índios. Vale ressaltar ainda que todos estes postos estiveram à mercê do comando dos diretores. 16 Desse modo, a lei do Diretório necessitava atender as reinvindicações dos chefes indígenas pela manutenção das terras coletivas e dos seus respectivos direitos, mesmo quando objetivava reforçar novas concessões para as lideranças, na tentativa de desestabilizar os grupos aldeados, ao provocar relações de desigualdade entre os seus membros. Ademais, a escolha do recorte espacial da pesquisa nos possibilita entender o surgimento de novas lideranças pela multiplicidade de serviços prestados pelos chefes indígenas, notadamente por conta da disponibilização de ricas informações para a coroa fomentar os projetos colonização do sertão 17 através das capitanias da Paraíba e Pernambuco. Durante o período que vai de 1755 a 1799, a Capitania Real da Paraíba esteve anexada à vizinha capitania de Pernambuco, pois a sua provedoria não foi capaz de gerir todos os gastos necessários com pessoal e segurança, assim como o não ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. (Coleção FGV de bolso. Série História). p. 110. 16 LOPES, Fátima Martins. Oficiais das Ordenanças de Índios: Novos Interlocutores nas Vilas da Capitania do Rio Grande. In: XXV Simpósio Nacional de História, 2009, Fortaleza. Anais. p. 1-10. p. 3. 17 O sertão colonial sempre se mostrou em relatos de viajantes e cronistas como o oposto do litoral, no sentido de desconhecido, misterioso, perigoso, selvagem, etc. O sertão também era tido como um espaço a ser dominado ou explorado. Cf. ARRUDA, Gilmar. Cidades e Sertões: Entre a História e a Memória. São Paulo: EDUSC, 2000. 104 15 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos pagamento dos donativos para a coroa portuguesa, e o não cumprimento de relações diplomáticas com a mesma.18 Para tanto, tal investigação se depara com a problemática cultural em sua interface política através do estudo acerca das relações de poder, valores, e gestos praticados por indígenas e não indígenas nos aldeamentos, vilas e lugares das referidas capitanias. Por que não pensarmos, por exemplo, nos ganhos simbólicos caracterizados pela obtenção de mercês por parte das lideranças indígenas e na dimensão gestual do dom ou da graça praticado pela monarquia portuguesa para com os seus súditos, permeada de representações e valores? A partir dessas considerações, tornou-se possível pensar a formação de elites indígenas nas capitanias da Paraíba e Pernambuco, levando em consideração a dimensão gestual dessa nobreza enquanto capacidade de abrir caminhos adaptativos nas redes governativas e nas novas territorialidades caracterizadas pelos aldeamentos, vilas e lugares de índios, ao longo do século XVIII. MENEZES, Mozart Vergetti de. Sonhar o céu, padecer no inferno: governo e sociedade na Paraíba do século XVIII. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral (orgs.). Modos de governar: idéias e práticas políticas no Império Português (séculos XVII a XIX). 2ª edição. São Paulo: Alameda, 2007. pp. 327 – 340. p. 327. 105 18 Colonização e mundo Atlântico CLÉRIGOS SECULARES NA AMAZÔNIA COLONIAL: FORMAÇÃO E ATUAÇÃO João Antonio Fonseca Lacerda Lima1 Resumo Entendendo que os padres do hábito de São Pedro tiveram papel relevante na formação da dinâmica colonial empreendida pela Igreja para a Colônia, analisaremos a formação e os meios de atuação destes indivíduos nas raias desta instituição. Inicialmente trataremos de sua formação intelectual, que era importante em face de ser uma exigência para aqueles que pleiteavam altos cargos na burocracia curial, bem como as funções destes no exercício de suas ordens. Não se trata de todo o universo do clero secular do período, mas de uma parcela deste que também servia ao Santo Ofício. Neste sentido, são agentes eclesiásticos que agem em duas raias: a Igreja e a Inquisição. Nestas poucas linhas tentaremos trazer a tona uma parte do clero ainda pouco estudada nas pesquisas sobre o período colonial, o Clero Secular 2, onde a maior parte dos estudos se centra no clero regular34. Não trataremos de todo universo dos padres seculares, mas centraremos nossa análise naqueles que serviam ao Santo Ofício5. O período por nós pesquisado é caracterizado pelo momento que a Coroa Portuguesa procura colocar em prática uma política intensa de desenvolvimento da região, de grande importância para a Mestrando em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 2 Do latim “sæculum”, que significa mundo. É o clero que vive junto aos leigos no cotidiano paroquial, quando de sua ordenação, fazem apenas os votos de castidade e obediência, ficando isentos do voto de pobreza, o que lhes permite possuir bens materiais em seu próprio nome. Tem como superior imediato, o bispo diocesano. 3 Do latim “regulate”, que diz respeito a Regra. É o clero que segue a regra do fundador de sua ordem religiosa, os franciscanos por exemplo, seguem a Regra de São Francisco de Assis. Este clero organiza-se em comunidades localizadas em mosteiros e conventos, tendo como superior imediato, um membro de sua própria ordem religiosa. 4 FEITLER, Bruno & SOUZA, Evergton Sales. A Igreja no Brasil: Normas e práticas durante a vigência das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. São Paulo: Editora Unifesp, 2011. 5 Como Comissários do Santo Ofício, cargo acessível apenas a clérigos. Cabia a estes realizar diligências, coletar depoimentos e realizar prisões, sendo o posto mais alto da hierarquia inquisitorial local 106 1 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos compreensão e consolidação da hierarquia social. A “política reformista” empregada por Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, que, em 1750, assume a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Guerra, caracteriza uma nova fase da gestão metropolitana no Estado do Grão-Pará e Maranhão6. As reformas pombalinas atingiram o mundo econômico, político e também a vida social, em que pese terem promovido a incorporação de grupos até então estigmatizados pelos estatutos de “limpeza de sangue”, o que pode ser evidenciado, por exemplo, na publicação em 1774 de um novo regimento para o Santo Ofício, onde desaparece a exigência de “limpeza de sangue” para aqueles que pretendiam se habilitar para um cargo no Santo Ofício7. Formação Intelectual Antes da conclusão do Concílio de Trento, afirma José Pedro Paiva8, “podese dizer que a formação geral do clero era de má qualidade”. Paiva aponta, por exemplo, o caso do governo do cardeal D. Afonso em Lisboa no qual, em 1537, editaram-se as primeiras constituições diocesanas que incluíam um título sobre o sacramento da ordem. Entre as condições mínimas que estipulavam para ter acesso ao estado clerical exigia-se “aos candidatos a prima tonsura e ordens menores e que pelo menos soubessem algumas orações (Ave Maria, Credo e Salve Rainha) bem como ler e ajudar na missa”. Aos que desejassem receber as ordens sacras impunha-se “que fossem gramáticos competentes, o conhecimento do Breviário, dos Mandamentos e da administração dos sacramentos”. Da segunda metade do século XVI até a era Pombalina, os Colégios dos Jesuítas na Colônia eram os responsáveis pela formação tanto daqueles que almejavam o sacerdócio quanto dos leigos sem pretensão de ingressar no corpo clerical, neste sentido os colégios simbolizavam a dupla função (religiosa e regalista) delegada aos inacianos do território ultramarino: a evangelização do gentio e a educação dos colonos. Segundo Boschi9, os jesuítas seriam os responsáveis por uma política de instrução e do clero e, desde 1688, teriam Sobre isso ver: MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal, Paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro. Editora Paz e Terra, 1996. 7 REGIMENTO do Santo Ofício da Inquisição do Reino de Portugal, (1774). Livro I, Titulo I. 8 PAIVA, José Pedro. "A administração diocesana e a presença da Igreja. O caso da diocese de Coimbra nos séculos XVII e XVIII", Lusitania Sacra, 2º série, 3, Lisboa,1991, p. 71-110. 9 BOSCHI, Caio. A universidade de Coimbra e a formação das elites coloniais mineiras. Revista Estudos Históricos. V. 4, n. 7, 1991. 107 6 Colonização e mundo Atlântico inaugurado cursos de teologia moral, iniciando-se os estudos de formação sacerdotal nestas terras. Esse projeto, contudo, viria a ser interrompido com a expulsão dos inacianos idealizada pelo Marquês de Pombal, em 1761. Em 1731 os jesuítas teriam construído um prédio, em São Luís, destinado a um curso de Teologia, Filosofia, Retórica, Gramática e Primeiras Letras, que também foi autorizado a conferir o grau de Doutor ex jure pontifício10. Durante a prelazia de D. Fr. Francisco de São Tiago, em 1752, teria se dado a fundação, em São Luís, do Seminário de Santo Antonio e o Recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios, ambos por iniciativa do Pe. Gabriel Malagrida 11, que anteriormente, em 08 de dezembro de 1745 fundou o Seminário Nossa Senhora das Missões em Belém12. O bispado do Pará13 e do Maranhão14 do século XVIII era uma vasta área e contou muito pouco com a presença de bispos. População espalhada por enorme território, clero secular muito assimilado aos costumes leigos e com pouca formação, resultante inicialmente da não existência, ou melhor da instabilidade dos seminários nestas localidades15. Segundo, pelos grandes períodos de vacância16, onde a ordenação de ministros esperava a chegada de um bispo. Quando isso acontecia, muitos eram ordenados ao mesmo tempo e as ordenações em massa demonstram pouco cuidado na seleção dos candidatos17. Segundo Pollyana Mendonça18 No bispado do Maranhão foi comum que os habilitandos recebessem todos os quatro graus menores, incluindo também a primeira tonsura, no mesmo dia, o que não difere muito do que ocorria em outros lugares. Se analisadas apenas as ordens MEIRELES, Mário Martins. História da Arquidiocese de São Luís. São Luís: Universidade do Maranhão/ SIOGE. 1977. 11 MARQUES, César Augusto. Dicionário Histórico-Geográfico da Província do Maranhão. Dicionário histórico-geográfico da província do Maranhão; notas e apuração textual de Jomar Moraes - 3a ed. rev. - São Luís: Edições AML, 2008. 12 RAMOS, A.G. op cit, p.30 13 Criado em 4 de março de 1719, pela bula Copiosus in Misericordia. Desmembrado-se Diocese do Maranhão. 14 Criado em 30 de agosto de 1677, pela bula Super universas orbis Ecclesias. Desmembrando-se da Diocese de Pernambuco. 15 ROCHA, Hugo de Oliveira. O Seminário de Belém. Belém: Editora Falângola, 1993. 16 Período entre a trnasferência, renúncia ou morte do bispo anterior e nomeação do novo. 17 VILLALTA, Luiz C; RESENDE, MARIA E. L (orgs.). As Minas Setecentistas. Vol II, Belo Horizonte: Autência; Cia. do Tempo, 2007. 18 MENDONÇA, Pollyana Gouveia. Parochos imperfeitos: Justiça Eclesiástica e desvios do clero no Maranhão colonial. Tese de Doutoramento em História – Universidade Federal Fluminense, 2011 108 10 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos maiores, impressiona a falta de rigor com que eram conferidas. Dos 197 indivíduos que chegaram ao grau de presbítero no bispado do Maranhão, 108 receberam os graus de subdiácono e diácono no mesmo ano. A maioria, inclusive, no mesmo dia. Esse número se apura ainda mais quando se tem que destes 108 ordenados, 83 receberam as três ordens maiores também no mesmo ano, ou seja, receberam os graus de subdiácono, diácono e presbítero em simultâneo. Uma boa formação era pré-requisito para quem queria exercer funções como a de vigário-geral, agente mais importante do Auditório Eclesiástico19. Cabia a ele “toda a administração da Justiça”, “o conhecimento de todas as causas crimes, e cíveis de foro contencioso” e perante ele se deviam “dar as denunciaçoens, e querelas”, e devia “inquirir dos delitos, e pronunciar os culpados, e proceder contra elles a prizão, quando o caso o merecer”20. De acordo com o regimento do auditório eclesiástico do Arcebispado da Bahia, aquele que ascendesse ao cargo de vigário-geral deveria “ser formado Doutor, ou bacharel na faculdade de Sagrados Canones”21. Felipe Camello de Brito doutorou-se em Cânones, chegando a exercer a função de vigário geral do Bispado do Maranhão. João Pedro Borges de Góes22, que recebeu sua provisão de comissário do Santo Ofício em 29 de abril de 1793, em um processo de apenas 30 fólios, declara que seu pai e irmão servem ao Santo Ofício no cargo de Familiar, onde também cita ter se doutorado em Cânones pela Universidade de Coimbra. Fica evidente o quanto o preparo intelectual aliado a uma estratégia era caminho certo para quem queria ascender na hierarquia Inquisitorial23. Outro fato interessante acerca deste último é seu pedido para ser habilitado Comissário do Santo Ofício na cidade de Lisboa, ficando clara sua intenção em ascender na hierarquia inquisitorial, na medida em que, aqueles que serviam diretamente ao tribunal Lisboeta teriam mais facilidade em obter cargos no conselho geral24. Sobre isso ver: GOUVEIA, Jaime Ricardo. A configuração organizacional dos Auditórios Eclesiásticos: perfis, competências e funções dos oficiais da justiça. O caso de Coimbra. 20 Regimento do Auditório Ecclesiástico do Arcebispado da Bahia, Metropoli do Brasil. São Paulo: Typographia 2 de dezembro, 1834. 21 Idem 22 Conforme habilitação para Notário do Santo Ofício (ANT-TSO-CG-HAB-mc168doc1451) 23 RODRIGUES, Aldair. Sociedade e Inquisição em Minas Colonial: os familiares do Santo Ofício (1711-1808). Dissertação de Mestrado em História – Faculdade Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2007. 24 FLEITER, Bruno. Hierarquias e mobilidade na carreira inquisitorial portuguesa: a centralidade do tribunal de Lisboa. In: Raízes do Privilégio Mobilidade social no mundo ibérico do Antigo Regime. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 235-258 109 19 Colonização e mundo Atlântico Posses espirituais A primeira posse espiritual destes indivíduos era o fato de serem sacerdotes, o que já lhes dava um diferencial em relação às demais pessoas. Para ter o direito de exercer essa função o candidato deveria passar por uma longa preparação, ou melhor, deveria passar por vários graus, chamados de ordens sacras. Tais ordens só lhes podiam ser conferidas pelo bispo ou, em casos excepcionais, pelo vigário capitular25. Inicialmente era preciso receber a tonsura26, que embora não fosse um sacramento ou qualquer grau da ordem, era o momento em que o indivíduo aceitava deixar seu estado laico e ingressar no clerical. Segundo as Constituições do Arcebispado da Bahia27, as ordens eram dividas em quatro menores e três ordens maiores. As ordens menores eram ostiário, leitor, exorcista e acólito. O candidato às ordens menores deveriam saber ler e escrever, saber da doutrina cristã e ser crismado. As ordens maiores, estas se dividiam em Subdiácono, Diácono, e Presbítero. Para alcançar as ordens maiores havia mais exigências e a cada avanço na carreira era necessário apresentar certidão que provasse que o candidato tinha já a ordem anterior. Para o estado de subdiácono exigia-se a idade mínima de vinte dois anos, a primeira tonsura e os quatro graus menores. Eles deveriam saber ainda latim, moral, canto, reza e conhecer da doutrina cristã. Alcançar o grau de diácono dependia do desempenho como subdiácono e exigia-se a idade mínima de vinte e três anos. O candidato deveria ter sido aprovado em exames de latim, canto, reza e casos de consciência. Entre as suas atribuições estava a de ler o Evangelho publicamente e auxiliar o sacerdote durante a missa. Já era uma preparação para o que viria a seguir: a ordem de presbítero. A idade mínima para ingresso nessa ordem era de vinte e cinco anos. Sendo necessário para esta uma habilitação, que apesar de menos criteriosa, era semelhante a da inquisição para seus agentes28. Paiva aponta para o fato de que em Portugal até meados do século XVIII houve um aumento das fileiras de homens que ingressavam na vida sacerdotal. Afirma, inclusive, que possivelmente muitos optassem por essa escolha no contexto de estratégias familiares ou pessoais de ascensão social. A busca por Sacerdote a quem era confiado o bispado nos períodos de vacância, era escolhido entre os membros do cabido diocesano. 26 No rito da Tonsura, o candidato ao sacerdócio, tinha uma parte do seu cabelo raspada, de modo a fazer um pequeno círculo em sua cabeça, significando a consagração daquele indivíduo a Deus. 27 Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. São Paulo: Edusp, 2010. 28 MENDONÇA, Pollyana Gouveia. Op. cit. 110 25 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos dignidades nos cabidos, por colações e outras quaisquer rendas no contexto político-administrativo das dioceses servia também para ratificar o poder de algumas famílias e para “dar um futuro mais digno a descendências bastardas”, o que seria observável na metrópole ainda nos meados de Setecentos. Augustin Wernet afirma, dessa feita, que a vida eclesiástica representava sempre uma boa opção tanto para homens considerados desqualificados, como mulatos, pardos e filhos ilegítimos de padres, bem como àquelas famílias mais abastadas que desejavam manter sua condição29. Caetano Eleutério de Bastos, natural de Lisboa, batizado na Igreja do Sacramento em 30 de abril de 1694 e habilitado comissário em 14 de maio de 1745, foi ordenado diácono no dia 21 de março de 1722 pelo bispo Dom Frei José Delgarte, no oratório do Palácio Episcopal da Cidade de São Luis do Maranhão. Recebendo as ordens de presbítero no dia quatro 4 de abril de 172230. Cerca de vinte e dois anos depois de sua ordenação, em 29 de novembro de 1744, é citado em uma certidão como cura Apostólico da Santa Sé de Belém31. Um dos casos de maior relevo é do chantre Lourenço Alvares Roxo de Potfliz. Nascido em Belém do Pará, sendo batizado na Freguesia de Nossa Senhora da Graça e habilitado para comissário do Santo Ofício em 06 de dezembro de 1746. O encontramos em 27 de janeiro de 1730 solicitando provisão de mantimentos na conezia da ordem presbiteral e magistral da Sé da cidade de Belém do Grão Pará32, atestanto o seu já pertencimento ao cabido diocesano. Em 17 de setembro do mesmo ano, envia carta ao rei João V, sobre sua satisfação e agradecendo por ter recebido sua côngrua33. Pouco mais de um ano depois, em 18 de setembro de 1731, o encontramos como Vigário Geral do bispado do Grão-Pará, ao fazer uma denúncia sobre o mau comportamento do padre Julião dos Santos, afirmando que tomou todas as medidas para que aquele padre fosse preso e, como não o conseguiu, solicita seu degredo34. No mesmo dia, envia carta ao rei D. João V, queixando-se do provedor da Fazenda Real da capitania do Pará, Luís Barbosa de Lima, e dos contratadores, por não efetuarem o pagamento da côngrua que lhe é devida35. Em 06 de maio de 1735, abre o primeiro estabelecimento musical do Pará, a “Schola Cantorum” na WERNET, Augustin. A igreja paulista no século XIX. São Paulo; Ática, 1987 Conforme Livro de Registros de Ordenações 1718-1789. (APEM, 175) 31 Conforme Certidão (AHU_ACL_CU_013, Cx. 27, D. 2561) 32 Conforme Requerimento (AHU_ACL_CU_013, Cx. 12, D. 1084) 33 Conforme Carta (AHU_ACL_CU_013, Cx. 12, D. 1139) 34 Conforme Carta (AHU_ACL_CU_013, Cx. 13, D. 1199) 35 Conforme Carta (AHU_ACL_CU_013, Cx. 13, D. 1200) 111 29 30 Colonização e mundo Atlântico Catedral do Bispado36. Em uma carta datada de 07 de novembro de 1737, onde é citado como provedor dos Defuntos e Ausentes do Pará, recebe parecer favorável do ouvidor geral da capitania do Pará, Salvador de Sousa Rebelo, de um acordo que estabeleceu com os irmãos da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Belém do Pará, para que as esmolas deixadas pelos irmãos da Santa Casa sirvam de recursos para a manutenção do hospital da sacristia e para o Acolhimento dos pobres 37. Em 22 de outubro de 1748, como chantre da Sé e provisor do Bispado do Pará, lança pedra fundamental da capela da ordem terceira de São Francisco38. Em 01 de dezembro de 1754 é inaugurada a capela da ordem terceira de São Francisco da Penitência, em ato solene presidido pelo bispo Dom Frei Miguel de Bulhões e primeira missa oficiada pelo chantre Lourenço Alvares Roxo 39. Em 09 de abril de 1756 falece40. No bispado do Maranhão temos um habilitando que a exemplo do que o chantre Lourenço Alvares Roxo de Potfeliz fez no bispado do Pará, galgou importantes funções na mitra diocesana. Trata-se de João Pedro Gomes. Nascido em Lisboa em 30 de setembro de 1734, é batizado na Freguesia de São Nicolau, sendo habilitado comissário do Santo Ofício em 11 de fevereiro de 1763. Em 7 de julho de 1759, solicita a coroa alvará de mantimentos 41. Em 20 de março de 1769, solicita ao vigário capitular, Padre Pedro Barbosa Canais, servir no cargo de auditor eclesiástico42. Segundo sua habilitação para comissário do Santo Ofício, recebe 120$000 reis anuais pela função que exerce como cônego da Sé do Maranhão e secretário do bispo43. Em 09 de outubro de 1801, por ocasião da morte do bispo do Maranhão D. Joaquim Ferreira de Carvalho, é eleito vigário capitular, cônego João Pedro Gomes 44. Outro comissário que encontramos sendo membro do cabido diocesano, agora novamente do bispado do Pará, é Felipe Joaquim Rodrigues, nascido no lugar do Lumiar, Freguesia de São João, Patriarcado de Lisboa, Reino de Portugal. Foi habilitado em 18 de outubro de 1763, sendo batizado em 30 de outubro de 1719. No ato do pedido de habilitação exerce a função de Mestre RAMOS, Alberto Gaudêncio. Cronologia Eclesiástica do Para, 1985, p.26 Conforme Carta (AHU_ACL_CU_013, Cx. 20, D. 1914) 38 RAMOS, A.G. op cit, p. 29 39 RAMOS, A.G. op cit, 31 40 RAMOS, A.G. op cit, 32 41 Conforme Requerimento (AHU_ACL_CU_009, Cx. 25, D. 2600) 42 Conforme Ofício (AHU_ACL_CU_009, Cx. 43, D. 4247) 43 Conforme habilitação para Comissário do Santo Ofício (ANT-TSO-CG-HABmc121-doc-1926) 44 Conforme Ofício (AHU _ACL_CU_009, Cx. 118, D. 9105) 112 36 37 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Escola do Cabido da Sé de Belém do Pará, recebendo anualmente o valor de 200$00045 pelo exercício de sua atribuições. Custodio Alvares Roxo de Potfliz, nascido em Belém do Pará, e irmão inteiro do chantre Lourenço Alvares Roxo de Potfliz, já falecido na altura do pedido de habilitação de seu irmão. Foi batizado em 03 de março de 1704 na Sé de Belém do Pará. Em 22 de setembro de 1733, denuncia dos crimes de blasfêmia e de feitiçaria cometido por algumas pessoas, dentre elas Tereza Furtada, passado pelo escrivão: o padre Alexandre Marques, do Colégio de S. Alexandre do Grão Pará, a pedido do padre João Teixeira, da Companhia de Jesus46. Em 22 de outubro de 1740 é citado como vigário geral do bispado do Pará e delegado do reverendo bispo na junta das missões47, em um documento datado do mesmo dia, encontramos que seus rendimentos pelo cargo de vigário geral do bispado totalizam o montante de 80$00048. Em 22 de abril de 1744, sob a justificação de estar exercendo os cargos de vigário provincial, vigário geral, juiz de resíduos49 e governador do bispado foram confiados pelo bispo Dom Frei Guilherme de São José, pede a coroa aumento de Côngrua50. Encontramos ainda outro cônego pertencente ao cabido do Maranhão, trata-se de Felipe Camello de Brito, nascido em São Luis do Maranhão e habilitado em 15 de abril de 1768. Segundo sua habilitação, exerce a função de mestre escola no cabido da Sé do Maranhão, pela qual recebe anualmente o montante de 200$000 reis. Mais a frente o vemos citado como vigário geral do Bispado, aqui cabendo salientar que a imensa maioria dos que chegariam à vigaria-geral do Maranhão tinha grau de doutor pela Universidade de Coimbra e acumulou outras funções no governo eclesiástico local , como de Felipe de Brito que exerceu a função de Provisor e Juiz das Habilitações de Genere. Como citamos no começo, há também os casos de comissários que exerciam cargos menores, como párocos e capelães. Este é o caso de Inácio José Pestana, nascido em Belém do Pará, batizado na Freguesia da Campina em 26 de agosto de 1717 e habilitado para comissário em 20 de janeiro de 1779. Segundo o mapa geral de população, das freguesias e das capitanias do estado do Grão-Pará, relativo ao ano de 1776, que contém relação dos eclesiásticos seculares e regulares nelas existentes. Inácio José Pestana é citado como capelão de AHU_ACL_CU_013, Cx. 92, D. 7400. Conforme Denúncia (PT/TT/TSO-IL/014/0061.00010) 47 Conforma Carta (AHU_ACL_CU_013, Cx. 23, D. 2211) 48 Conforme Carta (AHU_ACL_CU_013, Cx. 23, D. 2211) 49 Lhes cabia tomar conta dos testamentos e ultimas vontades dos defuntos que falecerem. 50 Conforme Requerimento (AHU_ACL_CU_013, Cx. 27, D. 2514) 113 45 46 Colonização e mundo Atlântico Regimento de São José de Macapá51. Mais a frente, em 11 de outubro de 1792 é citado seu falecimento, deixando vaga a Capelania do Regimento da praça de São José de Macapá. Sucede-o neste posto outro habilitando para Comissário do Santo ofício, Padre Filipe Jaime Antônio 52, deste último encontramos muitas informações. Nascido em Belém do Pará, foi batizado em 30 de maio de 1746 na capela de Santa Tereza dos religiosos de Nossa Senhora do Carmo. Antes de seguir a carreira sacerdotal, serviu durante dois anos e cinco meses como soldado nos no regimento de infantaria da cidade de Belém do Pará, comandado pelo capitão Teodósio Constantino de Chermont, entre 20 de janeiro de 1767 e 26 de junho de 176953. Em 17 de janeiro de 1770, é citado em um ofício que fora para o Reino, a bordo dos navios da Companhia Geral de Comércio do Grão Pará e Maranhão, receber as ordens menores. Recebendo o presbiterado, exerceu a função de pároco da Freguesia de Barcarena 10 de junho de 1771 até 23 de fevereiro de 177354, sendo transferido para a função de vigário da Freguesia de São Domingos da Boa Vista do Guajará55, exercendo esta função de 08 de março de 1773 até 22 de fevereiro de 178456. Em 08 de janeiro de 1784, solicita carta patente de presbítero secular na Capelania do Regimento da praça de São José do Macapá57, função da qual em 21 de abril de 1787, solicita baixa do serviço com a justificativa de querer juntar-se a sua família58. Em 04 de abril de 1804, solicita a mercê de sua aposentadoria no posto de capitão do Regimento de Linha da Praça de São José do Macapá no Estado do Pará59. Tabela I: Cargos Eclesiásticos exercidos Nome Funções que exerceu Caetano Eleutério de Bastos Cura da Sé de Belém Custodio Alvarez Roxo Vigário provincial, vigário geral, juiz e governador do bispado Felipe Joaquim Rodrigues Mestre Escola do Cabido da Sé de Belém do Pará AHU_ACL_CU_013, Cx. 79, D. 6535. Conforme Requerimento (AHU_ACL_CU_013, Cx. 102, D. 8088) 53 Conforme Requerimento (AHU_ACL_CU_013, Cx. 95, D. 7535) 54 Conforme Ofício (AHU_ACL_CU_013, Cx. 65, D. 5586) 55 AHU_ACL_CU_013, Cx. 79, D. 6535. 56 Conforme Requerimento (AHU_ACL_CU_013, Cx. 95, D. 7535) 57 Conforme Requerimento (AHU_ACL_CU_013, Cx. 102, D. 8088) 58 Conforme Requerimento (AHU_ACL_CU_013, Cx. 96, D. 7641) 59 Conforme Requerimento (AHU _ACL_CU_013, Cx. 129, D. 9896) 114 51 52 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Felipe Camello de Brito Felipe Jaime Antonio João Pedro Gomes João da Trindade João Pedro Borges de Góes Lourenço Alvarez Roxo Inácio José Pestana Mestre Escola do Cabido da Sé de São Luís Capelão do Regimento de Macapá, Vigário na Freguesia de Barcarena, vigário na freguesia de São João da Bos Vista do Guajará Cônego da Sé , Auditor eclesiástico e vigário capitular Confessor, pregador e comissário provincial de sua ordem no grão-Pará Padre Secular Vigário Geral, provedor dos Defuntos e Ausentes do Pará, provedor do Bispado Capelão do Regimento de Macapá Considerações finais Dos casos acima relatados, possuem destaque os irmãos Lourenço e Custodio Alvarez Roxo de Potfliz, que chegaram a exercer funções relevantes como a vigaria geral do Bispado e chantre do cabido diocesano. Os dois são habilitados para servir a Inquisição com idade avançada, já tendo servido ao bispado em muitas funções, atestanto, de que assim como, ter serviços prestados ao Santo Ofício no curriculum poderia ser um elemento importante para a concretização de seus anseios na subida da hierarquia eclesiástica, de igual modo, o serviço a mitra diocesana pode ser entendido como elemento relevante na subida a hierarquia inquisitorial. Não podemos deixar de frisar que a habilitação possibilitava abertura para ascensão no status social60. Tais fatos apontam que o habilitar de agentes visava mais aos interesses do candidato e menos às necessidades funcionais do Tribunal. Neste sentido, este capital simbólico atrelado a ordenação sacerdotal e uma boa formação intelectual, era caminho seguro para quem quer ter uma vida bem sucedida, tanto na carreira inquisitorial quanto eclesiástica. Para além dos cargos no âmbito eclesiástico, quer na burocracia curial ou inquisitorial, nos chamou atenção a ação destes padres na obtenção e exploração de terras. Exemplos como o de Caetano Eleutério de Bastos, que possuía terras Sobre isso ver: TORRES, José Veiga. Da Repressão Religiosa para a Promoção Social: a Inquisição como instância legitimadora da promoção social da burguesia. Revista de Ciências Sociais, 1994. 115 60 Colonização e mundo Atlântico na Ilha de Joannes no Marajó61 e no Rio Guamá62, onde cultivava cacau, café e criava gado, fato que o levou a ter contendas com outros proprietários de terra, deixando claro que o papel destes padres vai para além da atuação no tribunal do Santo Ofício e na Igreja. Podemos observar que estes homens atuavam em duas frentes (eclesiástica e “civil”), Lourenço Alvares Roxo de Potfliz possui uma extensa carreira eclesiástica, porém, pelos documentos que conseguimos rastrear não o vemos atuando como proprietário de terras. Por outro lado, Caetano Eleutério de Bastos, que não vemos exercendo funções de relevo no âmbito eclesiástico, possui terras das mais variadas culturas e em lugares com certa distancia entre si, evidenciando que sua atuação se dava mais no âmbito civil. 61 62 Conforme Requerimento (AHU_ACL_CU_013, Cx. 19, D. 1820) Conforme Requerimento (AHU_ACL_CU_013, Cx. 17, D. 1606) 116 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos VIOLÊNCIAS, CONFLITOS E REVOLTA NOS TERRITÓRIOS DO MARANHÃO E GRÃO-PARÁ NA PRIMEIRA DÉCADA DA CONQUISTA (1616-1626) João Otavio Malheiros Resumo O estudo, sumário, de episódios e situações de perturbação da ordem urbem et civis nos territórios do Estado do Maranhão (e Grão-Pará) na primeira década da Conquista, na primeira metade do século XVII, tal como relatados pela historiografia autodidata e não acadêmica feita na segunda metade do século XX. Atenta, a economia do artigo, principalmente para o empírico descrito por meio do texto de Mário Martins Meireles, História do Maranhão, de 1960; e, em rápido debate conceitual, com base em teóricos da revolta, rebelião, revolução e violência, busca localizar as situações e os episódios observados na experiência social e histórica do sistema colonial ibérico do primeiro período do Moderno, nesta parte do mundo. Palavras-chave: violência, rebeldia, Maranhão e Grão-Pará. Sim, a escravidão dos índios foi um grande erro e a sua destruição foi e será uma grande calamidade. Antônio Gonçalves Dias1 Introdução: um corpus gerado em violências A fixação do elemento europeu na vasta porção até então não ocupada no Sul do Novo Mundo, por espanhóis e portugueses, – sob intensa concorrência de irlandeses, holandeses, franceses etc – foi efetivada na viragem do XVI para o XVII e primeiras décadas do Seiscentos, sob reis Habsburgo, por aqueles adventícios (BUARQUE, 1957: 15) principalmente de Pernambuco, mas não só (CARDOSO, 2012: 95-119); e significou o início de um continuum da supremacia da matriz portuguesa, no processo de transculturação (ORTIZ, 1983: 4) em que, desde o contato (PRATT, 1999: 27), a apropriação territorial concomitante à apropriação cognitiva teve na violência escravagista uma prática social estruturada e estruturante original, e resulta num corpus social que nem In Introdução aos Anais de Berredo, cf. João Franscisco Lisboa, no Jornal de Tímon – Apontamentos, Notícias e Observações para servirem a História do Maranhão, Tomo II, 1º vol. (LISBOA, 1994: 88). 117 1 Colonização e mundo Atlântico reproduz o que havia em Portugal, nem respeita as formações sociais e históricas dos povos autóctones (GORENDER, 1978: 54-59). É para uma sociedade escravista de novo tipo, portanto, que miramos em busca dos elementos que explicitem relações violentas, que prejulgamos presentes. Esta constatação empírica transparece nas narrativas, como a do autor que seleciono para este exercício de conhecimento, dos episódios de conflito ou de rebeldia política, mas de maneira fragmentada, no que julgo ser uma das características da historiografia produzida por ‘falantes’ desde o território da oficialidade e que, do espaço estatal e sem formação acadêmica para o ofício de historiografar, pela ampla difusão imprimem na memória social as suas visões (SARLO, 2005: 15). O escravismo colonial aparece na economia metodológica do artigo, como pano de fundo. A base documental empírica reduz-se, portanto, ao extraído do livro História do Maranhão, de Mário Martins Meireles. Minha hipótese preliminar de trabalho é a de que a violência das relações sócio históricas seria tão intensamente explicitada quanto a intensidade de sua ocorrência nas práticas sociais, e que o uso do vocábulo na narrativa seria tão intenso quanto as situações e episódios que envolvessem algum tipo de violência apa. No entanto, neste estudo por meio de historiadores autodidatas e das situações históricas tal como narradas por aqueles historiadores, violência é uma palavra quase ausente e quando empregada, terá um sentido um tanto diferente do que emprestamos hoje ao termo. O mesmo constato em relação ao documento da época que vem transcrito na narrativa mais recente, o que sugere uma nova questão a ser trabalhada, sobre a percepção da violência no período recortado, que anoto mas cuja discussão não será aprofundada. Alguns conceitos de violência O que é conceitualmente a violência, na literatura apropriada pela historiografia, cobre um amplo espectro de comportamentos humanos em situações sociais e históricas diferenciadas no transcurso do tempo. No presente estudo, busco apontar tão somente para a violência como uma relação social que contenha a atitude do constrangimento e da coação, por métodos psicomorais e/ou pela causação do sofrimento físico ou da subtração da vida do Outro. Esta violência é um conceito contemporâneo, tal como aparece, por exemplo, no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001: 2866): “ação ou efeito de violentar, de empregar força física (contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra (alguém); ato violento, crueldade, força [...]”. Este é apenas o segundo, dentre os sete significados registrados pelo dicionarista atual. O mesmo vocábulo é dicionarizado pelo jesuíta Raphael Bluteau (1728: 509118 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos 510), em seu Vocabulario Portugues & Latino, em termos conceituais muito semelhantes: “força, impeto extraordinário”; “lançar-se com violência contra alguém”; “morrer de morte violenta é morrer não de doença ou de velhice, mas de feridas ou outras violências ou desgraças”. Tanto um quanto outro dicionarista registra também a violência relativa aos fenômenos naturais, como doenças e desastres ambientais tais como ventanias, terremotos, inundações.... sentido que aqui não será levado em conta. Este campo conceitual com largas fronteiras não é responsabilidade do dicionarista, mas é reflexo da multiplicidade de sentidos que as sociedades históricas emprestam ao termo e é uma dificuldade teórica tratada por teóricos da violência do final do século XX, como Yves Michaud venha a violência de onde vier, ou seja ela proveniente dos castigos da lei como em Michel Foucault. O primeiro, em seu estudo clássico A violência, publicado em 1986, parte do princípio de que violência é um fato “disparatado” pois “são violência o assassinato, a tortura, as agressões e vias de fato, as guerras, a opressão a criminalidade, o terrorismo etc.” (MICHAUD, 1989: 7). No âmago da violência materializada nestes fatos sempre está “a ideia de uma força”, que “se torna violência quando passa da medida ou perturba uma ordem” (MICHAUD, 1989: 8). Ainda em Yves Michaud, vê-se que, na explicação dos juristas, “a violência caracteriza a coação exercida sobre a vontade de uma pessoa para força-la a concordar” (MICHAUD, 1989: 9), e que o sentido que uma determinada sociedade num determinado tempo empresta à violência é relativo e da margem à variações da significação, pois “podem haver quase tantas formas de violência quantas forem as espécies de normas” dos “usos correntes” da violência como ato de força (MICHAUD, 1986: 8). Para o presente exercício é preciso anotar uma distinção entre a violência interpessoal privada, sob a qual a norma social pode legislar e estabelecer as sanções sociale historicamente validadas e aquela que, mesmo praticada por agentes em carne e osso, parte de um ente “imaginário”, que é o Estado executor das leis. É que “a lei permite 119 certas violências em condições bem definidas: no âmbito do esporte, da cirurgia ou da manutenção da ordem” (MICHAUD, 1986: 9). Assim é que a violência está embutida na aplicação da pena que a lei do Estado, (ou dos poderes, distinção feita por Yves Michaud), cujo caráter público e exemplar, visto tal como está em outro clássico, Vigiar e Punir, de Michel Foucault, e que se aplica, como mostro adiante, ao prescrito no regulamento estabelecido pelos cabeças da empresa colonial francesa (1612-1615), a que antecede a fixação do elemento adventício na Conquista hispano-lusitana (16141615). No período recortado está em vigor, portanto, uma “economia do castigo” (FOUCAULT, : 13) que utiliza a “ostentação dos suplícios” 119 Colonização e mundo Atlântico (FOUCAULT, 2013: 34), como a marcação com ferrete, a multa e o açoite (FOUCAULT, 2013: 35), que só será majoritariamente abandonada no XIX. “Não só nas grandes e solenes execuções, mas também nessa forma anexa é que o suplício manifestava a parte significativa que tinha na penalidade; qualquer pena um pouco séria devia incluir alguma coisa do suplício” (FOUCAULT, 2013: 35). Algumas normas e as punições previstas à transgressão Visto isto, podemos apresentar um quadro das transgressões à ordem civil que buscava-se manter imperturbada, tal qual é passível de ser extraído do documento transcrito em História do Maranhão, de Mário Martins Meireles (1960: 35-39). Trata-se de num texto essencialmente legiferante e por ele considerado “uma constituição” (MEIRELES, 1960: 35) e o marco primordial, ao lado da famosa cerimônia de posse, em que “estava, assim, fundada a França Equinocial” (MEIRELES, 1960: 39). 120 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos QUADRO I Transgressões orbem et civis e punições aplicáveis aos franceses (16121615) [Pela ordem em que aparecem; MEIRELES (1960: 34-39)2] TRANSGRESSÃO PUNIÇÃO Penalidades não letais Blasfêmia Multa para os pobres de França arbitrada pelo Conselho, até a 3ª vez, e na quarta vez castigo corporal de acordo com a qualidade Desrespeito aos capuchinhos De acordo com o caso e a ofensa Infidelidade e desobediência De acordo com a transgressão Perturbar o sossego público De acordo com a transgressão Furtar pela primeira vez Açoitamento ao pé da forca, ao som da corneta e obrigação de servir um ano nas obras públicas, com perda no período, das dignidades salários e proveitos Penas de Morte Embaraço ou perturbação da missão Morte capuchinha Atentados contra pessoas e a vida da Equiparam-se ao crime de lesa-majetade; a colônia: parricídios, atentados, pena é a morte, sem esperança de remissão traições, monopólios, discursos para desgostar os habitantes Encobrir as transgressões acima Morte Homicídio, se não em legítima defesa Morte exemplar Furtar pela segunda vez Morte por enforcamento Furto praticado por criado Morte por enforcamento doméstico, pela primeira vez Casos especiais Duelo Proibido de acordo com o “edito de Henrique, o Grande”; censura pública aos protetores dos faltosos O autor tem por praxe não indicar a referência de sua base documental. Por certo, esta transcrição difere da que publica-se em ABBEVILLE (2002: 169-173), que é de autoria do historiador César Augusto Marques (1826-1900) 121 2 Colonização e mundo Atlântico Falso testemunho Pena igual à que caberia ao acusado Transgressões contra indígenas Espancamento, injúria, ultraje ou Castigo igual à ofensa assassinato Adultério, por amor ou violência Morte Violentar mulheres solteiras Morte Atos desonestos contra filhas de Escravidão na colônia por um mês índios-1ª vez Atos desonestos contra filhas de Trazer ferro aos pés por dois meses índios-2ª vez Atos desonestos contra filhas de Castigo justo arbitrado pelo Conselho índios-3ª vez Roubo de roças e outras coisas dos Escravidão na colônia por um mês índios-1ª vez Roubo de roças e outras coisas dos Trazer ferro aos pés por dois meses índios-2ª vez Roubo de roças e outras coisas dos Castigo justo arbitrado pelo Conselho índios-3ª vez Mas passemos, vistas as violências e as normas francesas, para a matriz cultural luso-pernambucana que se fixa com a Conquista. Não tive acesso a um documento legisferante dos novos ocupantes do território, mas – em compensação – mas também é possível de se obter uma aproximação das praxis estruturadas e estruturantes do corpus social e histórico que se passa a manter e aumentar (CORRÊA). Violências luso-pernambucanas Pode-se, no período que circunscrevo entre o primeiro 'governo', dos capitães da Conquista até os anos em que se implanta o novo Estado colonial com a entrada em São Luís de Francisco Coelho de Carvalho, do clã lusopernambucano dos Albuquerque, o governador (e capitão-general) que é empossado em 1626, formar – a partir da narrativa analisada - vários conjuntos mais ou menos homogêneos de situações em que, em conflitos políticos ou rebeldia e insubordinação abertas, a violência física ou moral foi aplicada. Era, aquele primeiro governo, formado ao 9 de janeiro de 1616 majoritariamente por comandantes de guarnições, sendo interessante a 122 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos enumeração de seus tamanhos e respectivos titulares também para uma aproximação da população de homens adventícios que permanece após a refrega e a solução negociada: o capitão de Cumã, Diogo Moreno Soares, com 25 soldados; o comandante do forte de São Felipe (ex-São Luís dos franceses), Ambrósio Soares, com 100 homens; o comandante do forte de São Francico, Álvaro Câmara, com 50 soldados; o comandante do forte de Itapari, Antonio de Albuquerque, também com 50 homens; e, evidentemente, um ator que é protagonista principal no sistema de escravismo que importava implantar: o capitão das entradas, Bento Maciel Parente, “à testa de trinta e seis homens e servido por seis canoas”. (MEIRELES, 1960: 55-56). Assim, embora sejam anotados conflitos entre colonos e colonos, entre clérigos regulares e colonos, entre colonos e indígenas e, com a participação destes em alianças com os colonos, entre indígenas aliados e indígenas hostis à colonização, dentre outros (como entre colonos e os chamados “piratas” ou “corsários”), vamos nos ater aos que envolveram colonos e os missionários das diversas ordens e, principalmente, aos que envolveram os adventícios com os que aqui já estavam. QUADRO II Situações de violências entre colonos luso-pernambucanos e povos indígenas [Pela ordem das menções; MEIRELES (1960: 55-73)] ANO SITUAÇÃO Descrição 1616 1ª entrada, de Bento Maciel “(…) fez despachar, logo a 11 de fevereiro, o Parente cap. Bento Maciel pelo rio Pindaré acima, com quarenta e cinco soldados e noventa selvagens domesticados, à procura de minas e veios de gemas e metais preciosos; nada, porém, lograram encontrar, tendo apenas movido guerra cruenta contra os Guajajaras, que defenderam ferozmente seus domínios.” (p. 56) 1616 Começa a sublevação O capitão Matias de Albuquerque, de tupinambá em Cumã regresso de São Luís, “foi surpreendido com a notícia de que os silvícolas, sublevados por um tupinambá civilizado, conhecido pelo nome cristão de Amaro, haviam assaltado o forte de Cumã e trucidado toda a sua guarnição, estando agora em marcha para Tapuitapera, com cujos habitantes, seus parentes, pretendiam passar ao assalto da 123 Colonização e mundo Atlântico própria capital da Capitania”. (p. 57). 1617 1ª campanha: 'esmagamento' O “jovem capitão (…) atirou-se à luta com a dos tupinambás pequena força que o acompanhava, até que, recebido o reforço de cinquenta soldados e duzentos indígenas que lhe enviou seu pai [Jerônimo de Albuquerque] às ordens do capitão Manuel Pires, logrou vencê-los e pôlos em fuga de algumas dezenas de léguas; e, a um contra-ataque dos selvagens, esmagoulhes decisivamente as hordas em combate do dia 3/2/1617”. (p. 57). 1617 Carta régia dos degredados 1618 2ª campanha: 'vitória Antônio de Albuquerque, o novo capitãoabsoluta' sobre os mor, ordena ao irmão, o capitão de Cumã tupinambás sublevados Matias de Albuquerque, que marchasse contra tupinambás do Curupi e de Cumã sublevados. “À frente de cinquenta soldados e seiscentos selvagens amigos, o jovem capitão de Cumã partiu de Tapuitapera a 24/8/1618 e decorridos quatro longos meses de porfiada luta, regressou com a vitória absoluta.” (p. 58) 1618 Execução de Amaro 1619 3ª campanha: remanescentes sublevação 1621 Ataque goianá no rio Munim Treze soldados de 'presídio' do fortim de pau à pique construído pelo filho do capitão mor Diogo da Costa Machado, o juiz Jorge da “(...) Carta Régia de 4/5/1617, determinava que o Maranhão, compreendendo as duas capitanias gerais, a do Maranhão e a do Grão-Pará, ficava considerado parte do Brasil, para o fim de para ele se mandarem degredados” (p. 57). “Amaro, inconformado líder tupinambá, perdeu a vida à boca de um canhão, depois de feito prisioneiro”. (p. 58) contra Bento Maciel Parente, nomeado por Luís de da Sousa, “chefe da guerra contra os tupinambás” (p. 58), “aprestara uma expedição de oitenta soldados e quatrocentos silvícolas, (…) logo destroçou os remanescentes da sublevação indígena de Tapuitapera, passando-se em seguida ao Grão-Pará” (p. 59). 124 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Costa Machado, no Munim, são dizimados totalmente pelo goianás, “salvando-se apenas o comandante, por motivo de ausência no momento” (p. 60). 1621 1ª epidemia de varíola “Neste mesmo ano de 1621 uma primeira epidemia de varíola, trazida por um navio vindo de Pernambuco com dinheiro e mantimentos, lavrou na cidade, fazendo seu maior número de vítimas entre os indígenas domesticados”. (p. 60) 1622 1ª crise entre colonos e A Câmara pede a expulsão da missão jesuíta missionários chefiada por Luiz Figueira. “(...) por fim, os jesuítas assinaram um termo comprometendo-se a não interferir em questões de indígenas dométicos, sujeitandose às penas de extermínio e confisco de seus bens se quebrassem a promessa”. (p.62) 1625 2ª crise entre colonos e Por recusa à obediência ao Alvará de missionários 15/3/1624, que retira dos colonos a administração do indígena, o Custódio da missão franciscana, o letrado capucho Cristóvão de Lisboa, excomunga a Câmara de Belém. 1626 Assalto indígena franciscanos 1626 Entrada dos de Belém “Sousa d'Eça, chegando a sua capitania contra os tapuias no Gurupá (6/1/1626), encontrou lá os ânimos um tanto exaltados contra Bento Maciel Parente, a quem ia substituir, por motivo da entrada que mandara fazer, já nesse ano, por Bento Maciel Parente Filho e Pedro da Costa Favela, contra os tapuias do Gurupá, e da maneira cruel por que fizera dominar uma pretensa revolta dos tupinambás”. (p.70) 1627 Entrada dos de contra os pacajás aos Cristóvão de Lisboa, indo ao Ceará por terra, “foi, porém, interceptado em viagem pelos tapuias do Periá, sendo, ele próprio, obrigado a assumir a chefia da luta porfiada que teve de travar com os selvagens para conseguir passar adiante, embora com a perda total da bagagem, isto foi no dia 23/6/1626” (p. 64) Belém “(...) nova entrada para os Pacajás, às ordens daquele mesmo capitão Costa Favela; (...)”. 125 Colonização e mundo Atlântico (p. 71) 1629 Proibição de mais de duas “Coelho de Carvalho (…) proibiu entradas e revogação da terminantemente as entradas, salvo duas por proibição ano e com prévia licença sua e com a assistência de um capuchinho (sic); Frei Cristóva, porém, alegando não permitirem os estatutos (…) recusou-se a atender e o governado, reconsiderando o ato que prejudicava os interesses dos colonos, revogou-o.” (p. 71) 1635 Motim dos colonos em “(...) veio atiçar o povo que, no domingo de Belém ramos, quebrou na igreja matriz a cadeira do capitão-mor e saiu amotinado para a rua”, exigindo a permanência de Antonio de Albuquerque no governo da capitania. (p.7273) 1635 Levante dos tupinambás “(...) Antônio de Albuquerque abafava, em fins desse ano de 1635, um levante geral dos tupinambás.” (p. 73) 1636 (?) Assassinato de um frade Coelho de Carvalho morre em Cametá em capucho 15/9/1636, responsablizado “pelo assassínio de um dos frades do Convento de S. Antonio, cometido por seu filho Feliciano quando de um assalto noturno à casa desses religiosos por motivo de terem entrado em choque com o governo em defesa dos silvícolas” (p. 73). Das dezoito situações selecionadas e acima apresentadas salta evidente que a violência direta é praxis permanentemente aplicada sobre os “selvagens”, “silvícolas”, com a finalidade de sujeitar o elemento autóctone às exigências da sociedade colonial escravista de matriz cultural ibérica que o adventício lusopernambuco perseguia construir nos novos territórios. Mas é também, em certo prisma, uma narrativa das distâncias entre as intenções legisferantes e as práticas permitidas e consagradas socialmente, como a de recrutamento da mão-de-obra por meio de entradas e a relutância dos colonos e aceitar qualquer tipo de regulação. No entanto, a “sublevação”, o “levantamento” dos tupinambás” ou a “revolta de Amaro”, cujo primeiro episódio, na década recortada, ocorre em 1617, e que apesar de repressão recorrente, terá o último (dos quatro mencionados) registrado em termos superlativos em 1635, sugere uma 126 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos amplitude deste conflito cruento bastante mais ampla e profunda do que o que transparece na narrativa de Mário Martins Meireles (1960: 73). Por certo, esta “guerra dos tupinambás” causou para as cidades e os adventícios “transtornos sociais e políticos” (ELLIOT, et al.; 1972: 11) que justifiquem os adjetivos atribuídos àqueles acontecimentos pelo historiador do século XX. De qualquer ângulo, é visível que houve uma guerra longa e permanente contra os tupinambás e outras denominações étnicas, e que esta prática social estruturavase desde o Estado, com o cargo e a função de “capitão das entradas” e de “chefe da guerra”, e era persistente porque estruturante da relação social estabelecida no novo corpus sócio-histórico que se construía, como pode se verificar nas três tentativas de regulação (pelo jesuíta Luiz Figueira, pelo capucho Cristóvão de Lisboa e pelo primeiro governador) foram fracassadas pela preponderância do interesse escravista dos colonos. O que aparece como “revolta”, “levantamento”, “sublevação” na narrativa aqui estudada é um acontecimento insuficientemente historiografado e pela recorrência de sua menção nos trechos observados foi determinante para a 'formatação' do sistema do colonialismo ibérico que funciona após a solução militar e negociada da concorrência com os demais europeus que aqui intentaram fixar suas empresas. Com duração não inferior a três anos, esta perturbação ordem et civis absorveu esforços importantes dos governantes das capitanias e mobilizou recursos materiais e humanos de monta, como transparecem alguns números do Quadro II. No entanto, pela solução de extermínio aplicada ao que também transparece, estaria neste acontecimento uma causa elementar da crise demográfica que a sucede, que aparecerá em recorrentes queixas à falta de braços e à dificuldade de sua obtenção, agravadas, seguramente, pela mortandade da primeira epidemia de varíola entre os “domesticados”. É sabido que a Europa neste primeiro período do moderno é pródiga em revoluções e rebeliões, que são 'classificadas' por estudiosos dedicadas ao tema de acordo com o contexto social e histórico das sociedades as quais perturbam com os “transtornos sociais e políticos” (ELLIOT et al., 1972: 11) que produzem, especialmente atentando para os estamentos sociais em entrechoque e os “programas” políticos explicitados ou deduzidos. Como classificar por estes parâmetros produzidos no contexto e em resposta às demandas do europeu o que foi o movimento liderado, como aparece na narrativa do autor não-acadêmico, por um protagonista educado por missionários jesuítas e chamado Amaro? 127 Colonização e mundo Atlântico Constatações 'finais', porém prelimares A primeira é de que a violência, nunca – ou quase nunca – mencionada explicitamente nos documentos da época e na narrativa historiográfica maranhense não acadêmica da segunda metade do século XX, é sempre um conceito relativo à matriz cultural de dada sociedade histórica. Nas europeias do século XVII e suas extensões coloniais, que produziram narrativas escritas a partir da zona de contato, a normatização legal não suprimia a prática social de relações violentas e abusivas entre os diferentes pelos colonos denota, mas visava manter o controle de modo a não ameaçar a paz social, vide o Quadro I. Esta é uma característica, presente tanto na estratégia “dulce” do francês como na intensidade com que o luso-pernambuco preda a população autóctone, e da qual o clamor piedoso do missionário pela liberdade do indígena é mais um abrandamento (da violência estruturada e estruturante do escravismo colonial moderno, sistema que se buscava por em funcionamento) que a alternativa dela supressora. O que caracterizou a relação social estabelecida pelo adventício na zona de contato foi o escravismo e o massacre, sempre de acordo com Tzvetan Todorov (2010: 208), para quem “o massacre está, pois, intimamente ligado às guerras coloniais, feitas longe da metrópole”, “onde a lei dificilmente se faz respeitar”. Estão, então, presentes na experiência do colonialismo vivida nesta parte do mundo, as três situações geradas ou geradoras de violência, das quais o colonizador tem “responsabilidade direta, menos direta, difusa ou indireta”, de acordo com a catalogação de Tzvetan Todorov (2010: 192-193), e que são, respectivamente: 1. Por assassinato direto, durante as guerras ou fora delas: número elevado, mas relativamente pequeno; responsabilidade direta. 2. Devido a maus-tratos: número mais elevdo; responsabilidade (ligeiramente) menos direta. 3. Por doenças pelo 'choque microbiano': a maior parte da população; responsabilidade difusa e indireta. Sobre a forma branda de relações propostas pelos missionários é preciso observar que eram integradas ao sistema do colonialismo – tanto o francês quanto o luso-pernambucana – e seu conflito com o sistema do colonialismo era absolutamente secundário e visava confirmá-lo; tanto que os entrechoques, mesmo se envolvendo o assassinato de um europeu por outro, como no caso atribuído ao filho do primeiro governador, acomodavam-se. O contrário acontece com o acontecimento que gira em torno da persona historiográfica de Amaro, em que as dimensões históricas de uma insurreição ou “levantamento geral” mal se vêem esboçadas, e não apenas nas narrativas de historiadores de amplo espectro e não formados na academia universitária, 128 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos como a de Mário Martins Meireles, em sua História do Maranhão (1960). A respeito de Amaro, uma segunda constatação, é de que permanece aberto um espaço também para a teorização e a construção de conceitos apropriados para a análise descolonizada. 129 Colonização e mundo Atlântico DA GUINÉ AO MARANHÃO: AS RAÍZES CULTURAIS MANDINGAS DE COMUNIDADES NEGRAS RURAIS DO MARANHÃO Kalil Kaba1 Resumo Este trabalho busca compreender as condições históricas que viabilizaram as contribuições culturais de povos constituintes de territórios da Guiné no processo de formação sócio-histórica e cultural do Maranhão via o mundo atlântico. Nesse sentido, este estudo relativo “às raízes culturais mandingas de comunidades negras maranhenses” pode contribuir para uma melhor compreensão das relações entre a África e o Brasil quanto às contribuições de povos da Alta Guiné no que se refere ao processo de formação sócio-histórica e cultural do Maranhão, no contexto brasileiro. Assim, traço uma configuração das marcas culturais mandingas da Guiné quanto aos seus perfis societários envolvendo as suas concepções e práticas relativas à família, ao trabalho e ao sagrado. Identificando e nuançando as marcas culturais mandingas na construção da vida cotidiana de comunidades negras rurais do Maranhão. Palavras-Chave: Escravidão, Culturas Afro-brasileiras, Culturas Mandigas, Mundo Atlântico, Guiné, Maranhão. Com naturalidade de Guiné, país situado em África Ocidental, sou formado em história das Relações Internacionais da Universidade Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, diplomado em mestre, 2008. Tendo por tema “A história dos problemas de fronteiras entre a República da Guiné e República do Mali, na prefeitura de Mandiana de 1989 a 2008”. A idealização de minha pesquisa atual, teve início em Guiné-Conakry, onde ajuizei uma pesquisa sobre as questões de relação entre Guiné e Brasil, através de um estudo das raízes africanas do Brasil. Porém, havia uma dificuldade, a de aprendizado da língua portuguesa em meu país, pois ficaria muito difícil responder a minha preocupação de pesquisa sem conhecimento nesta língua, uma vez que o acesso à documentação completa (fontes, bibliografia em língua portuguesa) seria prejudicado. Assim, surgiu a necessidade obrigatória de viajar para o Brasil. Para isso, decidi contactar as autoridades administrativas e consulares da Embaixada do Brasil em Conakry-Guiné para ver a possibilidade 1 Mestrando do curso de Pós-graduação de História Social UFMA 2015 130 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos de conseguir um visto e bolsa de estudos. Mas, por motivo da falta de um acordo de cooperação firmado entre os dois países fui obrigado a tirar um visto de turista em um primeiro momento. Somente depois da minha chegada no Brasil e com a ajuda de Alírio Ramos (Embaixador brasileiro em GuinéConakry), Antônio Diegues (NUPAUB-USP), Hady Savadogo, Denise Barros e Mahfouz (Casa das África), Hermínia Hernandes Tavares, Alexandre Santos (IRI-USP), assim como a compreensão do Governo brasileiro via seu Serviço das Relações Exteriores (SERE) do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que consegui o visto de estudante para poder realizar minha pesquisa e continuação de meus estudos. Cheguei ao Brasil com o intuito de estudar a questão da cultura da diáspora afro-brasileira da Bahia e do Maranhão. Mas, o tempo de duração de Mestrado seria curto para estudar Bahia e Maranhão, mas após reflexão, assim como críticas e sugestões feitas principalmente por meu orientador Pr. Dr. Josenildo de Jesus Pereira e outros colaboradores do meu projeto, como Prof. Dr. João Reis (UFBA), Prof. Dr. Marcus Baccega (UFMA) e Prof. Dr. Samarone Marinho (UFMA), decidi focar minha pesquisa no Maranhão, resultando o trabalho: “Da Guiné ao Maranhão: As raízes mandingas das comunidades rurais maranhenses”. Deste modo, este projeto é então o fruto de uma longa reflexão e de muita vontade de continuar minha formação universitária enquanto minha visão de me tornar no futuro, especialista das Questões de Culturas africanas e religiões afro-brasileiras nas estratégias de cooperação, de integração e desenvolvimento na Guiné. Assim, eu gostaria através desta pesquisa de analisar as realidades culturais mandingas das comunidades quilombolas do Maranhão, como forma de contribuir com a dinâmica da diáspora afro-brasileira para desenvolver melhores laços de cooperação e de relações de amizade entre Guiné-Conakry e Brasil, buscando esclarecer as relações entre Alta-Guiné e Maranhão. Conforme Ives Person, a história se define como ´´uma obra necessária feita antes de tudo de perguntas dos homens de hoje a propósito do passado, o que nos permite compreender a sua luta e esclarecer o futuro que eles tentam de construir”2. A partir desta perspectiva, se compreende que a memória histórica de africanos e de brasileiros não pode ignorar a centralidade do moderno tráfico internacional de escravos no processo de formação sócio-histórica e cultural do “Mundo Atlântico”, e nele, do Brasil. Afinal, foi por meio deste que diversos e diferentes povos africanos tornados escravos foram trazidos para muitas partes das Américas como trabalhadores para sustentarem a agricultura mercantil de 2 Yves PERSON, Samori une révolution dyula, Tome 1, Dakar, IFAN, 1968, p.2039 131 Colonização e mundo Atlântico exportação, a exploração de minas de ouro e prata e, também, os trabalhos domésticos e outras atividades3. Dentro deste quadro histórico, nossa fala tem por problemática central as raízes culturais mandingas de moradores de comunidades negras maranhenses localizadas no território onde, entre os séculos XVIII e XIX, a agricultura mercantil de exportação e escravista baseada nas culturas do arroz, do algodão e da cana-de-açúcar foi a atividade econômica dominante 4. Este é, hoje, formado por municípios constituintes da “Baixada Maranhense” e por aqueles localizados em áreas articuladas pelas margens dos rios Itapecuru e Mearim. Conforme dados do Projeto Vida de Negro/PVN, o Maranhão possui em torno de 640 comunidades negras rurais5. É necessário, desde agora, salientar que a cultura mandinga é um conjunto de noções e práticas constitutivas da história de povos que habitam o território composto, hoje, pelos atuais países - Togo, Benim, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gana, Gâmbia, Senegal, Guiné Conacri, Guiné Bissau, Serra Leoa e Libéria. Trata-se de antigos grupos étnicos constituintes da população do antigo Império do Mali. Este, por estar situado entre o Saara e a floresta equatorial, o Oceano Atlântico e a desembocadura do Níger, era um ponto onde se entrecruzavam as caravanas de povos nômades do Saara e os da África equatorial. A sua cultura econômica estava baseada na agricultura (milho, sorgo, mandioca), na pecuária, no artesanato (vasos de cerâmica, tecelagem, fabrico de armas), na exploração de ouro, na exportação de escravos e de marfim para regiões da Bacia Mediterrâneo, e na importação de sal6. A sua organização administrativa era uma federação de províncias subordinadas à gestão de dois governos militares - ao Norte: Soura e ao Sul: Sankaran. De Kangaba, a capital transferiu-se para Niani, situada mais ao sul, longe da zona da turbulência de povos nômades do Saara, e próxima da floresta de onde vinha o ouro, a cola, óleo de palma e, também, onde os comerciantes Mandingas ou Mandeka iam vender o algodão, objetos em cobre7. José C. Moya, MIGRACIÓN AFRICANA Y FORMACIÓN SOCIAL EN LAS AMÉRICAS, 1500-2000. Revista de Indias, 2012, vol. LXXII, núm. 255, Págs. 321-348, ISSN: 0034-8341 doi:10.3989/revindias.2012.010, Barnard College, Columbia University. 4 PEREIRA, Josenildo de Jesus. NA FRONTEIRA DO CÁRCERE E DO PARAÍSO: um estudo sobre as práticas de resistência escrava no Maranhão oitocentista. Dissertação de Mestrado. PUC - São Paulo. 2001. 5 Cartilha do Projeto Vida de Negro/SMDDH. São Luís:MA. 1992. 6 KI-ZERBO, Joseph. Histoire de l'Afrique noire, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1974. 7 BATTUTA, Ibn et OMARI, Al. Visitèrent la ville de Niani. 132 3 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos A respeito da participação africana no tráfico internacional de escravos, o historiador guineano NIANE salientou que "a organização militar enquanto uma necessidade para a captura de escravos implicou a criação de reinos militares na costa da Guiné, a exemplo dos Reinos Soussou e Moreah, que existiram entre os séculos XVII e XVIII”8. Em Guiné, existiram três mercados de exportação a partir do Rio Pongo: Gorê (Farinyah), Fossikhouré (entre Sagna e Sambaya) e Santané (ao lado oeste de Thié)9. De acordo com Moya, cerca de 11 milhões de africanos chegaram ao Novo Mundo entre os anos de 1500 e 1866, sendo este tráfico considerado os primeiros atos de migração forçada transoceânica na história da humanidade10. A relevância desta atividade econômico-escravista pode ser percebida com a fundação, em 1486, da Casa dos Escravos, departamento régio integrado à Casa da Mina e Tratos da Guiné.11 Em relação à presença africana nas Américas, o africanista estadunidense John Thornton sublinha que: A atuação dos escravos africanos teve um duplo impacto. Por um lado, eles foram trazidos para trabalhar e servir, e, em razão do esforço pessoal e de seu grande número, contribuíram significativamente para a economia. Por outro lado, eles trouxeram uma herança cultural de linguagem, estética e filosófica que ajudou a formar a nova cultura do mundo atlântico. Esses elementos da dupla contribuição dos africanos estão inter-relacionados.12 No que se refere ao tráfico internacional de africanos escravizados para o Brasil Luiz Felipe de Alencastro já destacou que: Os negociantes combinarão as vantagens próprias de uma posição de oligopsônio (na compra do açúcar) com as vantagens inerentes a uma situação de oligopólio (na venda de escravos). Apoiados pelos tratistas e funcionários régios de Angola, Costa da Mina e Guiné, os mercadores da América portuguesa facilitam a venda de escravos africanos – por meio do crédito aos fazendeiros – a fim de controlar a NIANE, Djibril Tamsir, Tradition orale et archives de la traite négrière, Paris, Composition et impression dans les ateliers.151 pages. Paris: Ed. UNESCO. 2001 9 CAMARA, Mamadou Leflache . Traditions Orales, traitement occulte et domptage de l' esclave au Rio Pongo. Paris: Ed. UNESCO. 2001 10 José C. Moya, Migración Africana y Formación Focial en Las AméricaS, (1500-2000). Revista de Indias, 2012, vol. LXXII, núm. 255, Págs. 321-348, ISSN: 0034-8341 doi:10.3989/revindias.2012.010 11 Alencastro, Luiz Felipe de. O Trato dos Viventes, formação do Brasil no Atlântico Sul. 2000, p. 31. 12 TORNTON, John. África e os africanos na formação do Mundo Atlântico (14001800). Rio de Janeiro: Ed. Campus/Elsevier. 2004. Pp: 189/190. 133 8 Colonização e mundo Atlântico comercialização dos produtos agrícolas. A falta de numerário nas conquistas e o adensamento das trocas atlânticas dão forma direta ao crédito. No Brasil, as caixas de açúcar se permutam por africanos. Em Luanda, e em outros portos de trato, as mercadorias de escambo são entregues aos intermediários com a condição de ser trocadas por escravos.13 No contexto colonial brasileiro, o antigo Estado do Grão-Pará e Maranhão foi um território urdido sob a égide da força de trabalho de inúmeros africanos escravizados usados como mão de obra básica nas lavouras de arroz, de algodão e depois de cana-de-açúcar.14 E, assim, um dos pilares da vida material, do poder e o prestígio daqueles que os compravam.15 A respeito do tráfico de escravos para o Maranhão, Barroso Jr, destacou que "a existência de uma relação entre território Maranhão e Alta Guiné da África Ocidental é evidente hoje. Que ligações foram estabelecidas por meio do comércio de escravos durante os anos 1770 e 1780, raramente falava sobre o assunto na historiografia do comércio transatlântico de escravos16”. Conforme este autor, Em 1775, a entrada de africanos foi intensa e pode ser visto através dos navios nele encostavam-se ao porto da capital do estado. Nas histórias registradas nos livros de visitas de São Luís, capital da província do Estado, as viagens do século XVIII, enquanto que dez eram de qualquer jurisdição do Estado do Brasil, enquanto dezoito eram da Alta Guiné.17 A esse respeito, Meireles sublinha que, Houve, assim, um fluxo intenso de embarcações na rota do Maranhão não só trazendo escravos para a região, mas levando, na torna-viagem, produtos rentáveis para o reino, tais como arroz, algodão, atanados, gengibre, couros, tabaco, café, anil, cera, madeira de lei e etc. E a rota do tráfico de escravos estabeleceu a ligação dessa capitania com o continente africano através dos embarcadouros de Bissau, de Cachéu, da Costa da Mina, de Malagueta, de Angola, de Benguela e de Moçambique, ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Op. Cit. 2000, p. 48 PEREIRA, Josenildo de J. Na fronteira do Cárcere e do Paraíso: um estudo sobre as práticas de resistência escrava no Maranhão oitocentista. Dissertação de Mestrado. PUC-São Paulo. 2001. 15 MOTA, Antonia da Silva. Família e fortuna no Maranhão colonial . São Luís: Ed.UFMA. 2006. ________. As Famílias Principais: redes de poder no Maranhão colonial. São Luís: Ed. UFMA, 2012. 16 BARROSO JÚNIOR, Reinaldo Dos Santos. Nas rotas do atlântico equatorial: tráfico de escravos rizicultores da Alta-Guiné para o Maranhão (1770-1800). Mestrado em História. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - UFBA , Salvador , Bahia, 2009. P 6. 17 BARROSO Junior. Op. Cit. 2009. P. 6 134 13 14 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos evidenciando a representatividade da África Ocidental, da África Central e também da África Oriental no comércio de almas para a região maranhense. Entre os anos de 1779 e 1799, ou seja, em vinte anos, 131 viagens foram feitas à África com a finalidade de buscar escravos e introduzi-los na terra do Maranhão para trabalhos variados no campo e na cidade.18 Desse modo, portanto, a diáspora de diversos povos africanos para as Américas, a despeito da violência que a permeou, contribuiu para a configuração do Novo Mundo, com sujeitos sociais egressos desse denso e complexo processo, articulado num plano mais abrangente de encontros culturais entre povos europeus, africanos e nativos das “Américas”. 19 A este respeito, Rodrigues sublinhou: Para os africanos, por certo, tratou-se de uma experiência marcante, cujas consequências prolongaram-se pelo resto de suas vidas e das de seus descendentes. Ao mesmo tempo em que o tráfico provocou um desligamento dessas pessoas em relação à sua origem (cultural, social, territorial), motivou também a reinvenção de identidades e formas de sobrevivência e solidariedade, o que não se faz sem sofrimento. Mas não eram apenas os negros escravizados os únicos envolvidos no tráfico – embora tenham sido eles os que mais sentiram seus efeitos em todos os sentidos...20 Alguns pesquisadores têm chamado o Maranhão de ''Terra Mandinga" numa alusão à influência cultural de grupos étnicos da Alta Guiné em suas práticas culturais e artísticas, tais como o Bumba-meu-boi de matracas e a capoeira21. Nesse sentido, este estudo relativo “às raízes culturais mandingas de comunidades negras maranhenses” pode contribuir para uma melhor compreensão das relações entre a África e o Brasil quanto às contribuições de povos da Alta Guiné no que se refere ao processo de formação sócio-histórica e cultural do Maranhão, no contexto brasileiro. Por fim, vale sublinhar que reconhecimento do caráter hibrido da cultura brasileira e, nela, a maranhense, exige que se investigue a respeito de sua dimensão africana para que se possa, MEIRELES. Marinelma Costa. As conexões do Maranhão com a África no tráfico atlântico de escravos na segunda metade do século XVIII. Revista Outros Tempos. Vol. 06. Nº 08. São Luís:MA Dez. 2009. 19 PEREIRA, Josenildo de J. Africanidades nos subterrâneos da formação do Novo Mundo. In: Entre dois mundos: escravidão e a diáspora africana. São Luís: EDUFMA. 2013. PP:53- 88 20 RODRIGUES, Jaime. O infame comércio. São Paulo: Companhia das Letras. 2005. p. 30 21 ASSUNÇÃO, Mathias Rohrig. Maranhão: terra mandinga. CMF–Boletim do Folclore N 20. Agosto de 2001. 135 18 Colonização e mundo Atlântico enfim, contribuir e criar as condições para o atendimento das determinações estabelecidas na Lei 10 639/03, agora incluídas no texto da Lei 11 645/08, a qual, entre outras determinações, criou a obrigatoriedade do estudo de História da África e da cultura afro-brasileira na Educação Básica. Em vista deste propósito estabelecido na agenda do Estado brasileiro, se compreende que este trabalho pode contribuir bastante para atingir-se tal finalidade. A respeito do referencial e do instrumental teórico-metodológico para a escrita de uma História afro-brasileira, importa lembrar o que nos ensina Amadou Ampatê Bâ, a respeito de nuances identitários africanos: Quando falamos de tradição em relação à história africana, referimo-nos à tradição oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança de conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. Essa herança ainda não se perdeu e reside na memória da última geração de grandes depositários, de quem se pode dizer são a memória viva da África. 22 Neste trabalho, opera-se com a proposição de GEERTZ, para o qual cultura significa uma “teia de significados” orientadores das práticas sociais23. Nesse sentido, vale sublinhar que nesse processo chocaram-se e intercambiaram-se identidades urdidas nas especificidades sócio-históricas desses povos em contatos. Por outro lado, trazer a lume as referências mandingas na composição cultural brasileira, a partir da experiência do Maranhão, pressupõe trabalhar com o conceito identidade, porque permite fazer a distinção entre os elementos europeus, africanos e nativos nesse processo de configuração do tipo brasileiro. Para tanto, trabalha-se com a perspectiva proposta por Hall, segundo o qual as identidades são historicamente construídas e, portanto, fluidas, relacionais e políticas.24 Considerando a complexidade desse processo, o autor sublinha, É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no interior do AMPATÊ BÁ. Amadou. A tradição viva. In: História geral da África, I: Metodologia e préhistória da África / editado por Joseph Ki-Zerbo. 2.ed. rev. Brasília: UNESCO, 2010. Pp. 992. P.167. 23 GEERTZ, Gliford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC. 2008. 24 HALL. Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade, DP&A Editora, 1ª edição em 1992, Rio de Janeiro, 11ª edição em 2006. 136 22 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos jogo de modalidades de poder e são assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão de uma unidade idêntica, naturalmente constituída.25 Este trabalho também pretende se valer da metodologia hoje denominada História Oral. Para Freitas, “(...) é um método de pesquisa que utiliza a técnica de entrevista e outros procedimentos articulados entre si, no registro de narrativas da experiência humana”.26 A este respeito Camargo sublinha que, “o mínimo que podemos dizer é que a história oral é uma fonte, um documento, uma entrevista gravada que podemos usar da mesma maneira que usamos uma notícia do jornal, ou uma referência em um arquivo, em uma carta”27. Dada a diversidade de recursos salienta-se que nossa investigação utilizará os relatos orais como recursos para a obtenção de dados necessários para a pesquisa, porque o mesmo oferece mais condições para obtê-los do que entrevistas e ou questionários com perguntas fechadas. Para tanto, se considera a “observação participante” como um importante procedimento porque, assim, se pode acompanhar e aprender a respeito de inúmeros aspectos da vida cotidiana dos sujeitos objetos da pesquisa. Neste sentido, nosso trabalho pretende ser um esforço analítico e rigoroso para a compreensão da densidade – ainda muitas vezes silenciada – da contribuição mandinga para a forja híbrida da cultura maranhense. Com isto, pode-se ensaiar um primeiro passo de uma tarefa urgente: devolver voz àqueles que foram calados, silenciados e reduzidos às camadas subalternas pela memória oficial eurocêntrica e preconceituosa construída pelo Estado e pela sociedade brasileiros. HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: IDENTIDADE E DIFERENÇA: perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Editoras Vozes, 2005, P91. 26 FREITAS, Sônia Maria de. História oral: possibilidades e procedimentos. 2. E.D. São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2006. P. 18 27 CAMARGO, Aspásia. História oral e política. In: FERREIRA, M. de M. História oral e multidisciplinaridade. Rio de Janeiro: CPDOC. Diadorim, FINEP. 1994. P. 78. 137 25 Colonização e mundo Atlântico MISSIONAÇÃO E NEGÓCIOS: A COMPANHIA DE JESUS NO GRÃO-PARÁ, NO SÉCULO XVII Luana Melo Ribeiro1 Resumo Plenamente imbuídos da missão catequética, os jesuítas atuaram como verdadeiros “soldados” de Cristo no trabalho de conversão dos índios, no qual os colégios foram um importante instrumento, já que os jesuítas sempre estiveram integrados à educação. No Brasil montaram seus seminários e colégios, entretanto, foi nos aldeamentos que sua presença mostrou-se bastante significativa e para isso surge a necessidade de capitação de recursos para a manutenção deles. Dessa maneira, para garantir o sucesso da missão, tornou-se necessário o autofinanciamento das missões no Grão-Pará. Dentro desse contexto é que o autofinanciamento para a prática da catequese será abordado, levando em consideração a razão da existência dos ministérios: “Ajudar as almas” na sua relação com Deus. Palavra-chave: Missionação, Negócios Jesuíticos, Autofinanciamento. A Companhia de Jesus, que foi fundada em 1534 por Inácio de Loyola, surge com um propósito religioso muito claro, que era de garantir a propagação da fé e para isso lançou mão de diversas estratégias para alcançar seus propósitos. A Ordem Jesuítica, desde seu nascimento, possui um grande lema que é “Para maior glória de Deus” e com base nele é possível perceber o modo de proceder da Companhia ao longo de sua atuação no Grão-Pará. Ou seja, suas práticas e suas ações, com o passar do tempo, na maneira de atuar. Convictos de sua missão catequética, os jesuítas lançaram-se ao trabalho de conversão dos índios, nesse contexto, os aldeamento foram uma dos principais meios para essa missão, mas os inacianos perceberam a necessidade do autofinanciamento - capitação de recursos - para a manutenção da obra. Esse trabalho, ainda inicial, tem a pretensão de abordar a relação que existe entre o missionação e os negócios, ou seja, entender que os meios que a Companhia de Jesus utilizou para garantir o projeto salvacionista, tinha como principal elemento a catequização dos índios, que era a força motriz da Ordem. Aluna de mestrado do programa de Pós-graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Orientada pelo Prof. Dr. José Alves de Souza Junior. E-mail: [email protected] 138 1 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Finalmente, em 1635, a cúria generalícia da Companhia de Jesus deu a autorização de viajar para Portugal [do padre Luís Figueira] em busca de recursos e colaboradores junto às autoridades civis e eclesiásticas do reino. (ARENZ, Karl & SILVA, Diogo. 2012, p. 15-16). A Companhia de Jesus, além do interesse em cristianizar os índios, via a necessidade de fundar hospitais, hospícios, oficinas, além de cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Mas, para tudo isso, eram necessários recursos financeiros. Estavam envolvidos, portanto, em diversas atividades, como no engenho de Ibirajuba que herdaram da Dona Catarina, onde possuíam 300 escravos pretos, cafuzos, mulatos e índios da terra, além de aldeados, em que estes fabricavam a cada ano 1000@ de açúcar que importavam em três contos de reis. Lá se achava também uma grande fábrica da canoas, além disso, se produzia muito aguardente, cujo rendimento seria de duas mil canadas por ano.2 Todas essas atividades fizeram crescer o patrimônio, que é importante salientar, pertencente à Ordem e à subsistência das suas missões. Os jesuítas se baseavam na missão dada por Jesus aos doze apóstolos, no capítulo nono e décimo do Evangelho de Lucas, para estabelecer seu padrão fundamental. E, nesse aspecto, viram quatro pontos-chaves para seu entendimento. Sendo assim compreendem que como os apóstolos, os jesuítas foram enviados para procurar pessoas necessitadas, para pregar o evangelho, ou seja, envolver-se nos ministérios da propagação da Palavra de Deus, de levar a cura aos doentes, o que incluía a cura dos pecados pela confissão, além de levar alívio para as doenças físicas, e, por fim, deveriam fazer todas essas coisas sem almejar recompensas financeiras.3 Contudo propõe-se aqui uma nova forma de análise para o acúmulo de bens dos Jesuítas, que fuja de trabalhos historiográficos carregados de influências antijesuíticas4, para investigar as estratégias catequéticas fazendo relação com o Requerimento do reitor do Colégio Jesuíta de Santo Alexandre. 1732. AHU (Avulso do Pará), cx. 13, doc. 1223. 3 O’MALLEY, John W. Os primeiros jesuítas. São Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, Bauru, SP: EDUCS, 2004, p. 136. 4 Ver os seguintes autores: AZEVEDO, João Lúcio d’. Os Jesuítas no Grão Pará: Suas missões e a colonização. Belém: SECULT, 1999. LISBOA. João Francisco. “Apontamentos, notícias e observação para servirem à história do Maranhão”. ____In. Obras de João Francisco de Lisboa. São Luís: Typ. de B. de Mattos, 1865, vol. II. CANO, Melchior. The Catholic Encyclopedia. Vol. 3. New York: Robert Appleton Company, 1908. 139 2 Colonização e mundo Atlântico acúmulo de bens, para alcançar a sua grande proposta: “a defesa e a propagação da fé”. Para entender tal relação é também necessário compreender que a Companhia Jesus na sua formação, com Inácio de Loyola e os seus primeiros seguidores, possuíam na sua essência, os ministérios. Ou seja, a necessidade da criação de hospitais, hospícios, oficinas, cuidar dos pobres, as viúvas, os órfãos e a pregação do evangelho, ou seja, a propagação da Palavra de Deus. Desde o princípio da formação da Ordem, os jesuítas possuíam a sua maneira de proceder, e eles logo perceberam que manter um ministério, sem almejar recompensas, exigiria a obtenção de fontes de recursos que sustentassem seu trabalho, ou seja, o autofinanciamento era a maneira de garantir a eficácia das instituições que estavam sendo fundadas. Perceberam, também, que atados financeiramente aos benfeitores e dependentes da boa vontade, dos prelados e dos magnatas leigos seria difícil para os padres alcançarem o sucesso em suas missionações, para isso tornou-se necessária a busca pela independência dos ministérios.5 Por isso, os padres lançaram-se aos negócios onde pudessem arrecadar meios para se garantirem economicamente, como por exemplo, conseguir sesmarias como no caso relatado na carta enviada pelo governador e capitãogeneral do Estado do Maranhão, Bernardo Pereira de Berredo, para o rei D. João V, que faz referência ao requerimento do padre jesuíta José Vidigal, solicitando a concessão de duas léguas de terra para usufruto do Colégio da capitania do Pará.6 Como base nessa carta e em outras enviadas é possível perceber que os jesuítas foram acumulando patrimônio material, como fazendas, engenhos de MORAES. Francisco Teixeira. Relação histórica e política dos tumultos que sucederam na cidade de São Luís do Maranhão – 1692. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Tomo 40 (1877). RAIOL. Domingos Antônio - Annaes da Biblioteca e Archivo Público do Pará. Tomo II, 1902, Disponível em <<http://ufdc.ufl.edu//AA00013075/00002>>. Acesso em 01 de jan de 2014. SCHLTY, Mary. Objetivos da Ordem Jesuíta. Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Disponível em <http://www.cacp.org.br/objetivos-da-ordem-jesuita/>. Acesso em 20 de jan de 2014. SUTTO. Claude (Org). (ed.), Catéchisme des Jésuites, Québec : Université de Sherbrooke, 1982; in-8, [Publications du Centre d'études de la Renaissance de l'Université de Sherbrooke.]. 5 Idem, 2004, p.43 6 Solicitação de Carta de data de sesmaria do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Bernardo Pereira de Berredo, para o rei D. João V, referente ao pedido do padre jesuíta José Vidigal. 05/07/1719, AHU, avulsos do Pará, cx. 06, doc. 538. 140 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos açúcar, plantações, criação de gado. Dessas atividades econômicas saiam os meios para a manutenção dos ministérios, além é claro das doações de devotos e das côngruas. No Grão-Pará, bem como no restante do Brasil e em outras colônias onde os inacianos se instalaram, a manutenção desses bens era feita pelos nativos já catequisados e também pelos escravos africanos, para assim garantir o sustento de toda a missão. Em o engenho de Ibirajuba que herdaram da Dona Catarina julga-se ter 3000 escravos pretos, cafusos, mulatos e índios da terra de vários aldeamentos, em que este se fabrica cada ano mil @ de açúcar que importam em três contos de reis [...] Acha-se também nesta fazenda uma grande fábrica de canoas, da qual vendeu uma a fazenda real por oito pessoas do gentil da terra que vendidas a 100$000 cada pessoa importam em 800$000 [...] Em roda do ano se fabricam nesta mesma fazenda três canoas além da sobredita que as vendem por preço de 400$000 cada uma.7 A carta expressa a grande quantidade de mão de obra a disposição dos jesuítas, que nesse caso girava em torno de 3000 escravos apenas em uma propriedade, e, que garantia a produção no Engenho, deixado por doação, e o sustento deste e da missão com uma produção aparentemente significativa. A acumulação de bens dos jesuítas trouxe desavenças, como no caso relatado na carta, pelos oficiais da Câmara da cidade de Belém, para o rei D. João V, sobre as queixas dos moradores contra os padres da Companhia de Jesus e da Ordem do Carmo, por usurparem as sesmarias já demarcadas e confirmadas.8 Problemas como estes foram ajudando na formação dos estereótipos criados para prejudicar os jesuítas, classificando-os de gananciosos. Exemplo disso, foi a carta do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Alexandre de Sousa Freire, para o rei D. João V, falando sobre as dúvidas existentes, relativamente aos padres jesuítas, por usarem os índios nas plantações de cana-de-açúcar e de tabaco.9 Outro conflito era a penetração no sertão amazônico, das missões, que num momento inicial da ocupação foi providencial para a Coroa, pois a catequese começava com o descimento dos índios das suas aldeias naturais para as REQUERIMENTO do reitor e religioso do Colégio jesuíta de Santo Alexandre, Anexo: bilhete e lista. 1732, AHU, avulsos do Pará, cx. 13, doc. 1233. 8 CARTA dos oficiais da Câmara da cidade de Belém do Pará para o rei, D. João V, datada de 24 de setembro de 1732, Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_013,Cx.14, D.1316. 9 CARTA do Governador e capitão do Estado do Maranhão, Alexandre de Sousa Freire, para o rei D. João V, datada de 25 de novembro, 1728, Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_013,Cx.11, D.996. 141 7 Colonização e mundo Atlântico missões, onde os missionários iniciavam a mudança dos costumes indígenas, o que exigia a destruição do seu modo de vida tradicional e a perda do controle sobre suas próprias vidas, para que interiorizassem os valores e costumes cristãos ocidentais, no que dizia respeito a comportamentos sociais e sexuais, à disciplina de tempo e de trabalho.10 Nessa interiorização, promovida pela ação catequética no norte do Brasil, os jesuítas avançaram em direção ao sertão, portanto, as missões foram, e Luís Felipe de Alencastro confirma isto, uma das formas de ocupação territorial que a Coroa usou, pois as missões tiveram um papel muito importante nesse processo11 nas terras coloniais, já que não havia uma presença militar significativa que pudesse proteger as novas terras das nações invasoras. A interiorização das aldeias inicialmente era de interesse da Coroa portuguesa que estava centrada em defender o território contra a ameaça estrangeira,12 bem como era necessária boa comunicação entre indígenas e portugueses, que ocorria através da catequese, como afirma o historiador Geraldo Mártires Coelho, já que, ao longo do século XVII, não só na Amazônia, mas em outros pontos do Brasil, “trazer índios para uma dada forma de convívio, dominando suas linhas linguísticas, foi essencial na luta contra holandeses e franceses presentes no litoral brasileiro”,13 mesmo este processo não tendo garantido a sobrevivência do projeto colonial como instrumento de domínio cultural,14 como o autor segue afirmando. Mas, dentro desse contexto é importante salientar como essa interiorização era importante para as missões jesuíticas, para manter os autóctones afastados das interferências externas na catequização. Entre as ordens religiosas que atuaram na atividade missionária no Grão-Pará, bem como no Brasil colonial como um todo, a Companhia de Jesus foi a melhor aquinhoada, ao longo do tempo, em termos de privilégios dados pelos reis de Portugal. Isso ocorreu pelo reconhecimento que os jesuítas receberam pela sua eficiência no trato com as populações nativas das regiões conquistadas e do seu compromisso com a SOUZA JUNIOR, José Alves. Tramas do Cotidiano. Religião, Política, Guerra e Negócios no Grão-Pará do Setecentos. Um estudo sobre a Companhia de Jesus e a política pombalina. Belém: Edufpa, 2010. 11 ALENCASTRO, Luís Felipe de. O trato dos viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.24. 12 SOUZA JUNIOR, José Alves. O projeto pombalino para a Amazônia e a “Doutrina do índiocidadão” ___in. Pontos de História da Amazônia, vol. I, 3ª ed. Belém-Paka-Tatu, 2001, p. 147. 13 COELHO, Geraldo Mártires. Culturas em combates na Amazônia seiscentista. ___In: Nos passos de Clio: Peregrinando pela Amazônia colonial. 1 Ed., Belém-Pa: ed. Estudos Amazônicos, 2012, p. 36 14 Idem, 2012, p. 37. 142 10 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos difusão da religião cristã, como também, é claro, da grande influência que exerciam sobre eles. No entanto, passada a fase inicial do processo de controle territorial, os missionários passaram a não mais ser essenciais nesse contexto, pois seus interesses não andaram mais em conjunto com os novos interesses da Coroa, que era a capitalização de riquezas. No Grão-Pará os privilégios dados à Companhia de Jesus, como os alfandegários, passaram a incomodavam profundamente os arrematadores dos contratos da alfândega, como também ao rendeiro do Ver-o-Peso, que se viam privados de uma gorda fatia do lucro que lhes era propiciado por tais arrematações de serviços públicos. 15 Isso ocorria porque no Grão-Pará, a Companhia de Jesus estava envolvida em inúmeros negócios, o que dava margem para as acusações feitas, frequentemente contra eles, que eram vistos como verdadeiras máquinas de mercadejar, cujo fato de não pagarem impostos acabava por lesar os cofres públicos. Os autos de sequestro e apreensão dos bens jesuíticos apontam para o patrimônio material acumulado pela Companhia de Jesus no Grão-Pará, constituído por engenhos, fazendas de produção agrícola, currais de gado, dinheiro. Os rendimentos dos mesmos, de julho de 1760 a agosto de 1764, e de agosto de 1769 a agosto de 1770, somavam 330:381$360 réis, sendo exemplo disso o Engenho de São Bonifácio de Maracú, que, no ano de 1762, teve um rendimento total de 1:001$990 réis, e, no ano de 1769, de 2:227$200 réis, referentes à produção de açúcar branco, açúcar trigueiro, cacau, aguardente, mel, pacovas, milho.16 Esse sucesso jesuítico nos negócios e na acumulação de bens materiais fez com que frequentemente entrassem em conflito com os colonos e autoridades coloniais. Mas, esses conflitos não haviam chegado a um nível de desgaste tão grande quanto o ocorrido no governo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, cuja troca de correspondências com Pombal, foi de grande importância no processo que culminou na expulsão da Ordem Jesuítica.17 João Lúcio d’Azevedo, afirma que foi “permitido aos religiosos receberem do reino mercadorias e embarcarem gêneros do país, mesmo durante o tempo SOUZA JUNIOR. 2010, p. 205. idem, p. 207. 17 Sobre esse assunto, Sousa Junior considera que a expulsão dos jesuítas do Estado do Grão-Pará e Maranhão foi sendo construída durante a estada de Francisco Xavier de Mendonça Furtado à frente do governo do Estado, ao passo que ele foi se convencendo de que os missionários da Companhia de Jesus sabotavam a expedição demarcatória das fronteiras norte, que foi estabelecida pelo Tratado de Madri, pois estariam mancomunados com os jesuítas espanhóis. (SOUZA JUNIOR, José Alves. 2010, p. 78.) 143 15 16 Colonização e mundo Atlântico dos monopólios.18 Seu objetivo, por ser antijesuíta, é de destacar a ação dos inacianos nos negócios e colocá-los como gananciosos e que cuidavam mais das questões temporais ao invés de se ocuparem com as questões espirituais, como tantas vezes os jesuítas foram retratados e; tenta deixar claro o acúmulo dos bens pelos jesuítas. O governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado declarou que os religiosos eram senhores de bens que lhes davam rendimentos superiores às despesas que possuíam, portanto não eram merecedores de receber favores.19 Já Domingos Antônio Raiol afirma que os religiosos possuíam avultadas rendas, entretanto, consideravam-se pobres, onerados de dividas e sem meios para satisfazer seus compromissos. No entanto, não se pode esquecer que Raiol é um historiador do século XIX, período em que o antijesuitismo ainda estava em voga, devido à Questão Religiosa, na qual os liberais maçons denunciavam o clero romanizador de jesuitismo. Raiol segue dizendo que nos colégios havia grandes armazéns em que os padres recolhiam as drogas dos sertões e que, quando chegavam os navios ao porto de Belém, os padres abriam feiras, onde vendiam parte dos gêneros. 20 No entanto, em seguida afirma que os padres não gastavam o que ganhavam com eles mesmos: Os vestidos, sendo os mesmos em toda a parte, tinham na capitania a grande diferença de que muitas das roupetas eram de algodão, tintas na terra, e as capas não passavam de seis, communs aos religiosos que primeiro sahissem para fóra. Os chapéus duravam a vida dos religiosos, a quem se davam. Os sapatos de duas solas eram feitos em casa pelos seus officiaes, de cabedal fabricados nas suas fazendas. A refeição era mais ordinária do que em qualquer outra parte, reduzindo-se a todo mantimento gasto que os índios preparavam, arroz, farinha e feijão das suas fazendas, e manteiga de tartaruga que também lhes faziam os índios. Sendo este o principal gasto, restavam os gêneros que os padres mandavam vir da Europa para a sua subsistência, como os vinhos, os vinagres, azeites e farinhas. 21 Como isso, Raiol tenta mostrar o acúmulo dos bens pelos jesuítas e finaliza ressaltando que as despesas da Igreja não poderiam ser grandes, e que inclusive a maior parte das festas se faziam sem custos, pois era paga por particulares, ficando poucas despesas por conta do colégio. Mesmo ressaltando que os jesuítas viviam com pouco, o autor deixa claro que possuíam seus luxos na busca de reafirmar as críticas que se propagavam contra a Ordem. Portanto, é D’AZEVEDO. 1999, p. 142. RAIOL. Domingos Antônio - Annaes da Biblioteca e Archivo Público do Pará. Tomo II, 1902, Disponível em <<http://ufdc.ufl.edu//AA00013075/00002>>, p. 138. 20 idem. p. 138-139. 21 RAIOL. 1902, p. 139-140. 144 18 19 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos preciso ir além do trecho para perceber o olhar antijesuítico de Raiol em sua campanha sutil contra os inacianos. A comparação dos rendimentos do comércio das drogas do sertão feito pelos jesuítas nos trinta anos, entre 1726 e 1756, com as rendas reais da capitania do Pará referentes aos anos de 1750 a 1754, permite concluir que esses rendimentos eram bastante razoáveis do ponto de vista econômico, mas não absurdamente altos.22 Além disso, a relação de despesas e receita do ano de 1682 dá uma ideia dos gastos da Companhia com o Colégio do Pará, que havia sido 745$557 réis de despesas, mas, que, no entanto, havia arrecado apenas a renda de 462$083 réis, que somado aos créditos que ficaram no colégio no ano anterior totalizava 938$005 réis, dos quais restaria de crédito, para a Ordem, apenas o valor de 192$448 réis.23 Sendo assim, pode-se inferir que as denúncias acerca das práticas econômicas e do acúmulo de bens estavam cheias do sentimento antijesuítico que vinha se formando e dos interesses na capitação de recursos financeiros para o Estado e o amadurecimento da ideia de secularizar “as propriedades das ordens, redistribuindo-as aos moradores”.24 O sucesso jesuítico nos negócios e na acumulação de bens materiais provém do fato dos jesuítas, além de adequarem o trabalho de catequese às condições encontradas na Amazônia, logo perceberam que os recursos do Padroado eram muito irregulares e que precisavam obter recursos próprios para autofinanciar seu trabalho religioso. Para realizar a catequese e alcançar seus objetivos, a Companhia de Jesus enfrentou inúmeras dificuldades “adaptando-se sempre às circunstâncias e em nome da maior glória de Deus”.25 Ou seja, os inacianos compreenderam a necessidade dessa adaptação para romper os desafios que o lugar impunha. Era preciso aceitar a realidade do jeito que ela era e dessa forma conceitos, da própria Ordem, deveriam ser alargados para dar conta da realidade da aldeia. Para isso foram feitas adaptações, como no caso da grande contradição entre os negócios jesuíticos, com a captação de recursos, e o voto de “pobreza” defendido pelos inacianos de forma pragmática. Sendo assim foram ocorrendo claramente uma mudança de perspectiva na Ordem, ou seja, compreendia-se, como Rafael Ruiz afirma, que “a falta de bens materiais poderia influenciar e SOUZA JUNIOR. 2010, p. 215. Idem, 2010, p. 222-223. 24 Idem, 2010, p. 103. 25 MONTEIRO, Miguel Corrêa. A Companhia de Jesus Face ao Espírito Moderno. Ed. Instituto Politécnico de Viseu, Relatório da Série N.º: 25, Jan-2002, disponível em <<http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/638>>. Acesso em: 01 jan. 2014. p. 01. 145 22 23 Colonização e mundo Atlântico estragar a própria vida espiritual”.26 Dessa maneira, foi se formando a compreensão da importância de se garantir recursos para a missão “e não se duvidava mais em adotar posições que denotavam claramente aspectos comerciais ou econômicos”.27 Portanto, o novo modelo de sustento das missões não apresentava mais dúvidas para os padres, inclusive religiosos de outras ordens também passaram a possuir seus meios de subsistência. Assim como no caso do requerimento do comendador e de religiosos mercedários, solicitando confirmação de carta de data de sesmaria, que estava localizada na ilha grande de Joanes,28 para o sustento da Ordem. Entretanto, o montante dos bens que os jesuítas acumularam era bem maior que os das outras ordens religiosas. Ruiz compreende que a missão no Brasil foi um projeto demorado e precisou de iniciativa, por parte dos inacianos, para superar as contradições. Mudou-se a Ordem internamente, no que dizia respeito ao que era compreendido como “‘pobreza’, ‘questão temporal’ e ‘questão espiritual’”.29 Dessa maneira, os jesuítas lançaram mão da escolástica tomista, por meio da qual eles buscaram de forma pragmática explicar que os bens não lhes pertenciam na forma individual e sim à Ordem. Sendo assim, esse trabalho levanta a necessidade de se tratar da ação dos missionários jesuítas fazendo relação dos os negócios que a Companhia de Jesus estabeleceu no Grão-Pará, com a renovação das teorias jesuíticas sem que os inacianos perdessem a sua essência, mas garantissem o sucesso do Projeto Jesuítico. RUIZ, Rafael, A experiência brasileira nas missões jesuíticas. Disponível em <<http://nucleodeestudosibericos.wordpress.com/2009/08/16/a-experienciabrasileira-nas-missoes-jesuiticas/>>. Acesso em: 01 jan. 2014. 27 Idem. 28 Requerimento do Comendador e de Religiosos da Ordem das Mercês, 23/3/1737, Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_013,Cx.20,D. 1831. 29 RUIZ, Rafael. A experiência brasileira nas missões jesuíticas. Disponível em <<http://nucleodeestudosibericos.wordpress.com/2009/08/16/a-experienciabrasileira-nas-missoes-jesuiticas/>> 146 26 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos O SISTEMA (DE EXPLORAÇÃO) COLONIAL DE SALAZAR: POLÍTICAS CULTURAIS PARA UMA (RE)INVENÇÃO DE TRADIÇÕES EM MOÇAMBIQUE (C. 1920-1940)1 Luciano Borges Barros2 Resumo Este trabalho explora o universo da timbila em Moçambique colonial. A timbila consiste numa expressão musical - atualmente Patrimônio da Humanidade praticada sobretudo pelo povo chopi, do sul de Moçambique. Reconhece-se que o processo de colonização não conseguiu apagar todas as expressões cognoscitivas, artísticas e políticas dos povos da região, que através da tradição oral e também escrita re-inventaram suas tradições, a exemplo da timbila. Sobre a influência colonial na produção e reprodução da timbila, destaca-se que em 1934, músicos de diferentes localidades foram selecionados para participar da I Exposição Colonial do Porto, em Portugal; em 1939, todos os músicos da terra dos chopi foram convocados para a recepção do então presidente de Portugal, General Carmona, em visita à colônia de Moçambique; e, especialmente o incentivo, patrocínio e publicação de uma obra extensa sobre a timbila a partir de 1940, elaborada pelo etnomusicólogo Hugh Tracey. É importante salientar que estas consistiam certamente em ocasiões significativas para se recriar a timbila, uma reinvenção no encontro de diferença. É bem provável que aqui comece a haver uma maior homogeneização cultural. No seio dessas discussões, o que se tem chamado por “invenção de tradições” esteve evidente num contexto de um suposto modelo de “assimilação do indígena moçambicano” numa realidade colonial relativamente recente. O presente texto, destinado ao II Simpósio de História em Estudos Amazônicos, consiste num recorte de “BARROS, Luciano Borges. Entre as “Gentes Afortunadas” de Hugh Tracey: música, dança e (re)produção cultural no universo chopi em Moçambique (c. 1920-50). 2014. 167fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Humanas/Sociologia). Universidade Federal do Maranhão, Bacabal, 2014”. 2 Licenciado em Ciências Humanas/Sociologia, Mestrando em História (UFMA). Membro do NEÁFRICA (Núcleo de Estudos sobre África e o Sul-Global), membro do GPMINA (Grupo de Pesquisa Religião e Cultura Popular). Orientador: Prof. Dr. Antonio Evaldo Almeida Barros. 147 1 Colonização e mundo Atlântico “O que é Moçambique?” Recentemente, ao participar de um evento acadêmico na cidade de São Luís, Maranhão, o I Simpósio em História Contemporânea - O Colapso das Ditaduras: Rupturas e Continuidades, teve-se a oportunidade de acompanhar a palestra do professor moçambicano Antonio Luis Covane, reitor da Universidade de Natingwea, de Moçambique. Covane discorrera sobre o nacionalismo econômico de Salazar no sul de Moçambique. O professor moçambicano iniciara sua apresentação contando uma história vivida, que lhe marcara: narrou que em suas viagens para o exterior conhecera um homem que fazia doutorado. Depois de conversar um pouco com ele, o doutorando lhe perguntou: “Mas o que é Moçambique?” Luís Covane relatou que aquilo lhe inquietou muito, pois ele, como moçambicano, tinha a impressão de que seu país e o básico da sua história eram conhecidos no exterior. Isso justificaria o enredo de sua apresentação: “a história de Moçambique”. Evidentemente, uma tentativa de contribuir para se sanar o desconhecimento, muitas vezes total, do passado dessa parte da África Austral. Como apontam alguns estudos, argumenta-se também que “a História da África é um tema obrigatório e de grande fecundidade reflexiva, mesmo sem suas vinculações com a história do Brasil”. Na introdução da coleção História Geral da África, elaborada a partir dos anos 1970 sob o patrocínio da UNESCO, afirma-se que “a África tem uma história”, que é complexa, e vai para além de um simples “lugar de leões”, modo como África tem sido tratada em descrições diversas produzidas ao longo dos tempos. Afirma-se ainda que “a história da África, como de toda a humanidade é a história de uma tomada de consciência. Nesse sentido a história da África precisa ser reescrita”. É necessário reconhecer, antes de tudo, que a história da África foi mascarada, camuflada, desfigurada e mutilada. Definidos pela “ausência” de governo, ordem, justiça e religião, vários povos, especialmente em África, eram pensados como seres da natureza e não da cultura, sujeitos, portanto, à lei natural. A cultura tem sido COVANE, Antonio Luís. O nacionalismo econômico de Salazar no Sul de Moçambique. In. Anais do II colóquio Internacional – I Simpósio em História Contemporânea O Colapso das ditaduras: Rupturas e Continuidades. Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2014. OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares. Representações e imprecisões na literatura didática. Estudos Afro-asiáticos, v. 25, n. 3, p. 421-461, 2003, p. 458. KI-ZERBO, Joseph. Introdução. In. História Geral da África. São Paulo: Ática; Paris: UNESCO, 2010. v. 1: Metodologia e pré-história da África, p. XXXI. 148 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos convencionalmente oposta à natureza. Essa divisão entre o Mesmo (cultura) e o Outro (natureza, civilização, anarquia, baixa cultura, subcultura, cultura antropológica) é um lugar de contradição e conflito e/ou uma possibilidade fundadora da cultura. É importante observar os movimentos históricos nos quais a cultura inscreve – inventa, cria – e exclui a baixa cultura (sua alteridade). No coração da cultura, está a colonização; a cultura envolve sempre uma forma de colonização, até mesmo em seu sentido convencional de cultivar o solo. Em inglês, cultura era o nome de um processo orgânico: o ato de arar a terra, o cultivo de grãos e animais: “agri-cultura”. No século XVI “o sentido de cultura como cultivo natural estendeu-se para o processo de desenvolvimento humano: o cultivo da mente”4. O fato é que diversos estudos5 tem apontado que a história da África é pouco conhecida. E o que se conhece ou o que foi convencionado se conhecer, muitas vezes não ultrapassa o superficial. Os escritos que contribuíram para a invenção da África e da ideia de África têm sido produzidos principalmente pelos europeus durante o período colonial, o que se chama a biblioteca colonial 6. Argumenta-se que maior parte dos escritos produzidos na África Subsaariana são em Português, Inglês e Francês e, consequentemente, a maioria dos intelectuais na África Subsaariana são eurófonos7. Concorda-se com a perspectiva de que “o tempo somente será devidamente compreendido se for mantida uma parceria inquebrantável com o espaço” 8. Em sentido oposto, nenhum conhecimento espacial será consolidado na ausência de um subsídio temporal. Assim, entende-se que é fundamental discutir parte do contexto histórico de Moçambique colonial. Moçambique é um país localizado ao sul do continente africano. As fronteiras artificiais de Moçambique tiveram destaque a partir do processo de roedura do continente e da conferência de Berlin. Importante observar a afirmação de que as fronteiras coloniais não correspondiam à racionalidade das YOUNG, Robert. Desejo Colonial. Hibridismo em teoria, cultura e raça. São Paulo: Perspectiva, 2002. 5 KI-ZERBO, op. Cit; BARBOSA, Muryatan Santana. Eurocentrismo, História e História da África1. Sankofa - Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana Nº 1 jun./2008. Tese (Doutorado em Antropologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Universidade de São Paulo, 2007. 6 MUDIMBE, Valentin Y. The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge. Bloomington: Indiana University Press, 1988. 7 APPIAH, Kwame Anthony. A Invenção da África. In.: Na casa de meu pai. A África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 8 SERRANO, Carlos e WALDMAN, Maurício. O espaço africano. In. Memória d’África: a temática africana em sala de aula. São Paulo: Cortez, 2007, p. 46. 149 4 Colonização e mundo Atlântico culturas africanas9. Destaca-se que a geração de pessoas que viveram a época correspondente aos anos de 1880-1914 “assistiu a uma das mutações históricas mais significativas dos tempos modernos”. Argumenta-se que os historiadores até agora não têm a dimensão real das consequências desastrosas, quer para o colonizado quer para o colonizador”10. Analisando o contexto sul do continente africano ressalva-se que “quando da Conferência de Berlim (1884-1885), os britânicos e africâneres já disputavam há quase um século os territórios da África meridional”. Termos como “tratado”, “esfera de influência”, “ocupação efetiva”, “anexação” e “força de fronteira”, cujo uso se propagaria por todo o continente depois daquela conferência, faziam parte do vocabulário corrente da África Austral desde início do século XIX11. Com o advento da Conferência de Berlim (1884/1885), Portugal foi forçado a realizar a ocupação efetiva do território moçambicano – até então sem grandes incorporações de Portugal. Destaca-se ainda que efetivamente, as deliberações da Conferência de Berlim, na qual “foram definidas as fronteiras das colônias européias na África, forçaram a implantação de uma estrutura administrativa para o território colonial de Moçambique”, agora claramente definido e que “passaria a ser objeto de uma intervenção mais sistemática”. Acrescenta-se também que “este processo se consolida em 1895, quando as tropas portuguesas finalmente derrotam o Império de Gaza, governado à altura por Ngungunhana, no sul de Moçambique, o último foco de resistência à ocupação colonial”. Só a partir de então, em 1901, a colônia de Moçambique é considerada “pacificada”.12 Antonio Luis Covane, o pesquisador moçambicano citado no início deste trabalho, comentou na sua apresentação que muitos trabalhadores de Moçambique foram trabalhar nas minas de ouro e diamante da África do Sul desde o final do século XIX, quando as minas foram descobertas. Eram muitos os comboios de trabalhadores que saíam de suas vilas com o objetivo de trabalhar nas empresas estrangeiras que administravam a exploração do solo. HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea.São Paulo: Selo Negro, 2005, 67. 10 UZOIGWE, Godfrey N. Partilha européia e conquista da África: apanhado geral. In. História geral da África, VII: África sob dominação colonial, 1880-1935. Brasília: UNESCO, 2010, p. 23; 35. 11 BARROS, A. Evaldo A. As faces de John Dube. Memória, História e Nação na África do Sul. 2012. 205f. Tese (Doutorado em Estudos Étnicos e Africanos) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012, p. 36. 12 WANE, Marílio. A Timbila chopi: construção de identidade étnica e política da diversidade cultural em Moçambique (1934-2005). 2010. 186f. Tese (Mestrado em Estudos Étnicos e Africanos) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010, p. 109-110. 150 9 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Assimilação no discurso, segregação e exploração na prática Há uma vasta discussão sobre dois grandes modelos de colonização em África: o assimilacionista, ligado, por exemplo, aos portugueses. E o segregacionista, vinculado aos ingleses. Assim como ao nível administrativo, os territórios ultramarinos eram tidos como parte integrante da Nação Portuguesa, “as práticas culturais dos seus povos”, criteriosamente selecionadas e sancionadas em determinadas condições, “passavam a ser representadas como elementos culturais nacionais, portugueses, ainda que em posição de inferioridade em relação à cultura metropolitana”. Essa retórica de assimilação das “culturas tradicionais” dos povos dominados aos valores nacionais lusitanos se mostra como uma característica forte do colonialismo português, bastante presente nos seus discursos, porém, é profundamente ideológica se confrontada com a prática no cotidiano das colônias13. Salazar e a política autoritária de governo colonial Sobre Portugal do século XX é preciso saber que a ocupação colonial efetiva se deu em princípios desse século, num momento em que Portugal passa a viver sob um regime republicano, depois de um longo período de monarquia aristocrática e tradicionalista. Desde 5 de Outubro de 1910, quando foi instaurada a República, o país passou por momentos políticos conturbados internamente, devido à eclosão da I Guerra Mundial e por sucessivas revoltas monárquicas, o que gerou um ambiente de instabilidade política. “Este estado de coisas durou até 28 de Maio de 1926, quando foi instaurado o Estado Novo em Portugal, na esteira do crescimento do fascismo na Europa”. Assim como os seus semelhantes europeus, “o regime totalitário comandado por António Oliveira Salazar se caracterizou pelo autoritarismo e centralização política, tendo reflexos profundos no modelo de administração das colônias” 14. Uma das políticas de Salazar seria “governar com a cabeça e não com o coração”, por isso mesmo ele evitava a todo custo fazer visitas às colônias de Portugal. É importante destacar que o Estado Novo português era um regime parlamentarista, governado de fato pelo primeiro-ministro António Oliveira Salazar; o presidente da república era uma figura quase que meramente decorativa15. Idem, p. 123. Idem, p. 115. 15 COVANE, op. cit. 13 14 151 Colonização e mundo Atlântico Nesse contexto, da década de 1930, “levar a cabo um debate público sobre as colônias encontrava entraves e limites na própria estrutura do regime, na censura de imprensa, no controle das instituições e na criação e fortalecimento da polícia política”17. Deve-se considerar ainda que o regime, apesar de corresponder a movimentos profundamente autoritários, dificilmente poderia ser classificado como “totalitário”. Contudo, "cria-se um regime baseado no medo, na delação e na perseguição aos ‘inimigos’”, por isso, “opor-se ao projeto colonial era opor-se à nação”. Cabe observar que “instituições, congressos, imprensa possibilitavam um debate sobre as colônias, mas aqueles que se opunham às diretrizes do regime eram coibidos, afastados da cena pública, perseguidos ou assassinados”18. Esse contexto corresponde ao fato de que havia uma concordância em reconhecer o império e as colônias como tema obrigatório de debate. Isto fica claro na proliferação de revistas, publicações e congressos que tinham diferentes espaços coloniais como objeto, bem como no fortalecimento das instituições coloniais já existentes e na criação de novos centros de produção: a “questão ultramarina” estará na “ordem do dia” das preocupações do Estado Novo em Portugal; materializada no Ato Colonial de 1930, a “solidariedade natural” do império colonial encontrará palco de debate e de ritual em congressos e exposições que se sucederão ao longo da década de 193019. Importante ressalvar que nesse contexto “‘o imperialismo colonial’ está comprometido com a construção de um aglutinante ideológico capaz de fundir a prática das condições de exploração e de dominação com as formas de justificá-las”. Pode-se afirmar que se vai construindo um “saber colonial” 20. Discutido um pouco do contexto mais geral de Moçambique colonial, especialmente do recorte temporal deste trabalho, destacar-se-á a partir de agora aquilo que se tem entendido por (parte das) políticas culturais e as situações complexas que decorreram a partir desses processos. Políticas culturais: “I Exposição Colonial do Porto” Para dar corpo a uma suposta representação de “portugalidade”, o Estado Novo de Salazar sentiu a necessidade de lhe associar a noção de grandeza da pátria que só a incorporação psicológica do império poderia restituir ao HERNADEZ, op. cit., p. 88. THOMAZ, O. R. Ecos do Atlântico Sul: representações sobre o Terceiro Império Português. Editora da UFRJ, Rio de Janeiro, 2002, p. 89-91. 19 Idem. 20 HERNADEZ, op. cit., p. 93. 152 17 18 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos inconsciente coletivo português. E foi nesses pressupostos que decidiu-se, no ano seguinte à instauração do Estado Novo, se organizar a Exposição Colonial do Mundo Português, na cidade do Porto. O local não foi escolhido à toa: a Cidade do Porto era sede da nascente burguesia industrial têxtil e da produção vinícola. A exposição visava “trazer o império” aos portugueses que não podiam ir às colônias21. Aconteceu entre os dias 16 de junho a 30 de setembro de 1934, a I Exposição Colonial, organizada e promovida pelo Estado Novo de Salazar. Esse evento recebeu apoio da burguesia mercantil, como também da Igreja Católica. Basicamente foi organizado da seguinte maneira: divido em vários pavilhões, estes sub-divididos em seções temáticas, o Palácio de Cristal portuense foi tomado por imagens alusivas “à história das glórias de conquista portuguesa”. Cabe observar que, para além de toda uma iconografia, a exposição [...] propunha ainda outras imagens – e com elas, paradoxos e projetos -, mas não se tratou só de imagens: os portugueses não só “viram”, mas também “cheiraram” e “escutaram”, “sentiram” [...] e enquanto caminhavam por pavilhões que faziam referência à sua história (da qual seriam os protagonistas no presente) e mesmo a seus projetos futuros, eram “observados” pelos 324 indígenas que vieram de todas as colônias para serem expostos na I Exposição Colonial 22. O pavilhão que mais atraiu a atenção dos visitantes foi o dedicado à representação etnográfica23. De outros povos colonizados estavam alguns nativos da Colônia de Moçambique, alojados em aldeias e habitações típicas cuidadosamente construídas no parque anexo ao Palácio das Colônias: chopis. Havia uma representação de uma aldeia típica dos chopi, na qual apresentavase um grupo de timbila, identificado como “marimbeiros da colônia de Moçambique”. A timbila consiste numa expressão musical que reúne instrumentos complexos, dança e poesia. Atualmente é Patrimônio da Humanidade, e é praticada sobretudo por esse grupo etnolinguístico, do sul de Moçambique. Importante observar que as exposições universais são as manifestações culturais mais evidentes de “afirmação dos grandes impérios, em que representavam a si próprios (o mundo ‘civilizado’) e aos outros povos (‘exóticos’, ‘selvagens’ e ‘bárbaros’) com os quais tinham contato”. Eram CABAÇO, José Luís. Moçambique: identidade, colonialismo e libertação. São Paulo: Ed.Unesp, 2009. 22 THOMAZ, op. cit., p. 271. 23 THOMAZ, op. cit., p. 226. 153 21 Colonização e mundo Atlântico configuradas como “imensos rituais de massa em que o Ocidente se autorepresentava glorificando uma missão civilizatória auto-atribuída”24. Importante especificar que as exposições universais tinham um caráter mais histórico do que técnico-científico. Nesse ponto traz-se a discussão sobre aquilo que se tem discutido por “invenção das tradições” 25, na medida em que se reconhece que essas exposições universais tratam-se de verdadeiros rituais de massa, a partir dos quais o Estado se apresenta aos cidadãos, e, nesse mesmo contexto, aliena-os com um conjunto de valores a serem cultivados como forma de lealdade à nação. Visita do Presidente de Portugal General Carmona (1939) Em junho de 1939, contexto da visita do então Presidente General Carmona, “se reuniram os músicos Chopes e os de outras tribos”. Segundo o relato, “os Chopes tinham mais de cem músicos e duzentos dançarinos, todos tocando e dançando o msaho de Catíni [importante maestro de timbila do contexto], e constituíram sem dúvida o principal atrativo da função”. Nessa ocasião “todos os músicos do país chope foram convocados [...]. Ai, não afinaram os instrumentos por um tom único, porque se tratava de tocarem só um dia e o trabalho de afinação seria considerável”26. Cabe observar que naquele contexto cada grupo de timbila possuía seu próprio hombe (pode ser traduzido como centro tonal). Em outras palavras, apesar das mbilas possuírem uma “mesma” lógica física de construção e de se tirar o som delas, cada líder afina-as de uma maneira específica, o que serve de diferenciação e característica de cada orquestra, de cada lugarejo rural. Cada líder possuía uma afinação central a partir da qual os outros instrumentos (mbilas) daquela orquestra eram afinados. Uma situação complexa que surgiu quando se tentava padronizar (ou não) a afinação dos instrumentos para se atingir a harmonia do conjunto, sobretudo em ocasiões em que músicos de localidades diferentes se viam na situação de tocar em conjunto, a exemplo dessa visita do Presidente. Hugh Tracey, etnomusicólogo de ofício, comenta que até se pode imaginar “o barulho que seria desse conjunto orquestral!” O autor observa ainda dessa inusitada situação que, apesar do desacordo sonoro entre os instrumentos, “a pompa e a excitação do momento devem ter feito passar despercebido aquela HERNADEZ, op. cit., p. 94. HOBSBAWN, Eric. Introdução: A Invenção das Tradições. In: HOBSBAWN, Eric (org); RANGER, Terence (org). A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 26 Tracey, doc. n° 46, 1946, p. 125. Grifos nossos. 154 24 25 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos negligencia – que, naturalmente, não teria sido percebida pelo [...] Presidente, não relacionado com a música indígena, nem mesmo, talvez, por qualquer outro dos Europeus presentes”. Neste ponto percebe-se que Tracey reconhece os limites da cultura ocidental em relação à cultura tradicional, especialmente em África. Importante discutir neste ponto o conceito de “antropologia dos sentidos” e, também, “cultura acústica” 27, segundo o qual significa “a cultura que tem no ouvido, e não na vista, seu órgão de recepção e percepção por excelência”. É importante salientar que esta consistia certamente em uma ocasião significativa para se recriar a timbila, uma reinvenção no encontro de diferença. É bem provável que aqui comece a haver uma maior homogeneização cultural. Hugh Tavares Tracey (1903-1977) e as “Gentes Afortunadas” A última “política cultural” a ser detalhada aqui, relativa ao contexto do regime de Salazar em Moçambique colonial consiste no incentivo, patrocínio e publicação de uma extensa obra de caráter etnográfico, organizada a partir do sistema colonial sobre as timbilas moçambicanas. O autor desse trabalho foi o etnomusicólogo britânico chamado Hugh Tavares Tracey. Hugh Tracey nasceu e viveu na Inglaterra até 1920 quando foi trabalhar como agricultor na Rodésia do Sul, atual Zimbábue. Logo de início, no contato com os trabalhadores da fazenda, Tracey aprendeu uma língua local e anotava e cantarolava músicas tradicionais com os trabalhadores rodesianos. Nesse sentido, Tracey era acusado pelos amigos brancos de traidor. Causava admiração aos seus pares, o fato de Tracey se interessar tanto e valorizar daquela forma a música tradicional de povos africanos. Importante destacar que em 1929 Tracey levou músicos da Rodésia do Sul para Johanesburgo, África do Sul e realizou assim os primeiros registros de música indígena, resultando nos primeiros discos gravados e publicados no mundo. Tempos depois, em 1931, Tracey ganhou uma bolsa de estudos para se dedicar ao estudo e gravação da música rodesiana, trabalho que durou até 1933. Por valorizar a cultura indígena, Tracey não recebia grandes investimentos, o que o levou a trabalhar na rádio difusão por mais de 15 anos. Mas Tracey era muito tenaz. Ele aproveitou a situação e introduziu no rádio elementos de música africana aos espectadores28. LOPOES, José de Sousa Miguel. Educação e cultura africanas e afro-brasileiras: cruzando oceanos. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, Linha Ed. Tela e Texto, 2009, p. 29. 28 OLIVEIRA, Arthur Rovida de. Monografias sobre as timbila e a construção do Império Português em Moçambique. Campinas, SP: [s. n.], 2008; WANE, op. cit. 155 27 Colonização e mundo Atlântico Destaca-se que muitos missionários reprimiam e até mesmo proibiam a prática musical nativa, tradicional. Porém, Tracey mesmo observa com desprezo que aqueles que a encorajavam, queriam que a música africana fosse utilizada como instrumento de catequização, alterando seu conteúdo discursivo para assumir os elementos da doutrina cristã. O contexto colonial moçambicano, como o africano em geral, foi intensamente marcado por desigualdades, conflitos e obliterações, e Hugh Tracey foi um agente central nesse processo histórico da África Austral, especialmente em Moçambique. Hugh Tracey, por convergência de interesses, a partir da década de 1940, foi convidado oficialmente pelo governo português a realizar pesquisas mais aprofundadas sobre esta arte do sul de Moçambique [a timbila], realizando visitas preliminares e espaçadas entre 1940 e 1942. Destaca-se que dessas visitas resultaram três artigos: Três dias com os Ba-Chope; Música, poesia e bailados chopes; e Marimbas, os xilofones dos Changanas, todos publicados na revista Moçambique: Documentário Trimestral, editada pelos órgãos de comunicação do governo colonial português. A partir de 1943 em diante há o que se pode chamar de uma “nova fase”. Ainda trabalhando para a administração colonial de Moçambique, Hugh Tracey tem a oportunidade de conviver por períodos mais longos com os timbileiros. Foi em 1943 que Tracey levara alguns músicos para Durban, na África do Sul, com o propósito de realizar gravações de áudio de timbila. Nesse período ele se vê numa situação ideal para estudar e elaborar descrições mais detalhadas sobre todos os elementos que compõe a timbila enquanto manifestação artística. Desse estudo mais aprofundado – se comparado às suas primeiras impressões que foram transformadas nos seus três artigos iniciais – é elaborada a monografia Chopi Music: these fortunate people. Esse trabalho de Hugh Tracey foi traduzido e publicado em oito números na revista Moçambique: documentário trimestral ao longo de 1946 a 1948. Quanto à realidade colonial portuguesa, especialmente a partir da década de 1940, timbilas e chopis, Hugh Tracey e a Revista Moçambique: documentário Trimestral estavam intimamente imbricados. Destaca-se que “no processo de afirmação do Estado Novo, homens de letras, artes e pensamento são chamados – mais do que em momentos anteriores – a se pronunciar sobre a obra portuguesa de colonização”; como também, “uma importante rede de instituições produtoras de um ‘saber colonial’ virá a ser fortalecida e novas instituições serão criadas”. Sabia-se que deveria haver “clareza no que se refere à importância do saber para a possibilidade da ação colonial”. Para o autor, colonizar significa, antes de tudo, dominar: “dominar recursos físicos e 156 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos humanos, mas também dominar discursivamente, pensar e falar sobre os indivíduos e territórios subjugados, e com isto afirmar o poder colonial” 30. Importante notar que a revista era editada pela Agência Geral das Colônias, órgão criado em 1924 pelo Estado português para gerenciar os assuntos relacionados à administração das colônias como um todo. Curioso que a revista circulou em Moçambique, Portugal e até no Brasil. Os objetivos principais da revista - como também “supostamente” da obra de Tracey como um todo – seriam produzir imagens e registros da presença colonial portuguesa, enaltecendo as suas realizações. Ao fim destas discussões é possível concluir, percebendo similitudes nas três intervenções do Estado em Moçambique colonial destacadas aqui, que todos esses momentos e movimentos situam-se especialmente na discussão do “saber colonial” e da “invenção de tradições”. Nesse campo de teorias e práticas é significativo perceber que se trata de processos complexos, muitas vezes ambíguos, nos quais, no discurso de construção de uma “unidade nacional”, de uma “identidade nacional”, atores e setores são destacados e (outros) silenciados, num jogo dinâmico de disputas. Ao fim, o objetivo é, pelo menos no discurso, construir uma nação assimilacionista e democrática, racial e socialmente falando – que respeite, valorize e sinta-se parte da grande “Nação Ultramarina portuguesa”. 30 THOMAZ, op. cit., P. 83. 157 Colonização e mundo Atlântico BELÉM E ANGOLA: REDES COMERCIAIS DO TRÁFICO (1777-1831) Marley Antonia Silva da Silva1 O trânsito da mercadoria humana entre a costa africana e o norte da América Portuguesa pode ser dividido basicamente em três momentos. O primeiro vai das últimas décadas do século XVII até a primeira metade do século XVIII (1680 até 1755) quando ocorreu a criação da Companhia de Comércio do GrãoPará e Maranhão (CGGPM) empresa que estabelece o monopólio no comércio para a região e que tinha como objetivo principal a inserção de mão-de-obra africana. No segundo momento temos os anos de 1756 a 1777 que foram propriamente os de ação da empresa monopolista, que era responsável pelo comércio de mercadorias na região. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão fez parte de um conjunto de medidas durante o período pombalino (1750-1777) que visavam “arrancar” a Amazônia Colonial de sua “estagnação”, juntamente com o fim da escravidão indígena, a retirada do poder temporal dos missionários sobre os aldeamentos indígenas e a expulsão dos jesuítas. Com o fim do exclusivo comercial, exercido pela empresa mercantil, começa então o terceiro período que se estende de 1778 com o retorno a iniciativa particular até 1846 o último ano que a Base de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos indica o desembarque de africanos na Amazônia Colonial.2 O período que investigamos é de 1777, quando em fevereiro deste ano morre o rei D. José I e no mês seguinte o Marques de Pombal foi exonerado,3 neste mesmo ano também espira o prazo de duração do monopólio da empresa pombalina. Estendemo-nos até o ano de 1831 quando é promulgada a Lei Feijó que considerava, a partir de então, a importação de escravos para o Brasil como atividade ilegal. É importante destacar que o trânsito de mercadoria humana para o Estado do Grão-Pará e Rio Negro é especialmente interessante porque recai perto da intercessão de dois mundos comerciais: o Norte e Sul do atlântico. Entretanto, Doutoranda pelo PPHIST/UFPa A Base de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos, indica na viagem de número 5043, o ano de 1846, como sendo o último onde ocorreu o desembarque direto entre a África e a Amazônia Colonial, neste caso o desembarque se realizou no porto de São Luiz. 3 DIAS, Manuel Nunes. “Fomento e Mercantilismo: A Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão (1775-1778)”. Belém, UFPA, vol. 2, 1970. P.130-133. 158 1 2 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos queremos destacar aqui a relação com a África Centro Ocidental, notadamente Angola. Desde o monopólio da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, o comércio com a região não era intenso, de acordo com Antonio Carreira, isso porque a empresa pombalina permitiu que a sua congênere, companhia de Pernambuco e Paraíba tivesse preferência nesta rota. 4 Os cativos oriundos do Atlântico Sul, correspondiam a uma pequena parcela dos que foram trazidos para o Grão-Pará se considerarmos todo o período de comércio de pessoas entre África e Estado do Grão Pará. Pois, a rota mais utilizada pelos navios com cativos para a Amazônia Colonial era a do Atlântico Norte.5 Entre outros fatores o regime dos ventos nos ajuda a entender porque os portos localizados ao norte do equador eram importantes fornecedores de trabalhadores para a Amazônia Colonial. Os ventos e as correntes marítimas faziam com que o trajeto entre a Alta Guiné e os portos de São Luiz e Belém fosse realizado de maneira mais rápida o que já não ocorria com navios que viesse de algum ponto do Atlântico Sul em direção a mencionada região, pois navegaria em águas calmas, o que aumentava os dias de viagem, a quantidade de água e suprimentos, bem como seria maior a porcentagem de morte da mercadoria humana.6 Havia ainda os problemas decorrentes das epidemias. O governador do Grão-Pará, em 1807, sugere que se ponha um fim no tráfico com Angola. Relatava o administrador luso que “por diferentes vezes que este pestifero mal passara nesta capitania” e deixara uma triste herança, pois a doença “levaria a sepultura muitos milhares de habitantes”. Ocorre que os navios que traziam escravos adoentados, eram justamente os de Angola, o que segundo o governador não acontecia, por exemplo, com os escravos vindos de Moçambique. Salientava o administrador da capitania que com este comercio com Angola, “Sua Alteza Real perde; perde o colono o seu cabedal empregado em escravos quando os compra de similhante qualidades, que em pouco tempo lhe morrem; perde-se pelo contágio que com ele se introuduz muito maior numero de braços do que aqueles que entrão”.7 Mesmo com a insatisfação do governador em questão o comércio com a África Centro Ocidental foi uma constante e se intensificou com a companhia Id., ibid, p.181-182. No século XVII esta questão é analisada por CHAMBOULEYRON, 2006; e para período mais amplo (1680-1846) no Estado do Maranhão, DOMINGUES, 2008. 6 Esta questão é vista com maior acuidade nos trabalhos de ALENCASTRO, 2000, p. 57-63; DOMINGUES, Ibid., pp. 585-486; BARROSO, 2009, pp.52-56. 7 AVISO (cópia) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo], Lisboa, 02 de março de 1807. Pará, AHU (Avulsos), Cx. 139, D. 10595. 159 4 5 Colonização e mundo Atlântico pombalina. Entretanto, observamos que os estudos disponíveis não focalizam o comércio com esta região de África. Nosso propósito é analisar o circuito transatlântico de compra, transporte e venda de africanos escravizados, notadamente os originários da África Centro ocidental (Luanda e Benguela), para o Estado do Grão-Pará e Rio Negro durante o período de 1777 a 1831. Também nos interessa investigar o funcionamento das redes mercantis e os comerciantes envolvidos e participantes, as rotas de comércio que freqüentavam e a dinâmica própria deste comércio. Os portos de Benguela e Luanda na África centro Ocidental, que compreendia a rota de Angola, foram responsáveis pelo fornecimento expressivo de africanos escravizados para a América.8 Consultaremos fontes como os dados disponibilizados do Slave Trade Database e o seu cruzamento com outras fontes tais como, inventários post mortem, livro de notas (procurações e escrituras), correspondências particulares, trocadas entre os comerciantes e da administração colonial (representações, alvarás, cartas régias, mapas anuais de entrada de escravos etc), que se encontram no Arquivo Público do Pará, no Arquivo Histórico Ultramarino e os documentos do Arquivo Nacional de Angola, presente no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Extinção do monopólio da Companhia Pombalina e traficantes locais Com o fim do monopólio em 1777 quem financiaria o tráfico para uma região que estava habituada a comprar cativos a crédito e pagar com produtos? Para este recorte especialmente, existe uma carência de investigações. No Estado do Grão- Pará e Rio Negro o argumento de que os moradores eram pobres e não possuíam o suficiente para adquirir cativos africanos, juntamente com o fato de o Estado ser atendido por uma empresa monopolista que vendia escravos a crédito e recebia o pagamento com artigos diversos, contribuiu para que a historiografia não estudasse de forma acurada este tema no período pós Pombal. No ano de 1780, em correspondência com a metrópole, o governador do Estado, João Pereira Caldas preocupa-se com o parco fornecimento de trabalhadores cativos e evidencia as dificuldades com a entrada de mão de obra no pós monopólio: [...] eu reconheço, e sempre confessarei, que este progresso não se poderia, na verdade experimentar sem os oportunos meios que a Companhia do Comércio LOVEJOY, Paul. “A escravidão na África: Uma História de suas transformações”. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p.98 160 8 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos forneceo, e que ainda pela praça não vejo quaes sejam os que se lhe substituem; pois verá V.Magestade na sobredita parte da entrada das embarcações, qual foi insignificante o numero com que se socorreu estes moradores, e elles sem esse fornecimento, não se lhes fiando, e não lhes vendendo a preços comodos, não poderam avançar-se aos maiores progressos, para que este Estado, sem dúvida, ofereceu as mais própias, e admiráveis vantagens.9 Não houve decréscimo significativo no comércio de pessoas entre África e Belém com o fim do monopólio da empresa monopolista Pombalina10 e as atividades da companhia não foram encerradas após ter sido facultado por meio de decreto a todos os comerciantes do reino o comércio para o Pará e Maranhão. “A título de curiosidade e para demonstrar a importância política, econômica e financeira da empresa, basta dizer que, extinta em 1778, ainda comerciou, com maior ou menor amplitude, até 1788, e a sua liquidação definitiva só se deu 136 anos depois em 1914”.11 A questão perpassa por conexões econômicas e sociais engendradas pelo tráfico de escravos entre Angola e Grão-Pará. Para a Historiadora Mariza Soares, [...] A identificação dos pontos de saída e chegada, as paradas, os caminhos percorridos, as relações comerciais ai envolvidas, como os créditos, o modo de comerciais, os vínculos que se criam entre os comerciantes, a escolha das mercadorias negociadas, a seleção dos escravos e os motivos que os levaram à escravidão, e tantas outras coisas12 Segundo Philip Curtin, no século XVIII dos 1.685.200 escravos adentrados no Brasil, cerca de 1.134.600 foram oriundos de Angola e 550.600 da Costa da Mina. Os principais portos que eram abastecidos pelo tráfico angolano: Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Sendo que Pernambuco, Maranhão e Pará CARTA de João Pereira Caldas para a rainha. Pará, 25 de janeiro de 1780. AHU, Pará (Avulsos) Cx 84, D.6917. 10 Ver os números em MacLACHLAN, Colin M. “African Slavery and Economic Development in Amazonia (1700-1800)”. In: TOPLIN, Robert B. (eds.) Slavery na Race Relations in Latin América. Greerwood Press, 1973 e SILVA, Marley Antonia Silva da. “A extinção da Companhia de Comércio e o tráfico de africanos para o Estado do Grão-Pará e Rio Negro (1777-1815)” . Belém, dissertação em história, PPHIST, UFPa, 2012. 11 CARREIRA, Antonio “As Companhias pombalinas de Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco e Paraíba”. 2 ed. Lisboa, Ed. Presença, 1983. p.45 12 SOARES, Mariza de C. (org). “ Rotas Atlânticas da diáspora africana: da Baia de Benim ao Rio de Janeiro, Niterói: EDUFF, 2007 p. 19-23. 161 9 Colonização e mundo Atlântico recebiam 20% do tráfico de escravos de Angola no fim do século XVIII e começo do XIX.13 Na perspectiva de Silva Júnior, referindo-se aos abastados do norte da América Portuguesa, pontua que “uma das formas mais eficazes de acumular riqueza na colônia era o usufruto das facilidades oferecidas pelo usufruto de diversas funções burocráticas e militares, que, comumente eram acumuladas”.14 Entre os homens de posses que realizavam tal comércio e que residiam em Belém estava Ambrósio Henriques. A família Henriques estava entre as mais tradicionais da ilha do Marajó15. Todas as terras da ilha Mexiana, desde 1766 também pertenciam a mencionada família, além das terras no Rio Arari e no Rio Cururu16. Ambrósio Henriques era militar17 e rico proprietário de terras, engenhos, sesmarias e ilhas, ainda herdou de seu sogro, a fazenda Jaguarari.18 Também aparece como cabeça de família, com mais de um domicílio na freguesia de Acará.19 Foram duas as viagens patrocinadas pelo distinto morador de Belém20. Percebemos que vários traficantes moravam no estado em questão, ou seja, o tráfico foi mantido com a participação de agentes locais e provavelmente financiado localmente. Todavia, o governador Francisco de Souza Coutinho preocupado com a intensificação do tráfico de trabalhadores oriundos da África escreveu carta destinada a Martinho de Melo e Castro, secretário de estado da Marinha e Ultramar, onde destaca suas inquietações e CURTIN, apud, SOUZA, Monica Lima, “Venho de Angola: do vocabulário aos costumes, a identidade brasileira tem origem no outro lado do Atlântico”. In: Raízes Africanas, Rio de Janeiro, Sabin, 2009, p 12. 14 SOUZA JUNIOR, 2009, p.351. 15 SOARES, Eliane Cristina Lopes. “Família, compadrio e relações de poder no Marajó (séculos XVIII e XIX)”. Tese de doutorado, PUC- SP, 2010, p.53. 16 Id., Ibid., p.62. 17 Este indivíduo ascende militarmente bem rápido, de alferes ele passa a Coronel, REQUERIMENTO do coronel do 2º Regimento de Milícias da cidade do Pará e lavrador, Ambrósio Henriques, para o príncipe regente [D. João], 27 de fevereiro de 1800 AHU- Cx. 117, D. 9007, REQUERIMENTO do alferes Ambrósio Henriques e de sua mulher, Antónia Joaquina de Oliveira Silva, 08 deAbril de 1778, AHU- Cx. 79, D. 6563. REQUERIMENTO dos vereadores da Câmara da cidade de Belém do Pará, 23 de abril de 1778, AHU- Cx. 79, D. 6568. 18 SOARES, 2010, p.91. 19 CARDOSO, Alana Souto, “Apontamentos para História da Família e Demografia Histórica da Capitania do Grão-Pará (1750-1790)”.Dissertação de mestrado, UFPa, 2008, p.181. 20MAPA dos escravos conduzidos para a cidade de Belém do Pará no ano de 1779, Cx. 84, D. 6905 e MAPA dos escravos conduzidos para a cidade de Belém do Pará no ano de 1779, AHU- 26 de janeiro de 1780, Pará, Cx84, D. 6921. 162 13 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos mostrando-lhe a experiência o pouco que se pode esperar dos negociantes daquella praça na introdução dos escravos naquela capitania e receando que algumas impressões menos favoráveis arredassem João Teixeira de Barros e outros opulentos comerciantes desta capital de se empregarem neste importante objecto. 21 O preocupado governador insta comerciantes de outras praças (no caso comerciantes de Lisboa) para fornecer cativos ao Pará. Além dos negociantes residentes no Pará e em outros lugares, também a Companhia continuou participando do comércio de almas, mesmo após a extinção do monopólio. Entretanto, após 1785 sua participação no tráfico com o porto de Belém cessa e somente os homens da iniciativa particular passam a realizar o tráfico. Identificar os diferentes agentes de negócio que atuavam nos distintos segmentos do mercado, bem como porque a empresa monopolista cessa o comércio em face aos particulares é uma questão a ser investigada. Diante do expostos cabem algumas questões: 1) Como funcionava o circuito transatlântico de compra, transporte e venda de africanos escravizados, notadamente os originários da África Centro ocidental (Luanda e Benguela), para o Estado do Grão-Pará e Rio Negro durante o período de 1777 a 1831. 2) Com que produtos e sujeitos ocorria o funcionamento das redes mercantis considerando os comerciantes envolvidos e participantes, as rotas que freqüentavam,os agentes e a dinâmica deste comércio. 3) Por que houve declínio na participação da companhia pombalina na competição com os comerciantes individuais de escravos. 4) Como se explica o redimensionamento do tráfico do Atlântico Norte (Bissau e Cacheu) para o Atlântico Sul (Angola) após monopólio da empresa pombalina. Economia e mão de Obra no Grão Pará Os cativos africanos constituíram mão-de-obra fundamental no Estado do Brasil, no contexto da Amazônia colonial portuguesa foram os indígenas a principal força de trabalho necessária para a efetivação do projeto colonizador luso, desde o século XVII até boa parte do século XVIII. A economia extrativista e as correntes marítimas desfavoráveis tornavam a navegação mais fácil com Portugal do que com outros portos do Estado do Brasil. A capitania do Grão Pará estava subordinada diretamente a Lisboa. Estes fatores contribuíram para elaboração de um projeto de colonização diferente na Amazônia Portuguesa. 21CATÁLOGO cronológico e analítico das contas, mapas e listas ao Governo do Estado do Pará, Macapá e Rio Negro relativas ao ano de 1795, AHU- Cx. 106, D. 8407. 163 Colonização e mundo Atlântico Não raro a Amazônia Colonial foi entendida, caracterizada e apresentada como “área periférica” do império português.22 Supostamente o local do fracasso, onde não se conseguiu obter o sucesso alcançado por outras capitanias como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. Diferentemente do que aconteceu no Estado do Brasil, a mão-de-obra africana foi utilizada com menor intensidade especialmente no Grão-Pará. Para Maria Celestino de Almeida “características peculiares da colonização da Amazônia permitiram que a população indígena fosse utilizada como mãode-obra predominante por um período mais longo”.23 O gentio constituiu mãode-obra fundamental para a colonização portuguesa na região, ao ponto de causar sérios conflitos entre religiosos e moradores. Deste modo, foi o natural da terra e não o africano o trabalhador numericamente mais expressivo. A utilização massiva dos indígenas se explica por ser o extrativismo atividade importante na região e o aborígene possuir habilidade para a coleta de produtos na floresta, por isso que de acordo com Vicente Salles, [...] houve, porém desde o início condições bastante desfavoráveis para a introdução do negro escravo: não só os recursos dos colonos eram escassos como o negro mal se adaptaria ao tipo de atividade econômica mais rentável, o extrativismo.24 Arthur Cezar Ferreira Reis, um pioneiro no tema, que desde 1961 ressaltou a relevância do negro no aspecto social e salientava para a necessidade da investigação do mesmo na Amazônia, aponta justamente para a questão da pobreza dos moradores que impossibilitava a importação de trabalhadores africanos. A população era, porém, pobre, muito pobre mesmo. Escasseavam os recursos para a importação do braço africano. E ainda, apesar de todas as dificuldades, naturais ou criadas, o contingente gentio local era o suficiente.25 Esta por exemplo é a leitura de CARDOSO, Ciro Flamarion. “Economia e Sociedade em áreas coloniais periféricas: Guiana Francesa e Grão-Pará 1750 e 1817”. Rio de Janeiro, Editora Graal, 1984. 23 ALMEIDA, Maria Celestino de. “Trabalho compulsório na Amazônia: séculos XVIIXVIII”. Revista Arrabaldes, ano I, n° 2 (set-dez, 1988), p. 105. 24 SALLES, Vicente. “O negro no Pará: sob o regime de escravidão”. 3ª edição. Belém: IAP; Programa Raízes, 2005, p. 30 25 REIS, Arthur Cezar Ferreira. “O negro na empresa colonial dos portugueses na Amazônia”. Actas do Congresso Internacional de História dos Descobrimentos. Lisboa: Comissão Executiva das Comemorações da Morte do Infante Dom Henrique, vol. V, III parte, 1961, p. 350. 164 22 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos A miséria dos colonos fazia com que, mesmo quando adquiriam escravos obtinham os de “má qualidade”, ainda por conta de não possuírem o suficiente para oferecer um preço atrativo aos mercadores, ao menos é o que afirma Pereira, “também, dada à pobreza dos negociantes do Pará, os que se incumbiam de introduzi-los não os podiam pagar por preços mais vantajosos oferecidos por negociantes de outras capitanias”.26 Foi justamente “a pobreza da região Amazônica, o antigo Estado do Maranhão e Grão-Pará, que evitou um sistema de escravidão negra tal como caracterizou o Nordeste do Brasil” pontua Sue Gross.27 Como já se notou o pauperismo dos moradores é apontado pela historiografia, como um fator restritivo, ao ingresso do cativo africano. É salutar mencionar que a economia “paraense” na segunda metade do século XVIII não vivenciava momento de penúria como o evidenciado, ao contrário. Nos escritos de Manoel Barata desde 1773 até 181528 o Pará sempre exportou mais do que importou de Portugal. É preciso destacar que, no ano de 1796, quase duas décadas após a extinção do monopólio, Maranhão e Pará exportaram mais do que importaram da metrópole e neste ano ficando abaixo apenas do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.29 As investigações no campo da antropologia nas décadas de 60 e 70 não se deixaram limitar pelas explicações socioeconômicas que diziam que o tráfico de africanos não teve vigor suficiente para que o negro ocupasse um espaço significativo na sociedade paraense, neste contexto surgiram estudos voltados para a investigação do negro na região.30 PEREIRA, Manuel Nunes. “A introdução do negro na Amazônia”. Boletim Geográfico – IBGE. vol.7, n º 77 (1949), p. 511. 27 GROSS, Sue Anderson. “Labor in Amazonia in first half of the eighteenth century”. The Americas, vol. XXXII, n° 2 (October 1975), p. 211. 28 Não existem dados no trabalho para os anos de 1790, 1791, 1792, 1793, 1803, 1804, 1806 1807, 1808, 1809. BARATA, Manoel. Formação Histórica do Pará. Belém: UFPA, 1973. pp.301-306. 29 SIMONSEN, Roberto. “História econômica do Brasil (1500-1820)”. São Paulo: Companhia Editora Nacional, Vol. 2, 1944, p. 225. 30 SALLES, Vicente. “O negro no Pará: sob o regime de escravidão”. Rio, Fundação Getúlio Vargas & Univ. Fed. do Parti, 1971. 336 p.; VERGOLINO e SILVA, Anaiza. “Alguns elementos para o estudo do negro na Amazônia”. Belém, Museu Paraense E. Goeldi, 1968. (Publ. Avulsas, 8); O negro no Parti: a noticia histórica. Antologia da Cultura Amazônica. Belém, Amazônia: Ed. Culturais, 1971. (Antropologia e Folclore, v. 6). “O Tambor das Flores; estruturação e simbolismo ritual de uma Festa da Federação Espírita Umbandista e dos Cultos Afro-Brasileiros no Pará”. Campinas. Inst. Filosofia e C. Humanas, 1973. (Projeto de Pesquisas para tese de Mestrado em Antropologia Social, Univ. Estadual de Campinas). 165 26 Colonização e mundo Atlântico Na década de 80 o interesse sobre o negro no Pará se intensifica com a comemoração do centenário da abolição da escravidão, que fomenta os debates relacionados ao racismo e a escravidão, neste período é reeditado o trabalho de Salles, graças à parceria do Centro de Defesa do Negro no Pará (CEDENPA) com a Secretaria de Estado da Cultura do Pará. Neste mesmo período são publicados artigos relacionados ao tema, como “Africanos na Amazônia: cem anos antes da Abolição” de Arlene Marie Kelly-Normand,31 outra publicação que deve ser mencionada é a cartilha do CEDENPA.32 As pesquisas relacionadas ao tema foram se avolumando e o interesse de Anaíza Vergolino e Napoleão Figueiredo em investigar os cultos afros de Belém, buscando descobrir suas áreas de procedência e as referencias de manifestações religiosas mais antigas, não alcançaram seus objetivos iniciais. Entretanto produziram um trabalho ímpar, pois não se conformaram em analisar a participação do negro unicamente na perspectiva da plantation, apontaram que o tráfico para a região possuía características distintas daquele realizado em outras regiões do Brasil. Além disso, sistematizaram e compilaram a documentação do Arquivo Público do Pará referente ao negro no período colonial. É necessário pontuar que entre as particularidades da colonização na região está a diversidade de empreendimentos econômicos (extrativismo, agricultura e pecuária). A atividade extrativa não significou a exclusão de outras atividades econômicas, antes houve a coexistência entre as coleta de produtos naturais, a agricultura e atividades criatórias.33 Também é importante destacar, como já o fez Chambouleyron, que escravos africanos e trabalhadores indígenas (livres ou escravos) não eram pensados de forma incompatível.34 Ocorre que foi construído nos clássicos da história econômica uma dicotomia entre atividade extrativa versus plantation como aponta Chambouleyron: A historiografia insistiu nesta contradição para entender a economia amazônica. Em vários trabalhos como os escritos por Caio Prado Júnior,Celso Furtado, Roberto Simonsen, Nelson Werneck Sodré e Arthur Cezar Ferreira Reis, a economia (…) foi pensada comparativamente a outras experiências coloniais- notadamente o KELLY-NORMAND, Arlene Marie. “Africanos na Amazônia cem anos antes da abolição”. Belém: Cadernos do CFCH, vol. 18 (out.-dez. 1988), pp. 1-21. 32 CARTILHA DO CEDEMPA. Raça Negra: “A luta pela liberdade”. Belém, 1988. 33BEZERRANETO, José Maia. “Escravidão negra no Grão-Pará: sécs. XVIIXIX.Belém”; Paka-Tatu, 2001.p.17 34 CHAMBOULEYRON, Rafael. “Suspiros por um escravo de Angola. Discursos sobre a mão- de- obra africana na Amazônia seiscentista”. Belém: Humânitas, vol.20, n° 1/2 (2004), pp. 141-63.pp. 105-106 166 31 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Nordeste açucareiro- revelando o fracasso da implementação de uma economia baseada na escravidão africana e no desenvolvimento de plantation.35 O comércio envolvendo mercadoria humana, onde a Europa fornecia os navios e as mercadorias, a África a mercadoria humana e as plantações da América Colonial as matérias que seriam enviadas a metrópole, depois de desembarcados os homens e mulheres trazidos forçados do continente africano,36 foi chamada de tráfico triangular, como sabemos, e a CGGPM, realizava este tipo de comércio. Ocorre que este modelo clássico, possuí críticos ferrenhos, pois, evidenciam que as relações comerciais e sociais do Brasil com África ocorriam de forma bilateral, os estudos de Manolo Florentino e Luiz Felipe de Alencastro,37 são claros exemplos desta perspectiva, aliás, muito aceita pela historiografia.38 Entretanto, cabe evidenciar que o comércio envolvendo pessoas oriundas da África para o estado do Grão-Pará nas décadas finais do século XVIII e início do século XIX não se caracterizou como comercio bilateral. Basta acompanhar o percurso das viagens para observarmos de maneira nítida que se tratava de um comercial triangular, vamos aos exemplos: o secretário de Estado da Marinha e Ultramar comunicava ao governador do Grão-Pará no ano de 1793, que o navio Francisca, sai de Lisboa em direção à Costa da Mina onde comprará escravos Para levar ao Pará.39 No ano seguinte em documentação emitida do Palácio de Ajuda e assinada pelo secretário do Ultramar, temos o seguinte aviso Parte deste porto para o de Benguela e dalí para o de São Paulo de Assunção o navio Nossa Senhora da Conceição e São Francisco de Paula de que é Mestre Manoel Gomes da Ressureição e senhorio João Teixeira de Barros como destino de fazer em qualquer um dos portos ou em ambos uma armação de 400 a 600 escravos e se transportar para a Capitania do Para.40 CHAMBOULEYRON, 2007, p.4 MOURA, Clóvis. “Dicionário da escravidão negra no Brasil”. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004, p.399. 37 FLORENTINO, 1997 e ALENCASTRO, 2000. 38 Na obra: COSTA E SILVA, Alberto da. “Um rio chamado Atlântico, A África no Brasil e o Brasil na África”. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; UFRJ, 2003, p. 89; o autor nos lembra de que o tráfico bilateral já era um conceito antecipado por Verger. 39 OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], para o [governador e capitão general do Estado do Pará e Rio Negro], D. Francisco [Maurício] de Sousa Coutinho, AHU- Queluz, 10 de outubro de 1793, Cx. 103, D. 8183. 40 VERGOLINO-HENRY & FIGUEIREDO, Ibid., p.135. 167 35 36 Colonização e mundo Atlântico Este tipo de documentação deixa nítido que se tratava de um comércio triangular esta é uma das características peculiares do tráfico para o Estado em questão. Ampliar as investigações sobre esta temática neste recorte é fundamental para a História do negro no Pará. 168 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos QUANDOS OS MORTOS FALAM: AS RELAÇÕES ESCRAVISTAS A PARTIR DAS ANÁLISES DOS TESTAMENTOS DO MARANHÃO SETECENTISTA Nila Michele Bastos Santos1 Marize Helena de Campos (orientadora) 2 Introdução No Brasil, assim como em Portugal, as Ordenações Filipinas orientavam a vida familiar e jurídica da população. Os testamentos foram tratados no Livro IV Tit. 80: “Dos testamentos, e em que forma se farão” 3. Desse modo, os testadores seguiam um padrão definido pelas leis de seu tempo e do Estado e acabavam por deixar em seus testamentos mais que suas vontades post-mortem, deixavam também reflexos das sociedades em que viviam. Do Maranhão setecentista, as análises demonstram uma sociedade hierarquizada e escravocrata, evidente nas distinções sociais. No entanto, essa documentação traz, também, uma gama de “espaços em branco” 4 que permitem ler os testemunhos na contramão de quem os produziu. Nesse sentido, corroboramos com Ginzburg ao afirmar que: “o que está fora do texto também está dentro dele, abriga-se entre as suas dobras”. Conforme o autor, “É preciso aprender a ler os testemunhos às avessas, contra as intenções de quem os produziu. Só dessa maneira será possível levar em conta tanto as relações de força quanto aquilo que é irredutível a elas.” 5. O testador do Maranhão setecentista não falava somente a respeito dele, mas também relatava o costume de sua época, permitindo assim, por meio de suas “vontades”, acessar o universo valorativo e social dos que estavam ao seu redor, além, é claro, da dinamicidade cultural por qual ele e seus pares estavam inseridos. Mestranda em História Social - Universidade Federal do Maranhão. Professora Doutora do PPGHIS-UFMA 3 SALGUEIRO, Ângela dos Anjos Aguiar et al. Ordenações Filipinas on-line. Livro IV. Baseada na edição de Cândido Mendes de Almeida, Rio de Janeiro, 1870. 1998. Pag..900. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm 4 O termo se refere ao que não está explicitamente escrito, mas que pode ser inferido devido o contexto em que o documento se insere ou a quem o testado se refere, ou ainda a quem ele deixa de se referir, corroborando com as ideias de Ginzburg. GINZBURG, Carlo. Relações de força: história, retórica, prova – São Paulo: Companhia das letras, 2002. 5 Ibidem, pag.42 169 1 2 Colonização e mundo Atlântico Mesmo com todas as transformações sofridas ao longo do tempo, nos testamentos do século XVIII, o caráter religioso dessa documentação mantevese evidente como se pode verificar nas em cinco partes em que era dividido, conforme aponta Eduardo França Paiva6, 1ª) Invocação à Santíssima Trindade: localização e datação do documento; identificação do testador (nome condição - no caso de Libertos-/ naturalidade/ nacionalidade/ filiação/ domicílio / estado civil/ cônjuge/ filhos ofício; a data de nascimento ou mesmo a idade aproximada nunca eram registradas) e indicação do(s) testamenteiros(s) e herdeiro(s) universal(is). 2ª) Disposições e legados espirituais, local e forma detalhada do sepultamento, número de missas por intenção da própria alma e pelas almas de outras pessoas, bem como o local ou locais dessas missas. 3ª) Inventário resumido (às vezes completo) dos bens móveis, imóveis; alforrias, coartações, arrestos e vendas de escravos; disposições e legados materiais e identificação de dívidas e créditos. 4ª) Disposições gerais, assinatura ou sinal do testador, assinaturas do escrivão e do oficial responsável pelo registro, pela aprovação e pela abertura do testamento. 5ª) Codicilos (poucos testamentos os apresentavam). Em sua primeira parte percebe-se a forte presença do costume cristãocatólico da época, mas, também, permitindo estabelecer perfis socioculturais dos testadores, homens ou mulheres, suas origens, se eram livres ou libertos, o que faziam, entre outras características. Do mesmo modo, na segunda parte podemos alcançar se pertenciam ou não a alguma irmandade, quais seus anseios diante da morte, as suas crenças e devoções e com isso problematizar o universo valorativo e religioso do testador e da sociedade em que vivia. Na terceira parte, podemos analisar as relações sociais entre o testador e os sujeitos citados, pois ali se descreve o que possuía, quem eram os seus credores ou devedores e determina a quem ficara seu legado, ou o que devia ser feito com ele. É aqui que ele se refere a seus escravos, se assim os tivesse, e quem os legaria como herança ou como herdeiros. A rede de sociabilidades a qual o testador pertencia pode ser percebido na quarta parte, pois é nela que os testamenteiros e as testemunhas registram suas assinaturas confirmando e se responsabilizando, em seguir com, o que foi determinado no testamento. A disposição proposta por Paiva é apenas uma orientação geral, já que nem todos os testamentos seguiram a mesma ordem. Apesar de percebermos claramente essas partes, elas comumente se misturam e invertem as posições PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas minas gerais do século XVIII Estratégias de resistências através dos testamentos. São Paulo: Annablume, 2009; pag. 47-48. 170 6 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos demonstrando que a própria sociedade mesclava os aspectos de sua vida cotidiana. A morte como testemunho do cotidiano Mesmo guardando partes significativas da História, foi apenas nas últimas décadas que a problematização dos testamentos passou a incorporar novos procedimentos. Através da Nova História, os historiadores buscaram estabelecer “uma história do poder sob todos os seus aspectos, nem todos políticos, uma história que inclua notadamente o simbólico e o imaginário” 7, procurava-se assim, evitar as noções pré-estabelecidas como imutáveis e privilegiar a pluralidade dos discursos que regem a vida social. Para tanto, a Nova História dialogou com outros saberes como antropologia, sociologia, literatura, geografia, psicologia, entre tantas outras, além de ampliar seu olhar sobre as fontes e novas temáticas. É nesse contexto que a morte é redescoberta como tema para os estudos. As experiências narradas nos testamentos permitem aos historiadores criar uma relação dialógica entre o que foi vivido com o que é narrado, pois mesmo estes sendo produzidos no contexto da morte, [...] contêm ricas e variadas informações sobre múltiplos aspectos da vida do morto, bem como da sociedade em que ele viveu. Por isso, nas mãos do historiador, eles podem ser transformar em testemunhos sobre a morte, mas acima de tudo sobre a vida, em suas dimensões material e espiritual8. Tal como Philippe Ariés e Georges Duby, em sua celebre coleção “História da vida privada”, os estudos a partir dos testamentos nos proporcionam uma imersão ampla e profunda no universo do privado, descortinando uma teia de relações que nos contam muito mais que o aspecto individual, mas sim um conjunto de leis que regem a sociabilidade e permite criar espaços de conformidades e resistências ao que é imposto por determinada época e local. Essas definições [...] assim como as diversas formas de sociedade que conhecemos nesta história, é essencialmente definida pela criação imaginária. Imaginário, neste contexto, não significa evidentemente fictício, ilusório, especular, mas posição de novas formas, e LE GOFF, Jacques. A História Nova. In: LE GOFF, Jacques. A história nova. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998., p. 8 8 FURTADO, Junia Ferreira. A morte como testemunho da vida. IN: PINSKY, Carla Bassanezi e LUCA, Tania Regina de. O Historiador e Suas Fontes. 1. Ed., Saao Paulo: Contextos, 2011, pag. 93. 171 7 Colonização e mundo Atlântico posição não determinada, mas determinante; posição imotivada, da qual não pode dar conta uma explicação causal, funcional ou mesmo racional9. Desse ponto vista, o imaginário torna-se um conjunto de valores e ideologias que influencia a imagem obtida sobre alguma coisa, e tem suas noções historicamente construídas a partir da cultura vivida por cada sociedade. No universo do Maranhão setecentista esse imaginário complexo entre o público/privado é percebido nos testamentos do período. Em meio aos bens deixados e aos herdeiros escolhidos identificamos os valores atribuídos a determinados objetos, a importância de seus usos e principalmente a permanência de costumes que não são apenas particulares, mas de fato, frutos de uma mentalidade comum. Dos oitenta testamentos analisados até agora todos possuem, em maior ou menor escala, referencia à religião católica e deixam claro a exigências de missas que deviam ser rezadas e a quem devia encomendar suas almas. As especificidades estão nas variedades de santos citados; nos trâmites de cada irmandade e nos moldes de como deviam ser enterrados. O comum e o específico convivem lado a lado, numa simbiose típica da história do cotidiano. Evidentemente não é nosso interesse apenas descrever as nuance dessas experiências, devemos de fato fugir da tentação de uma História-descritiva e fazer do cotidiano uma História-problema, enxergando nos pormenores da vida cotidiana (vida material) o prolongamento de uma sociedade que devagar e muito imperceptivelmente vai se transformando (longa duração) 10. O individual, o particular e mesmo o banal, quando problematizados de maneira correta tornam o que, comumente, é visto como ordinário em extraordinário e nos revelam segredos semióticos de vivencias e experiências, que por vezes são deixadas de lado pela historiografia oficial. No que concerne ao período escravista do Maranhão setecentista os testamentos são uma fonte riquíssima do imaginário. Repetidas vezes apresentam inúmeras alforrias, como as deixadas por João da Cunha, proprietário de escravos, natural da freguesia de Mosteiro de Vieira, comarca de Guimarães, Arcebispado de Braga. Em 1745, ao ditar seu testamento em São Luís do Maranhão, declarava: [...] declaro que por minha morte deycho forros e izento de todo captiveiro ao negro Manuel da nascão mina cazado com Maria da nasção [ilege.] minha escrava a qual ROIZ, Diogo da Silva. A Filosofia (Da História) De Cornelius Castoriadis (19221997). Revista de Teoria da História Ano 1, Número 2, dezembro/ 2009, pag.104 10 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XVXVIII: as estruturas do cotidiano. São Paulo, Martins fontes, 199 5, v. 1. pp. 89 a 160. 172 9 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos por minha morte tão bem deycho forra e da mesma forma deycho forro por minha morte a um filho dos ditos meus escravos por nome João. Declaro que possuo hu’negro por nome Domingos da naçam Sejé ao qual por minha morte deycho forro11. No mesmo testamento João da Cunha afirma que Declaro que possuo hu’negro por nome Domingos da naçam Sejé ao qual depois que de eu falecer o deyxo a qualquer um dos meus Testamenteyros que asseytar minha Testamentária o que llhes deycho em remuneração do trabalho q’ com ella há de Ter // Declaro que possuo outro escravo por nome Francisco de nasção [ileg.] o qual poderão meus Testamenteyros vender logo depois de meu falecimento para com o dinheiro delle darem comprimento aos meos legados. 12 Dessa forma, estando os sujeitos escravizados citados na mesma categoria questiona-se o que levou ao proprietário deixar alforria para uns e tornar herança outros? Havia nessa sociedade mecanismos para a diferenciação? Os testamentos também nos relatam sobre sujeitos escravizados que além de receberem sua alforria, post-mortem de seu senhor, também se tornavam herdeiros destes. Como se pode observar no trecho transladado do testamento de João Theófílo de Barros13 [...] Em prº lugar pesso ao mosso José Bruno que criei em minha caza em segundo lugar ao R.Pe.M.el de Souza queirao’ por servisso de D.s {{119v}} de Deos e por me fazerem mce serem meus testamenteiros [...]// E pa que não haja dúvida algua’ soubre meu prº testamenteiro por ser filho de hua’ minha escrava por nome Silvana já desde agora lhe dou plena Liberde pello amor de Dº [...]. E ainda: [...] tenho disposto instituo Universal herdeiro pello amor de Deos e por me ajudar com todo cuidado no trabalho das minhas fazendas ao dito meu Prº testamentrº Joze Bruno de Bayrros [...]14 Dos testamentos analisados até o momento, constatamos 62 alforrias. Em 90% destas, encontram-se justificações que levam a crer na existência de relações de cumplicidades, afeto, ou ainda ousadia e esperteza, como o caso de Thereza, escrava mulata de Ana dos Anjos, em São Luís do Maranhão, que se MOTA, Antonia da Silva; SILVA, Kelcilene Rose; MANTOVANI, José Dervil. Cripto maranhenses e seu legado. São Paulo: Siciliano, 2000. pag.62. 12 Ibidem. 13 Ibidem, pag. 75 14 Ibidem, pag. 81 173 11 Colonização e mundo Atlântico envolvem, em 1765, num processo judicial para adquirir a sua alforria e cujo: “causa de liberdade que moveram uns parentes se acha por apelação (na corte de Lisboa) [...]” 15. Como essa escrava conseguiu mover tal litígio, as causas e os argumentos que utilizou, ou mesmos os resultados dessa disputa, a documentação que dispomos não nos responde, contudo, sabemos que dificilmente o Estado envolvia–se em questões de manumissão de escravos, exceto em questões excepcionais. Conforme Ligia Bellini16 e Kátia de Queiros Matoso17 o Estado se manifestava quando estava em jogo interesses do próprio Estado como em relação ao contrabando e questões de segurança pública. Das alforrias concedidas nos testamentos analisados, muitas contêm causa restritiva que varia desde a permanência do “ex–cativo” com os herdeiros de seu senhor, até a morte ou casamento destes, ou até mesmo em mandar dizer missas em espaços de 5 a 30 anos; há aqueles que não demonstram motivos qualquer pela carta de alforria; e poucas usaram o termo “por escrúpulos”, porém não fica evidente o porquê desse motivo; boa parte das alforrias é doada pelos “bons serviços que me tem feito”, ou “pela lealdade com que me tem servido”, ou ainda “por que o criei em minha casa”, ou simplesmente pelo o amor de dar. Essas justificativas nos fazem perceber, nas entrelinhas da documentação, certos tipos de relacionamentos cuja condição básica para o surgimento foi a proximidade. O contato mais íntimo e cotidiano fazia do sujeito escravizado uma parte ativa na vida diária do senhor, ao ponto de acreditarmos que este poderia o tratar como ser subjetivo, isto é, alguém capaz de sentir, pensar e tomar suas próprias decisões podendo, portanto, merecer a sua preferência, a confiança e mesmo o seu amor. Esta visão contraria a historiografia da escola paulista, que via o sujeito escravizado apenas como uma mercadoria e, portanto, incapaz de produzir cultura. Conforme QUEIROZ18 Para eles, a escravidão é a pedra basilar no processo de acumulação do capital, instituída para sustentar dois grandes ícones do capitalismo comercial: mercado e lucro. A organização e regularidade da produção para exportação em larga escala – MOTA; SILVA; MANTOVANI: 2000 pag. 197 BELLINI, Ligia. Por Amor e Por Interesse: a relação senhor – escravo em cartas de alforrias. IN: REIS, João José. Escravidão e invenção da liberdade. Ed. Brasiliense. SP. 19¬88 pag. 77 17 MATOSO, Kátia de Queiros. Ser Escravo no Brasil. SP: Brasiliense. 1982 pag.179 18 QUEIROZ, Suely Robles Reis. Escravidão Negra em debate. IN: FREITAS, Marcos César de (org.). Historiografia brasileira em perspectiva. 6. ed., São Paulo: Contexto. 2007 pag. 106. 174 15 16 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos de que dependia a lucratividade – impunha a compulsão ao trabalho. Para obtê-la, coerção e repressão seriam as principais forma de controle social do escravo. Apontam “a violência como vínculo básico da relação escravista”. O cativo, legalmente equiparado a uma mercadoria, poderia – no dizer de Fernando Henrique Cardoso – chegar até a coisificação subjetiva, isto é, a “sua autoconcepção como negação da própria vontade de libertação; sua auto-representação como não homem. A análise dos testamentos nos leva a crer na existência de relações para além das coercitivas, colocando o escravo como um participante ativo de uma sociedade sendo capaz, não só, de resistir ao sistema imposto a ele, mas também de negociar sua vivência dentro dele. Deste modo compartilhamos da ideia de Michel de Certeau para compreender o universo da pesquisa a que me proponho. Em sua invenção do cotidiano ele afirma: Os relatos de que se compõe essa obra pretendem narrar práticas comuns. Introduzi-las com as experiências particulares, as frequentações, as solidariedades e as lutas que organizam o espaço onde essas narrações vão abrindo um caminho, significará delimitar um campo. Com isto, será preciso igualmente uma “maneira de caminhar”, que pertence, aliás, às “maneiras de fazer” de que aqui se trata. Para ler e escrever a cultura ordinária, é mister reaprender operações comuns e fazer da análise uma variante de seu objeto 19 Certeau propõe uma “maneira de caminhar” analisando as práticas cotidianas como modos de ação, como operações realizadas pelo indivíduo no processo de interação social. Ao trabalhar com a História do Cotidiano não realizamos um estudo apenas para demonstrar a subjetividade dos sujeitos históricos, mas sim compreender que são as relações sociais que determinam os indivíduos e não o contrário. O entendimento dos sujeitos, homens e mulheres, livres e escravizados, no Maranhão setecentista só pode ser alcançado a partir das suas práticas sociais e dos modos como eles se reapropiam de uma cultura pré-existente construindo e produzindo, às vezes de modo arbitrário e conflitante, uma polissemia da vivência social. Os sujeitos participantes destes jogos de poder acabam intercambiando culturas, o que nos possibilita ponderar sobre o universo valorativo dos escravizados, uma vez que as fontes escritas produzidas exclusivamente por estes, são muito raras e em algumas vezes inexistentes. Ante a impossibilidade de “ouvir” as vozes desses indivíduos marginalizados, nos resta valer de fontes escritas por indivíduos que não CERTEAU, Michel. A Invenção do Cotidiano: Artes de fazer. 16a Ed. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014 pag. 35. 175 19 Colonização e mundo Atlântico pertenciam a essas camadas e inevitavelmente analisar aspectos da cultura desses sujeitos subjugados, através de filtros e intermediários. Carlo Ginzburg nos traz um bom exemplo para superar essa encruzilhada metodológica. Ao analisar a vida do perseguido moleiro Menocchio na região do Friuli, na Itália no século XVI o historiador utiliza exclusivamente os documentos produzidos pela inquisição, sua abordagem foi completamente diferente das que os historiadores costumavam utilizar, uma vez que ele dá voz à “vítima” utilizando a fala de seu “algoz” 20. Nos testamentos, ao apresentar sua rede de sociabilidades o testador expõem a comunicabilidade existente entre vários universos culturais distintos e essa comunicação se dava a partir de “um relacionamento circular feito de influências recíprocas” 21. Em outras palavras, o uso da cultura não é restrito apenas a uma determinada categoria, ao contrário, é um ambiente no qual os sujeitos interpretam, atribuem-lhes significado e moldam seu mundo como desejam ou podem. Nessa visão, a cultura não pode ser classificada nem como superior ou inferior; independente de sistema econômico ou politico são os sujeitos, a partir das representações criadas de maneira individual e coletiva, que dão sentido ao mundo no qual estão inseridos. A hierarquia e os papéis sociais a quais estão submetidos não podem ser encarados como estado de natureza fixa. Entre costumes, práticas e microrresistências Ainda segundo Michel Certeau, “O que interessa ao historiador do cotidiano é o Invisível...” 22 . Tal afirmativa nos estimula a buscar e enxergar o que não estava explicito e perceber as microrresistências que fundam microliberdades e deslocam fronteiras de dominação; a inversão de perspectiva que ele propõe leva-nos a defender a ideia de terem existido no sistema escravista relações que sobrepujavam o cativeiro coercitivo. Frutos da mesma época os homens e mulheres do Maranhão setecentista buscavam a sobrevivência baseada nos costumes em que viviam. Assim, o problema não está apenas na “cultura” e na “sociedade”, mas sim na apreensão da diversidade e da unidade cultural no interior dos vários grupos sociais. Não se trata, portanto de apenas reconstruir o "universo mental dos escravizados" ao contrário, desejamos demonstrar como, partilhando valores comuns, os sujeitos escravizados foram se sentindo e sendo diferenciados por GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. 10ª Ed, São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 21 Ibidem, pág. 13. 22 CERTEAU: 2012, pag. 31. 176 20 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos seus senhores; negociando e fazendo escolhas autônomas, num contexto de resistências e acomodações das tradições, apontando a própria diferenciação social entre os grupos, criando também canais específicos de compreensão e expressão das tensões sociais. E embora não possamos chegar idoneamente a subjetividades desses sujeitos, para apresentar o que eles pensaram, podemos, a exemplo dos autores citados, analisar a documentação concebendo o cotidiano de uma forma em que os sujeitos presentes nas relações escravistas sejam atores dinâmicos na tessitura do sistema econômico, os quais para além da produtividade desenvolveram-se pautados em teias de relações sociais e culturais. Para exemplificar o que está sendo dito, citamos o testamento de Ignes Maria, em 1758, no arrayal de São Josê do Rio Mearim - Maranhão. Em seu testamento Ignez Maria, que possuía mais de “16 escravos entre machos e femeas” concede apenas uma alforria: “Declaro, q o negro Francisco de que faço menção neste meu testamento lho tenho passado Carta de Alforria pelo amor de Deoz, pelo bom serviço que me tem feito, e Lealdade Com que me tem Servido; e pelo amor Com que Criou os meuz filhos” 23. Convivendo dentro da micropolítica do cotidiano, pôde esse sujeito escravizado destacar-se em meio aos outros e, de certo modo, mostrar-se especial aos olhos de sua senhora, contudo a possibilidade e mesmo existência de carinho e/ou respeito por um escravizado não o desassociava de sua condição de mercadoria. A complexidade da mentalidade escravista forjava sujeitos que admitiam subjetividade e coisificação ao mesmo tempo. É o caso de Jose Alves de Carvalho, natural de Pordello comarca de Vila Real, no reino de Portugal, que ditou seu testamento na cidade de São Luís no ano de 1776. Esse proprietário, dono de casas na Praia Grande, não se afasta da ideia de gerar renda através de suas “peças”, contudo permite a elas a escolha de um novo dono, após sua morte. [...] Possuo mais os Escravos seguintes pretos sem embaraço algum no seu cativeiro; a saber, João, José, e Caetano, e assim mais huma preta por no Por nome Maria Clara com os filhos seguintes Felipe, Manoel, Vicente, Maria, Raimunda, e uma de peito [...] Declaro que os Escravos q’ assima tenho nomeados, estando em companhia de meus testamenteiros, lhe consignarão o tempo de Seis mezes para dentro delles buscares Senhores que os comprem a Sua satisfação, e os ditos meus testamenteiros os venderão pelo que justamente forem avaliados, dando lhe algum tempo aos compradores, que virem convenientes para a satisfação do seu preço, o que aSsim lhes permittam pelo bom serviço que me tem feito. [...]. 24 23 24 MOTA; SILVA; MANTOVANI: 2000 pág. 197. Ibidem pág., 265. 177 Colonização e mundo Atlântico Essa situação não é um caso isolado, pois, por mais que hoje possa parecer ambígua, na visão do senso comum, e que fique claro apenas no olhar de hoje, a escravidão brasileira criou relações nas quais o escravo podia receber reconhecimento e afeição ao mesmo tempo em que garantia renda e lucro. A decisão tomada pelo senhor em dar aos seus escravizados o direito de escolher novos donos ao agrado destes demonstra que as relações escravistas permitiram ao sujeito escravizado ocupar papeis ativos na dinâmica social dos senhores. Perceber decisões como a de Jose Alves apenas como simples ações de um senhor benevolente é admitir o escravizado como inativo nesse meio social, como sendo incapaz de fazer uso da sua subjetividade, de não extrapolar os limites que a escravidão impunha e de não encontrar meios para resistir a esta. Escolher, nesse caso não é um mero “presente”, mas sim um elemento conquistado, provavelmente, através de criatividades, seduções e negociações. Este senhor garantiu somente um direito a esses escravizados: o de escolherem novos donos, entretanto isto não deixou de ser um ganho considerável a eles. O comércio urbano neste período encadeava relações sociais de trabalho bastante peculiares, podendo o escravo gozar um pouco de autonomia econômica. Como demonstra o Testamento de João Lourenço Rebello, natural da Vila de Santo Antonio de Alcântara, no Maranhão, o qual, em 1789, devia a seu escravo, como ele mesmo afirma: “Devo a meu escravo Francisco Mandinga quarenta mil réis os quaes meus testamenteiros pagaram com toda a brevidade a dita quantia ao dito meu escravo”. 25 O fato de o senhor afirmar que devia dinheiro a seu próprio escravo, nos leva a crer na existência de acordos sistêmicos, que permitiam a acumulação de pecúlio, e fortalecia uma intricada rede de solidariedade constituída ao logo das relações sociais. No Testamento do português José Ferreira da Cunha, natural da Vila de Guimarães, no Arcebispado de Braga, percebemos mais claramente esse jogo de negociações comercias, uma vez que o testador-comerciante colocava-se como credor de alguns escravos e devedor de outros, como explicita esse trecho de seu testamento: “Domingos criolo escravo de Donas Lourença moradora no [ilegível]/ deve-me/ quatro mil reis [...]. Deve-me o criolo Bonifácio dom dito oitocentos reis [...]. Devo mais a hum preto de Thomas Correya nevecentos secenta”26. O trato com o comércio, movido geralmente pela esperteza e carisma dos vendedores e das vendedoras de ganho, transformava as relações escravistas em 25 26 MOTA; SILVA; MANTOVANI: 2000 pag. 277. Ibidem, pag. 207. 178 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos relações pessoais bastante complexas e que em parte forjavam maiores oportunidades de resistência e ascensão. Contudo essa fluidez de movimentos não pode ser confundida com a liberdade de lei, pois, as condições dadas para que os escravizados viessem a iniciar seu pecúlio e construir seus espaços de liberdade, de solidariedades, cumplicidade, troca de favores e mesmo laços afetivos entre cativos e proprietários, não inibiam o olhar vigilante e as ações violentas destes mesmos senhores ou mesmo do Estado, que se manifestava sempre que estavam em jogo os interesses do próprio Estado, como em relação ao contrabando e questões de segurança pública. Considerações finais Do conflito às negociações, percebe-se nos testamentos, que esses sujeitos escravizados buscaram adequar-se à nova realidade em que estavam inseridos e em busca de uma sobrevivência melhor, criaram estratégias, abusaram da criatividade, serviram-se de artimanhas, seduções e tudo mais que tivessem a seu alcance. E embora não possamos acessar de fato a subjetividade dos envolvidos, podemos, nos mover no âmbito do provável, longe do etnocentrismo inocente27 através da leitura semiótica das “entre linhas” e “espaços em brancos” da fala dos dominantes, conceber o cotidiano do sistema escravista de uma maneira diversa, uma que contribua para a superação de um fetiche introjetado no senso comum, de inferioridade e passividade do escravo, uma forma em que resistência não seja apenas fugas e revoltas, uma em que o escravo apareça como um sujeito ativo na dinâmica social do sistema. Enfim, acreditamos que o Maranhão setecentista não foge da dinâmica de outros lugares do Brasil à mesma época e que, portanto o sistema escravista brasileiro é constituído por um complexo universo de relações, que para além da coerção foi pautado, também por vínculos de poder e afetividades. 27 GINZBURG 2002, pag.41 179 Colonização e mundo Atlântico LA ANTROPOFAGIA EN EL NUEVO MUNDO DURANTE EL SIGLO XVI. LA CREACIÓN DE UNA DE LAS PRIMERAS POLÍTICAS INTERNACIONALES Raúl Aguilera Calderón 1 Resumen La documentación de la antropofagia por parte de los cronistas del Nuevo Mundo en el siglo XVI, alimentó un escenario global para clasificar a sus habitantes como barbaros e inferiores. El imaginario occidental se encargó de proyectar un retrato de los canibales como monstruos con cabeza de perro, que se extendio por todo el mundo. Estas caracteristicas fueron escenciales para crear una de la primeras políticas públicas internacionales para el Nuevo Mundo: cautivar y vender como esclavos a los indigenas que practicaran la antropofagia. No obstante, si observamos detalladamnte esta documentación es posible entender la perspectiva local, el punto de vista emic, del canibalismo. Palabras-Clave: Antropofagia, canibalismo, crónicas, imaginario, Nuevo Mundo, siglo XVI. Introducción Indudablemente uno de los temas que cautivó la atención y la imaginación del hombre occidental al explorar el Nuevo Mundo, fue la antropofagia. En América recibe el nombre de canibalismo. Las primeras noticias sobre incluir carne humana en la dieta en este continente, se la debemos a Cristóbal Colón. Él registra el término de “caniba” o “caníma” de boca de uno de sus informantes; los indios Taínos, que más tarde se identificaron con el nombre arawak 2. […] aquellos indios que llevaba llamaban Bohío, la cual decían que era muy grande y que había en ella gente que tenía un ojo en la frente; y otros que se llamaban 1Mestre em Antropologia Social; Doutorando, Programa de Pós-graduação em História Social da Amazônia - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - UFPA. Bolsista CAPES. 2 CHICANGANA-BAYONA, Aucardo Yobenj. “El nacimiento del Caníbal: un debate conceptual”, Historia Crítica 36, 2008, pp. 157-158. 180 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Canibales, á quien mostraban tener gran miedo. Y diz que vieron que lleva este camino, diz que no podían hablar porque los comían, y que son gente muy armada3. El término caníbal es, pues, una categoría dentro de la lengua arawak para clasificar a sus enemigos; los caníbales, y más tarde se retomó para crear un estereotipo de los indios del Nuevo Mundo. El interés de Colón sobre el tema se debe principalmente al lugar donde habita dicho grupo. En sus descripciones, los caníbales están asociados a riquezas y a los árboles de canela, que tanto anheló. No obstante, en su nutrida y gran imaginación con claros referentes medievales, Colón ya había prefabricado una imagen de los caníbales. Días antes, cuando su Almirante mostraba a los arawak lo que estaba buscando: pimienta, canela, perlas, entre otros productos, Colón describe en su Diario de abordo a los caníbales como “hombres de un ojo, y otros con hocico de perros, que comían los hombres, y que en tomando uno lo degollaban y le bebían su sangre, y le cortaban su natura”4, que ya están presentes en el Il Milione de Marco Polo (1254–1324), cuando describe a los nativos de las islas Angaman (o Andaman). “No hacen asco a carne alguna, pues comen carne humana. Sus hombres son muy monstruosos, pues hay unos que tienen cabeza de perro y ojos parecidos a los caninos”5. Y no es de extrañar que Colón retome estas características para darles forma a los caníbales de América, pues creyó estar en Asia. En su imaginario, los habitantes de las islas Angaman y los caníbales compartían la misma forma: monstruos gigantes con cabeza de perro y un solo ojo. Los atributos que Colón retoma no solo de Marco Polo hizo que los caníbales del Nuevo Mundo, fueran vistos como parte de las leyendas de Heródoto; gigantes de un solo ojo en la mitad de la frente y con un temperamento terrible, y hombres con cabeza de perro que devoran carne humana6. Elementos de la mitología griega y egipcia, que estaban fuertemente presentes en la cosmovisión europea de aquella época. De modo que al intentar de explicar qué es la antropofagia, Cristóbal Colón lo hace con las rejas del pensamiento antiguo7. Aunque Colón no observó directamente la práctica de la antropofagia entre los indios del Nuevo Mundo y de hecho, niega la existencia de monstruos en la COLON, Cristóbal Relaciones y cartas de Cristóbal Colón. Madrid, Biblioteca Clásica, 1892, p. 72. 4 Ibíd., p. 55. 5 POLO, Marco El libro de Marco Polo anotado por Cristóbal Colón, 2014, p. 115. 6 CHICANGANA-BAYONA, 2008, p. 159. 7 GRUZINSKI, Serge Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización. México, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 229-230. 181 3 Colonização e mundo Atlântico carta que dirigió a Luis de Santángel el 14 de febrero: “No encontré en ellos, como se presumía, monstruo alguno, sino gente de mucho obsequio y benignidad”8, Colón proyecto una imagen de los indios del Nuevo Mundo, un estereotipo, que pronto se difundió bajo los valores, percepciones y prejuicios de los europeos. Esta idea tiene mayor relevancia en la correspondencia que Américo Vespucio dirigió a Lorenzo di Medici. En sus cartas afirma ser testigo ocular entre los Tupí. No obstante, y dado que la gran mayoría de la gente no sabía leer y escribir en aquella época, los indígenas del Nuevo Mundo obtuvieron su difusión como caníbales en toda Europa, gracias a xilografías divulgadas por las imprentas alemanas. La casa editorial de Estrasbrugo publicó los cinocéfalos de Lorenz Fries, que acompaña la carta Uslegung der carta marina; y los famosos grabados de Johan Froschauer de la versión alemana del Mundus Novus de 1505, Disz büchlin saget wie die zwe... herrē ... Fernandus. K. zü Castilien. Mientras que la casa editorial de Frankfurt publicó en 1592, las xilografías de Theodore De Bry que dan vida a las aventuras de Hands Staden. Aunque Froschauer humaniza en cierto sentido a los caníbales del Nuevo Mundo, la imagen que más peso tuvo, no sólo dentro sino también fuera de Europa, fue la de Lorenz Fries: monstruosos gigantes con cabeza de perro. El ejemplo más claro se puede encontrar en la iconografía del mapa del turco Piris Reis de 1513. En la carta marítima del almirante y cartógrafo del imperio otomano, claramente se puede observar seres gigantes y perros danzantes en lo que corresponde hoy al norte de Brasil y el Caribe. Sandra Sáez-López y Aucardo Chicangana-Bayona9 consideran que las representaciones durante el siglo XVI, pierden su valor etnográfico principalmente por dos cuestiones: La primera se debe a que los artistas en esta época hunden sus raíces en el arte occidental medieval; mientras que la segunda, es que aún no se tiene una ilustración in-situ sobre esta práctica. Durante las primeras expediciones, no se reclutaron artistas y las imágenes se diseñaron a partir de las descripciones textuales de los exploradores. Bajo esta lógica, también se debe de cuestionar el grado de exactitud y de fidelidad de los trabajos in-situ, puesto que las crónicas tienen un visión eurocéntrica. Sin embargo, estos documentos siguen constituyendo uno de los corpus más sólidos sobre la realidad COLÓN, 1892, p. 202. SÁEZ-LÓPEZ Pérez, Sandra. “Las primeras imágenes occidentales de los indígenas americanos: entre la tradición medieval y los inicios de la antropología moderna”, Anales de Historia del Arte, 2011, p. 479; CHICANGANA-BAYONA, 2008, p.159. 182 8 9 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos colonial en América; su lectura, como bien lo señala Jorge Chen, debe de ser diferencial y distinta de ellas10. Las imágenes de la antropofagia durante el siglo XVI tienen la misma validez que el dato etnográfico, por el simple hecho de que también nos proporcionan información. Las ilustraciones presentan una visión global, una propaganda fide al servicio de la Monarquía Católica, con lo que se creó una de las primeras políticas públicas internacionales: El 29 de agosto de 1503 se publicó en una real cedula, el decreto oficial que permitía hacer cautivos y vender como esclavos a los indios que practicaban la antropofagia11. La siguiente generación de exploradores y misioneros que llegaron al Nuevo Mundo, tenían una visión global de la antropofagia como una práctica inferior e inaceptable y gracias a este decreto tenían luz verde, por así llamarlo, para esclavizar y comercializar con todos aquellos indios que practicaran el canibalismo. Pero, ¿cómo fue definida la antropofagia en América? Para aproximarnos a una respuesta realizaré un recorrido por el Nuevo Mundo a través de los cronistas, que registraron esta práctica. El caso del Tlacaxipeuliztli entre los aztecas Para el caso de México, Bernal Díaz del Castillo y Francisco López de Gómara señalan en diferentes pasajes de sus obras, cómo se realizaba la antropofagia entre los mexicas- tenochcas. Ambos cronistas describen los sacrificios humanos en honor al dios de la guerra, Huitzilopochtli. En lo alto de una pirámide uno de los papas -nombre que se les otorgó a los tlamacazqui que oficiaban las ceremonias- sacaba el corazón de uno de los prisioneros y después arrojaba su cuerpo sobre la escalita principal. En muchas ocasiones, los tlamacazqui vestían las pieles de los sacrificados y danzaban frente al público. Incluso, también al que llamaban “rey de Mejico” bailaba con la piel del cautivo principal. Al final de la ceremonia, “los dueños de los esclavos se llevaban sus cuerpos sacrificados, con que habían plato á todos sus amigos; quedaban las cabezas y corazones para los sacerdotes…”12. Ambos exploradores llegaron a la conclusión que el sacrificio humano y la ingesta del cuerpo, es una actividad relacionada con el infierno; empero, entendieron que no eran los aztecas que se CHEN Sham, Jorge. “Las inscripciones corporales del indio: canibalismo y desnudez en Pedro Cieza de León”, Filología y Lingüística No 39, Vol. 1, 2013, p. 77. 11 HELENA Parés, Carmen. Huellas KA-Tu-Gua. Cronología. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1994, p. 36. 12 LÓPEZ de Gómara, Francisco. Historia de la conquista de México. Venezuela, Fundación Biblioteca Ayacucho, 2007, p. 426. 183 10 Colonização e mundo Atlântico alimentaban, sino sus deidades. “… que dizen q’ es como la que está en los infiernos con la boca abierta, y grandes colmillos para tragar las ánimas”13. De ser así como lo plantean López de Gómara y Díaz del Castillo, existe una restricción sobre las partes del cuerpo humano que no se comían entre los aztecas: el corazón y la piel. El primero era la ofrenda principal para el dios Huitzilopochtli; mientras que el segundo se utilizó como disfraz para la danza ritual. Pero también nos habla de otro elemento de suma importancia durante la práctica del sacrificio, las relaciones que se crean a partir de la ingesta del cadáver. Fray Bernardino de Sahagún nos amplía la información en su Historia general de las cosas de la Nueva España (1580). Para él la antropofagia entre los aztecas reafirma las relaciones dentro de su grupo doméstico14. También era una actividad restrictiva, el dueño del cautivo no come la carne del sacrificado, puesto que a través de éste él se define así mismo, el “otro”. Asimismo, se buscaba estructurar las relaciones no sólo al interior del grupo doméstico, sino también fuere de éste15. Incluso, por medio de la antropofagia también se buscaba la movilidad social16. Provincia de Guatemala y Castilla de Oro Fuera de los confines del señorío azteca, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés documenta la práctica de la antropofagia en la provincia de Guatemala. En su Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano (1535) retoma el concepto del romano Plinio, de quien estaba fuertemente influenciado, y define la antropofagia entre los mayas como “Comedores de carne humana, beban con la cabeza de los hombres ó calaveras; y que los dientes, con los cabellos que los matan, traen por collares” 17. Por otro lado, Oviedo observó que la antropofagia no sólo era una fiesta para alimentar a los dioses, sino también para reconocer socialmente el lazo conyugal públicamente. En sus descripciones la antropofagia está asociada, entre otras cosas, al matrimonio18. DÍAZ del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Madrid, Imprenta del Reino, 1632, p. 72. 14 SAHAGÚN, Fray Fernandino de, Historia General de las Cosas de la Nueva España. México, Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, 1829, p. 93. 15 Ibíd., p. 91. 16 Ibíd., p. 89. 17 OVIEDO y Valdés, Gonzalo Fernández de. Historia general y natural de las India. Islas y tierra-firme del mar océano, Madrid, Real Academia de Historia, 1852, p. 192. 18 OVIEDO apud BLANCO, Villalta. Antropología Ritual Americana. Buenos Aires, EMECÉ, 1948, p. 38. 184 13 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos Pero la antropofagia no era algo exclusivo entre los indígenas de Mesoamérica. En las provincias del Darién, Cartegena y Santa Marta, que formaron parte de la antigua gobernación de Castilla del Oro (sureste de Centroamérica y norte de Sudamérica), López de Gómara documenta la participación de las mujeres durante la práctica de la antropofagia19. Y, al igual que los grupos mesoamericanos, era recurrente la compra de esclavos para llevar a cabo la antropofagia. Incluso se tiene el registró de la organización de expediciones, con el objetivo de cubrir esta demanda. Del exocanibalismo al endocanibalismo entre los incas En el Perú se tiene el ejemplo más claro de la práctica de obtener cautivos con el objetivo de vender esclavos. En los Comentarios reales de los incas (1609) de Gómez Suárez de Figueroa, mejor conocido como el Inca Garcilaso de la Vega, señala que era muy común entre los incas la captura de esclavos, sin importar sexo o edad, para su venta20. Por otro lado, también nos comenta que era común la práctica del endocanibalismo, “… y que no solamente comían la carne de los comarcanos que prendían, sino también la de los suyos propios cuando se morían”21. Actividad que hasta el día de hoy, no se tiene registro para el área de Mesoamérica. La práctica del endocanibalismo retoma mayor importancia en la obra Crónicas del Perú. El señorío de los incas (1553), Pedro de Cieza de León. Este cronista nos señala A las mujeres embarazadas les abrían el vientre con un cuchillo de pedernal, para posteriormente consumir el feto 22. Por desgracia Cieza de León no explica con exactitud la condición social de las mujeres. Pero si se recurre a los datos etnográficos entre los indígenas del Pakaa- Nova, que habitan el norte de Brasil, se puede exponer que la ingesta del feto esta intrínsecamente relacionada con el rompimiento de una norma: “los hijos sin padre eran indeseables porque no tenían quien les diera de comer”23. LÓPEZ, 2007, p. 84. VEGA, Garcilaso de la, Primera parte de los comentarios reales de los incas. Lisboa, Princep, 1609, p. 372. 21 Ibíd. 22 CIEZA de León, Pedro, Crónica del Perú. El Señorío de los Incas. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2005, p. 60. 23 VILAÇA, Aparecida. “O canibalismo funerário Pakka-Nova: uma etnografía” en Amazõnia. Etnologia e História Indígena. Eduardo Viveiros de Castro y Manuela Carneiro da Cunha (coord.), São Paulo, Universidade de São Paulo, 1993, p. 295. 185 19 20 Colonização e mundo Atlântico Fray Pedro de Simón y las ceremonias de victoria entre los indios Pijaos En la parte norte de los Andes, entre Colombia y Venezuela, Fray Pedro de Simón documenta el endocanibalismo y exocanibalismo durante las ceremonias de victoria entre los pijaos, grupo indígena que habitó esta región a la llegada de los europeos. En su obra, Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales (1625), señala como los indios pijaos recogían a sus muertos en batallas y eran devorados durante su funeral. “No tienen otras grangerías más que comérselos, y así hacen asiento en ellos, por los días que les parece son menester para comer sus muertos, y herido, que por esta razón pelean con flechas sin yernua, porque no quede enficionada la carne24”. Si los pijaos obtenían el triunfo de la batalla, la victoria se celebraba con un gran festín donde el platillo principal eran los caudillos secuestrados durante la guerra. Fray Pedro de Simón comenta que durante la fiesta se bailaba toda la noche al son de las flautas y caracoles, y se bebía una gran cantidad de chicha. Los prisioneros eran colocados al centro de la fiesta sobre una hoguera, con las manos y los pies atados a dos varas de madera. Mientras se asaban, al que este cronista llamó “el indio principal” o “el más valiente” 25 danzaba alrededor del cautivo y le cortaba un pedazo de piel. Más tarde y por orden jerárquico, los participantes hacia lo mismo “… y se la comen así cruda; otros le dan una cuchillada con unos cuchillos de oja de caña brava, o piedras, que tienen para esto, y de dientes de animales bravos, o pescados…”26. Al final, las mujeres destazaban el cuerpo de los cautivos y lo cocían junto con mazorcas de maíz. Hans Staden y su observación participante En Brasil, Hans Staden participó en varias ceremonias relacionadas con la ingesta de carne humana. Este militar y marinero alemán fue secuestrado por los tupinambás, grupo indígena que habitó al sureste de Brasil a la llegada de los europeos. En su cautiverio, que duró más de diez meses, fue testigo ocular de esta práctica. Incluso vivió bajo la amenaza constante de ser devorado. En su obra, Verídica historia y descripción de un país de salvajes desnudos y feroces caníbales situados en el Nuevo Mundo América (1557), describe con mayor detalle el endocanibalismo y exocanibalismo, así como las relaciones que se desprenden de ambos. Staden señala como los tupinambás trataban como huéspedes a sus SIMÓN, Fray Pedro de. Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales Madrid, 1627, p. 322. 25 Ibíd. 26 Ibíd. 186 24 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos prisioneros. Les ofrecían una mujer para que viviera en concubinato con ella 27. Muchas veces hasta dos o tres mujeres. Incluso, como lo señala el jesuita Pedro Corrêa, hasta la hija del caudillo principal de la tribu 28. Pero existía una clara diferencia de género en este trato. Las mujeres capturadas no tenían derecho a un “marido”, como lo comenta Jean de Léry29. Si la mujeres resultaban embarazadas, los hijos de esta relación eran educados bajo los valores y preceptos del grupo, pero cuando llegaban a cierta edad eran sacrificados y devorados como cualquier otro cautivo 30. Viveiros de Castro señala que la mujer del cautivo era de preferencia una hija de la hermana de su futuro matador31. El sacrificador mata, pues, a los hijos y al esposo de su sobrina. De ser así, qué relación tenían. Para el sacrificio, los prisioneros se decoraban con pintura, de la misma forma que los travesaños donde después serían sacrificados. El rostro, según Corrêa, era pintado de color azul, pero en otras ocasiones también les colocaban una capucha de cera adornada con plumas de distintos colores, similar a la de los travesaños32. En esta etapa del ritual se confeccionaba una cuerda llamada massurane33, que servía para atar el cuello de los prisioneros. Jean de Léry nos señala que dicha cuerda es una fibra de árbol llamada uyire (piel de árbol) y es muy semejante a la tilia europea.34 Mientras que las mujeres hervían agua con pedazos de mazorca en grandes vasijas, el tupinambá que debía matar al prisionero, que Staden lo identificó porque su cuerpo estaba pintado de marrón con ceniza35, se paraba frente a los cautivos con el Iwera Pemme en las manos y comenzaba el diálogo ritual entre ellos36. Al finalizar la charla, los hijos y el esposo de su sobrina recibían varios golpes en la nuca y con ello, el sacrificador adquiría un nuevo nombre 37. De Léry observó que también se hacían incisiones también en el pecho, en los STADEN, Hans. Suas Viagens e Captiveiro entre os selvagens do Brasil. São Paulo, Rua Direita no 6, 1900, p. 147. 28 CORRÊA, Pedro. Cartas Jesuiticas II. Cartas Avulsas 1550-1568. Rio de Janeiro, Publicaciones de la Academia Brasileira, 1931, p. 98. 29 LÉRY, Jean de. Viagem à terra do Brasil. Brasil, Biblioteca do Exército, 1961, p. 152. 30 STADEN, Ibíd., p. 147. 31 VIVEIROS de Castro, Eduardo. “Alguns Aspectos da afinidade no dravidianato Amazônico” en Amazõnia. Etnologia e História Indígena. Manuela Carneiro da Cunha y Eduardo Viveiros de Castro (org.), São Paulo: Universidade de São Paulo, 1993, p. 190. 32 CORRÊA, Ibíd., p. 98. 33 STADEN, Ibíd., p. 148. 34 LÉRY, Ibíd., p. 155. 35 STADEN, Ibíd., p. 154. 36 Ibíd., 156. 37 Ibíd., 158. 187 27 Colonização e mundo Atlântico muslos, en el estómago y en las piernas, lugares donde se pudieran observar. Cada incisión indica el número de víctimas sacrificadas y simboliza una gran proeza entre los miembros de la comunidad38. Este rito, como los explican los frailes José de Achieta y Fernão Cardim en 1580, era un rito de paso para los hombres tupinambás 39. Sin haber matado un cautivo y pasado por la primera mudanza de nombre, un joven no estaba apto para contraer matrimonio. Ninguna madre daría a su hija a un hombre que no hubiese capturado a uno o dos enemigos y sin haber cambiado su nombre de infancia40. Conclusiones En este breve recorrido, se puede observar que los cronistas y exploradores sabian perfectamente que la antropofagía en el Nuevo Mundo formaba parte de una celebración y no era considerada un complemento dietetico. Sahagún, Lopez de Gómara y Diaz del Castillo, hallaron que la ingesta del cuerpo humano durante la fiestas del Tlacaxipeuliztli, no eran los aztecas quienes se alimentaban, sino sus deidades. Oviedo entendió que entre los mayas de Centroamérica, la antropofagia era parte de una celebración para reconocer públicamente el matrimonio. Cieza de León, Garcilaso de la Vega y Pedro de Simón, comprendieron que los incas y los piajos, respectivamente, practicaban tanto el endocanibalismo como el exocanibalismo. Staden y la compañía de Jesuitas dedujeron que la antropofagia entre los tupinambás era un rito de paso. Sin embargo, ante los ojos de los europeos, dicha práctica fue vista bajo un solo escenario: inferior e inaceptable, premisa que legitimó la real cedula del 29 de agosto de 1503, que permitía hacer cautivos y vender como esclavos a los indios que practicaban la antropofagia. LÉRY, Ibíd., p. 159. Anchieta y Cardim apud VIVEIROS, 1993, p. 228. 40 Ibíd. 188 38 39 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos SERTÃO ERRADIO? NARRATIVA E A CONCEPÇÃO DE OCUPAÇÃO DA FRONTEIRA ENTRE PARÁ E MARANHÃO (1790-1803) Sueny Diana Oliveira de Souza1 Resumo É objetivo do presente trabalho discutir a concepção que diferentes sujeitos atribuem ao processo de ocupação da fronteira entre Pará e Maranhão em fins do século XVIII e inicio do XIX, percebendo a importância que a narrativa assume ou pode assumir na produção do conhecimento histórico sobre esse processo. Palavras-chave: Fronteira, ocupação, Pará e Maranhão A narrativa e a pesquisa Na região do Turiaçu, fronteira entre Pará e Maranhão de 1772 a 1834, inúmeras foram as organizações sociais, as redes de sociabilidade, conflitos e direcionamentos para se estabelecer a ocupação e controle sobre os sujeitos e espaço físico da fronteira. Para atingir tal intento as organizações e dinâmicas desenvolvidas na fronteira, foram percebidas, entendidas, interpretadas e representadas de maneiras distintas, variando de acordo com a situação de cada sujeito dentro das relações. Ou seja, o espaço da fronteira foi compreendido de formas múltiplas variando de acordo com os interesses de cada individuo. Nessa perspectiva é que podemos associar as diversas atribuições dada a fronteira ao conceito de sertão. Pois, essa área de fronteira fora denominada de sertão por autoridades do governo atribuído a esse conceito um carga pejorativa. Nesse sentido, Pedro Puntoni afirma que “ao olhar do magistrado, o sertão era o ‘receptáculo de tudo que é mau’. Lugar da mistura e confusão de povos, cujo caráter era duvidoso”.2 Porém, Janaína Amado apresenta diferentes sentidos atribuídos ao sertão, onde Doutoranda em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Bolsista CAPES. 2 PUNTONI, Pedro. A guerra dos Bárbaros: povos indígenas e colonização no sertão nordeste do Brasil, 1650-1720. São Paulo: Hucitec - Fapesp, 2002, p. 288. 189 1 Colonização e mundo Atlântico se foi erigido como categoria pelos colonizadores e absorvidos pelos colonos, em especial pelos diretamente relacionados aos interesses da Coroa, “sertão”, necessariamente, foi apropriado por alguns habitantes do Brasil colonial de modo diametralmente oposto. Para alguns degredados, para os homiziados, para os muitos perseguidos pela justiça real e pela inquisição, para os escravos fugidos, para os índios perseguidos, para os vários miseráveis e leprosos, para, enfim, os expulsos da sociedade colonial, “sertão” representava liberdade e esperança; liberdade em relação a uma sociedade que os oprimia, esperança de outra vida, melhor, mais feliz. Desde o início da história do Brasil, portanto figurou uma perspectiva dual, contendo em seu interior, uma virtualidade: a da inversão. Inferno ou paraíso, tudo dependeria do lugar de quem falava.3 Já para Maldi a representação dos sertões e de seus habitantes era caracterizada “pela ausência – seja de limites, seja de fronteiras ou de outras formas de atribuição de plausabilidade à dimensão geográfica”. Tal caracterização contradizia a concepção de fronteira atribuída pelos europeus. 4 Segundo a autora “a definição do ‘sertão’ vai ser a própria indefinição abrindo a consciência européia para um espaço múltiplo e polimorfo”. 5 Dessa forma além de um variedade de interpretações dadas a uma região concebida como sertão por diferentes interesses, o que percebo também são diferentes formas de compreender o social, e, por conseguinte, diferentes formas de construir e compreender o conhecimento histórico, tendo em vista que este é mais que uma representação da realidade, é reconstrução do passado.6 A região do Turiaçu pode ser compreendida por meio de diferentes documentações que também refletem a visão que se quer dar sobre a região. Nesse sentido, a Narrativa é compreendida como contar uma história e contar uma história é desenrolar a experiência humana no tempo, levando-se em consideração os interesses e perspectivas de quem narra e quais sentidos são atribuídos as experiências e organizações dos sujeitos no espaço e no tempo. 7 A narrativa foi rejeitada pela historiografia, sobretudo, a partir dos Annales. O desprezo se deu em virtude da aversão ao estilo descritivo e factual através do qual a história era retratada. Os Annales romperam com a história AMADO, Janaína. “Região, sertão, nação”. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 8, n° 15, 1995, p. 149. 4 MALDI. Denise. De confederados a bárbaros: a representação da territorialidade e da fronteira indígenas nos séculos XVIII e XIX. Revista de Antropologia. São Paulo, USP, v. 40, n. 2, 1997, p. 92. 5 Ibidem., p.191. 6 NUNES, Benedito. Narrativa histórica e narrativa ficcional. In: RIEDEL, Dirce (org.). Narrativa: ficção & história. Rio de Janeiro: Imago, 1988, p. 11. 7 Ibidem., p. 13. 190 3 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos historicizante ou tributária dos acontecimentos. O objeto da história ciência passou a ser não mais os grandes homens e seus grandes fatos e feitos, mas os grupos sociais, criticando o acontecimento na sua superficialidade e buscando a série, o repetido.8 Essa forma descritiva da narrativa como reflexo da realidade ou da história é criticada tanto por Hartog, Nunes e Chartier, porém nenhum destes defende, necessariamente, o fim da narrativa, mas mudanças na forma como está fora desenvolvida durante décadas. A narrativa, sobretudo, dos processos históricos devem ser desenvolvidas a partir de indagações, hipóteses, perguntas etc., e deve permitir ao leitor possibilidades de tais indagações.9 A opção da discussão neste trabalho é a de valorização e resgate de histórias que trazem a tona os interesses e objetivos do governo português em uma distante localidade no norte do império luso, mas acima de tudo retratar as relações que se desenvolveram a parte ou como contraponto deste processo. Assim a pesquisa busca discutir um tempo partindo do social e não, necessariamente, do tempo baseado em um grande acontecimento. 10 Nessa perspectiva, a discussão sobre narrativa desenvolvida por François Hartog, Roger Chartier e Benedito Nunes, podem levar o leitor a perceber as diferentes formas de narrar e construir o conhecimento histórico sobre o Turiaçu, partindo do poder que o discurso possui e as formas como a narrativa produzida por meio deste, atribuí diferentes sentidos ao processo de “construção” e ocupação da fronteira entre Pará e Maranhão em fins do século XVIII e inicio do XIX, que foi realizado baseado em discursos e justificativas, sobretudo, de homens do governo na tentativa de impor princípios e valores da colonização portuguesa na região. Estratégias de ocupação A vila de Bragança foi fundada em 1754. Antes disso, esta vila era denominada Souza do Caeté e pertencia a capitania do Caeté, uma capitania privada doada a Álvaro de Sousa e repassada a seus herdeiros. Somente em 1753 no governo de Mendonça Furtado a capitania do Caeté foi extinta e anexada à HARTOG, François. Disputas a respeito da narrativa. In: Evidencia na história: o que os historiadores veem. Belo Horizonte: Autêntica, 2011, p. 174. 9 Ibidem., p. 177. 10 CHARTIER, Roger. A verdade entre a ficção e a história. In: SALOMON, Marlon (org.). História, verdade e tempo. Chapecó: Argos, 2011, p. 348. 191 8 Colonização e mundo Atlântico capitania do Pará e cerca de um ano depois a vila de Bragança foi fundada. 11 Por meio do Decreto de 14 de junho de 1753, assinado pelo Rei D. José I, ficou decidido que: “o Porteiro Mor Manoel Antonio cede todos os direitos sobre a Capitania do Caeté que ficará para sempre e inteiramente incorporada a Coroa Real”12. A posse da Capitania do Caeté seria tomada pelo Ouvidor Geral da Capitania do Pará. E assim, acabava a Capitania do Caeté por sua incorporação ao Pará. Durante o século XVII e meados do XVIII, Pará, Maranhão e Caeté eram capitanias distintas, sendo que as duas primeiras eram governadas pela Coroa enquanto a última era privada. Porém, o Pará e o Maranhão formavam desde 1621 um único Estado, o Estado do Maranhão e Grão-Pará, que em 1751 passou a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão. Nessas formações ambas as capitanias constituíam juntas um “governo independente” que existiu até 20 de agosto de 1772, quando por meio de um decreto Régio foram separadas em duas capitanias e integradas ao Estado do Brasil. Formaram-se a partir de então as capitanias do Grão-Pará e Rio Negro e Maranhão e Piauí. O limite entre estas foi delimitado neste momento e situava-se no rio Turiaçu. Turiaçu foi, portanto, uma fronteira construída lentamente e ganhava importância conforme os governadores desejassem ampliar a comunicação e comércio entre Maranhão e Pará. Em fins do século XVIII mesmo que a delimitação administrativa da fronteira entre Pará e Maranhão fosse delimitada no rio Turiaçu, é importante ressaltar que a ocupação e a própria descrição da fronteira era feita seguindo uma linha transversal ao rio. A região do Turiaçu por se localizar, de acordo com os administradores portugueses, nos confins ou sertões da capitania era tida como erradia, e os percursos próximos e que levavam a essa região quando ocupados por “desordeiros” acabava sendo inseridos e denominados como sendo parte dessa área de fronteira. Dessa forma Bragança fora descrita como fronteira, pois apesar da vila ficar, aproximadamente, a 50 léguas de distância do rio, a povoação de São Francisco Xavier de Turiaçu foi freguesia de Bragança até 1834, quando passou a condição de vila. Na historiografia o sertão foi imaginado de diferentes formas e conceituado também de forma múltipla, o que percebemos é que o sertão do Turiaçu era um local marcado pelo deslocamento humano, migrações e por inter-relações de muitos indivíduos. Ele era visto como um espaço social periférico que designava OLIVEIRA, Luciana de Fátima. Projetos de colonização de um território: da vila de Souza do Caeté à vila de Bragança: 1740-1760. Dissertação de mestrado: UFG. 2008, 39. 12 AHU: Documentos avulsos: Doc. 3233 Cx. 35. Decreto (cópia) do rei D. José, para o Porteiro-mor, Manuel Antonio de Melo e Sousa, 4/06/1753. 192 11 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos o confim das capitanias mais ao norte do Império lusitano na América. Assim o sertão do Turiaçu, constituía-se por uma região de difícil controle e dominação espacial e dos sujeitos, ou seja, era o lugar onde o controle do governo lusitano não era alcançado por completo. Dessa forma o espaço construído no sertão de Turiaçu ganhou uma identidade, não constituída a partir do próprio espaço, mas como fruto das relações e ações coletivas dos sujeitos que nele se instalaram, viveram e o produziram. O espaço expressava um todo concreto, porém flexível, dinâmico e contraditório moldado e carregado por características, significados e possibilidades que só se realizam quando de fato são impressas e ambientalizadas no próprio território 13. A região do Turiaçu foi um espaço no qual se desencadearam inúmeros conflitos envolvendo a posse de terras, luta contra mocambos, desentendimentos no interior das povoações indígenas dentre outros. A própria criação e mudanças de localidades e de povoações ao longo, ou nas proximidades, do rio Turiaçu relatava a tensão que existia na região. O governo investiu inicialmente em um processo de ocupação pautado, sobretudo, via doação de cartas e datas de sesmarias. Isso fica claro quando notamos que a estrada de comunicação entre o Pará e o Maranhão, na última década do século XVIII, no distrito de Turiaçu, estava ocupada por fazendas com criação de gado. O problema é que na última década do século XVIII durante o processo de abertura das estradas, na área das Campinas 14, nenhuma fazenda de criação de gado se localizava na margem da nova estrada de comunicação. A primeira povoação localizava-se na cabeceira do rio Cararauá a uma distancia de uma légua da estrada para a costa ficando entre o rio Turiaçu e o Maracassumé onde o capitão Estevão de Alracida, morador da capitania do Maranhão iniciou a criação de gado vacum por volta de 1791 com cerca de cem cabeças. A segunda se localizava nas cabeceiras do rio Perucaua, localizada a meia légua da estrada para a costa ficando entre os rios Maracassumé e o Gurupí. A povoação seguinte se localizava nas mesmas terras, porém quase a margem do rio Gurupí e distante a uma légua da estrada, sendo a menos produtiva das três povoações dessa região. Aí havia uma fazenda de gado pertencente a viúva do capitão André Corcino. Luciana Oliveira percebe o território como um processo de reorganização social que pode ser definido a partir da “criação de uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora; a construção de mecanismos políticos estabelecidos; a redefinição do controle social sobre os recursos ambientais e, por fim, a reelaboração da cultura e da relação com o passado” (OLIVEIRA: 2008, 22). 14 Era área de campo extenso e de poucas árvores. 193 13 Colonização e mundo Atlântico Com a abertura de estradas que interligavam o Pará e o Maranhão outras formas de ocupação foram almejadas. Em setembro de 1793 o Governador da capitania do Pará Souza Coutinho pretendia povoar toda a região que interligava a capitania do Pará ao Maranhão, e solicitou em carta encaminhada ao diretor da vila de Bragança José Maximo que se formasse uma povoação à margem da nova estrada de comunicação entre as duas capitanias na altura do rio Maracassumé. O diretor de Bragança sugeriu então que ao invés de recrutar sujeitos para a formação da nova povoação fosse transferido para a margem da nova estrada o lugar de Mutuoca. A sugestão de José Maximo foi acatada pelo governador da capitania do Pará, porém nem o governador e nem o diretor de Bragança consultaram os índios de Mutuoca. Ao serem comunicados da mudança a que seriam obrigados muitos índios afirmaram não aceitar a decisão. O Principal da povoação, Firmiano Jozé Nunes, foi além e criou empecilhos para a mudança. Muitos índios se ausentaram da povoação a fim de não serem deslocados. Mesmo sem concordarem quase trezentos índios – entre homens e mulheres de diferentes idades – foram apreendidos e obrigados a mudarem de moradia. Durante os quase cinco meses, tempo que perdurou a mudança, alguns morreram e outros nasceram. Em novembro de 1795, 28 índios já haviam abandonado a nova povoação, então denominada de Arroio, e encontravam-se na lista de procurados pelo governo.15 O revide das autoridades para com o Principal da povoação também se fez presente. Usando de um discurso pejorativo José Maximo denunciava a Souza Coutinho que o Principal de Mutuoca era “hum demonio, orgulhoso, ingusito e atrevidisimo” e que o empecilho deste se dava em virtude deste ocultar escravos alheios na povoação e dar cobertura a soldados desertores do Maranhão e Pará e que por isso ficavam sempre longe do pároco e do diretor. 16 Pela posição assumida pelo referido Principal o mestre de campo e responsável pela abertura das estradas que interligavam o Pará ao Maranhão, Antonio Correa Fortado de Mendonça sugeriu ao diretor da vila de Bragança que fosse retirada a patente de Firmiano, já que este não era filho nem neto de um Principal e que tinha conquistado o cargo por ser “astuto”. Sobre a mudança dos habitantes de Mutuoca o mestre de campo afirmava que somente com ela o Turiaçu teria sossego, pois como Mutuoca era uma ilha esta era também um ponto estratégico para o estabelecimento de “criminosos” que lá se alojavam e quando necessitavam fugir tinham a possibilidade de alcançar rapidamente o 15 16 APEP. Correspondências de diversos com o governo. Cod. 345, doc. 60. Ibidem., doc, 38. 194 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos mar ou atravessar o rio, permitindo que a região do Turiaçu estivesse sempre ocupada por esses sujeitos.17 A narrativa construída pelas autoridades portuguesas sobre essa área de fronteira referia-se sempre a conflitos, desobediência, vagabundos e criminosos, ou seja, a de uma região que precisava receber atenção e controle do governo. O caso descrito envolve muitas pessoas e interesses. Se o Principal Firmiano era “astuto” para obter o cargo de líder local, foi também sua astúcia que se transformou em atrevimento e orgulho, quando ela se voltou contra a vontade régia das autoridade absolutistas locais. Mas o que desejavam homens como o principal Firmiano? Os empecilhos apresentados pelo Principal indígena de Mutuoca, possivelmente não se dava apenas pela povoação acobertar negros e fugitivos. Contudo este lado da questão talvez efetive uma certa solidariedade e dependência desta comunidade com aquela dos negros amocambados. Havia um preço para acoitar negros fugidos e este preço certamente era pago com mercadorias e utensílios que os negros poderiam fornecer aos indígenas de Mutuoca. Todavia para além de trocas e favores a insatisfação destes indígenas poderia ainda refletir a forma negativa pela qual percebiam uma mudança de local. Alterações territoriais eram pontos centrais e influenciavam em sua organização local (comunitária). Pois, além de existirem laços estabelecidos com o lugar que ocupavam desde que tinham sido retirados de suas aldeias, estes criaram outros laços sociais com os sujeitos tidos como errantes da região, com os quais compartilhavam de uma vida em liberdade e reinventavam identidades que buscavam preservar. Porém, mesmo com todos os embates gerados em torno da mudança e sem concordarem, os indígenas foram deslocados a força. Porém os conflitos não cessaram. Os índios foram aprisionados e direcionados ao novo destino pelas próprias autoridades portuguesas. Aqui é relevante notar que o deslocamento também significou uma alteração no nome da localidade o que mais uma vez criava problemas a estes antigos moradores de Mutuoca. A mudança de nome por parte do governo poderia ter a intenção de dês identificarem a povoação em virtude da denúncia desta acobertar sujeitos indesejados pelo governo e dessa forma ameaçar a integridade dos que trilhavam por estas paragens. O governo do Pará pretendia fazer da fronteira do Turiaçu um lugar povoado por súditos reais garantindo tranqüilas viagens aos que trilhassem as estradas entre Pará e Maranhão. Porém, o deslocamento forçado de uma povoação e a constituição de uma povoação nas margens da nova estrada por sujeitos que não gostariam de se instalar ali não resolveu a questão e, pelo 17 Ibidem., doc. 36. 195 Colonização e mundo Atlântico contrário criou novos problemas. Até porque a mudança dos índios foi de espaço físico e não de princípios. Podemos fazer uma associação ao que Patrícia Sampaio defende. Para a autora o fato dos índios durante o processo de descimento terem sido descidos e aldeados em locais distantes de suas antigas aldeias não era motivo que lhe desmotivaria de fugir, pois era possível reestabelecer uma vida em liberdade formando um mocambo.18 O deslocamento da povoação de Mutuoca não resolveu ou extinguiu os sujeitos indesejados dessa área de fronteira, pois estes poderiam formar novas comunidades em outro lugar, receber a proteção de outras povoações e até mesmo a nova povoação de Arroio dar cobertura e proteção aos erradios da fronteira em áreas mais distantes do rio. Patrícia Sampaio afirma que “demarcar novas fronteiras para compreensão desse processo, não significa expurgar-lhe a violência e, mesmo ainda, do que isso representou para centenas de etnias que perderam suas referências de identidade e territórios”. Para a autora “dar destaque apenas à sua face mais violenta, faz com que se esvaziem as intervenções de todos os personagens que acompanhamos até aqui, em um esforço brutal para sobreviver em um mundo sempre desigual”.19 E, nesse sentido a forte interação entre indígenas, homens brancos pobres e negros que ao longo dos séculos sempre foi muito freqüente, gerando muitas vezes a dificuldade de distinguir o espaço e a identidade de cada um se manteve. Na região do Turiaçu essa relação sempre foi muito intensa. As questões identitárias dos sujeitos não eram, em sua maioria, de cunho étnico, mas espacial. A concepção de fronteira atribuída pelo governo português era ambígua, pois ao tempo em que se estabelecia um limite físico enquanto fronteira, essa concepção estava atrelada a ocupação do espaço, o que levou a uma intensificação da descrição e proteção desses espaços por meio da ocupação. Pois, se nos embates com as capitanias vizinhas o governo do Pará se valia das delimitações físicas para impor e justificar suas ações dentro da linha imposta pelo rio. Internamente (em fins do século XVIII e inicio do XIX) a fronteira foi concebida, sobretudo, como área de trânsito que necessitava está “protegida” e preparada para tal. Por essa concepção é que se acabava denominando regiões que levavam ao rio Turiaçu como área de fronteira e que se buscou abrir estradas e povoar, por vias legais, suas margens, a fim de garantir tal intento. Daí o porquê da ocupação legal da região do Turiaçu ou da fronteira do Turiaçu ter se dado, principalmente, em um sentido transversal ao rio, pois SAMPAIO. Patrícia Melo. Espelhos Partidos: Etnia, legislação e desigualdade na colônia. Amazonas: EDUA, 2011, p. 124. 19 Ibidem., p. 302. 196 18 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos eram por essas vias por onde se transportava correspondências, desertores, gado e tantas outras coisas entre o Pará e as capitanias vizinhas. Nesse sentido, podemos afirmar que esse processo marcou a ocupação e organização social da fronteira do Turiaçu. Pois, o governo português idealizou e instituiu um projeto de colonização e ocupação pautado, sobretudo, a partir de doações de terras por sesmarias e do controle sobre os índios aldeados. Entretanto, em fins do século XVIII e inicio do XIX, a fronteira parecia dominada por outros sujeitos bem diversos. Nesse período índios, negros fugitivos e homens brancos pobres – muitos dos quais contrabandistas e desertores – pareciam ditar o processo de ocupação alheio ao idealizado pelo governo. E, muito mais que ditar o processo de ocupação esses povos pareciam ser (ou de fato eram) regidos por outros limites e outras fronteiras que eram pautados em suas ações. Esses sujeitos e suas ações eram descritas por José Maximo, diretor da vila de Bragança. Em correspondência encaminhada ao governador da capitania, em 1794, o diretor de Bragança enfatizava que os sujeitos do distrito de Turiaçu não tinham sujeição nem obediência a ninguém. Os sujeitos da fronteira eram, segundo Maximo, dessa forma, por se compor aquelle povo de pessoas vagabundas, refugiados de crimes, sempre criados e costumados a viver por mocambos, seguindo huma sempenciosa vida em a qual se temão (...) outro viver mais que em concombinaçoens e em briagues afectivos, para o que estragar toda a mandioca que plantão desfazendoa em licores, em serem gente em quem senão conhece religião. A similhança destes vive a mayor parte dos moradores do distrito desta vila (Turiaçu) a esseção de huns poucos de filhos das ilhas que ainda há já estropiados, e alguns muito poucos filhos da Europa que aqui se tem estabelecido os mais tudo hé gente inferior sem estimolos de honrra, mal criados e sem temor de Deus...20 Na realidade – como esta era uma fronteira marcada pela transitoriedade dos sujeitos – estes acabaram desenvolvendo características identitárias próprias e ambíguas, muitas vezes contrarias às idealizadas pelo projeto de ocupação e colonização traçado pelas autoridades que representavam o governo português no Pará ou no Maranhão. Mesmo que – no final do século XVIII - as forças do governo sempre estivessem tentando melhorar sua presença na região com o objetivo de transmitir ou impor os princípios para ocupação, a obediência e a vassalagem norteadores desse processo nunca foi efetivada com muito sucesso. O olhar tardio do governo português sobre a região e o longo período em que Grão-Pará e Maranhão compuseram juntos um mesmo Estado parece ter contribuído para esse cenário. Pois, durante a existência do Estado do Grão20 APEP. Correspondências de diversos com o governo. Cod. 345, doc. 38. 197 Colonização e mundo Atlântico Pará e Maranhão a liberdade de comércio e livre trânsito entre as duas capitanias era comum. Além disso, essa área de fronteira localizava-se próximo ao mar e possuía um porto que recebia descarga de mantimentos de diversas regiões desta província e do Brasil, assim como de tumbeiros procedentes diretamente da África ou de outros portos brasileiros.21 Assim em regiões portuárias geralmente havia relevante contrabando, que evidenciava as múltiplas possibilidades de lucro com essa atividade.22 As fronteiras, e a do Turiaçu particularmente, foram e são, sobretudo, culturais, cujas atividades cotidianas proporcionaram a construção de sentidos que permitiram fazer parte do jogo de representações que atribuiu classificações, impôs hierarquias e redefiniu limites dos sujeitos e da região do Turiaçu. A fronteira humana em Turiaçu era delimitada pelas áreas de circulação e organização dos indivíduos e acompanhava o desenvolvimento das fronteiras: agrícola, militar, migratória e de comércio23. Esses espaços de fronteira do Turiaçu favoreceram e permitiram uma construção simbólica de pertencimento – a identidade – gerada a partir da aceitação de práticas locais fosse pela unidade ou pela diferença. Assim, nas fronteiras os princípios de reconhecimento encontravam-se intimamente relacionado às analogias, oposições e correspondências de igualdade e diferença, que parecia ocorrer em meio a um jogo permanente de interpretações e relações diversas. E, foram todas essas relações e interesses que nortearam e deram diferentes contornos e significados a fronteira estabelecida no rio Turiaçu. Conclusão Neste trabalho apresentei alguns interesses presentes no processo de ocupação da fronteira entre Pará e Maranhão em fins do século XVIII e inicio do XIX, algumas dificuldades e conflitos desencadeados na região no decorrer SALLES, Vicente. O Negro no Pará: sob o regime da escravidão. Rio de Janeiro: FGV UFPA, 1971, p. 40. 22 Ibidem, p. 40. 23 Sobre essa questão ver: GOMES, Flávio dos Santos. A Hidra e os Pântanos: mocambos, quilombos e comunidades de fugitivos no Brasil (séculos XVII-XVIII). São Paulo: Ed. UNESP/Ed. Polis. 2005. GOMES, Flávio dos Santos & QUEIROZ, Jonas Marçal. “Em outras margens: escravidão africana, fronteiras e etnicidade na Amazônia”. In: Os senhores dos rios. PRIORE, Mary Del. & GOMES, Flávio dos Santos. (orgs). Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 141-163. PUNTONI, Pedro. A guerra dos Bárbaros: povos indígenas e colonização no sertão nordeste do Brasil, 1650-1720. São Paulo: Hucitec; Fapesp, 2002. SALLES, Vicente. O Negro no Pará: sob o regime da escravidão. Rio de Janeiro: FGV UFPA, 1971. 198 21 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos desse processo. Nesse contexto, as aberturas de estradas de comunicação entre as duas capitanias tiveram importante papel. Com o objetivo de afastar esses indesejados o governo do Pará buscou ocupar as margens das estradas, fazendo a ocupação de parte das mesmas por meio de um ato de violência e total desrespeito aos índios que na ocasião - 1797 – foram apreendidos e deslocados de sua povoação até a margem da nova estrada em nome do processo de ocupação da região. Porém, essa foi uma forma agressiva de ocupação aplicada à povoação de mutuoca e totalmente diferente da proposta de ocupação a partir da instalação de grandes fazendas implantadas na região por meio da doação de carta e data de sesmarias. Foram propósitos e processos distintos de ocupação aplicados sobre a mesma região que gerou descontentamentos e conflitos, além de não ter sido eficaz em seu intento. A fronteira do Turiaçu possuía particularidades que não foram levadas em consideração. Essa era uma região ocupada desde o inicio do século XVIII por sujeitos cuja pluralidade étnica e social era marcante e que não impediu a estes de compartilharem de uma rede de solidariedade e sociabilidade que jamais se ateve a divisão administrativa para existir. Isso se dava visto que este era um espaço afastado do controle dos governos, tanto do Pará como do Maranhão, permitindo que o Turiaçu se tornasse um grande atrativo para muitos negros fugitivos, índios, desertores e homens brancos pobres, que estabeleceram a margem do processo de colonização. E, nesse sentido é importante observar a opção pela construção do conhecimento histórico desenvolvida neste texto, que procura narrar os acontecimentos pautados em interesses distintos, cujo espaço social é compreendido a partir da própria concepção que o espaço da fronteira assume para os diferentes sujeitos. Analisar a região e os sujeitos privilegiando a ótica do governo poderia me levar a reproduzir uma discussão pautada em princípios de uma “elite” portuguesa do final do século XVIII e inicio do XIX, e dessa forma produzir uma história de grupos dominantes, uma vez que, os próprios discursos sobre os sujeitos do Turiaçu atribuía a estes uma carga pejorativa e sua depreciação frente aos princípios e valores que deveriam ser implantados. Finalmente, o que este estudo procurou revelar é que nos anos finais do século XVIII e início do XIX o governo português tinha sob seu domínio na região de Turiaçu uma população fluida e instável em uma fronteira que refletia estas mesmas características. E, deve ser analisada a partir da existência, atuação e interesses de sujeitos múltiplos que se fizeram presentes durante o processo de ocupação da fronteira. 199 Colonização e mundo Atlântico AS AÇÕES DOS DIRETORES DE POVOAÇÕES ENTENDIDAS A PARTIR DE SEUS PRÓPRIOS INTERESSES NO GRÃO-PARÁ DO DIRETÓRIO DOS ÍNDIOS Vinícius Zúniga Melo1 Introdução A capitania do Pará, como região integrante do império português, tinha em seu interior, durante a vigência do Diretório dos Índios (1757-1798), práticas e instituições originárias da Europa: câmaras, sesmarias, a configuração das tropas militares e a lógica de prestação de serviços à monarquia portuguesa. Vários eram os diretores de povoações que participavam de algumas delas, de modo que o trabalho irá centra-se especificamente em uma: na lógica de prestação de serviços à metrópole. Porém, paralelamente a inserção dos diretores em meio a essas práticas e instituições de origem europeia, espalhadas pelas diferentes áreas do império português e reconhecidas pela Coroa lusa, esses sujeitos cometiam uma série de infrações à lei, as quais iam de encontro aos interesses metropolitanos. Isto é, ao mesmo tempo em que os diretores realizavam vários favores concernentes aos interesses da Coroa portuguesa na região, eles descumpriam a uma série de normas criadas por essa mesma Coroa. Esses descumprimentos estavam relacionados a questões específicas da capitania do Pará, buscando satisfazer aos anseios da ordem do dia desses diretores. Afirmase isso, pois várias de suas transgressões se davam em relação a três importantes fontes de riqueza local: os gêneros extrativos, agrícolas e a mão de obra indígena. Além do que, muitos desses desvios às normas envolviam alianças com outros agentes sociais: vigários, Principais (chefes indígenas nas povoações portuguesas), cabos de canoa, indígenas e demais moradores. A partir dessas questões, busca-se sustentar o seguinte argumento: na capitania do Pará, durante a vigência do Diretório dos Índios, servir a Coroa Portuguesa e descumprir as normas criadas por ela, não eram práticas incompatíveis, mas sim, coexistentes em torno das ações de um indivíduo. E tanto nos momentos em que o diretor agia em conformidade com a lei, quanto nos momentos em que a descumpria, ele buscava satisfazer vontades pessoais. Os diretores e as suas prestações de serviços à monarquia portuguesa Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. O presente trabalho é financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 200 1 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos O Diretório dos Índios foi um dispositivo regulador da liberdade concedida aos índios pela lei de seis de junho de 1755. Juntas, esta última e o Diretório compunham a política indigenista portuguesa, de forma a atender a um conjunto de interesses da metrópole: povoar e garantir o Vale Amazônico como território colonial português, desenvolver economicamente a região e fortalecer o poder Real.2 Ainda que relacionado a esses interesses do reino, o Diretório surgiu em função das relações havidas na Amazônia portuguesa, de modo que esteve vinculado às demandas da colônia, especialmente ao clamor pela força de trabalho indígena, mão de obra preferencial da região. As circunstâncias da colônia definiram muito das diretrizes impostas por essa política, em especial a garantia de acesso aos trabalhadores índios. Por isso, o Diretório buscava equacionar, de um lado, as projeções da metrópole e, de outro, as expectativas da colônia.3 O diretor de povoação era o responsável pela tutela dos indígenas no interior das Vilas e Lugares. Os índios aldeados, livres com a lei do Diretório, poderiam trabalhar nas terras dos colonos e nos serviços reais mediante apenas pagamento. Entre as várias atribuições dos diretores, eles deveriam, visando a civilização dos indígenas aldeados, estimula-los ao uso da língua portuguesa e prezar para que fossem honrados e estimados de acordo com os seus cargos. Eram aconselhados a animarem os indígenas para o trabalho agrícola em suas próprias terras e para a realização do comércio. Deveriam, ainda, incentivar uma relação amistosa entre indígenas e brancos no interior das povoações, assim como, o casamento entre eles.4 Ver, dentre outras obras: ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os Vassalos D’El Rey nos confins da Amazônia: a colonização da Amazônia Ocidental. 1750-1798. Dissertação (Mestrado em História), Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1990; ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos Índios: um projeto de civilização no Brasil do século XVIII. Brasília: Universidade de Brasília, 1997; SAMPAIO, Patrícia Melo. Espelhos Partidos: etnia, legislação e desigualdade na Colônia. Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2011; SOUZA JÚNIOR, José Alves de. Tramas do Cotidiano: Religião, Política, Guerra e Negócios no Grão-Pará do Setecentos. Um estudo sobre a Companhia de Jesus e a política Pombalina. Tese (Doutorado em História). Programa de Pós-Graduação em História Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. 3 COELHO, Mauro Cezar. Do sertão para o mar. Um estudo sobre a experiência portuguesa na América, a partir da colônia: o caso do Diretório dos Índios (1751-1798). Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 4 DIRECTORIO que se deve observar... §§ 6; 9; 22-23; 36; 87 e 88. In: ALMEIDA, Rita Heloísa de. Op. Cit., 1997. 201 2 Colonização e mundo Atlântico O diretor tinha como função também participar ativamente do processo de contagem e arrecadação dos dízimos. Eram encarregados de auxiliarem na distribuição, controle e pagamento da mão de obra indígena e na administração da povoação, cuidando, dentre outras coisas, da construção de casas, câmaras e cadeias públicas. Em troca, os diretores deveriam receber a sexta parte dos frutos cultivados e extraídos pelos índios.5 Para além do exercício em uma diretoria de povoação, vários dos diretores na capitania do Pará estavam inseridos em práticas e instituições de origem europeia. Desse modo, a região se enquadra no que afirmam João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa. Para eles, a sociedade nos trópicos foi pensada e organizada por um “conjunto de valores e sistema de regras” originários do sul da Europa: a noção de “monarquia, de conquista, de câmara, de ordenanças e de serviço a Sua Majestade e de nobreza da terra” ajudaram na configuração do Brasil colonial.6 Para António Manuel Hespanha, é difícil achar na América Portuguesa “uma instituição colonial (quer dizer, brasileira) ou constelação social cuja matriz não possa ser localizada nas tradições jurídicas ou institucionais europeias.”7 Diante dessas considerações, é possível visualizarmos algumas dessas instituições e práticas originárias na Europa, presentes na capitania do Pará ao tempo do Diretório dos Índios, as quais ajudavam a organizar a vida em sociedade: as câmaras, as sesmarias, as tropas militares, além da lógica de prestação de serviço à monarquia. Constata-se a presença de muitos diretores que ao longo de suas trajetórias pelo Vale Amazônico participaram dessas práticas e instituições. Por exemplo, Belchior Henrique, na Vila de Cintra, e Pedro José da Costa na Vila Nova Del Rei, ao mesmo tempo em que eram diretores dessas povoações, compunham as respectivas câmaras na função de juiz ordinário e dos órfãos.8 João Pereira Ribeiro e Francisco Roberto Pimentel, que exerceram DIRECTORIO que se deve observar... §§ 27-33; 60-63, 65-69 e 71-73; 74; 34. In: Idem. 6 FRAGOSO, João & GOUVÊA, Maria de Fátima. Introdução. In: FRAGOSO, João & GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). Na Trama das Redes: política e negócios no Império Português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2010, p. 15-16. 7 HESPANHA, António Manuel. Antigo Regime nos trópicos? Um debate sobre o modelo político do império colonial português. In: FRAGOSO, João & GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). Na Trama das Redes: política e negócios no Império Português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2010, p. 72. 8 Auto de devassa da Vila de Cintra [28/03/1764] – APEP, códice 145, documento 11; Auto de devassa da Vila Nova Del Rei [29/03/1764] – APEP, códice 145, documento 14. 202 5 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos as funções de diretores, receberam sesmarias do governador do Estado. 9 Por fim, Jerônimo Manuel de Carvalho, que foi diretor do lugar de Barcarena em 1784, em finais do século XVIII exercia o posto de tenente coronel de infantaria auxiliar de Belém.10 Em meio a essas práticas e instituições, o presente trabalho irá centrar-se em uma: na lógica de prestação de serviços à monarquia portuguesa em troca de mercês. Muitos diretores participavam dela na medida em que enviavam requerimentos ao monarca solicitando, principalmente, postos de oficialato nas tropas militares, como os de Sargento mor e capitão. Quando não pediam diretamente ao rei tais postos, a ele requeria-se a confirmação dessas benesses que podia ser fornecida pelo governador do Estado. Uma das justificativas apresentadas pelos diretores para obterem a mercê solicitada eram os seus serviços desempenhados dentro das povoações. As certidões escritas por terceiros e as consultas do Conselho Ultramarino atestam as benfeitorias realizadas por eles. Vejamos três exemplos. Em consulta do Conselho Ultramarino acerca do requerimento de Bernardo Toscano de Vasconcelos, afirma-se que quando este foi diretor em várias povoações, edificou moradias para os indígenas, construiu uma igreja e desenvolveu a prática agrícola em cada um dos locais. Por fim, ajudou também na construção da nova Vila de Mazagão.11 Em certidão de Bernardo de Melo e Castro, governador do Grão – Pará e Maranhão, anexada ao processo de requerimento de Manuel José de Lima, consta que quando este foi diretor da Vila de Bragança, sossegou conflitos entre os seus moradores, incrementou a produção agrícola de farinha, o que resultou no aumento da arrecadação de dízimos, e construiu casas, armazéns e olarias na povoação.12 Por fim, Cipriano APEP, livro 19, ver o documento 40, folha 48 e o documento 90, folha 101. Documento do alferes de Infantaria do primeiro terço auxiliar e oficial da secretaria, Domingos Gonçalves de Abreu [em anexo ao requerimento do primeiro oficial da secretaria do governo do Estado do Pará e Rio Negro, Valentim Antônio de Oliveira e Silva, para a rainha D. Maria I, em 05/10/1793] – AHU, caixa 103, documento 8180; Requerimento do tenente coronel do segundo regimento de infantaria auxiliar do Pará, Jerônimo Manuel de Carvalho [para a rainha D. Maria I, anteriormente a 03/03/1797] – AHU, caixa 108, documento 8545. Sobre a organização militar no Grão-Pará durante a segunda metade do século XVIII, e a influência que tal organização tinha do reino, ver: (NOGUEIRA 2000:28-64). 11 Consulta do Conselho Ultramarino, em 22/12/1778 [em anexo ao requerimento de Bernardo Toscano de Vasconcelos, à rainha D. Maria I, anteriormente a 01/06/1779] – AHU, caixa 83, documento 6783. 12 Documento escrito por Manuel Bernardo de Melo e Castro, em 11/08/1763 [em anexo ao requerimento do Sargento Mor de Auxiliar, Manuel José de Lima, para a rainha D. Maria I, em 14/12/1786]. AHU, caixa 96, documento 7610. 203 9 10 Colonização e mundo Atlântico Coelho de Azevedo, coronel de infantaria na Vila de São José do Macapá, em certidão anexada ao processo de requerimento de Inácio de Castro de Moraes Sarmento, afirma que quando este foi diretor da Vila de Melgaço, estimulou os indígenas ao trabalho agrícola em suas terras e à realização do comércio. 13 Portugal ainda tinha grandes problemas a serem resolvidos referentes ao seu controle e domínio sobre vastas áreas do Vale Amazônico. Não à toa, conforme visto, pelo lado da metrópole, o Diretório foi criado visando promover maior povoamento e garantir a região como território colonial luso, desenvolvê-la economicamente e exercer um maior controle ela. Dessa forma, os diretores mostravam-se como sujeitos importantes para a concretização desses planos da Coroa, na medida em que constatamos, por meio dos seus processos de requerimentos de mercês, que eles ajudavam na construção de casas, armazéns, igrejas e olarias dentro das Vilas e Lugares de índios, incentivavam os indígenas ao desenvolvimento agrícola e à realização do comércio e participavam da ereção de novas povoações. Além do mais, veremos adiante que os diretores envolviam-se também na realização de descimentos 14 dos indígenas, um meio fundamental de povoação das Vilas e Lugares. Os interesses dos diretores por trás de suas ações na capitania do Pará Do mesmo modo que muitos diretores inseriam-se na capitania do Pará em práticas e instituições de origem europeia e prestavam uma série de serviços na região, as quais iam ao encontro dos interesses metropolitanos, esses mesmos diretores constantemente descumpriam a uma série de normas criadas por essa mesma metrópole, as quais prejudicavam os interesses lusos no Vale Amazônico. Esses descumprimentos estavam relacionados a três importantes fontes de riqueza da região: os gêneros extrativos, agrícolas e a mão de obra indígena. Por meio da documentação, constata-se que os diretores se aproveitavam da proximidade com esses produtos e com essa força de trabalho no interior das povoações, além das atribuições possuídas pelo cargo, para satisfazerem seus anseios pessoais, que muitas das vezes, eram divergentes em relação aos da Coroa Portuguesa. E em muitas oportunidades, essas transgressões eram realizadas de forma mancomunada com outros agentes. Vejamos, agora, brevemente, a importância que a atividade extrativa, agrícola e Certidão do coronel de infantaria da Vila de Macapá, Cipriano Coelho de Azevedo, em 16/02/1759 [em anexo ao requerimento de Inácio de Castro de Moraes Sarmento à rainha D. Maria I, em 14/11/1782] – AHU, caixa 89, documento 7254. 14 Os descimentos se consistiam no processo pelo qual os indígenas eram arregimentados de seus locais de origem para as povoações portuguesas. 204 13 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos a mão de obra indígena tinham no Vale Amazônico durante a vigência do Diretório. Mesmo sendo um dos objetivos do Diretório incrementar a agricultura em terras amazônicas, o extrativismo continuou tendo importância econômica relevante ao longo da segunda metade do século XVIII. A economia que prevaleceu foi a extrativa, juntamente com o cultivo do arroz, cacau, cana de açúcar e a mandioca.15 Destaque para o cacau e o amplo mercado externo que esse gênero possuía. Entre 1756 e 1777, o cacau representou 61% do valor total das exportações saídas da Amazônia, sendo que a maior parte desse produto vinha da produção extrativa.16 Maria Celestino de Almeida e Rita Heloísa de Almeida também argumentam que houve o predomínio da economia extrativa em comparação com a agrícola.17 No entanto, em que pese a relevância do extrativismo, havia na região uma produção agrícola importante. Um indício dessa produção são as constantes infrações dos diretores as quais envolviam os produtos dessa atividade, conforme veremos adiante. Além disso, entre 1777 a 1798, houve um importante aumento da exportação de gêneros agropecuários pela capitania do Pará, o que se explica pelo crescimento da produção e dos preços dos produtos.18 No final do Diretório, os gêneros agrícolas representavam 46% do valor exportado pela região.19 Além de comporem as pautas de exportação, os produtos extrativos e agrícolas tinham um importante consumo e circulação na capitania do Pará. Ambos os gêneros possuíam utilidades diversas a nível local, não podendo deixar de considera-las. Para tanto, valho-me, em grande medida, das informações reportadas pelo padre João Daniel.20 Do cultivo da mandioca, por exemplo, saía o principal sustento da população. Da raiz desse gênero, se fazia diferentes tipos de farinha, utilizadas para a produção de pães, bolos (chamados COELHO, Mauro Cezar. Op. Cit., 2005, p. 236. ALDEN, Dauril. O significado da produção de cacau na região amazônica no fim do período colonial: um ensaio de História econômica comparada. Belém: UFPA/NAEA, 1974, p. 25-27. 17 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Op. Cit., 1990, p. 123-134; ALMEIDA, Rita Heloísa de. Op. Cit., 1997, p. 329. 18 COSTA, Francisco de Assis. Lugar e significado da gestão pombalina na economia colonial do Grão-Pará. Nova Economia, 20 (1), p. 167-206, janeiro-abril de 2010, p. 197. 19 Ibidem, p. 198. 20 Cronista da Companhia de Jesus, João Daniel viveu na Amazônia entre 1741 a 1757, quando foi preso. No cárcere, relatou minuciosamente sobre uma série de aspectos relacionados a região amazônica: a sua riqueza hídrica, mineral, de sua fauna e de sua flora. Descreveu questões variadas acerca do solo, dos produtos do sertão, da agricultura, dos costumes indígenas, do contato entre brancos e índios, além de vários outros pontos. 205 15 16 Colonização e mundo Atlântico de beijus) e biscoitos.21 Do peixe-boi e principalmente da tartaruga, extraía-se grandes quantidades de manteiga, largamente consumida pelos indígenas e pelos brancos.22 O azeite de andiroba e o breu eram outros produtos extrativos com importante consumo interno, pois eram utilizados na fabricação de embarcações, como a canoa - principal meio de locomoção no Vale Amazônico.23 A grande circularidade dos gêneros extrativos e agrícolas pode ser percebida na medida em que vários deles eram consumidos em viagens de canoas em meio aos rios, seja em expedições oficiais, de extração das drogas do sertão – esta, particularmente, de grande interesse dos moradores – ou de finalidades diversas.24 Além do mais, os produtos de ambas as atividades eram utilizados como moeda no comércio interno, conforme se verá adiante, além de servirem como meio de pagamento aos indígenas e aos diretores. 25 Tanto para o extrativismo quanto para a agricultura o indígena era fundamental. Eram os principais responsáveis, senão os únicos, pela extração das drogas do sertão. Nas povoações, era a força de trabalho preferencial para a atividade de cultivo, e também eram solicitados pelos moradores para trabalharem em suas plantações e demais tarefas.26 Nos serviços do Estado, eram utilizados, por exemplo, nas expedições oficiais e na defesa do território. 27 Tendo em vista a importância dos produtos extrativos, agrícolas e da mão de obra indígena no Vale Amazônico durante o período do Diretório, os diretores DANIEL, Padre João. Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas. Vol. I. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004, p. 413-419. 22 Ibidem, p. 130-138 23 Ibidem, p. 531; 537-538. 24 Documento do provável diretor, Domingos Barbosa [ao governador do Grão – Pará e Rio Negro, Francisco de Sousa Coutinho, em 07/09/1796] – APEP, rolo 12, códice 126, documento 92. Documentação microfilmada. Projeto Reencontro; documento do governador da capitania do Rio Negro, Manuel da Gama Lobo de Almada [ao comissário de demarcação, Henrique Wilckens, em 14/05/1790] – APEP, rolo, 13, códice 429, documento 97. 25 DIRECTORIO que se deve observar nas Povoaçoens dos Índios... § 58; 34. In: ALMEIDA, Rita Heloísa de. Op. Cit., 1997. 26 Diretor da Vila de Franca, Antônio de Sousa [documento ao governador do Grão – Pará e Rio Negro, José de Nápoles de Telo de Meneses, em 28/07/1780] – APEP, rolo 12, códice 127, documento 75. Documentação microfilmada. Projeto Reencontro; Carta de Sérgio Justiniano de Figueiredo [enviada ao governador do Grão – Pará e Rio Negro, Martinho de Sousa e Albuquerque, em 27/09/1796] – APEP, rolo 12, códice 126, documento 109. Documentação microfilmada. Projeto Reencontro. 27 Manuel da Gama Lodo de Almada [Documento à Henrique João Wilckens, em 13/07/1790] – APEP, rolo 13, códice 429, documento 137. Documentação microfilmada. Secretaria da Capitania; João Pereira Caldas [Documento à Manoel da Gama Lobo de Almada, em 1776] – APEP, códice 291, documento 291. 206 21 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos se aproveitavam da proximidade com essas três fontes de riqueza dentro de seu local de trabalho, as povoações de índios, para darem conta de seus interesses na capitania do Pará. Porém, mais do que simplesmente estarem próximos, esses agentes envolviam-se diretamente com cada uma delas. Em relação aos produtos extrativos, a legislação determinava que todas as povoações enviassem expedições de coleta aos sertões, de modo que os diretores eram responsáveis pela organização dessas expedições e pelo controle do que era extraído. 28 No que tange a agricultura, o Diretório demandava a existência de lavouras em cada uma das povoações com vistas a produção de vários gêneros. Essas lavouras eram denominadas de roças do comum, e deveriam contar com o incentivo e supervisão dos diretores, tendo esses sujeitos ainda, participação na contagem e na arrecadação dos dízimos sobre os produtos cultivados.29 Em relação à mão de obra indígena, qualquer ação relacionada aos índios aldeados envolvia o diretor, afinal, ele exercia o papel de tutor. As próprias obrigações dos diretores, aqui referidas, apontam para essa questão. Abaixo, vejamos alguns casos que demonstram infrações cometidas pelos diretores, as quais estavam relacionadas com o extrativismo, a agricultura e a força de trabalho indígena. Em devassa tirada no Lugar de Santa Ana do Rio Capim, em 1767, acerca do procedimento de seu diretor, João Correa Abadinho, consta que a atividade agrícola realizada no local nos últimos anos era administrada por dois capitães: Manuel Gomes e João de Abreu. A farinha e o milho produzidos, ao invés de irem para a Tesouraria Geral dos índios, foram consumidos pelos dois capitães, pelo vigário, indígenas e diretor. O diretor e comandante do Gurupá, Clemente de Almeida Pereira, se interessava por todas as canoas que adentravam o sertão, de modo que em articulação com diferentes cabos de canoa, obtinha para si potes de manteiga, adquiridos nas expedições de coleta. O vigário e o diretor da Vila de Sousel, Eugênio Alvares da Câmara, recebiam cravos trazidos pelos indígenas das expedições ao sertão, enquanto que Luís da Cunha de Eça e Castro e Joaquim Duarte, diretores das Vilas de Borba, a nova, e Salvaterra, respectivamente, foram acusados de agirem com violência junto aos indígenas, além de os utilizarem em seus serviços particulares. 30 DIRECTORIO que se deve observar... §§ 46-58. In: ALMEIDA, Rita Heloísa de. Op. Cit., 1997. 29 DIRECTORIO que se deve observar... §§ 20-33. In: Idem. 30 Auto de devassa do Lugar de Santa Ana do Rio Capim [23/03/1767] – APEP, códice 160, [não numerado]; Luís Gomes de Faria e Sousa, por volta de 03/08/1761. [Em anexo ao ofício de Luís Gomes de Faria e Sousa, ao Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, em 03/08/1761]; Auto de devassa da Vila de Sousel [12/12/1766] – APEP, 160, [não numerado]; Requerimentos dos indígenas da Vila de Borba, a nova [ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, posteriormente a 1759.] – AHU, caixa 45, documento, 4141; Documento do intendente 207 28 Colonização e mundo Atlântico Em alguns casos, a documentação permitiu a visualização em um único diretor de prestações de serviços à monarquia portuguesa e infrações às normas criadas por essa mesma monarquia. Como exemplificação desse tipo de situação, citarei o caso de Alberto de Sousa Coelho. Em 1761, Alberto Coelho foi provido pelo governador do Grão-Pará e Maranhão no posto de capitão da tropa auxiliar em função de sua participação no descimento de 168 indígenas para o Lugar de Azevedo, onde era diretor. Porém, três anos depois, em devassa tirada sobre essa mesma povoação, testemunhas afirmaram que Alberto Coelho concedeu alguns indígenas desse descimento para o Principal do Lugar de Azevedo e para o capitão mor, Lúcio da Costa. Consta ainda, nessa mesma devassa, que o dito diretor comercializava com os índios da povoação, recebendo deles produtos como cacau, azeite de andiroba e farinha, utilizava indígenas em suas terras, além de outras irregularidades.31 É possível visualizar ainda, outros casos de diretores que ao mesmo tempo em que cumpriam com os dispositivos do Diretório, descumpriam as diretrizes previstas por essa mesma legislação.32 Por meio dos exemplos citados no trabalho, constata-se que servir a Coroa Portuguesa, e infringir as normas criadas por ela mesma, não eram ações incompatíveis, mas sim, que coexistiam a todo o momento. O fato de vários desses agentes prestarem uma série de serviços à monarquia, além de estarem imersos a práticas e instituições originárias na Europa, e reconhecidas pela Coroa lusa, como as câmaras, as tropas militares e as sesmarias, não era empecilho para que descumprissem às diretrizes legais colocadas pela metrópole. Essa constatação fica ainda mais evidente nos casos em que é geral, Paulo Chaves Belo [ao governador do Grão – Pará e Rio Negro, José de Nápoles Telo de Meneses, em 22/07/1780] – APEP, rolo 12, códice 127, documento 68. Documentação microfilmada. Projeto Reencontro. 31 Ofício do governador do Grão – Pará e Maranhão, Manuel Bernardo de Melo e Castro [ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em 09/11/1761] – AHU, caixa 51, documento, 4682; Auto de devassa do lugar de Azevedo [24/12/1764] – APEP, códice 160, documento 8; Auto de devassa da Vila de Porto de Mós [12/12/1764] – APEP, códice 160, documento 3. 32 Requerimento de José Félix Galvão de Araújo e Oliveira [ao rei D. José I, anteriormente à 05/08/1758] – AHU, caixa 43, documento 3969, Auto de devassa da Vila de Monsarás [30/01/1764] – APEP, códice 145, documento 3 e Auto de devassa [povoação desconhecida, em 10/1765] – APEP, códice 160, não numerado; auto de devassa da Vila de Alter do Chão [09/01/1766] – APEP, códice 160, não numerado; Auto de devassa das povoações de Porto de Mós e Vilarinho do Monte [12/12/1764] – APEP, códice 160, documento 3 e Auto de devassa da Vila de Porto de Mós [02/02/1766] – APEP, códice 160, não numerado; Auto de devassa da Vila de Sousel [12/12/1766] – APEP, códice 160, não numerado. 208 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos possível visualizar a realização de benfeitorias e transgressões à lei, em um único sujeito. E tanto nos momentos em que os diretores prestavam serviços à monarquia, quanto nos momentos em que descumpriam as normas criadas por ela, eles buscavam obter vantagens pessoais. Vejamos. Os ganhos que os diretores tinham por intuito obter nas transgressões realizadas à lei se mostram mais evidentes. Elas estavam ligadas a questões que remetem especificamente a capitania do Pará durante a vigência do Diretório. Em outras palavras, os diretores se aproveitavam das atribuições do cargo para usufruírem de três fontes de riqueza local: os gêneros do sertão, os produtos agrícolas e a força de trabalho indígena. Vimos, anteriormente, a grande importância que cada uma delas tinha no período aqui estudado: os produtos extrativos e de cultivo compunham as pautas de exportação, serviam como gêneros alimentícios, eram usados na fabricação de canoas, eram utilizados como moeda nas relações comerciais internas além de servirem como meio de pagamento, inclusive ao trabalho desempenhado pelos indígenas. Portanto, quando os diretores apropriavam-se indevidamente dessas três fontes de riqueza, essas ações precisam ser entendidas como estratégias de sobrevivência em meio a sociedade do Grão - Pará na segunda metade do século XVIII. Como parte dessa estratégia de sobrevivência, estavam as relações travadas pelos diretores com os outros sujeitos que transitavam em meio às povoações de índios. Isto é, pelos exemplos acima destacados, vimos que muitas das infrações realizadas pelos diretores envolviam outros agentes: os cabos de canoa, que navegavam pelos rios amazônicos nas expedições de extração dos gêneros do sertão, os indígenas, com os quais os diretores realizavam trocas comerciais, os vigários e Principais, que permanentemente residiam nas Vilas e Lugares (ou pelo menos assim, deveria ser) além de outros moradores. Portanto, na capitania do Pará, existiam certas relações específicas da região. No Vale Amazônico, era possível encontrar situações em que um português, capitão mor de uma tropa auxiliar e/ou membro da câmara na função de juiz ordinário e dos órfãos, que também desempenhava a função de diretor, precisava se relacionar dentro das povoações com indígenas de diferentes etnias, cabos de canoa, Principais, além de outros agentes, a fim de se apropriar, ilicitamente, de produtos como a mandioca e a manteiga de tartaruga, por exemplo. Portanto, é em função de situações como essas, de aspectos específicos da capitania do Pará, que “o sistema de normas identificado com o Antigo Regime fosse constantemente reinventado e assim devidamente fraturado” na região, de acordo com a argumentação de João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa para a América Portuguesa.33 33 FRAGOSO, João & GOUVÊA, Maria de Fátima. Op. Cit., 2010, p. 16. 209 Colonização e mundo Atlântico Já os ganhos que os diretores visavam obter por meio de suas prestações de serviço à monarquia portuguesa poderiam vir de duas maneiras. A primeira delas, é que tais sujeitos tinham a consciência de que as suas benfeitorias realizadas nas povoações de índios lhes eram fundamentais para obterem benesses do monarca futuramente. Tal ponto fica claro por meio da leitura dos processos de requerimentos de mercês envolvendo ex-diretores, e que aqui foram citados. Percebemos que os serviços realizados por eles em uma diretoria era constantemente citado como justificativa para que obtivessem a mercê almejada. Além disso, não podemos desconsiderar o fato de que quando os diretores promoviam descimentos, incentivavam os indígenas a desenvolverem a agricultura e ajudavam na preparação de uma canoa ao sertão, estas eram ações (todas de interesse de Portugal) que também poderiam se constituir em uma maneira deles ambicionarem ganhos pessoais. Afinal de contas, mais descimentos poderiam significar mais indígenas a serem utilizados como mão de obra. Mais plantações era uma possibilidade desses diretores se beneficiarem dos produtos cultivados. E a organização de canoas para a coleta de gêneros do sertão, era uma possibilidade dos diretores disporem de tais produtos de forma irregular. Portanto, se bem pensarmos, muitas das práticas contrárias às diretrizes da lei aqui listadas, só ocorreram porque primeiramente foram realizadas ações que satisfizeram os objetivos do Diretório. Nesses casos, a ocorrência da ilicitude dependia primeiramente de atos legais. O exemplo citado envolvendo o diretor do Lugar de Azevedo, Alberto de Sousa Coelho, ilustra muito bem esse ponto. Ele ajudou na realização de um descimento para a povoação que dirigia, e em função disso, foi recompensado por meio de uma mercê. Mas, posteriormente, Alberto Coelho se aproveitou dessa prática legal, para realizar uma ação infratora aos dispositivos legais: concedeu, irregularmente, alguns desses indígenas descidos para o Principal de Azevedo e para o capitão mor, Lúcio da Costa. Conclusão O presente trabalho buscou compreender as ações dos diretores não a partir de uma perspectiva metropolitana, de modo que venha analisar estritamente até que ponto eles deram conta de cumprir ou não com os objetivos previstos pelo Diretório. Buscou-se, sim, entender as ações dos diretores a partir de seus próprios interesses e anseios em meio à sociedade em que viviam. Desse modo, o trabalho argumenta que prestar serviços à Coroa portuguesa e descumprir com as normas criadas por ela mesma, eram práticas perfeitamente coexistentes nas ações de um único indivíduo. E tanto em um momento quanto em outro, os diretores visavam obter vantagens pessoais. Esses agentes se aproveitavam 210 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos das atribuições concedidas ao cargo pela Coroa, e da proximidade com importantes fontes de riqueza local, para contemplarem anseios do dia a dia, ligados às próprias especificidades da região. 211 Colonização e mundo Atlântico SERVIÇO MILITAR: RECONFIGURAÇÃO FAMILIAR NA CAPITANIA DO GRÃO-PARÁ (PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII) Wania Alexandrino Viana1 Resumo A presença militar na capitania do Grão-Pará na primeira metade do século XVIII se fez sentir não apenas por meio das construções militares como as fortalezas e casas fortes ou pelas diversas atividades da colônia em que o soldado pago estava inserido, mas também pelas implicações da militarização da região na vida familiar dos recrutados. Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o recrutamento compulsório e as suas implicações para as famílias do recrutado. Sobretudo, interessa-nos como esses aspectos-militarização, recrutamento compulsório e defesa- se articularam no cotidiano da colônia. Palavras-Chaves: Grão-Pará; Militarização e Família. No início do século XVIII, a região do Grão-Pará já possuía em termos materiais uma estrutura militar bem delineada, embora precária. Através dos relatos dos governadores é possível notar a presença de fortalezas, casas fortes, fortins e presídios no curso dos principais rios como o Amazonas e o Rio Negro, considerados pontos estratégicos da capitania. Essa questão nos chamou muita atenção, sobretudo porque nos oferece indícios sobre o significado da defesa para a Coroa portuguesa. Os Mapas da gente de guerra da capitania do Grão-Pará fazem referência à existência de três fortalezas na região, a saber: da Barra, do Gurupá, dos Tapajós ou Trombetas e a do Rio Negro; dois fortins: da Barra e das Mercês; quatro casas fortes: do Guamá, do Rio Negro, do Pauxis e do Paru; três presídios: de Joanes, de Salinas e de Macapá. Essa estrutura contava ainda com uma casa ou armazém da pólvora. A partir da década de 1737, Pauxis e Paru já aparecem na documentação como fortalezas. A necessária defesa desses espaços e, sobretudo, o problemático provimento de soldados para guarnecê-los fez do recrutamento compulsório uma prática indiscriminada de obtenção de homens para desempenhar as mais diversas funções defensivas na Colônia. O recrutamento compulsório imprimia de imediato ao sujeito a condição de soldado pago da tropa profissional. Se, por um lado, essa circunstância militar agrega o indivíduo numa das companhias de 1 Aluna de Doutorado em História Social da Amazônia, UFPA. Bolsista CAPES. 212 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos defesa e submete-o – pelo menos teoricamente – às normatizações que regulam a condição do serviço militar, por outro impõe ao recruta a condição de estar à disposição do Estado. E nesse sentido, o sujeito é obrigado a se deslocar para o local onde as autoridades entenderem mais necessitar de defesa. Essa lógica de distribuição de soldados sugere uma estratégia defensiva por parte daqueles que a definem, pois implica, sobretudo, uma leitura sobre a área a ser defendida. Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que ações de defesa como deslocamento de tropas, construção de fortalezas e guarnições são também formuladas em função de variantes territoriais. O recrutamento compulsório, portanto, implica em uma mobilidade não espontânea por parte do soldado. O deslocamento espacial da sua nova condição se delineia a partir dos planos estratégicos traçados pela Coroa portuguesa para o território. A principal consequência disso é o afastamento familiar provocado pela obrigação das armas imposta ao soldado recémincorporado às tropas da Capitania. Como investigar essas implicações? Para percebermos as implicações do serviço militar na vida familiar do recrutado utilizaremos uma série documental especialmente interessante, os pedidos de baixas. É uma documentação recorrente no período colonial. Tratase de um requerimento feito pelo soldado ou por outro interessado na maioria dos casos, parentes próximos, encaminhado ao Conselho Ultramarino para tentar se isentar do serviço militar. Esse era o meio previsto e de acordo com os regimentos militares, e, portanto, era o meio legal de ficar livre da obrigação de defesa. Quando tratamos de família não se trata de uma adoção do modelo patriarcal construído pela historiografia tradicional, a qual “gira em torno do senhor de engenho, fazendeiros criadores ou plantadores de café, suas mulheres (submissas) e seus filhos” além da agregação de parentes próximos, sejam estes legítimos ou ilegítimos. A percepção de família a partir dessa perspectiva, “torna invisível às demais formas de organizações familiares, que se originou dos variados tipos de produções”. Como destacou Shirley Nogueira, é importante percebermos, por exemplo, outras formas de organização familiar “a de grupos não-hegemônicos” a constituída pelo pequeno produtor que se difere daquele construído a partir das grandes produções cafeeiras e canavieiras do nordeste e sudeste do Brasil. 2 Alinhados a essa perspectiva a análise neste trabalho está voltada para a compreensão das famílias pobres da Capitania, para as quais a importância do filho recrutado para a produção familiar, ou para a assistência na velhice ou na NOGUEIRA, Shirley Maria Silva. Razões para desertar: institucionalização do exército no Estado do Grão-Pará no último quartel do século XVIII. Belém: Dissertação de Mestrado, NAEA/UFPA, 2000. pp.92-94. 213 2 Colonização e mundo Atlântico doença, são centrais e por essa razão são essas as principais justificativas usadas pelos parentes dos soldados nos pedidos de baixa. Estamos nos referindo aos setores “pobres” livre da sociedade colonial, que tiveram suas vidas afetadas pelo recrutamento militar, tendo em muitos casos que ressignificar seus papéis para manter a gerência da família. O requerimento de mulheres, pedindo baixa de seus filhos ou netos, é exemplar nesse sentido. Neste trabalho foram analisados 63 casos de pedidos de baixa de 1713 a 1748, nos quais o requerente é o próprio soldado, parentes próximos ou outro interessado. Sistematizado o conteúdo desse corpo documental, foi dada especial atenção aos motivos do suplicante, porque trazem, na maioria dos casos, informações sobre a situação do soldado, condição de sua família, e as perspectivas de vida. O gráfico a seguir mostra o percentual das principais justificativas que aparecem nesses pedidos de baixa. Gráfico 1 Justificativas para baixa de soldado pago Fonte: AHU, Avulsos do Pará: Cx. 6, D. 494; Cx. 6, D. 496; Cx. 6, D. 509; Cx. 6, D. 510; Cx. 6, D. 511; Cx. 6, D. 527; Cx. 7, D. 600; Cx. 7, D. 631; Cx. 8, D. 662; Cx. 8, D. 671; Cx. 8, D. 677; Cx. 8, D. 685; Cx. 8, D. 701; Cx. 9, D. 797; Cx. 9, D. 810; Cx. 9, D. 820; Cx. 9, D. 821; Cx. 9, D. 849; Cx. 10, D. 864; Cx. 10, D. 877; Cx. 10, D. 893; Cx. 10, D. 894; Cx. 11, D. 1042; Cx. 12, D. 1093; Cx. 15, D. 1356; Cx. 17, D. 1586; Cx. 17, D. 1631; Cx. 18, D. 1703; Cx. 22, D. 2062; Cx. 23, D. 2161; Cx. 23, D. 2180; Cx. 24, D. 2245; Cx. 24, D. 2285; Cx. 24, D. 2287;Cx. 24, D. 2296; Cx. 24, D. 2303; Cx. 25, D. 2376; Cx. 25, D. 2400; Cx. 25, D. 2410; Cx. 26, D. 2416; Cx. 26, D. 2421; Cx. 26, D. 2434; Cx. 26, D. 2446; Cx. 26, D. 2449; Cx. 26, D. 2450; Cx. 28, D. 2650; Cx. 30, D. 214 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos 2886. Avulsos do Maranhão: Cx. 19, D. 1961; Cx. 12, D. 1222; Cx. 12, D. 1274; Cx. 13, D. 1357; Cx. 13, D. 1377; Cx. 12, D. 1272; Cx. 13, D. 1374; Cx. 13, D. 1383; Cx. 14, D. 1417; Cx. 14, D. 1419; Cx. 16, D. 1614; Cx. 16, D. 1638; Cx. 16, D. 1642; Cx. 20, D. 2087; Cx. 23, D. 2349; Cx. 26, D. 2670. Como podemos observar 51% dos pedidos de baixa trazem como motivos para isenção do serviço militar questões familiares. Isso sugere que a mobilização de soldados pagos nas diversas atividades destacadas atrás tem implicação direta na família do recrutado, como veremos adiante. Atrás desse percentual, 18% dos casos alegam motivo de doença. Esse foi o conteúdo, por exemplo, do requerimento de João Alves que, em 1726, pedia baixa por se encontrar doente e incapaz de continuar o serviço militar. Na petição, o governador explica que essa situação era agravada pela “falta de um dedo na mão esquerda, de que procede fazer pouca firmeza na arma”. 3As condições precárias que os soldados viviam nas tropas, e os muitos anos de serviço, sem dúvida contribuíam para elevar o número de doentes. Em seguida, com 6% havia aqueles que se declaravam incapazes por limitações físicas. Esse foi o motivo que levou Domingos Furtado de Mendonça a pedir sua baixa em 1724, na qual declarava servir havia mais de 20 anos e se encontrava “velho e incapacitado” 4. Em 1743, o soldado Martinho Gomes dos Santos declarava estar cego do olho direito, e, portanto incapaz para o serviço5. A doença e a incapacidade física estavam intimamente relacionadas. Como podemos verificar nos exemplos acima, após anos de serviço, o soldado poderia se encontrar velho e doente, situação que certamente era agravada pelas condições do serviço militar, e com dificuldades de conseguir uma baixa. A questão de doentes e incapazes nas tropas pagas era tão grave na capitania do Grão-Pará que o provedor da fazenda real João Correia Diniz de Vasconcelos escrevia uma carta ao rei em 30 de setembro de 1727, expondo que havia observado em mostra que na infantaria havia “muitos os soldados incapazes, que pouco ou nenhum serviço fazem a V.M.”; por esse motivo estava de acordo que se dessem as suas baixas para “se não fazer despesa a fazenda real com gente inútil”. Consta ainda que na ocasião da referida mostra, esses soldados fizeram “requerimento em corpo de mostra, dizendo uns servirem há trinta, quarenta, cinquenta e mais anos, e que eles eram uns homens pobres”, e ainda diziam “que não tinham outra coisa” do que “a razão das tainhas, e o soldo que V.M. lhes dava”, e “assim incapazes como se achavam acudiam aquilo Requerimento ao rei. AHU, Avulsos do Pará. Cx. 9, D. 820. Requerimento ao rei. AHU, Avulsos do Pará. Cx. 8, D. 662. 5 Requerimento ao rei. AHU, Avulsos do Pará. Cx. 26, D. 2416. 215 3 4 Colonização e mundo Atlântico que podiam fazer”. Além da baixa, os soldados “requeriam se lhe continuasse o soldo e razão”. 6 Esses exemplos sugerem que além do afastamento familiar, o serviço de anos nas tropas poderia significar a diminuição da expectativa de vida para o soldado, considerando sua idade e condição física. Por outro lado, os pedidos de baixa feitos por vários soldados na mesma ocasião de mostra, sugere uma consciência, da condição desfavorável em que se encontravam. Voltemos ao gráfico. Como o mesmo percentual, 6% dos casos declararam possuir privilégios, por serem moradores da vila da Vigia. A isenção aos moradores da vila da Vigia de servirem de soldados nas tropas de linha foi concedida em carta régia de 23 de dezembro de 1715. Todavia, essa determinação regia era desconsiderada pela ação dos recrutadores. Assim se manifestavam os oficiais da câmara da Vigia, em carta de 9 de setembro de 1727. No documento escreviam que embora, “os filhos dos moradores desta vila da Vigia de Nazaré” fossem isentos do serviço militar, “se tem experimentado o contrário, porquanto a muitos deles se tem sentado praça e passado a cidade do Pará”. Alegavam ainda que como a vila estava localizada “em barra da costa, de sorte que, pode ser acometida de inimigos”, não era justo que fosse “destituída dos próprios filhos dela, sendo estes mesmos necessários as suas defesa e povoação”. Pediam que se “risquem as praças dos filhos dos moradores desta vila” e que sejam “restituídos as dita vila” aqueles que já estavam servindo7. A carta da câmara da Vigia parece um apelo muito mais vinculado à indesejável incorporação de seus filhos ao serviço militar do que com a vulnerabilidade geográfica da vila. Em outras, palavras os moradores dessa vila se valeram dessa determinação régia não apenas para requerer da Coroa baixa de soldado a seus filhos, como também para denunciar as inobservâncias do governador às determinações régias no que se refere às ações de recrutamento. Outros argumentos foram usados, como por exemplo, o de ser oficial mecânico8 que aparece no gráfico com 6%. Com o mesmo percentual se verifica como motivo a vocação para carreira religiosa (6%). Todavia os requerimentos poderiam alegar mais de um motivo; como constatamos 3% dos casos Carta do provedor da fazenda real do Pará ao rei. Belém do Pará 30 de setembro de 1727. AHU, Avulsos do Pará, cx. 10, D. 944. 7 Carta dos oficiais da Câmara da vila da Vigia de Nazaré para o rei. Vila da Vigia 9 de setembro de 1727. AHU, Avulsos do Pará, Cx. 10, D. 921. 8 A isenção ao recrutamento militar dada aos oficiais mecânicos e seus aprendizes foi passada em carta régia de 14 março de 1706 e ratificada em outra carta de 1 de abril de 1728. Encontramos essa referência no requerimento feito pelo soldado Valentino Ferreira Mar que alegava ser injusto seu recrutamento por ser oficial mecânico. Requerimento ao rei. AHU, Avulsos do Pará, Cx. 18, D. 1703. 216 6 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos analisados apresentaram questões de família e doença como justificativa para ficarem livres do serviço militar. A militarização do Estado, com todas as atribuições inerentes ao serviço militar, transformou de forma significativa a vida desses sujeitos que foram, na maioria dos casos, incorporados compulsoriamente como soldados nas tropas pagas. O resultado dessas ações de recrutamento vale a pena assinalar, era arbitrário e definido pelo governador, e foi sentido de forma diferente pelo sujeito, de acordo com a condição social que vivia antes de ser soldado. Por outro lado, em todos os casos, sem dúvida, a condição de soldado se faz sentir na família do recrutado. Para percebermos melhor essa questão voltemos às justificativas que envolvem questões militares familiares. Retirando desse universo de 63 casos de pedido de baixa, somente aqueles que trazem como justificativa a questão familiar, matizamos ainda mais a implicação da militarização na vida dos moradores da colônia. Isso ocorre porque destinamos uma análise mais particular a esses casos. Nesse sentido, verificamos os seguintes percentuais. Gráfico 4 Motivos familiares alegados nos pedidos de baixa de soldado pago Fonte AHU. Avulsos do Pará: Cx. 6, D. 496; Cx. 6, D. 509; Cx. 6, D. 527; Cx. 8, D. 685; Cx. 8, D. 701; Cx. 9, D. 810; Cx. 9, D. 821; Cx. 10, D. 877; Cx. 11, D. 1042; Cx. 12, D. 1093; Cx. 15, D. 1356; Cx. 17, D. 1586; Cx. 17, D. 1631; Cx. 18, D. 1703; Cx. 22, D. 2062; Cx. 23, D. 2161; Cx. 24, D. 2245; Cx. 23, D. 2180; Cx. 24, D. 2287; Cx. 25, D. 2376; Cx. 25, D. 2410; Cx. 26, D. 2421; Cx. 26, D. 2450; Cx. 28, D. 2650; Cx. 30, D. 2886; Avulsos do Maranhão: Cx. 19, D. 1961; Cx. 12, D. 1274; Cx. 13, D. 1377; Cx. 12, D. 1272; Cx. 14, D. 1417; Cx. 16, D. 1614; Cx. 16, D. 1638; Cx. 20, D. 2087; Cx. 23, D. 2349. 217 Colonização e mundo Atlântico A partir da leitura do gráfico acima fica claro que o recrutamento significava, em grande medida, o desamparo dos parentes dos soldados. Neste caso, 69% dos motivos apontados pelos requerentes nos pedidos de baixa alegavam que o soldado era imprescindível para a assistência e amparo da família. Em documento do ano de 1726, temos notícia, por exemplo, de Manoel Tomaz e Antonio de Andrade, ambos soldados na capitania do Pará e naturais da Ilha da Madeira. O primeiro já servia havia “18 anos, três meses e 28 dias” e “a respeito da dita ocupação não pode valer a duas irmãs órfãs que tem na dita Ilha da Madeira, as quais estão vivendo na companhia de sua mãe, todas muito pobres e sem remédio”. 9 O segundo por sua vez, já servia havia mais de 17 anos era casado e muito pobre “com muitos filhos e três filhas” “sem ter outra coisa para os sustentar”, mais que os 18 mil réis “que V.M. aqui manda dar a cada ano a cada soldado” e “cuja opressão havia de aliviar-se indo para fora da cidade plantar com os próprios filhos e mulher um bocado de maniba, para se poder sustentar”10. O deslocamento do soldado para servir longe do seu local de origem, e, sobretudo os muitos anos que era obrigado a permanecer na função, sem dúvida, implicava no desamparo dos parentes do soldado, como podemos constatar no caso de Manoel Tomaz. Por outro lado, o segundo exemplo, explicita claramente, que o soldo era insuficiente para o sustento da família. Essa situação era agravada pelo impedimento de o soldado pago realizar outras atividades que não fossem as do serviço militar. Outra questão a ser destacada é a solução apontada pelo soldado Antonio de Andrade, cuja perspectiva de melhora de vida estava assistir longe da cidade para desenvolver plantações com mulher e filhos. O desamparo, em muitos casos, estava associado ao recrutamento dos filhos únicos das famílias, prática que passa a ser proibida, a partir do Alvará de 1764. É exemplar nesse sentido, o que representou o soldado Manoel Simões Mourão que declarava ser “filho único e tem sua mãe velha e casada com um cego é necessário acompanhá-los, pois não tem outro filho de que deles trate”. Informava, além disso, que “no serviço de V.M quebrou uma cana do braço direito, razão porque está inabilitado para exercícios militares”. 11 Em outros casos, o desamparo pelo recrutamento abarcava todos os filhos homens de uma mesma família. Neste mesmo sentido, em 1742, por uma consulta do Conselho Ultramarino tomamos conhecimento do requerimento Timóteo Fróis, que pedia a baixa de soldado “a seu filho único Cosme Damião” Requerimento ao rei. AHU, Avulsos do Pará. Cx. 9, D. 821. Requerimento ao rei. AHU, Avulsos do Pará. Cx. 10, D. 877. 11 Requerimento ao rei. AHU, Avulsos do Pará, Cx. 15, D. 1356. 218 9 10 Anais do II Simpósio de História em Estudos Amazônicos declarando já ter dado dois filhos como soldados, os “quais faleceram no mesmo real serviço” 12. O recrutamento militar poderia mesmo alcançar todos os filhos homens de uma mesma família, e em alguns casos na tentativa de proteger pelo menos um das agruras do serviço militar, parentes faziam requerimento com o intuito de tornar isento um dos filhos de servir. O caso de Constancia de Ataíde é exemplar nesse sentido. Consta que ela era “mulher muito pobre natural da terra, que tendo dois filhos sentou praça a um” que em “uma diligência do serviço de V.M. o matou um criminoso fugitivo”. E, devido a sua pobreza pedia que pudessem isentar de servir o seu outro filho 13. Pelo que consta dos exemplos dados acima, a implicação do recrutamento militar vai além do desamparo. Estamos nos referindo à reconfiguração da família, que se reorganiza em função da ausência do provedor. Família, por exemplo, como a de Manoel Tomaz, que vivia com a mãe e irmãs órfãs; com o seu recrutamento, elas tiveram que conviver e sobreviver com a ausência do provedor havia mais de 18 anos, tempo que servia na ocasião do seu pedido de baixa. Alguns casos, com o recrutamento ficavam apenas a mulher e o marido, como era o caso do soldado Manoel Simões Mourão. Temos, também, o pai vivendo na companhia das filhas, por conta do recrutamento do filho, como se constata do relato do soldado Bento Figueira. Ou ainda, quando o resultado do serviço militar transforma definitivamente a família, como exemplo de Cosme Damião. Como vimos seu pai tinha três filhos todos recrutados, sendo que dois já haviam morrido no serviço. A elaboração de um requerimento ao rei pedindo uma baixa de soldado para socorrer os parentes é uma demonstração não apenas da insatisfação do soldado com a obrigação militar; também revela a insuficiência do soldo na subsistência familiar, e, sobretudo, o reconhecimento das implicações dessa função no seu cotidiano. Por isso, deve ser analisada como uma ação pensada pelo próprio sujeito no sentido de oferecer assistência a sua família. Portanto, o recrutamento, transformou significativamente a vida do recrutado e ressignificou a configuração familiar na capitania do Grão-Pará. Como destacou Shirley Nogueira, as relações familiares “tornaram-se instáveis graças à perseguição das autoridades militares” e ainda “o constante deslocamento de soldados”, “pode ter levado diversas famílias a serem desfeitas”.14 Consultado conselho Ultramarino. Lisboa 17 de Março de 1742. AHU, Avulsos do Pará. Cx. 24, D. 2287. 13 Requerimento ao rei. AHU, Avulsos do Pará. Caixa 9, d. 807. 14 NOGUEIRA, Shirley Maria Silva. Razões para desertar: institucionalização do exército no Estado do Grão-Pará no último quartel do século XVIII. p.93. 219 12 Colonização e mundo Atlântico Todavia, além do desamparo e da reconfiguração, o serviço militar tinha implicações também na administração de lavouras das famílias. Essa foi a justificativa usada por 25% dos casos analisados. São exemplares nesse sentido, os requerimentos de Antonio de Mesquita e Sebastião de Souza Siqueira. O primeiro pedia baixa de soldado a seu sobrinho Manoel Rodrigues de Aragão que havia vindo de Portugal “e por necessitar muito da sua pessoa para lhe tratar da cultura de suas plantas” e também por ser um homem já muito velho 15. O segundo declarava ser “morador e casado na cidade Belém do Grão Pará, que servindo a V.M. em praça de soldado pago, subindo a melhoramento de postos” tinha “quatro filhas e um filho, os quais se acham fora da cidade, nas fazendas que o suplicante tem por ter três lavouras e fazendas de cacau cultivado, que administrava seu filho, João de Souza”. Ocorre que “este indo a ver pescaria para o sustento dos servos e mais família foi tomado a sentar praça de soldado pago”. Pela necessidade em “haver mister o sobredito filho para lhe continuar na guarda e administração de suas fazendas” apresentou outrem para servir em seu lugar. E pedia ao “V.M. seja servido isentar o sobredito filho e não ser mais tomado em praça de soldado visto a necessidade que se lhe tem suas irmãs em sua guarda e administração das três fazendas referidas”. 16 Nesta altura, parece claro que a política de defesa da Coroa portuguesa, no GrãoPará, pautada, sobretudo no recrutamento e mobilização compulsória de homens para compor as tropas pagas, teve implicações no cotidiano da colônia, sobretudo na reconfiguração familiar e na produção de subsistência. Esse aspecto será também fundamental para entender outro tipo de mobilidade, aquela efetuada espontaneamente pelos soldados por meio da deserção. As deserções foram na maioria dos casos motivadas pelo desejo do soldado em restabelecer os laços e o convívio familiar. 15 16 Carta regia. AHU, Avulsos do Pará. Cx. 11, D. 1042. Requerimento ao rei. AHU, Avulsos do Pará, Cx. 23, D. 2161 220
Baixar