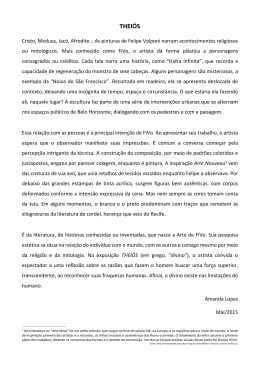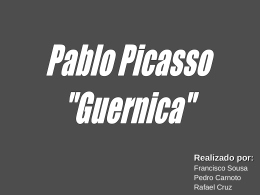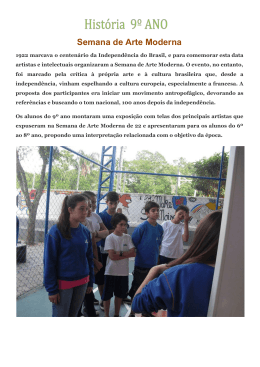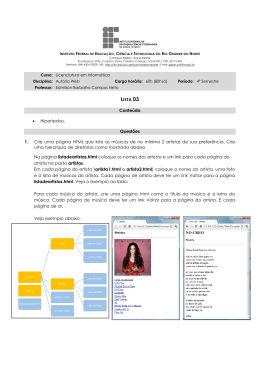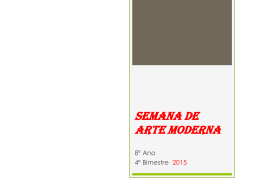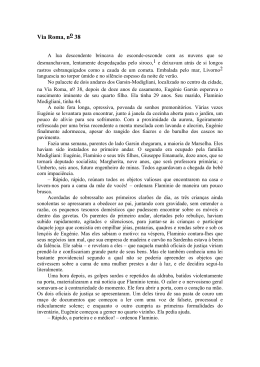U m mundo sem arte não poderia enxergar a si próprio. Ficaria en cerrado dentro dos limites de regras simplistas. É por essa razão que os regimes totalitários, uma vez instalados, censuram, proíbem e queimam. É assim que eles perfuram o olhar do pensamento, do sonho, da memória e da expressão das diferenças. A terra de onde nascem os artistas. Esse termo, que serve mais para qualificá-las do que para defini-las, suscita desdém e comentários. Se por um lado a Arte é nobre, maiúscula, simples e bela, por outro, o artista é minúsculo, objeto de desprezo e, frequentemente, de rejeição. É que o fundo foi muitas vezes apagado em benefício da forma. Desde os macacões de Picasso, as gravatas de madei ra de Vlaminck, os chapéus de Braque, as arruaças surrealistas, alguns ingênuos e muitos maledicentes tomam a parte pelo todo, a fantasia pela obra de arte, e esquecem (ou ignoram) que a indumentária não conta, a não ser por aquilo que é: uma aparência. Tanto os pintores do Lapin Agile quanto os poetas do La Closerie des Lilas usavam, às vezes, roupas extravagantes, organizavam festas inusitadas, puxavam o revólver e provocavam o burguês de mil maneiras, por um motivo essencial: na época, o burguês não gostava deles. Estava rigidamente assentado numa ordem antiga, enquanto penas e pincéis aproximavam-se do anarquismo, assim como o farão mais tarde com o comunismo e o trotskismo. Eram mundos inconciliáveis. Mas a obra está além dos problemas da ordem e dos costumes. Antes de qualquer outra coisa, o artista produz obras de arte. Picasso pode se vestir como quiser, Alfred Jarry pode puxar a arma tantas vezes quanto desejar (e ele o fez), Breton e Aragon podem ameaçar aqueles que despre zam, todas essas bravatas pouco significam se comparadas aos caminhos que eles traçaram. A arte moderna nasceu das mãos desses sublimes provocadores. De 1900 a 1930, eles não se contentaram apenas em levar 11 essa vida de artistas que os tornou detestáveis para alguns e que muitos outros invejaram: acima de tudo, eles inventaram a linguagem do século. Foram igualmente odiados por isso. Os escândalos do Ubu roi, do Sacre du printemps, da “jaula das feras”, dos “cubistores” ou do Bonheur de vivre, exposto por Matisse no Salão dos Independentes, em 1906, dão a medida da violência suscitada pelas vanguardas. Stravinski, mil vezes ultrajado, admitia entretanto esses rompantes; ele achava que o público não tinha que se mostrar indulgente em relação aos artistas, mas cabia a esses últimos compreender a perseguição da qual são, algumas vezes, objeto: ele mesmo teria dado de ombros se tivesse ouvido suas próprias obras um ano antes da sua criação. As vanguardas sempre incomodam. Mas a sociedade acaba por assimilá-las. As tendências mais modernas fazem esquecer as audácias das gerações precedentes. No seu tempo, o impressionismo havia provocado o furor do público e da crítica. O neoimpressionismo deixou-o bastante apagado, antes de aparecer ele próprio com cores mais desmaiadas diante dos horrores fauves que foram, por sua vez, varridos pelas monstruosidades cubistas. Na poesia, os românticos foram destronados pelos parnasianos, que foram substituídos pelos simbolistas, que Blaise Cendrars via como “poetas já ultrapassados”. Na música, Bach encerra a tradição barroca, Haydn, Mozart e Beethoven abrem a orquestra para as máquinas sinfô nicas de Berlioz, que se tornaram harmoniosas em face do dodecafonismo. Quanto a Erik Satie, a crítica da época já achava o bastante que ele tivesse o direito de ser chamado de músico... No limiar do século XIX, a França era a capital das vanguardas. Mas não era só isso. Duas escolas coabitavam em Montmartre. Uma delas se inscrevia sem rupturas na tradição de Toulouse-Lautrec: Poulbot, Utrillo, Valadon, Utter e outros nunca provocaram os raios que caíram sobre a cabeça dos inquilinos do Bateau-Lavoir. Lá, pintava-se formalmente. Aqui, as formas eram quebradas em busca da nova arte. Misturando línguas e culturas, cavando num terreno de incrível diversidade, os espanhóis Gris e Picasso, o holandês Van Dongen, o ítalo-polonês Apollinaire, o suíço Cendrars e também os franceses Braque, Vlaminck, Derain e Max Jacob escapavam das regras para liberar a pintura e a poesia de pesadas limitações. Do outro lado do Sena, em Montparnasse, Modigliani, o italiano; Diego Rivera, o mexicano; Krogh, o escandinavo; os russos Soutine, Cha gall, Zadkine, Diaghilev; os franceses Léger, Matisse, Delaunay – entre muitos outros – também enriqueciam o patrimônio artístico. Nos anos 1920, chegarão os escritores americanos; Tzara, o romeno; os suecos, outros 12 russos, novas nações... Paris se tornará a capital do mundo. Pelas calçadas, eles não serão mais cinco, dez ou quinze, como em Montmartre. Mas sim centenas, milhares. Um burburinho de riqueza nunca mais igualada, nem mesmo mais tarde em Saint-Germain-des-Prés. Pintores, poetas, esculto res e músicos, todos misturados. De todos os países, de todas as culturas. Clássicos e modernos. Ricos mecenas e marchands ocasionais. As modelos e seus pintores. Escritores e editores. Pobres e milionários. Antes da Primeira Guerra Mundial, Picasso já enriquecera, mas a maioria de seus companheiros vivia numa incrível pobreza. Depois de 1918, eles compravam carros Bugatti e residências de luxo. O tempo dos brilhantes aprendizes estava terminando. Guillaume Apollinaire, que morreu dois dias antes do armistício, leva com ele a época dos pioneiros. Modigliani, falecido em 1920, encerra o ciclo das vidas errantes que Villon e Murger conheceram. O búlgaro Jules Pascin fecha para sempre a porta dos trinta primeiros anos do século XX: o tempo dos boêmios. Eles tinham escolhido viver em Paris, cidade fraterna, generosa, que soube oferecer a liberdade a esse povo vindo de outros lugares. Hoje, Picasso, Apollinaire, Modigliani, Cendrars e Soutine não viveriam mais lá. Teriam sido repelidos para longe do Sena. O espanhol por uso de drogas, o ítalo-polonês por receptação, o italiano por escândalo na via pública, o suíço por furto, o russo por miséria crônica e mendicância mal disfarçada. Poderíamos citar tantas outras razões. Todas demonstrariam que os artistas, hoje como ontem, andam quase sempre pelas beiras e não pelo centro dos caminhos. Permanecem aquilo que nunca deixaram de ser e que os torna tão peculiares. São pessoas deslocadas. Falar daqueles de ontem é também amar os de hoje. A memória é reflexo, a sombra é uma projeção. Através das décadas, os artistas conti nuam irmãos dos seus antecessores. A exigência é sua primeira companhia. Modigliani, Soutine e Picasso, que sempre se dedicaram apenas à sua arte, criticavam Van Dongen e alguns outros que queriam agradar à alta sociedade. Para eles, esses companheiros de época se renegaram, quase se comprometeram. Tornaram-se uma espécie de técnicos, de artesãos da pintura. Ora, os artesãos não seriam artistas. Pierre Soulages, um dia, me deu a chave da diferença: “O artista procura. Ele ignora o caminho que vai tomar para alcançar seu objetivo. O artesão, por sua vez, segue por caminhos que ele conhece para ir ao encontro de um objeto que ele também conhece”. Brilhante. 13 O artista trabalha sozinho, não emprega ninguém e não tem profis são. Pintar ou escrever não é uma questão de profissão; trata-se de uma respiração. Até a ferramenta é incerta. Se a ideia morre, ou a imaginação, se a cabeça entra em pane, nada nem ninguém poderá salvar o homem asfixiado pelo nada. E ninguém poderá substituí-lo: a obra de arte é úni ca, assim como aquele que a produz. As cariátides de Modigliani não são comparáveis a nenhuma outra. Se aconteceu que Robert Desnos comprou um desenho a carvão de Picasso, vendido como se fosse uma composição de Braque, foi porque, durante o grande período do cubismo sintético, os dois artistas trabalhavam juntos. Tanto um como outro procuravam. A dúvida constitui a eterna linguagem do artista diante de si mesmo. A nova obra nunca é adquirida. Ela não repousa sobre coisa alguma, nem mesmo sobre a obra que a pre cede. O sucesso e a curiosidade são efêmeros. É preciso sempre recomeçar do zero. O zero é um abismo. O artista vive apenas do seu fôlego. Se este lhe falta, tudo desmorona. É assim que funciona o homem em relação à obra nascente. Bohèmes [Boêmios] nasce nos ateliês do Bateau-Lavoir e cresce sobre as calçadas da Ruche e de Montparnasse. Ele cruza um romance, Nu couché [Nu deitado]. Preenche seus espaços, suas reentrâncias e seus mistérios não revelados. Escrevi os dois livros ao mesmo tempo, durante vários anos, descan sando de um no outro, incapaz de dividi-los, de separá-los. São dois irmãos siameses da mesma aventura literária: um é romance, o outro é crônica. Não teria podido escrever Nu couché sem escrever Boêmios, e Boêmios não existiria sem Nu couché. A história desses homens que fizeram brotar a arte moderna na terra das suas diferenças é tão rica que apenas um livro não me pareceu suficiente para esgotar as peças do caleidoscópio que espio há tantos anos. São companheiros extraordinários, mas persistentes. Frequentando-os, esqueci o motivo que havia me conduzido até eles. Comecei escrevendo Nu couché. Na sua primeira versão, o livro me fugia. Escorregava sob seu próprio peso. O real afogava a ficção. Os personagens nascidos do meu imaginário depunham suas armas diante dos heróis do Bateau-Lavoir e do cruzamento Vavin. Aqueles valiam talvez um romance, mas estes também o mereciam. Recomecei. Retirei de Nu couché as escadas que permitiram tomar de assalto minha fortaleza. Coloquei-as em outro lugar. E escrevi os dois livros paralelamente. 14 Nu couché visita os ateliês, os cafés e os bordéis da época através de invenções que não pertencem apenas às testemunhas do momento. Ele é como uma criação fixada numa moldura. Boêmios explora o quadro nas suas luzes e riquezas. Ele conta os artistas de Montmartre e de Montparnasse pela voz do contador. Não sou historiador da arte. O escritor tem sua própria linguagem. A minha é esta. Uma maneira de escrever um outro romance: o das pessoas, dos lugares, das obras que o século, virando a página, levaria para uma ilha deserta se quisesse ter o prazer de encontrar a si mesmo, à sombra da sua memória. 15
Download