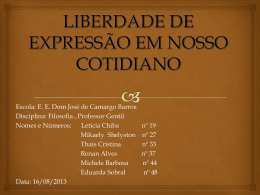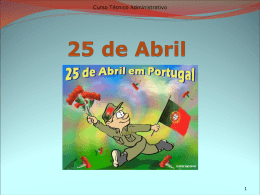Coleção CONPEDI/UNICURITIBA Vol. 23 Organizadores Prof. Dr. Orides Mezzaroba Prof. Dr. Raymundo Juliano Rego Feitosa Prof. Dr. Vladmir Oliveira da Silveira Profª. Drª. Viviane Coêlho de Séllos-Knoerr Coordenadores Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado Prof. Dr. Vladimir Brega Filho Prof. Dr. Fernando Gustavo Knoerr DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA I 2014 2014 Curitiba Curitiba Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE D597 Nossos Contatos São Paulo Rua José Bonifácio, n. 209, cj. 603, Centro, São Paulo – SP CEP: 01.003-001 Acesse: www. editoraclassica.com.br Redes Sociais Facebook: http://www.facebook.com/EditoraClassica Twittter: https://twitter.com/EditoraClassica Direitos fundamentais e democracia I Coleção Conpedi/Unicuritiba. Organizadores : Orides Mezzaroba / Raymundo Juliano Rego Feitosa / Vladmir Oliveira da Silveira / Viviane Coêlho Séllos-Knoerr. Coordenadores : Ednilson Donisete Machado/Vladimir Brega Filho / Fernando Gustavo Knoerr. Título independente - Curitiba - PR . : vol.23 - 1ª ed. Clássica Editora, 2014. 511p. : ISBN 978-85-8433-011-9 1. Estado e democracia. 2. Poder judiciário. I. Título. CDD 341.27 EDITORA CLÁSSICA Conselho Editorial Allessandra Neves Ferreira Alexandre Walmott Borges Daniel Ferreira Elizabeth Accioly Everton Gonçalves Fernando Knoerr Francisco Cardozo de Oliveira Francisval Mendes Ilton Garcia da Costa Ivan Motta Ivo Dantas Jonathan Barros Vita José Edmilson Lima Juliana Cristina Busnardo de Araujo Lafayete Pozzoli Leonardo Rabelo Lívia Gaigher Bósio Campello Lucimeiry Galvão Equipe Editorial Editora Responsável: Verônica Gottgtroy Capa: Editora Clássica Luiz Eduardo Gunther Luisa Moura Mara Darcanchy Massako Shirai Mateus Eduardo Nunes Bertoncini Nilson Araújo de Souza Norma Padilha Paulo Ricardo Opuszka Roberto Genofre Salim Reis Valesca Raizer Borges Moschen Vanessa Caporlingua Viviane Coelho de Séllos-Knoerr Vladmir Silveira Wagner Ginotti Wagner Menezes Willians Franklin Lira dos Santos XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI/ UNICURITIBA Centro Universitário Curitiba / Curitiba – PR MEMBROS DA DIRETORIA Vladmir Oliveira da Silveira Presidente Cesar Augusto de Castro Fiuza Vice-Presidente Aires José Rover Secretário Executivo Gina Vidal Marcílio Pompeu Secretário-Adjunto Conselho Fiscal Valesca Borges Raizer Moschen Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa João Marcelo Assafim Antonio Carlos Diniz Murta (suplente) Felipe Chiarello de Souza Pinto (suplente) Representante Discente Ilton Norberto Robl Filho (titular) Pablo Malheiros da Cunha Frota (suplente) Colaboradores Elisangela Pruencio Graduanda em Administração - Faculdade Decisão Maria Eduarda Basilio de Araujo Oliveira Graduada em Administração - UFSC Rafaela Goulart de Andrade Graduanda em Ciências da Computação – UFSC Diagramador Marcus Souza Rodrigues Sumário APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................ 14 REPENSANDO A SEPARAÇÃO DE PODERES: DO LIBERALISMO DO SÉCULO XVIII À JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEA (Caio de Souza Borges) .............................................................. 16 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 17 JUDICIÁRIO E JULGAMENTO SEGUNDO MONTESQUIEU ...................................................................... 19 A SEPARAÇÃO DE PODERES NO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO ..................................... 24 REPENSANDO A SEPARAÇÃO DE PODERES ............................................................................................. 33 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 36 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 37 UM NOVO CENÁRIO PARA NOVOS PROTAGONISTAS: AS ORDENS POLÍTICAS DO NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO (Luís Henrique Orio) ...................................................... 41 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 42 AS CONFORMAÇÕES ATUAIS HEGEMÔNICAS DE ESTADO E DEMOCRACIA .......................................... 42 AS NOVAS ORDENS POLÍTICAS: UM NOVO DESENHO DE ESTADO E UM NOVO ESPAÇO PARA A DEMOCRACIA ............................................................................................................................................ 47 CONCLUSÃO .............................................................................................................................................. 59 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 61 RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE NO ÂMBITO DA DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA (Eliane Fontana e Josiane Petry Faria) .................................................................................................................................. 63 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................................................................ 64 ESTADO DEMOCRÁTICO E A REVISÃO DA DEMOCRACIA NA ATUALIDADE ........................................... 64 A NOVA CIDADANIA E A INTERLOCUÇÃO ENTRE ESTADO E SOCIEDADE NO CENÁRIO DA DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA ........................................................................................................... 71 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 74 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 75 DEMOCRACIA DELIBERATIVA: ENTRE CRÍTICAS E POSSIBILIDADES (Francielle Pasternak Montemezzo) 78 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................................................................ 79 PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO DELIBERATIVO ................................................. 79 CRÍTICAS À CONCEPÇÃO DELIBERATIVA DE JUSTIÇA E SUAS POSSÍVEIS RESPOSTAS ............................... 89 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 97 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 98 DAS INVASÕES EUROPEIAS À AMÉRICA LATINA À FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL FORÇADA: UM DIÁLOGO ENTRE O ESTADO MODERNO NACIONAL E O NOVO ESTADO PLURINACIONAL À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS (Heleno Florindo da Silva e Daury César Fabriz) ..... 101 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 102 UM MUSEU DE GRANDES NOVIDADES: A IDENTIDADE NACIONAL ENQUANTO PADRÃO DE ESTÉTICA DO PODER NO ESTADO MODERNO NACIONAL E SEUS REFLEXOS ATUAIS ........................ 104 A PLURINACIONALIDADE LATINO-AMERICANA: A DIALÉTICA ENTRE O CONSTITUCIONALISMO NACIONAL E O CONSTITUCIONALISMO PLURINACIONAL EM BUSCA DE UMA CONCEPÇÃO MULTICULTURAL DOS DIREITOS HUMANOS ........................................................................................... 110 CONCLUSÃO .............................................................................................................................................. 122 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 123 PARTIDOS, SINDICATOS E COLETIVOS: VELHOS ATORES EM NOVAS FEIÇÕES PARA UMA NOVA DEMOCRACIA (Gretha Leite Maia) ........................................................................................................... 128 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 128 MAIO DE 68: DENUNCIANDO OS PARTIDOS E OS SINDICATOS COMO PARTE DO ESPETÁCULO ........... 130 MOVIMENTOS DE MASSA DO SEC. XX: JUVENTUDE, MILITARIZAÇÃO E TOTALITARISMO ...................... 134 OS COLETIVOS E AS REDES SOCIAIS: VELHOS ATORES EM NOVAS FEIÇÕES DE MOBILIZAÇÃO POLÍTICA .................................................................................................................................................... 136 EM BUSCA DA DEMOCRACIA CRÍTICA E PÓS-CRÍTICA ............................................................................ 141 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 144 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 145 O INDIVÍDUO INVISÍVEL: UMA PERSPECTIVA TEÓRICA SOBRE OBSTÁCULOS FÁTICOS PARA A EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS CONSTITUCIONAIS CAPAZES DE PROMOVER A TRANSCENDÊNCIA DO SUBCIDADÃO À CONDIÇÃO DE CIDADÃO (Mariana Dionísio de Andrade) ..... 147 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 148 CIDADANIA E LIBERDADE COMO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE DIREITOS ................................. 149 DA SUBCIDADANIA À CIDADANIA ............................................................................................................ 152 DIFICULDADES PARA A CONSTRUÇÃO DO CIDADÃO .............................................................................. 156 A REALIDADE DA CIDADANIA NO CONTEXTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988: A EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS CONSTITUCIONAIS COMO MEIO DE REALIZAÇÃO DO CIDADÃO REAL ........................ 158 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS PELA BUSCA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL AOS INSTRUMENTOS CONSTITUCIONAIS ................................................................................................................................... 161 CONCLUSÃO .............................................................................................................................................. 164 REFERÊNCIAS............................................................................................................................................. 166 O ATIVISMO JUDICIAL ESTUDADO SOB A ÓTICA DA TEORIA DA DEMOCRACIA: A LEGITIMAÇÃO DOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO PARA ATUAR COMO AGENTES POLÍTICOS EVIDENCIADA NA CONSTITUIÇÃO BOLIVIANA PROMULGADA EM 2009 (Marcel Julien Matos Rocha) ............................... 168 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 170 ORIGEM E DELIMITAÇÃO CONCEITUAL A RESPEITO DO ATIVISMO JUDICIAL ...................................... 171 O ATIVISMO JUDICIAL: FUNDAMENTOS PROATIVOS SEGUNDO A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO DE ALEXY E CONSTRUÇÃO CRÍTICA EM JONH LOCK, MONTESQUIEU E ROUSSEAU .................................. 174 O MODELO CONSTITUCIONAL BOLIVIANO PROMULGADO EM 2009 ................................................... 189 CONCLUSÕES ............................................................................................................................................ 192 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 194 A POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O CONTRASSENSO DA EFETIVAÇÃO: A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO E O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO (Karina Pereira Benhossi e Zulmar Fachin) 196 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 197 O POSITIVISMO JURÍDICO ........................................................................................................................ 198 A POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS .................................................................................... 202 O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ............................... 206 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 211 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 212 DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E AMBIENTALISMO (Leandro Ferreira Bernardo e Mariane Yuri Shiohara) .................................................................................................................................................... 214 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 215 A DEMOCRACIA NO MUNDO OCIDENTAL ............................................................................................... 215 A EMERGÊNCIA DO VALOR “DIREITOS HUMANOS” ............................................................................... 217 A EMERGÊNCIA DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ................................................................................... 221 AMBIENTALISMO X DEMOCRACIA .......................................................................................................... 222 OS DIREITOS AMBIENTAIS COMO DIREITOS HUMANOS? ...................................................................... 224 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 226 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 228 DESAFIOS TEÓRICOS DA TUTELA JURISDICIONAL DEMOCRÁTICA DE DIREITOS COLETIVOS: BASES HERMENÊUTICAS PARA A REFLEXÃO SOBRE A EFETIVIDADE DAS AÇÕES COLETIVAS NUM CONTEXTO CONSTITUCIONAL PLURALISTA (Marcelo Guimarães Coutinho e Saulo de Oliveira Pinto Coelho) ............... 231 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 232 INDIVIDUALISMO, COLETIVISMO E PLURALISMO SOCIAL NO DIREITO CONTEMPORÂNEO ................ 234 SUPERAÇÃO DO REDUCIONISMO COLETIVISTA E TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS E DIFUSOS ELEMENTOS PARA UMA CRÍTICA DO MODUS OPERANDI TRADICIONAL DAS AÇÕES COLETIVAS ... 240 CONSIDERAÇÕES FINAIS: EM BUSCA DA EFICIÊNCIA E DA EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS DE TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS ........................................................................................................ 253 REFERÊNCIAS............................................................................................................................................. 256 MANDADO DE INJUNÇÃO: RELEITURA DO INSTRUMENTO INTEGRATIVO MANDAMENTAL DIANTE DA EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Ana Luiza Rocha de Melo Santos e Henrique Rocha Penido) ...................................................................................................... 259 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 260 AS QUESTÕES ACERCA DO TEMA DA OMISSÃO LEGISLATIVA ................................................................ 261 O MANDADO DE INJUNÇÃO ..................................................................................................................... 264 A NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE OS EFEITOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO ................................................................................................................................................. 266 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 273 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 274 MANIFESTANTES DESSUJEITADOS: A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA OS CONSTRANGIMENTOS NORMALIZADORES DO PRÓPRIO ESTADO (Luciano Machado de Souza) ............................ 276 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 277 DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, OU ESTADO DEMOCRÁTICOCONSTITUCIONAL: UMA LEITURA DE PIETRO COSTA ...................................................................................................................................... 279 ADPF 187 E ADI 4274: “É PROIBIDO PROIBIR”! ........................................................................................ 287 CONCLUSÃO .............................................................................................................................................. 293 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 294 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO IDEAL DE RAZÃO PÚBLICA: ANÁLISE DO CASO LEI DA FICHA LIMPA À LUZ DA TEORIA DA JUSTIÇA COMO EQUIDADE DE JOHN RAWLS (Vinícius Silva Bonfim e Mariana Oliveira de Sá) ............................................................................................................... 297 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 298 RAWLS, VIDA E OBRA: UMA TEORIA DA JUSTIÇA – 1971 ........................................................................ 299 O LIBERALISMO POLÍTICO: A RESPOSTA AOS CRÍTICOS COMO APRIMORAMENTO DA TEORIA DA JUSTIÇA ..................................................................................................................................................... 307 A LEI COMPLEMENTAR 135/2010 - LEI DA FICHA LIMPA ......................................................................... 316 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSTITUI O IDEAL DE RAZÃO PÚBLICA NO JULGAMENTO DA LEI DA FICHA LIMPA? ................................................................................................................................ 319 CONCLUSÃO .............................................................................................................................................. 324 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 325 LIBERDADE DE EXPRESSÃO E HATE SPEECHES: AS INFLUÊNCIAS DA JURISPRUDÊNCIA DOS VALORES E AS CONSEQUÊNCIAS DA PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS NO JULGAMENTO DO CASO ELLWANGER (Clarissa Tassinari e Elias Jacob de Menezes Neto) ............................................................... 327 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 328 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO E A DEMOCRACIA ...................................................... 329 LIBERDADE DE EXPRESSÃO E HATE SPEECHES ........................................................................................ 333 A TARDIA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOS VALORES E O CASO ELLWANGER ............................... 337 A NECESSIDADE DE UMA TEORIA DA DECISÃO ....................................................................................... 343 QUESTÕES ABERTAS ................................................................................................................................. 346 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 347 IDENTIDADE DE GÊNERO: UM CAMINHO ENTRE A VISIBILIDADE E A INVISIBILIDADE (Clarindo Epaminondas de Sá Neto) .......................................................................................................................... 351 INTRODUÇÃO............................................................................................................................................. 351 ORIENTAÇÃO SEXUAL, OPÇÃO SEXUAL OU DETERMINISMO? .............................................................. 353 O DISCURSO DA VERDADE ........................................................................................................................ 357 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 363 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 364 EDUCAÇÃO: DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMO FATOR ÉTICO PARA A CONQUISTA DE UMA VIDA DIGNA (Melissa Zani Gimenez e Edinilson Donisete Machado) ...................... 367 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 368 ÉTICA: CONCEITOS E FINALIDADES ......................................................................................................... 369 EDUCAÇÃO ESCOLAR E SUA IMPORTÂNCIA SOCIAL ............................................................................... 374 LEGISLAÇÕES INTERNACIONAIS QUE ENFATIZAM O DIREITO EDUCACIONAL ..................................... 376 LEGISLAÇÕES NACIONAIS VIGENTES QUE ENFATIZAM O DIREITO EDUCACIONAL ............................... 382 O AMOR AO PRÓXIMO- BASE FRATERNAL- E A APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.525/2007 ............................... 385 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 388 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 389 A PORNOGRAFIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL A PARTIR DO VIÉS HERMENÊUTICOJURISDICIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (André Viana Custódio e Felipe da Veiga Dias) ........................................................................................... 392 INTRODUÇÃO............................................................................................................................................. 393 OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL – DO MENORISMO À TEORIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL ..................................................................................................................................... 394 VIOLÊNCIA E ABUSOS DA SEXUALIDADE NA INFÂNCIA: PORNOGRAFIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL INFANTIL .............................................................................................................................. 397 A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E OS PROBLEMAS DECISÓRIOS NO COMBATE A VIOLAÇÃO SEXUAL DA INFÂNCIA ............................................................................................................................... 401 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................................... 407 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 408 A PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E O HABEAS DATA NO STF (Marco A. R Cunha e Cruz e Jéffson Menezes de Sousa) ..................................................................................................................................... 411 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 413 DO DIREITO À INTIMIDADE AO DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS ....................................... 415 O MARCO NORMATIVO BRASILEIRO E A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS .......................................... 424 DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O HABEAS DATA NO STF ............................................................ 428 CONCLUSÕES ............................................................................................................................................ 434 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 435 ABUSO DE PODER ECONÔMICO: DISTORÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL E VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 4A GERAÇÃO (Amanda Vicelli e Camille Carla Bianchi dos Santos) ......... 441 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 442 REPRESENTAÇÃO E VOTO NO ESTADO-NAÇÃO ....................................................................................... 443 REQUISITOS E PRESSUPOSTOS PARA O FUNCIONAMENTO IDEAL DA DEMOCRACIA .............................. 444 DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 4A GERAÇÃO ........................................................................................... 449 IGUALDADE DE CHANCES DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, ABUSO DE PODER ECONÔMICO E FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ........................................................................................................... 450 LIMITES AO FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ....................................................................................... 453 CONCLUSÃO .............................................................................................................................................. 455 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 456 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATIVISMO JUDICIAL E DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: CONSIDERAÇÕES GERAIS (Giovanna Cunha Mello Lazarini Gadia e Luiz Carlos Goiabeira Rosa) ...................... 458 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 459 CONSIDERAÇÕES PROPEDÊUTICAS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ........................................... 461 A SAÚDE ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL ...................................................................................... 465 DO ATIVISMO JUDICIAL ENQUANTO MECANISMO DE GARANTIA DO ACESSO À SAÚDE ........................ 473 DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA RESERVA DO POSSÍVEL ........................................................................ 476 CONCLUSÃO .............................................................................................................................................. 484 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................................ 485 OS ATORES SOCIAIS E A CONCRETIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ (Sheila Stolz) ....................................................... 488 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 489 DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO: APROXIMAÇÃO AO TEMA ....... 492 AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS NO ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO ......................................... 496 DIREITO AO TRABALHO DECENTE: PARA ALÉM DE PROTEÇÃO SOCIAL, EMANCIPAÇÃO ........................ 501 PONDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................................. 505 BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................................ 507 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Caríssimo(a) Associado(a), Apresento o livro do Grupo de Trabalho Direitos Fundamentais e Democracia I, do XXII Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), realizado no Centro Universitário Curitiba (UNICURUTIBA/PR), entre os dias 29 de maio e 1º de junho de 2013. O evento propôs uma análise da atual Constituição brasileira e ocorreu num ambiente de balanço dos programas, dada a iminência da trienal CAPES-MEC. Passados quase 25 anos da promulgação da Carta Magna de 1988, a chamada Constituição Cidadã necessita uma reavaliação. Desde seus objetivos e desafios até novos mecanismos e concepções do direito, nossa Constituição demanda reflexões. Se o acesso à Justiça foi conquistado por parcela tradicionalmente excluída da cidadania, esses e outros brasileiros exigem hoje o ponto final do processo. Para tanto, basta observar as recorrentes emendas e consequentes novos parcelamentos das dívidas dos entes federativos, bem como o julgamento da chamada ADIN do calote dos precatórios. Cito apenas um dentre inúmeros casos que expõem os limites da Constituição de 1988. Sem dúvida, muitos debates e mesas realizados no XXII Encontro Nacional já antecipavam demandas que semanas mais tarde levariam milhões às ruas. Com relação ao CONPEDI, consolidamos a marca de mais de 1.500 artigos submetidos, tanto nos encontros como em nossos congressos. Nesse sentido é evidente o aumento da produção na área, comprovável inclusive por outros indicadores. Vale salientar que apenas no âmbito desse encontro serão publicados 36 livros, num total de 784 artigos. Definimos a mudança dos Anais do CONPEDI para os atuais livros dos GTs – o que tem contribuído não apenas para o propósito de aumentar a pontuação dos programas, mas de reforçar as especificidades de nossa área, conforme amplamente debatido nos eventos. Por outro lado, com o crescimento do número de artigos, surgem novos desafios a enfrentar, como o de (1) estudar novos modelos de apresentação dos trabalhos e o de (2) aumentar o número de avaliadores, comprometidos e pontuais. Nesse passo, quero agradecer a todos os 186 avaliadores que participaram deste processo e que, com competência, permitiramnos entregar no prazo a avaliação aos associados. Também gostaria de parabenizar os autores 11 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I selecionados para apresentar seus trabalhos nos 36 GTs, pois a cada evento a escolha tem sido mais difícil. Nosso PUBLICA DIREITO é uma ferramenta importante que vem sendo aperfeiçoada em pleno funcionamento, haja vista os raros momentos de que dispomos, ao longo do ano, para seu desenvolvimento. Não obstante, já está em fase de testes uma nova versão, melhorada, e que possibilitará sua utilização por nossos associados institucionais, tanto para revistas quanto para eventos. O INDEXA é outra solução que será muito útil no futuro, na medida em que nosso comitê de área na CAPES/MEC já sinaliza a relevância do impacto nos critérios da trienal de 2016, assim como do Qualis 2013/2015. Sendo assim, seus benefícios para os programas serão sentidos já nesta avaliação, uma vez que implicará maior pontuação aos programas que inserirem seus dados. Futuramente, o INDEXA permitirá estudos próprios e comparativos entre os programas, garantindo maior transparência e previsibilidade – em resumo, uma melhor fotografia da área do Direito. Destarte, tenho certeza de que será compensador o amplo esforço no preenchimento dos dados dos últimos três anos – principalmente dos grandes programas –, mesmo porque as falhas já foram catalogadas e sua correção será fundamental na elaboração da segunda versão, disponível em 2014. Com relação ao segundo balanço, após inúmeras viagens e visitas a dezenas de programas neste triênio, estou convicto de que o expressivo resultado alcançado trará importantes conquistas. Dentre elas pode-se citar o aumento de programas com nota 04 e 05, além da grande possibilidade dos primeiros programas com nota 07. Em que pese as dificuldades, não é possível imaginar outro cenário que não o da valorização dos programas do Direito. Nesse sentido, importa registrar a grande liderança do professor Martônio, que soube conduzir a área com grande competência, diálogo, presença e honestidade. Com tal conjunto de elementos, já podemos comparar nossos números e critérios aos das demais áreas, o que será fundamental para a avaliação dos programas 06 e 07. 12 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Com relação ao IPEA, cumpre ainda ressaltar que participamos, em Brasília, da III Conferência do Desenvolvimento (CODE), na qual o CONPEDI promoveu uma Mesa sobre o estado da arte do Direito e Desenvolvimento, além da apresentação de artigos de pesquisadores do Direito, criteriosamente selecionados. Sendo assim, em São Paulo lançaremos um novo livro com o resultado deste projeto, além de prosseguir o diálogo com o IPEA para futuras parcerias e editais para a área do Direito. Não poderia concluir sem destacar o grande esforço da professora Viviane Coêlho de Séllos Knoerr e da equipe de organização do programa de Mestrado em Direito do UNICURITIBA, que por mais de um ano planejaram e executaram um grandioso encontro. Não foram poucos os desafios enfrentados e vencidos para a realização de um evento que agregou tantas pessoas em um cenário de tão elevado padrão de qualidade e sofisticada logística – e isso tudo sempre com enorme simpatia e procurando avançar ainda mais. Curitiba, inverno de 2013. Vladmir Oliveira da Silveira Presidente do CONPEDI 13 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Apresentação O XXII Congresso Nacional do CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Direito –, sob o tema “25 anos da Constituição cidadã: Os atores sociais e a concretização sustentável dos objetivos da república” realizado em Curitiba entre os dias 29 de maio a 01 de junho, promoveu sua segunda edição com uma série de inovações criadas por sua diretoria, capitaneada pelo Dr. Vladmir Silveira, entre as quais a divisão dos já tradicionais Anais do Evento em vários livros distintos, cada um para um Grupo de Trabalho. Neste livro encontram-se 22 capítulos resultados de pesquisas desenvolvidas em mais de 15 Programas de Mestrados e Doutorado do Brasil, com artigos selecionados por meio de avaliação por pares, objetivando a melhor qualidade e a imparcialidade na divulgação do conhecimento da área, que resultou na presente obra. Nessa publicação veiculam-se valorosas contribuições teóricas das mais relevantes inserções na realidade brasileira, com a reflexão trazida, pelos professores, mestres, doutores e acadêmicos de todo o Brasil, na abordagem dos direitos fundamentais e da democracia, com suas implicações na ordem jurídica brasileira. Com o objetivo de estruturar epistemologicamente os temas foi a obra dividida em três capítulos, a saber: capítulo I Estado e Democracia; Capítulo II Poder Judiciário e Legitimidade Estatal; e capítulo III Democracia e Direitos Fundamentais. A divisão oferecida promoveu adesão aos temas e a apresentação na realização do evento demonstrou-se adequada e, exitosa em sua execução. Assim a divulgação da produção científica socializa o conhecimento, com critérios rígidos de divulgação, oferecendo à sociedade nacional e internacional o papel irradiador do pensamento jurídico, aferido nos vários centros de excelência que contribuíram no presente livro, demonstrando o avanço nos critérios qualitativos do evento. 14 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Por fim, nossos sinceros agradecimentos ao CONPEDI pela honra a que fomos laureados ao coordenar e apresentarmos o presente livro, que possui a marca indelével do esmero, da dedicação e o enfrentamento à todas as dificuldades que demandam uma publicação de qualidade como a presente. Coordenadoras do Grupo de Trabalho Professor Doutor Edinilson Donisete Machado – UNIVEM Professor Doutor Vladmir Brega Filho – UENP Professor Doutor Fernando Gustavo Knoerr – UNICURITIBA 15 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Repensando a separação de poderes: do liberalismo do século XVIII à jurisdição constitucional contemporânea Rethinking the separation of powers: from the 18th century liberalism to the contemporary constitutional jurisdiction Caio de Souza Borges Resumo O princípio da separação de poderes é comumente identificado como o pilar fundamental do sistema democrático. Durante séculos, a interpretação dominante da teoria de Montesquieu reservou um papel secundário e reservado ao Judiciário, em subordinação ao papel do Legislativo e ao seu principal produto, a lei. Nos dias atuais, o protagonismo do Judiciário em questões polêmicas e sensíveis tem revelado as dificuldades de perpetuação de concepções rígidas da separação de poderes. A jurisdição constitucional contemporânea exige de todos os poderes a concretização dos direitos fundamentais e, em especial, dos direitos das minorias historicamente excluídas do sistema político representativo. Pretende-se, com o presente trabalho, compreender de que maneira Montesquieu posicionou o Judiciário entre os demais poderes sob uma leitura não-tradicional e compreender de que maneira o princípio da separação de poderes pode conviver com a justiça constitucional contemporânea e a busca pela efetivação dos direitos fundamentais. Palavras-chave: separação de poderes; jurisdição constitucional; direitos fundamentais; neoconstitucionalismo; ativismo judicial. Abstract The principle of separation of powers is commonly referred as the main foundation of the democratic system. The mainstream interpretation of Montesquieu’s theory on separation of powers has remained, throughout centuries, inclined towards a reserved and secondary role for the Judiciary, subordinated to the prominent role of the Legislative and its output, the legislation. The protagonist role of the Judiciary in current times in ruling on controversial and sensitive issues has unveiled the difficulties associated with perpetuation of rigid conceptions of the separation of powers. The contemporary constitutional jurisdiction requires that all the powers make fundamental rights effective, especially those of the minorities historically 16 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I excluded from the representative political system. The aim of this paper is to assess the stance on which Montesquieu placed the Judiciary under a non-conventional reading of his theory and to understand the possible means of coexistence between the separation of powers, the constitutional justice and the quest for the materialization of fundamental rights. Key-words: separation of powers; constitutional jurisdiction; fundamental rights; neoconstitutionalism; judicial activism. 1. Introdução Dentre as razões políticas e jurídicas mais utilizadas em sentido desfavorável à expansão do Poder Judiciário em uma sociedade politicamente organizada, a doutrina da separação de poderes ocupa posição de destaque pela consolidação, ao longo da história, de seu caráter dogmático e indissociável da existência do sistema democrático. A interdependência entre separação de poderes e o princípio democrático revestiu-se de caráter tão rígido nas democracias constitucionais contemporâneas que as dificuldades que surgem da dinâmica da vida política em sociedades altamente complexas têm provocado um estado constante de permanente tensão institucional e política. A positivação da tripartição de poderes, como é o caso do art. 2° da Constituição Federal de 19881, ao invés de definir limites e gerar consenso quanto ao exercício das atribuições estatais por cada um dos poderes, torna ainda mais tormentosa a questão pelo simples fato de que nem uma constituição analítica, ou até mesmo casuística como a do Brasil, pode enumerar todas as situações de ingerência de um poder sobre o outro ou, ainda que o fizesse, não haveria como estabelecer abstratamente meios institucionais satisfatórios para a atenuação desses movimentos frontalmente colidentes. Certo é que para se chegar até ao que se tem hoje como “princípio constitucional da separação de poderes”, a semente plantada por Locke e nutrida por Montesquieu, este a quem se credita diretamente a formulação de tal teoria, cresceu e sofreu radicais variações decorrentes da confluência de acontecimentos históricos e mudanças de paradigmas políticos, sendo um dos mais importantes o constitucionalismo contemporâneo. Entretanto, a formulação plástica da construção teórica da separação do poderes, tal qual se vê nos dias atuais, foi preponderantemente erigida por meio dos ideais da Revolução Francesa do século XVIII, que 1 “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 17 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I conferiu ao Poder Legislativo e à lei passada pelo parlamento uma posição de preeminência explícita dentre os diversos arranjos normativos passíveis de exercer controle sobre uma sociedade. Tendo ocupado, por um longo período histórico, uma posição invejável de estabilidade e permanência mesmo diante de outros dogmas e instituições, a onipotência da lei passou a ser duramente questionada e o legislador passou a enfrentar diversas formas de controle que lhe tolheram a discricionariedade, resultando assim em uma flexibilização da concepção legalista que vigeu durante séculos. Isso se deu especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo viu que a lei pode ser o fundamento lógico para formas absolutamente distante dos ideais do século XVIII, como os regimes totalitários do século XX. Em paralelo, assistiu-se a uma ascensão do poder que, a princípio, deveria atuar “na sombra”, o Judiciário, que vem sendo conclamado a se posicionar diante de temas complexos e carregados de dissenso, como uniões homoafetivas, políticas e programas raciais, biotecnologia, etc. O papel da função judicial nos Estados democráticos, que muitos consideram como sendo obscura até os dias de hoje, é objeto de debates intensos que buscam dimensionar as consequências da judicialização de virtualmente qualquer interesse ou conflito que exista no seio social. Reunindo-se as preocupações mais frequentes, indaga-se, em termos gerais, qual a consequência, para a ordem constitucional, a democracia política e os cidadãos, dessa crescente ênfase de direitos fundamentais e aspirações políticas sob a definição e o entendimento de uma minúscula parcela da população, que são os juízes. Na tentativa de identificar as interpretações – e por vezes, deturpações – a que a teoria da separação de poderes foi submetida, e de modo a reconciliar clamores por uma maior intervenção do sistema judicial na resolução de conflitos sensíveis das sociedades atuais com as conquistas liberais do século XVIII em diante, este estudo tem por objetivo reinterpretar o princípio da separação de poderes à luz da jurisdição constitucional e dos direitos fundamentais. Para isso, será empreendida uma releitura da teoria da separação dos poderes levandose em consideração o estágio da política liberal existente ao tempo do Espírito das Leis. Buscarse-á extrair da prescrição normativa de Montesquieu sobre a distribuição de poderes em um Estado2 elementos que possam acomodar, sem ruptura institucionais ou da ordem Não se busca nesta primeira parte deste estudo fazer uma análise pormenorizada do livro O Espírito das Leis. A referência bibliográfica para a primeira seção deste trabalho é: CARRESSE, Paul O. The Cloaking of Power: Montesquieu, Blackstone and the Rise of Judicial Activism. Chicago University Press: Chicago, 2003. Adotou-se tal obra pela sua perspectiva diferenciada com relação à obra de Montesquieu, sem o enquadrar no estereótipo dos filósofos e juristas do liberalismo do século XVIII. Relativamente à obra de Montesquieu, apenas consideramos as passagens de alguns “livros” de O Lspírito das leis, principalmente o 11, 12, 26 e 29, que contêm alguns dos excertos mais escritos e discutidos e que, pela ampla reprodução nos espaços de debate, acabam por delimitar o 2 18 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I constitucional, uma reorganização entre os Poderes com o desempenho, pelo Judiciário, de funções antes reservadas apenas ao Executivo e Legislativo. Em seguida, será delineada a maneira pela qual a justiça constitucional tem instrumentalizado a lei para a concretização de direitos fundamentais por via do Tribunal Constitucional, apresentando-se, ainda, as principais características dessa nova forma de enxergar o papel judicial e a função legislativa à luz da Constituição. Na última parte, será realizada uma reflexão de caráter conciliatório entre o papel do Judiciário, dos demais poderes e os ideais democráticos substanciais das atuais sociedades complexas e plurais. 2. Judiciário e julgamento segundo Montesquieu A razão de existir do Poder Judiciário sob a perspectiva de Montesquieu nada mais é senão decorrência lógica de sua afeição ao Estado liberal em detrimento das formas de governo a que chamava de tiranas e que imperavam na maior parte da Europa de sua época. Isto porque, segundo ele, somente aquele pode assegurar tranquilidade dos cidadãos e a moderação do poder político3, os dois pilares da sua concepção de liberdade real4 dos cidadãos. Ele correlaciona moderação ao poder de julgar, uma vez que este está livre das “paixões da política” e do partidarismo que impregna os outros dois poderes, ou ao menos não possui, em um primeiro momento, as mesmas paixões e os mesmos defeitos dos poderes tradicionalmente afeitos à discussão política (CARRESE, 2003, p. 17). A tranquilidade dos cidadãos é situação mais complexa. Montesquieu inicialmente considera o processo criminal para comparar a atuação judicial em uma República, no caso a romana, com a monarquia inglesa, sobre a qual se debruça nesta parte da obra, para concluir que em ambas o juiz (ou júri, no caso da Inglaterra) sentencia o acusado a uma pena imposta escopo da ideia de Montesquieu e por consequência dificultam o seu estudo sob perspectivas críticas que se afastam do que recorrentemente é imputado ao autor, criando um obscuro senso comum a respeito da substância da separação de poderes. 3 Embora Montesquieu também trate de moderação como conduta de índole subjetiva, o que o aproxima de Maquiavel, ao seu Judiciário incumbe efetivamente moderar a política no sentido de “frear” os demais poderes, mesmo que seja pela simples atribuição do poder de julgar a um terceiro poder, já que, segundo seu estudo, tal atividade era arbítrio ou dos legisladores ou dos príncipes dos Estados da época. 4 O próprio Montesquieu admite, entretanto, o sentido polissêmico da palavra liberdade, e o que ele empresta à sua obra não foi escolhido ao acaso. Revela sua aderência aos direitos humanos individuais e sua visão histórica que orienta a reforma que pretende lançar sobre instituições políticas e sobre as leis. Observe-se que Montesquieu é representante do liberalismo da época da Revolução Francesa, sendo que, para os dias atuais, sua concepção de liberdade revela-se superada pela demanda de concretização de direitos fundamentais muito além da propriedade, segurança e honra individuais. 19 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I pela lei, e ao final aduz que, para isso, o julgador precisa “apenas de seus olhos”. (CARRESE, 2003, p. 38). Observa que, “ao remover o poder discricionário dos juízes e tornando-os igualmente subordinados à lei, as repúblicas mantêm o espírito de igualdade e, ao impedir julgamentos arbitrários, protegem a segurança e liberdade” (CARESSE, 2003, p. 38). Em uma de suas passagens mais reconhecidas e transcritas, assevera que, em uma república, não pode o intérprete moderar a lei nem contra nem a favor dos cidadãos. A quase totalidade dos que se deparam com essas palavras, inclusive estudiosos (scholars) da obra de Montesquieu, não hesita em afirmar de imediato que o autor é representante típico do liberalismo do século XVIII, que culminou na Revolução Francesa de 1789 e que instaurou, em qualquer país que adote o sistema democrático, a divisão de poderes com preeminência explícita ao Legislativo e Executivo em detrimento do poder incumbido de julgar conflitos pela aplicação da lei aos casos concretos. Ocorre que o legado de Montesquieu não se resume à prescrição da correta técnica da subsunção legal do fato à norma, ocasionando o juiz como “boca da lei”. Tem mais a ver com a relação entre o poder julgador emergente e uma visão de constitucionalismo liberal que considera a força e a independência desse poder, como o próprio afirma, condição sine qua non à uma constituição moderada. Sendo a preocupação central de Montesquieu a tranquilidade individual, como essência da liberdade, duas propostas centrais emergem, cada uma com dimensão política e filosófica distintas. A primeira proposta é a de abrandamento da severidade das leis penais, e a partir dessa visão humanista é que algumas de suas assertivas ganham seu verdadeiro sentido. Sua aversão ao “ato de julgar”, que remonta ao episódio bíblico do dia do juízo final, ganha corpo nos tribunais populares instituídos ao longo da história (e especialmente durante a própria Revolução Francesa), que segundo ele eram elemento constante das raias de poder dos países déspotas. Ao contrário do que normalmente é transcrito, jamais ele afirma que o “Judiciário é um poder terrível entre os homens”, mas sim que “o poder de julgar” é terrível entre os homens” (CARRESE, 2003, p. 48). Isso porque, ao constatar a arbitrariedade dos procedimentos penais, verificou que o julgamento de um indivíduo, à revelia de procedimentos e de um corpo especificamente estruturado para tal fim, é o meio mais rápido e comum para a perda da “vida, liberdade ou propriedade”, e por conseguinte, da “tranquilidade que surge do senso que alguém tem sobre sua segurança” (CARRESE, 2003, p. 48). Desta feita, apenas juízes “invisíveis e neutros” podem assegurar a moderação política, “rule of law” e a separação de poderes, que constituem a um só tempo a base e os fins de sua teoria política. A segunda proposta é a materialização institucional dos órgãos necessários para a tranquilidade do indivíduo e da liberdade. Neste aspecto, Montesquieu tem muito mais a 20 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I oferecer que simplesmente um modelo rígido de separação de poderes. A defesa dos direitos individuais segundo seu modelo requer uma inevitável “judicialização da política”, seja para fazer frente aos rasgos emocionais ou puramente políticos dos outros poderes, seja para dotar o novo poder de força necessária à proteção concreta dos valores liberais clássicos (direitos civis de primeira dimensão). Sua fórmula é um tanto quanto complexa, pois mescla instituições monárquicas e republicanas para justificar sua dicotômica divisão de poder julgador entre a Câmara Alta do Parlamento e os júris populares. Àquela caberia julgar nobres, utilizando-se de um “vasto, amplo, largamente indefinido poder de equidade”, enquanto estes julgariam seus pares comuns, “privilégio do pior cidadão de um Estado livre” (CARRESE, 2003, p. 46). Ignorando propositalmente, neste momento, a afronta que isso representa ao princípio da igualdade tal como hoje se considera substancialmente democrática, ambos se destinam ao mesmo fim: blindar os juízes e o Judiciário e atenuar a sensação de intranquilidade inerente ao julgamento de um cidadão. Montesquieu apresenta sua proposta de liberdade individual calcada na monarquia constitucional, consolidando a separação de poderes e a moderação política apoiada em um poder blindado, a fim de se atingir uma política moderada e humana (CARRESE, 2003, p. 53). Não obstante, os ranços monárquicos do modelo proposto por Montesquieu colidem inclusive com os princípios da transformação da Inglaterra em Monarquia para uma República, a partir da abolição das “prerrogativas dos lordes, clérigo, nobreza e cidades”, removendo além disso “todos os poderes intermediários que formaram a sua monarquia” (CARRESE, 2003, p. 53). O seu apreço pelo “julgamento monárquico”, que é indissociável de sua concepção de moderação, a ponto de afirmar que sua perda transformaria o Estado inglês em um “estado popular ou um estado despótico”, indicam seu desprezo por governos puramente populares, por serem potencialmente despóticos. Um estudo mais aprofundado dessa visão diz mais respeito à Ciência Política que ao direito, mas no que tange à distribuição de poderes e à investigação dos fundamento jusfilosóficos do espaço reservado ao Judiciário no equilíbrio entre poderes estatais, as repercussões sobre a força deste poder não podem ser negligenciadas, ainda mais se uma das premissas do seu agigantamento é a sua transposição de fronteiras com o sistema político, inchando-o ou diminuindo-o. A questão que se põe, neste momento, é encontrar indícios ou traços relevantes que apontem elementos da teoria de Montesquieu que justifiquem ou facilitem a compreensão da expansão do poder do Judiciário. 21 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I As impressões iniciais indicam que o Judiciário montesquiano jamais deveria ocupar posição de destaque no sistema de repartição de poderes. A utilização reiterada de palavras como “invisível, nulo e blindado” sugerem a interpretação restritiva do alcance da influência deste poder. Montesquieu intencionalmente evitava o uso de palavras como “corte” e “juízes” – no sentido profissional, burocrático – e utilizou ferramentas de “isolamento” do Judiciário, como os júris e a Câmara Alta, como órgãos invisíveis (CARRESE, 2003, pp. 48-49). Por outro lado, outros elementos levam a crer que, se Montesquieu jamais previu ou sugeriu um Judiciário forte e central, tampouco desejou que fosse um “convidado de pedra” do ensaio dos poderes do Estado. Sua grande preocupação era, ao contrário dos extremos dos Estados de seu tempo, evitar o cometimento de injustiças contra indivíduos. Em uma passagem, cita a paródia de Glaucon, da República de Platão, para enaltecer a “invisibilidade” como incremento do uso do poder, mas, ao mencionar Herodotus, ressalta “as injustiças que os homens tendem a praticar quando ninguém está olhando”. Tais ideias não levam a outra conclusão senão de que a invisibilidade pretendida por Montesquieu não é necessária senão para que a atividade inexorável dos juízes de mitigarem a severidade da lei seja feita de maneira gradual e imperceptível, sem a carga de censurabilidade que o ato de julgar nos moldes bíblicos deduz (CARRESE, 2003, p. 49). Algumas conclusões são necessárias, sob a vertente prática da relação entre a teoria de Montesquieu e a problemática posta. Em primeiro lugar, o Judiciário de Montesquieu não era “blindado” com o fim único de propiciar tranquilidade de índole subjetiva ao acusado ou, em termos gerais, o jurisdicionado. Muito mais que este aspecto, se presta a garantir a sua própria independência e evitar abuso de poder pelo agente julgador. Nesta senda, nada difere o sentido de “neutralidade”, usado pelo autor, do que se utiliza nos dias atuais, no sentido genérico de imparcialidade, isenção e condenação de métodos obscuros de motivação e decisão. Isto revela, no mínimo, a força com que já nasce o Judiciário na teoria mais influente de separação de poderes, não só livre de influências políticas, mas também incumbido do dever de zelar pelo “jogo político”, pois se trata de etapa essencial da materialização da liberdade, seja pela aprovação de leis ou pela execução de seus comandos. Adiante, temos que o “judicial review”, ou controle de constitucionalidade das leis, embora não previsto expressamente na obra de Montesquieu, pode ser extraído pela decorrência lógica de sua concepção inegavelmente contramajoritária do Judiciário, já que, se a este Poder cabe temperar as paixões políticas dos poderes clássicos, essa tarefa poderá ser usada contra eles próprios para derrubar restrições contra a liberdade individual. A palavra final, a quem 22 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I cabe decidir se a restrição é ou não justificável, não cabe a outro poder senão ao próprio Judiciário. Por último, é imprescindível submeter a teoria da separação de poderes ao escrutínio da evolução histórica e da complexidade das sociedades contemporâneas, que demandam por prestações do Estado inimagináveis à época de sua formulação. A expansão do Judiciário é corolário do advento do Estado Social, e a trajetória desse movimento expansionista deu-se por meio de diversos embates sociopolíticos que transformaram o constitucionalismo e o liberalismo, muitas vezes por meio de avanços permeados por retrocessos, como a experiência prática demonstra no exemplo do Estado de Bem Estar Social, de existência identificável no tempo e no espaço e que representa bem o processo de modificação a que tiveram de se submeter os poderes do Estado para assegurarem sua influência sobre os demais. Agrupamentos humanos de crescente complexidade requerem refinamento dos órgãos depositários do poder que essa sociedade difusamente exerce por meio deles. Elites políticas e econômicas exercem, sempre, considerável influência na tomada de decisões e nos procedimentos que desembocam nos consensos que governam a vida em sociedade. Desta maneira, determinados instrumentos são apreendidos por essas elites e alçados a categorias de elevada necessidade, exercendo a um só tempo a forma de instrumentos de controle imposto verticalmente e de canal necessário das camadas inferiores para lograrem seus intentos no cenário político. A simplificação manipulada das ferramentas de controle, objetivando mimetizar determinada ideologia, é expediente recorrente na abordagem da teoria de Montesquieu, especialmente no que diz respeito à subordinação dos juízes à lei e à inconveniência democrática da interpretação do texto legal para revelar-lhe o espírito, sendo a técnica da subsunção a expressão pragmática do padrão da conduta correta a ser seguida pelo julgador e denotativa da influência da instância judiciária. O incremento da função judiciária, das regras e das formalidades, não obstante a crítica de Montesquieu que, de tanto crescerem, tornaram o julgamento “uma arte de motivação em si mesma” (CARRESE, 2003, p. 36), deu a independência necessária à ciência jurídica, especialmente à hermenêutica e à jurisdição constitucional, para questionar o dogma legal e articular os seus próprios métodos racionais de julgamento e participação nos processos de decisão carregados de forte conteúdo político. A força normativa das constituições, que tem suas origens no período do pós-guerra, tornou periférica a lei e expôs ao centro os juízes e a constituição, ao ponto de chegarmos ao que Rawls definiu como sendo um “judge-centered 23 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I constitutionalism” (RAWLS, 1971), expressão que aponta perfeitamente a superação da identidade entre direito e lei. 2. A separação de poderes no constitucionalismo contemporâneo 2.1 A erosão do paradigma legal pelos direitos fundamentais A moderação política foi a solução eficaz encontrada por Montesquieu para conter os abusos perpetrados pelos poderes Legislativo e Executivo, mas a atribuição de moderar o cenário político, por coerência lógica, ficaria a cargo de um terceiro poder, que deveria se manter afastado e independente o suficiente para não se deixar corromper pelos demais. Surge imediatamente dessa concepção o problema do controle dos abusos dos julgadores, já que não se tem porque afirmar peremptoriamente que, uma vez dotados de amplos poderes, os juízes jamais descambariam para a arbitrariedade tal qual fizeram os legisladores e os administradores no curso da história. Montesquieu chegou a afirmar que “o império da lei só irá existir se o ato de julgar for separado das paixões do soberano e for guiado por um julgamento debaixo da lei” (CARRESE, 2003, p. 37). Ao exaltar a lei como o elemento norteador da atividade julgadora, Montesquieu forneceu aos exegetas do Estado Liberal as bases teóricas que necessitavam para construir a sua própria ideia de direito e justiça, calcada na premissa de que, sendo a lei instrumento de restrição da liberdade individual, deve ser produzida pela representação popular e, ao nascer após as formalidades necessárias, encerra comando que repele qualquer tentativa de interpretação que vise afastá-la do intento de seus criadores, os representantes do Legislativo. Marinoni (2009, pp. 25-41) anota que o direito foi reduzido à lei, mas que é impossível igualar “rule of law”, tal qual Montesquieu usou, com a legalidade, pois aquela compreende ausência de poder arbitrário, igualdade perante a lei e o fato de que os princípios gerais da constituição constituem resultados do direito comum, enquanto esta representa a materialização do absolutismo burguês em detrimento do absolutismo do ancien régime, por considerar exclusivamente o procedimento formal para a validade da lei em desapego à sua substância, resultando em “leis obtusas, brutais e egoístas”5. 5 Em referência à obra de Hobbes. 24 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Acrescenta, ainda, que o império da lei está intimamente ligado à ideologia de “certeza do direito” ou “plenitude do ordenamento jurídico” (MARINONI, 2009, p. 27), que regeu a hermenêutica e a atividade interpretativa dos profissionais do direito durante séculos, reduzindo-os a meros aplicadores mecânicos da norma aos fatos, de forma a negar-lhes acesso ao sistema constitucional de proteção dos direitos individuais (MARINONI, 2009, p. 30). A lei foi dotada de propriedades que lhe conferem validade, essencialmente a generalidade e abstração, que, sob o argumento da igualdade de todos sem distinção, impõe a edição de normas de caráter geral, sem considerar situações particulares, pois constituiria uma forma de discriminação entre pessoas “iguais”. Em suas palavras: “A igualdade, que não tomava em conta a vida real das pessoas, era vista como garantia de liberdade, isto é, da não discriminação das posições sociais, pouco importando se entre elas existissem gritantes distinções concretas. (...) O ideal da supremacia do legislativo era de que a lei e os códigos deveriam ser tão claros que apenas poderiam gerar uma única interpretação, inquestionavelmente correta. A lei era bastante e suficiente para que o juiz pudesse solucionar os conflitos, sem que precisasse recorrer às normas constitucionais” (MARINONI, 2009, pp. 27-28). A fragilidade do positivismo jurídico, que reduz a atividade produtiva do direito à lei, não resistiu a outro fator que não a passagem do tempo. Uma sociedade minimamente dividida entre grupos sociais de interesses conflituosos jamais se sustenta tendo como premissa de convivência social pacífica a norma tomada por sua forma, e não pela sua substância. A “tirania do legislativo” aumentou o fosso entre os desiguais, por tentar cegamente tratá-los como iguais. A vontade geral começou a ser contestada em sua forma e sua substância. Uma espécie de “realismo legislativo” logo demonstrou que a democracia representativa, exercida no âmbito das Casas Legislativas, nada mais é que a democracia dos grupos dominantes, denominados grupos de pressão e de lobby, que amesquinham a produção legislativa e é fonte inesgotável de injustiças (RIGAUX, 2003, p. 32). Rompe-se a ideia de lei como representação unívoca de um conjunto de interesses abstrata e homogeneamente concebidos para admitir-se que é ato permeado de interesses que estão em permanente conflito, sendo consequência inevitável dessa visão a convivência da codificação legal com processos autônomos de regulação (MARINONI, 2009, p. 42). A supremacia da lei sofreu o golpe final após a Segunda Guerra Mundial, quando se percebeu que ela foi usada para sustentar e legitimar regimes totalitários, que vilipendiaram direitos fundamentais de grupos minoritários pelo sistema da maioria política (FALCONE, 25 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 2009, p. 53). A lei pode, a um só tempo, inviabilizar a realização dos direitos fundamentais, desrespeitá-los, suprimi-los ou, na sua ausência injustificada, impedir a efetividade desses direitos. Diante disso o paradigma constitucional se impõe, não como mera extensão ou ratio máxima da legalidade, em uma visão kelseniana de norma escalonada e piramidal, mas como sistema político-jurídico que contempla princípios e direitos fundamentais como necessários à realização da justiça. Os direitos fundamentais remodelaram a concepção de direito ao suprimir a obrigatoriedade da etapa legislativa, intermediária entre juiz e constituição, para conferir àquele poder de invocá-los diretamente para a proteção de uma situação jurídica concreta, compreendendo a lei à luz dos princípios constitucionais. Sua eficácia jurídica passou de “norma programática” aos fins do Estado para direitos imediatamente aplicáveis de caráter normativo direto, sem necessidade da edição da lei para a sua fruição e proteção quando violados por Estado ou privados. Com efeito, Marinoni confere aos direitos fundamentais as seguintes finalidades: “i) controle das atividades do Poder Público; ii) conferir à sociedade meios imprescindíveis para o seu justo desenvolvimento (direito a prestações sociais); iii) proteger os direitos de um particular contra o outro; iv) estruturar vias para que o cidadão possa participar de forma direta na reivindicação dos seus direitos” (MARINONI, 2009, p. 63). Em sua dimensão subjetiva, os direitos fundamentais se transformam em direitos subjetivos oponíveis contra o Estado, pela provocação da jurisdição, a cargo exatamente do Poder Judiciário. Especialmente quando vinculados ao controle do Poder Público, os direitos fundamentais são entendidos em sua “dimensão objetiva”, que estabelece um dever de proteção dos direitos fundamentais pelo Estado. Esse dever de proteção, segundo Gilmar Mendes, relativiza “a separação entre a ordem constitucional e a ordem legal, permitindo que se reconheça uma irradiação desses direitos (Austrahlungswirkung) sobre toda a ordem jurídica” (MENDES, 2002, p. 209). Ao prescindir da participação do Legislativo para a sua realização, e estando o Estado obrigado a protegê-los sob pena de desrespeito à ordem constitucional, os direitos fundamentais reestruturam o direito e a jurisdição para dotar o Judiciário da atribuição de fiscalização e submissão de todos os poderes à supremacia da constituição, fazendo emergir uma realidade a que se denomina de jurisdição constitucional ou justiça constitucional. 2.2 A justiça constitucional contemporânea 26 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O constitucionalismo contemporâneo é antes de tudo uma mudança de comportamento e de visão do direito. Se positivismo engessou a atividade de juízes, intérpretes, advogados e da comunidade jurídica em geral, para relegar à lei toda a função criadora e criativa do direito, a jurisdição constitucional pressupõe a ação conjunta de legisladores, juízes e intérpretes para desenvolvimento do direito sob o paradigma da concretização dos direitos fundamentais (FALCONE, 2009, p. 56). O princípio majoritário encontra fundamento somente à luz do princípio da constitucionalidade, que condiciona a validade da codificação e decisão da maioria ao respeito ao sistema de justiça constitucional. A fiscalização desse sistema, exercida, em regra e a posteriori, pelo Judiciário, objetiva verificar tanto a substância da decisão majoritária como a adesão aos procedimentos de discussão de dissensos na esfera pública, para garantir a sustentação da própria justiça constitucional (FALCONE, 2009, p. 56). A justiça constitucional, ao abrir as portas para a interpretação da lei à luz da constituição, que por sua vez condensa uma “carta de direitos” diretamente dirigida aos cidadãos, facilita o acesso popular à esfera de discussão pública, aproximando os sistemas político e jurídico. Esse modelo tende a atenuar a radical separação entre as expectativas depositadas no processo legislativo e a aplicação concreta de direitos que, pelo “output” da via representativa, estão muitas vezes dissociados das legítimas pretensões de determinados grupos sociais desfavorecidos. A fragmentação de limites do texto constitucional é condição crucial para que a justiça constitucional suporte a avalanche de demandas que surgem de sua intricada comunicação com a esfera política, e a fim de se evitar conflitos com base na questão textual da norma, o sistema também estabelece alguns elementos fortificantes tais quais o liberalismo fez com a lei. A interpretação da constituição se dá em um ambiente dominado por enunciados vagos e imprecisos transversalmente ligados a princípios constitucionais de força jurídica e normativa. A justiça constitucional estabelece uma fiscalização da lei sem precedentes na história do direito, especialmente se levada em consideração a visão positivista que dominou boa parte do direito do século XIV (MARINONI, 2009, p. 44). A missão de controlar a constitucionalidade da produção legislativa encontra justificativas que vão desde a contenção dos impulsos casuístas do legislador, em celebração aos ditames da generalidade e abstração do positivismo, ao resgate da responsabilidade e dignidade da tarefa de construção do direito e até mesmo à garantia de sobrevivência do sistema constitucional (MARINONI, 2009, p. 46). 27 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 2.3 Interpretação da lei à luz da Constituição e neoconstitucionalismo A ação jurisdicional expansiva alterou o modo pelo qual se encara a compreensão constitucional, renovando sobremaneira a atividade interpretativa dos juízes. Dentre os principais fenômenos, cite-se o neoconstitucionalismo, que combina textos fundamentais dotados de forte conteúdo valorativo com as novas práticas jurisprudenciais que deem espaço a técnicas interpretativas próprias aos princípios constitucionais, como a ponderação, a proporcionalidade, a razoabilidade e a maximização dos efeitos normativos dos direitos fundamentais (VALLE, 2008). Para LIMA (2007, p. 68), o novo constitucionalismo teria entre seus pontos mais relevantes a legitimação da atuação do Poder Judiciário, a partir do parâmetro constitucional. Isto se daria porque enquanto os outros poderes são justificados pelos processos eleitorais, o Judiciário extrairia sua legitimidade da realização dos fins prescritos nas constituições. Os princípios assumem a o papel de parâmetro para a conformação da lei à constituição, para dirimir dúvida interpretativa e preencher a lacuna legal. Mas, como adverte Marinoni, citando Alexy, não se limitam a esse papel subsidiário (MARINONI, 2009, p. 48). A força dos princípios encontra-se justamente na sua conexão com a realidade e sua apreensão de valores sociais, servindo de fundamento para normas específicas que orientam concretamente as ações positivas ou negativas do Estado (MARINONI, 2009, p. 57). Impõem assim, uma revolução na margem discricionária legislativa, por demandar tanto uma produção que antes se considerava espaço privativo do voluntarismo do legislador, quanto para tolher-lhe o âmbito de atuação e de regulação da vida social, que não mais se dará em afronta aos valores atribuídos aos direitos pelos princípios. A jurisdição constitucional contemporânea, prestada através da conformação da lei à constituição, após delineado o caso concreto, ao fim de uma sequência lógico-jurídica de verificação da sua constitucionalidade, é iluminada pela força normativa dos princípios de justiça, que hoje adquiriram status de normas jurídicas, mesmo os não explícitos (MARINONI, 2009, p. 45). O juiz, ao longo do percurso compreendido entre a provocação jurisdicional e a decisão de mérito, submeterá a substância da lei ao texto constitucional, podendo neste interregno declarar a sua inconstitucionalidade, afastar interpretações que conduzam à sua inconstitucionalidade (declaração parcial de nulidade sem redução do texto), declarar uma interpretação conforme que dê ao texto sentido viável diante do paradigma constitucional ou, 28 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I no caso de omissão legislativa, declarar a inconstitucionalidade por omissão, emitindo declaração de ausência de norma jurídica necessária a exercício de liberdades individuais ou emitindo comando de dimensão individual e restrita às partes (MARINONI, 2009, pp. 45-55). Diversos críticos apontaram a alta carga de subjetividade e imprevisibilidade da submissão da regra, que a princípio é clara por ter no mínimo a essência textual, a valores insculpidos em princípios que nem sequer podem estar positivados na ordem jurídica. Ocorre que os princípios reportam-se diretamente a aspirações sociais e direitos fundamentais de uma sociedade plural, e desta maneira não podem ser considerados meros valores subjetiva e arbitrariamente positivados, como se em nada diferissem, ao menos qualitativamente, das regras infraconstitucionais e ex-cânones do liberalismo clássico. Por seu caráter aberto e por demandar alta carga de razão e motivação no curso de uma ponderação ou declaração de supremacia com relação à lei, os princípios não estão isolados na margem política do sistema constitucional, seja porque sua força normativa lhes dota de eficácia jurídica, seja porque o órgão escolhido para dar a palavra final é a Corte ou Tribunal Constitucional, cujos procedimentos não têm a mesma identidade da discussão política da seara legislativa ou executiva. 2.4 O Tribunal Constitucional e a fiscalização das leis A defesa da Constituição pressupõe, em diversos momentos da vida política, a luta contra a vontade dos grupos majoritários. O mecanismo de controle da vontade da maioria é crucial para a concretização de direitos fundamentais de grupos minoritários, e mesmo em uma situação de deferência ao grupo dominante, a interpretação constitucional empreendida pela Corte Constitucional, aplicada ao caso concreto, dá sentido e alcance aos enunciados dos direitos individuais, dotando os julgamentos de impacto político e a Corte de função interlocutória na definição de justiça social. FALCONE (2009, p. 58) destaca o papel integrador da Corte no exercício dessa função como o principal mecanismo de contenção da ditadura das maiorias e o sistema de justiça constitucional como um instrumento de limitação do poder e elemento de integração político-social. Surge, como sempre em se tratando de concentração de poder por um órgão alheio ao sistema representativo democrático, a questão da legitimidade da justiça constitucional e da contenção de eventual abuso de poder dos juízes em revisar atos do Executivo e Legislativo 29 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I (LIMA, 2007, p. 69). O histórico do surgimento e da moldura do Tribunal Constitucional revela, no entanto, que esse risco já era previsto desde o início. Hamilton, um dos mais influentes “framers” da Constituição dos EUA e defensor de uma Corte Suprema independente, trabalhando sobre a base teórica de Montesquieu, dotou o órgão do poder de controle de constitucionalidade das leis como uma ferramenta essencial à contenção do agigantamento do Poder Legislativo, tal qual ocorrera na Europa liberal. Para ele, não deveria haver questionamentos quanto ao papel da Corte em interpretar e dar significado à constituição e aos diplomas legais. Na mesma linha de Montesquieu, ele propunha uma atividade julgadora que se abstivesse de revelar o “espírito da lei”, sendo mais inclinado ao julgamento de acordo com o seu texto. Mas, ao contrário de Montesquieu, que propositadamente evitou enfrentar a questão dos mecanismos de controle dos próprios magistrados, Hamilton admitiu que “uma vez concedido o poder independente de interpretar as leis, não há mecanismos para impedir os juízes de pronunciá-las segundo seu espírito” (POWERS & ROTHMAN, 2002, p. 14). Hamilton, de certa forma, previu o nascimento de um Judiciário ambicioso e politicamente forte, mas preferiu acreditar que limites profissionais, institucionais e, acima de tudo, culturais, seriam suficientes para frear esse avanço de poder (POWERS & ROTHMAN, 2002, p. 14). Em sua célebre passagem no Federalista n. 81, argumentou que o Judiciário, “the least dangerous breach” (o poder menos perigoso), não seria capaz de usurpar o poder pela força, ainda que algumas “transgressões” estivessem “contabilizadas” e previstas desde a criação do novo poder. Apesar das advertências dos vícios que poderiam acometer os juízes desde o momento em que a lei deixasse de ser identificada com o direito, eventos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, e lutas políticas de segmentos sociais discriminados pelas maiorias políticas sedimentaram a justiça constitucional e abriram espaço para a retomada da criação do direito pela jurisprudência e pelas teses doutrinárias. O estabelecimento da constituição como “ordem fundamental de valores objetivamente compartilhados pela sociedade, com força normativa para assegurar os direitos fundamentais nela elencados – reunidos em torno do princípio axiomático da dignidade da pessoa humana” (SCHETTINO, 2008, p. 82), manifesta-se “na quase ilimitada competência das Cortes Constitucionais, que estão autorizadas, com base em parâmetros jurídicos, a proferir a última palavra sobre conflitos constitucionais, mesmo sobre questões fundamentais do Estado” (SCHETTINO, 2008, p. 83). O Tribunal Constitucional é um órgão cujas atribuições variam em cada país, sendo que, no caso do Brasil, sequer podemos falar em um Tribunal cuja jurisdição é exclusivamente afeita à matéria constitucional. Em alguns ordenamentos jurídicos ela ocupa o ápice do Poder 30 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Judiciário, em outros ela sequer faz parte desse poder, da mesma forma como o acesso dos magistrados se dá de maneira diferente conforme cada realidade jurídica específica. O consenso que se tem em torno do Tribunal Constitucional é que o mesmo utiliza critérios jurídicos para decidir sobre matérias de cunho político, com técnicas de interpretação e decisão que não se enquadram no velho conceito de subsunção fato-norma, mas por meio de métodos de aplicação e ponderação de princípios constitucionais que ora prevalecem ora cedem diante de outros no caso concreto. Sem dúvidas a interpretação constitucional que se materializa na força normativa das decisões do Tribunal Constitucional fortalece o sistema de justiça constitucional. Até mesmo Kelsen6 teria reconhecido que o tribunal constitucional tem um caráter político bem maior do que outros tribunais, em virtude do significado materialmente político de suas decisões (SCHETTINO, 2008, p. 96). Pela própria natureza jurídico-política da constituição, torna-se possível ao Tribunal Constitucional ser ativo na concretização dos direitos fundamentais sem que se esteja usurpando a competência dos demais poderes. Para isso deve-se compreender que a lógica da decisão à luz da jurisdição constitucional não é a mesma do positivismo jurídico, calcado nos frágeis conceitos de plenitude do ordenamento jurídico e de interpretação única da lei. O dever de motivação, mediante o emprego de argumentação racional e persuasiva, é um traço distintivo relevante da função jurisdicional e dá a ela uma específica legitimação (NOVECK, 2008, p. 420). Sendo ou não parte da estrutura do Judiciário, o fato é que o fortalecimento do Tribunal Constitucional consolidou o poder de controle de constitucionalidade das leis e, a partir dele que se abriu caminho para que as cortes inferiores e juízes singulares pudessem utilizar-se de determinados conceitos e parâmetros de escrutínio da atividade legislativa e administrativa que, vistas em seu conjunto, revolucionaram o escopo de atuação e a postura do Judiciário em face dos demais poderes, fazendo surgir os indícios de ativismo que, com frequência, é acusado, não obstante o significado de ativismo judicial não faça parte do objeto de estudo deste trabalho. 2.5 O constitucionalismo e os sistemas político e jurídico Ressalte-se que Kelsen admitiu o caráter político do Tribunal Constitucional para não ver sua teoria pura do direito ser desqualificada quando confrontada com a natureza do controle de constitucionalidade. Ocorre que o jurista lançou mão de uma lógica duramente criticada pela qual entre a sentença e a lei há diferença apenas quantitativa, e não qualitativa, já que ambas produziriam direito. Para um aprofundamento sobre a matéria, cf. MARINONI (2009). 6 31 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O controle de constitucionalidade das leis e dos atos de governo foi o primeiro passo do Judiciário no sentido de incrementar suas funções e ser parte do sistema político. Com o advento do constitucionalismo passou a enveredar por outras dimensões de controle do processo político, sendo a mais tradicional delas a que se destina a manter o “caráter democrático das regulações sociais”. Não obstante, no julgamento das questões que invocam os preceitos constitucionais, o Judiciário, além da simples tarefa de promover um “check” sobre os demais poderes, passou a emitir pronunciamentos que acabam por decidir sobre os próprios fundamentos da organização social (LIMA, 2007, p. 66). Alguns fatores que explicam o fenômeno já foram trabalhados, como o monopólio da jurisdição constitucional e a judicialização das políticas públicas. Resta saber de que forma o a justiça constitucional reorganizou as fronteiras entre os subsistemas político e jurídico para acomodar a expansão do Poder Judiciário sem a iminência de uma crise institucional ou a ameaça de destruição do próprio sistema constitucional. Primeiro é necessário entender que a referida expansão não se deu de maneira súbita ou desacompanhada de modificações sociais. O gradual alargamento do poder das cortes, conduzido por inúmeros episódios de avanços seguidos de retrocessos, foi conduzido no mesmo ritmo da crescente complexidade das sociedades e o rompimento com os princípios rígidos da igualdade, liberdade e propriedade calcados nas ideias liberais dos séculos XVIII e XIX. O fim da exclusividade dos órgãos legislativos e executivos nas questões de alçada política é antes fruto da extrema burocratização do Estado que da usurpação do Judiciário das funções dos órgãos políticos. O sistema constitucional de proteção dos direitos fundamentais – civis, coletivos e os de terceira dimensão – dotou o Judiciário do poder irrefutável de defender a Constituição, o que inevitavelmente alterou os fundamentos de relacionamento e coordenação entre os órgãos do Estado. Para Karl Lowenstein (apud LIMA, 2007, p. 67), “quando os tribunais proclamam e exercem seu direito de controle, deixam de ser meros órgãos encarregados de executar a decisão política e se convertem por direito próprio num detentor de poder semelhante, quando não superior, aos outros detentores do poder instituídos”. Tal ideia inerente ao controle das leis não evitou que, desde os primórdios do delineamento das cortes constitucionais, alguns, como Schmitt, emitissem alertas de que a judicialização da política se transformasse em politização da justiça, o que obviamente não se realizou, tanto que praticamente todos os ordenamentos jurídicos preveem algum tipo de controle judicial das leis e dos atos governamentais (BARROSO, 2008, p. 14). 32 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Carrese admite que seu enfoque diferenciado sobre a obra de Montesquieu, no qual sustenta que o célebre pensador defendia métodos genuinamente jurídicos para a moderação da política, pode parecer ingênuo nos dias atuais, especialmente nos Estados Unidos, onde impera o ceticismo jurídico. Para essa concepção do direito, os juízes são tão políticos quanto os legisladores e os administradores, sempre ativistas no sentido de promover sua visão moral e social, apesar de utilizarem métodos tradicionais de julgamento para disfarçar essa realidade dos leigos e para temperarem sua inequívoca vocação a programar políticas públicas (CARRESE, 2009, p. 13). A concepção cética do direito é considerada por Barroso como nitidamente deturpada, o qual afirma categoricamente que “direito não é política, muito embora não seja possível ignorar que a linha divisória entre Direito e Política, que existe inegavelmente, nem sempre é nítida e certamente não é fixa” (BARROSO, 2008, p. 13). Para o constitucionalista, os limites obscuros entre os dois sistemas impõem a sua diferenciação. Nessa senda, direito pode ser considerado política quando se considera que (i) sua criação é produto da vontade da maioria, que se manifesta na Constituição e nas leis; (ii) sua aplicação não é dissociada da realidade política, dos efeitos que produz no meio social e dos sentimentos e expectativas dos cidadãos; (iii) juízes não são seres sem memória e sem desejos, libertos do próprio inconsciente e de qualquer ideologia e, consequentemente, sua subjetividade há de interferir com os juízos de valor que formula (BARROSO, 2008, p. 13). Marcone (2009, p. 108) concilia as tensões entre a política e o direito, a falta de legitimação da justiça constitucional, o fenômeno da politização da justiça, a questão do governo dos juízes e a criatividade de suas decisões como desnaturação e dissolução da jurisdição sustentando que a Constituição é o elo que se situa no acoplamento estrutural entre os sistemas jurídico e político. Da mesma maneira, Barroso afirma que a Constituição faz a interface entre os dois sistemas, conferindo à interpretação constitucional uma dimensão inevitavelmente política, balizada pelas possibilidades oferecidas pelo ordenamento vigente (BARROSO, 2008, p. 14). 3. Repensando a separação de poderes 33 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A visão tradicional da separação de poderes prevalece não só no Brasil, mas em vários outros ordenamentos jurídicos ao redor do mundo, mesmo com o advento da justiça constitucional e do constitucionalismo contemporâneo (VALLE, 2008, p. 98). O argumento de que o Judiciário estaria invadindo as competências do Legislativo e do Executivo ao dar andamento ao seu processo de expansão institucional e ao assumir papel de destaque na concretização de direitos é recorrente nos estudos sobre as tensões entre os princípios democráticos tradicionais, dentre os quais a própria separação de poderes, e os direitos fundamentais destinados a resguardar das vicissitudes políticas grupos situados à margem do processo político. O princípio da separação de poderes, como anota Ana Paula de Barcellos (2002, p. 209), decorre da ideia básica existente entre diversos povos de que a distribuição de poder entre pessoas ou grupos, em vez de mantê-lo concentrado, assegura muito mais eficientemente a participação política plural e atende de forma mais adequada os interesses de todos. Assim como Montesquieu preconizava a separação do poder julgador como condição essencial para a moderação política e a segurança individual, que somadas constituíam a liberdade em sentido pleno, Kant acreditava que a separação de poderes, conjugada com o princípio da legalidade, dava conteúdo à fórmula capaz de garantir a liberdade individual (BARCELLOS, 2002, p. 211). Para ambos, a liberdade do indivíduo é a finalidade precípua do Estado, ou seja, tanto para um ou outro pensador, a separação de poderes não é finalidade em si mesma, por isso possui caráter instrumental, negligenciado pelos que se posicionam contrariamente às novas compreensões do sentido de separação de poderes no âmbito do Estado Constitucional. 3.1 A instrumentalidade do dogma da separação de poderes A separação de poderes passou de postulado do Estado Moderno, em oposição às arbitrariedades do absolutismo, a dogma indissociável do regime democrático, ainda que para isso tenha de fazer as vezes de obstáculo à concretização dos direitos fundamentais. Isto porque até hoje se acredita que o único modelo de separação possível é o que foi adotado pelos revolucionários franceses, caracterizado pela preeminência explícita ao Legislativo em detrimento dos demais poderes. Barcellos (2002, p. 216) ao afirmar que não há um modelo absoluto de separação de poderes que deva ser dogmaticamente aceito por todos os países, sob pena de se estar violando o princípio da separação, observa que formato de separação, que conferia total preeminência ao 34 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Legislativo, desempenhou um relevante papel histórico, mas que esse é um modelo que não atende mais às necessidades contemporâneas e necessita de reformulação. A autora vai além para afirmar que a separação de poderes é meramente instrumental ao objetivo maior do Estado, que é a concretização dos direitos fundamentais, e mesmo sendo essencial à organização do Estado Moderno, não é um fim em si mesmo e, desta maneira, deve ser flexibilizado de acordo com as necessidades históricas de cada povo (BARCELLOS, 2002, pp. 216-218) As acusações de que o princípio da separação de poderes entrou em crise com a transferência de atribuições do Legislativo para o Executivo e o Judiciário ignoram o fato de que, na verdade, a crise não é da separação de poderes, que em sua essência permanece viva e absolutamente necessária ao Estado democrático, mas sim do próprio sistema representativo, ao que alguns se referem por síndrome da inefetividade legislativa. Há de se reconhecer que as casas legislativas são tomadas por grupos de interesse que não se encaixam em padrões homogêneos como do século XIX, bem como, no caso do Brasil em maior escala, não atendem aos anseios qualitativos e quantitativos de uma sociedade plural. Afirma-se, nesse sentido, que a crise é do parlamento e da lei, e não da separação de poderes (BARCELLOS, 2002, p. 216). Entretanto, em que pesem as constantes objeções ao centralismo do Judiciário na decisão sobre a vida social e os direitos fundamentais, a atuação das cortes constitucionais ainda é pautada fortemente pela orientação da autocontenção judicial, pela qual a própria corte procura minimizar a interferência de suas decisões na esfera dos demais poderes. No caso do Brasil, especialmente em razão do modelo de ativismo processual ou jurisdicional adotado pelo STF, embora o Judiciário venha causando algum impacto sobre o Legislativo e o governo, frequentemente através da concessão de liminares, “uma parcela diminuta dessas ações resultaram em decisões substantivas do mérito”, o que indica que o processo de judicialização da política ainda se encontra num estágio embrionário no país e, além disso, em sua maioria favorece as políticas governamentais. (CASTRO, 1997, p. 149). Muito embora os argumentos de que os juízes estariam fazendo política e sobrepondo suas visões pessoais aos programas dos órgãos do governo, diversos autores anotam que as cortes constitucionais frequentemente entendem que contribuem de modo mais eficaz à democracia através da legitimação das decisões de outros órgãos do governo que praticando sistematicamente seu poder de judicial review. Afora os casos em que o Judiciário legitima e ratifica a visão do Legislativo, no mais das vezes sua postura ativa frente aos órgãos governamentais tem buscado oferecer aos grupos 35 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I minoritários e excluídos do processo político possibilidades de escolhas sobre seus próprios destinos, exercendo seu poder moderador quando a legislatura vai além dos limites que marcam a sua discricionariedade (SATHE, 2003, p. 271). 4. Considerações finais A compreensão dos novos matizes da separação de poderes tangencia inúmeras questões sensíveis à estabilidade dos arranjos jurídicos e político-institucionais prevalentes nas democracias constitucionais contemporâneas. Embora seja inegável que nos últimos tempos a reacomodação das atribuições e esferas de atuação dos três poderes tenha sofrido transformações profundas, as análises a respeito dessa evolução tendem a se situar nos extremos do debate. Na visão de Cappelletti (1988), a estrita separação de poderes fragiliza o Judiciário, confinando-o em conflitos privados e gerando um Executivo e Legislativo demasiadamente fortes e não controlados. Desta maneira, faz-se necessário um Judiciário forte, para estabelecer um equilíbrio de forças e evitar-se concentração de poder, o que requer a superação de um rígido padrão de separação de poderes para dar lugar a controles recíprocos, incluindo-se nessa nova concepção o Judiciário como ingrediente necessário à proteção contra violações de direitos. Como afirma RIGAUX (2003, p.32), de nada valeriam as “disposições substanciais de uma Constituição, e estas permaneceriam letra morta se, depois de ter sido cometida, uma violação não pudesse ser reparada”. Por outro lado, não são triviais as preocupações sobre a de legitimação da justiça constitucional, a democratização do acesso ao judiciário, o fenômeno da politização da justiça – e seu inverso, a judicialização da política – sendo que alguns chegam até mesmo a advertir que, mantida a atual tendência, estar-se-ia caminhando para um governo dos juízes ou uma “supremocracia” (VIEIRA, 2008). É da Constituição, portanto, que se devem extrair os limites dentro dos quais os juízes podem decidir sem causarem rupturas nos sistemas e seus mecanismos de ligação. É sob o pálio do paradigma constitucional que Barroso afirma que, para se evitar um modelo juriscêntrico e elitista de justiça, os juízes (i) só devem agir em nome da Constituição e das leis, e não por vontade política própria; (ii) devem ser deferentes para com as decisões razoáveis tomadas pelo legislador, respeitando a presunção de validade das leis; (iii) não devem perder de vista que, embora não eleitos, o poder que exercem é representativo (i.e, emana do povo e em seu nome 36 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I deve ser exercido), razão pela qual sua atuação deve estar em sintonia com o sentimento social, na medida do possível (BARROSO, 2008, p. 15). É preciso, entretanto, conferir ao substrato social a devida importância no processo de judicialização dos temas da vida pública, que na maior parte dos casos se dá pelo simples descontentamento com as vias tradicionais de provocação do poder público, fazendo com que as massas migrem suas expectativas para órgãos e agências ao menos aparentemente mais comprometidos com a concretização dos ideais democráticos. De suma importância, vale destacar que o motor dessa transformação muitas vezes não é o Judiciário, os juízes ou uma suposta conspiração contra a democracia em seu viés representativo, mas sim a própria Constituição, que preserva os direitos dos diversos grupos sociais fixando limites às maiorias momentâneas, com o fito de evitar a violação de direitos e a própria quebra da regra majoritária (BARCELLOS, 2002, p. 229). Como já mencionado, a fórmula da representação democrática pelo voto da maioria sofreu severas restrições de credibilidade e efetividade que terminou por mitigar a discricionariedade do Legislativo ou ate mesmo vedar-lhe o acesso do Legislativo a determinadas matérias erigidas a cláusula pétrea. A mera observação de realidades jurídicas consideravelmente distintas como a do Brasil, dos EUA, da Alemanha ou da Índia, país cujo judiciário é considerado altamente ativista, forçam a conclusão de que jamais houve ou haverá de existir separação de poderes em formato tão rígido como o que comumente – e de maneira deturpada – se extrai da obra de Montesquieu. Se é que em algum momento histórico o tenha existido, a manutenção de um modelo de separação de poderes rígido revela-se impraticável. As constantes transformações da realidade social, econômica e política do Estado requerem uma harmonização contínua entre o Judiciário e os demais poderes, guiada sobretudo pelo respeito aos direitos fundamentais e à proteção das minorias independentemente da vontade majoritária prevalente em um determinado momento histórico. 5. Referências Bibliográficas ADEODATO, João Maurício. Adeus à Separação de Poderes? In: NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras Complementares de Direito Constitucional – Teoria da Constituição. Juspoduvm: Salvador, 2009, pp. 283-292. 37 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O princípio da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Renovar, 2002. BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Disponível em <http://www.oab.org.br/oabeditora/users/revista/12 35066670174218181901.pdf>. Acesso em 12 ago 2012. BICKEL, Alexander M. The Least Dangerous Branch. New Haven: Yale University Press, 1986. CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988 CARRESE, Paul. Montesquieu, Blackstone and the Rise of Judicial Activism. Chicago: The Univesity of Chicago Press, 2003. CASTRO, M. F de. O Supremo Tribunal Federal e a Judicialização da Política. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 12, n. 34, 1997. CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de poderes. In: VIANNA, Luiz Werneck (org.). A Democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte-Rio de Janeiro: UFMG-IUPERJ, FAPERJ, 2002, p. 17-42. CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. In: DIDIER JR., Fredie. Leituras Complementares de Processo Civil. Juspodiuvm: Salvador, 2009, pp. 205-237. FALCONE, Marconi. Justiça Constitucional. São Paulo: Método, 2009. GUERRA, Gustavo Rabay. A Expansão do Poder Judicial No Constitucionalismo Democrático: Distorção sistêmica ou necessidade contemporânea? Disponível em http://www.escrevendodireito.com.br/ downloads/artigos/gustavo.pdf. Acesso em 18 ago 2009. 38 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I LIMA, Flávia Danielle Santiago. A dimensão política do poder judiciário no novo constitucionalismo: notas acerca da legitimação democrática da sua atuação. In: Parahyba Judiciária. João Pessoa, a. 5, v. 6, pp. 65-74, jul. 2007. MARINONI, Luís Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na “sociedade órfã”. Revista Novos Estudos CEBRAP. São Paulo, n. 58, p. 183-202, nov. 2002. MENDES, G. F. Âmbito de proteção dos direitos fundamentais e as possíveis limitações, Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 2002. NOVECK, Scott M. Is judicial review compatible with democracy? Cardozo Public Law, Policy & Ethics 6:401, 2008. RAWLS, John. A Theory of Justice. Library of Congress, 1971. RIGAUX, François. A lei dos juízes. Tradução de Edmir Missio. 1. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. PAULA, Daniel Giotti de. Intranquilidades, Positivismo Jurisprudencial e Ativismo Jurisdicional na Prática Constitucional Brasileira. In: NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras Complementares de Direito Constitucional – Teoria da Constituição. Juspoduvm: Salvador, 2009, pp. 321-344. POWERS, Stephen P., Rothman, Stanley. The Least Dangerous Breach? Consequences of Judicial Activism. Westport: Praeger, 2002. SATHE, P. S. Judicial Activism in India: Transgressing Borders and Enforcing Limites (Law In India). New Delhi: OUP India, 2. ed., 2003. SCHETTINO, José Gomes Riberto. Controle Judicial de Constitucionalidade e Ativismo Judicial Processual. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro, PUC, 2008. 39 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I VALLE, Vanice Regina Lírio do (org.). Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Juruá, 2008. VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, 4(2), jul-dez 2008, pp. 441-464. 40 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I UM NOVO CENÁRIO PARA NOVOS PROTAGONISTAS: AS ORDENS POLÍTICAS DO NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO UN NUEVO ESCENARIO PARA NUEVOS PROTAGONISTAS: LAS ORDENES POLÍTICAS DEL NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO Luís Henrique Orio1 RESUMO: O presente artigo se propõe a expor a arquitetura institucional das ordens políticas das constituições que compõem o fenômeno do novo constitucionalismo latinoamericano (venezuelana de 1999, equatoriana de 2008 e boliviana de 2009), enfocando a superação paradigmática verificada a partir dos novos modelos de estado e democracia construídos nas novas cartas, de perfil contra-hegemônico. A partir da recuperação histórica da constituição dos estados nacionais latinoamericanos, verifica-se que a recente refundação dos estados objetos de análise, do modo como ocorreu, promoveu a inclusão de atores sociais historicamente negados da política institucional, a partir principalmente da adoção da democracia dita participativa, consubstanciada em um modelo teórico superador da democracia formal-representativa e disposta em uma série de mecanismos de participação popular analisados no artigo. Palavras-chave: Novo Constitucionalismo Latinoamericano – Democracia – Estado – Ordem política – Participação RESUMEN: El presente artículo se propone a exponer la arquitectura institucional de las ordenes políticos de las contituciones que conforman el fenômeno del nuevo contitucionalimo latinoamericano (venezuelana de 1999, ecuatoriana de 2008 y boliviana de 2009), enfocando la superación paradigmática verificada con los nuevos modelos de Estado y Democracia construidos en las nuevas Cartas Constitucionales, de perfil contrahegemónico. Desde la recuperación histórica de la formación de los Estados nacionales latinoamericanos, parece que la reciente reconstrucción de los Estados objectos de análisis, tal cómo ocurrió, ha promovido la inclusión de los actores sociales históricamente negados de la política institucional, sobretodo a partir de la adopción de la democracia que se dise participativa, representada en un modelo teórico sobrepasador de la democracia formal-representativa y ordenada en una serie de mecanismos de participación popular examinados en el artículo. Palabras clave: Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano – Democracia – Estado – Orden Política – Participación 1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC. Bolsista do CNPq - Brasil. 41 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 1 INTRODUÇÃO A abordagem do presente artigo impõe, de começo, a fixação da categoria novo constitucionalismo latinoamericano, que, muito embora compreenda fenômenos recentes, tem se afirmado enquanto referencial teórico e prático para investigação do complexo e significativo conjunto de processos sociais, políticos e jurídicos que vêm se passando em alguns países da América Latina. Assim que no novo constitucionalismo latinoamericano estão compreendidas as recentes constituições venezuelana (1999), equatoriana (2008) e boliviana (2009), e os processos que culminaram nas suas elaborações. A partir desse fenômeno é feito o recorte do objeto do presente artigo, que se detém na análise da democracia e das ordens políticas que surgem deste novo constitucionalismo, situando-as em suas determinações históricas. De início, nesse sentido, será retomado o percurso conceitual da democracia sob as lentes do materialismo histórico, para fins da compreensão dos processos que culminaram na hegemonia do “tipo” liberal-representativo da democracia no mundo ocidental. Com este aporte, passar-se-á, na sequência, à delimitação dos novos arquétipos de Estado e de sistema político trazidos no novo constitucionalismo latinoamericano, naquilo que traduzem de mais inovador, e à leitura do desenho teórico-conceitual da democracia tal como instituída nos textos constitucionais, também adentrando na normatividade dos seus instrumentos de participação direta nos desenhos institucionais consagrados pelas novas cartas políticas. 2 AS CONFORMAÇÕES ATUAIS HEGEMÔNICAS DE ESTADO E DEMOCRACIA Democracia é um discurso que assume uma gama de intencionalidades, usos, formas e práticas, vindo pelo menos desde a modernidade consolidada enquanto baluarte e critério de uma organização social verdadeiramente civilizada para os paradigmas da razão ocidental, valor ideal a ser perseguido intransigentemente pelos povos. Muitas teorias fundamentam diversos tipos de democracia. Não obstante a heterogeneidade das formulações e a crítica produzida a cada uma delas, eé certo que, no ocidente, uma democracia logrou se tornar hegemônica: a democracia dita liberalrepresentativa. 42 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Os primórdios da afirmação deste arquétipo democrático remontam aos fins do século XVIII, como condicionante para a instauração da sociedade liberal-burguesa. Importa, no presente artigo, para fins da verificação real do giro paradigmático da democracia do novo constitucionalismo latinoamericano, investir na compreensão das circunstâncias que levaram a democracia liberal-representativa a se consolidar enquanto modelo hegemônico principalmente a partir da segunda metade do século XX. Santos e Avritzer (2002) estabelecem os elementos conceituais centrais conducentes à hegemonia da democracia liberal-representativa: o primeiro deles é a identificação da democracia enquanto procedimento de formação de maiorias, consubstanciada tão somente nas regras do processo eleitoral como forma para escolha legítima de representantes; o segundo elemento foi o incremento da complexidade das burocracias administrativas, o que conduziu a algo como uma “tecnicização da política”, como a homogeneização das respostas administrativas aos problemas concretos do povo, o que afastaria da arena política os saberes plurais dos atores sociais; e o terceiro elemento é o da sustentação da representação como mecanismo insuperável para o critério da autorização, num sentido primeiro que diz com sua expressão através de um mecanismo racional dos consensos estabelecidos na sociedade (ou seja, a representação), e em outro sentido na verificação da representação como mecanismo possível para autorização de interesses colocados em disputa na arena política, numa espécie de distribuição reflexiva das opiniões existentes numa determinada sociedade. Postos estes elementos de sustentação retórica do modelo democrático liberalrepresentativo no ocidente e considerando que uma das premissas centrais do presente trabalho é justamente a inversão epistemológica das análises desde uma perspectiva local latinoamericana, cabe verificar igualmente o trajeto e as circunstâncias que implicaram na implementação do tipo democrático hegemônico em estudo num cenário continental colonizado. Neste sentido, é possível verificar, de modo geral, que a importação da democracia liberal-representativa na latinoamérica veio no ensejo da constituição dos estados nacionais, com os movimentos de independência principalmente no século XIX. A constituição dos estados nacionais se deu então a partir do empoderamento das elites criolas locais, que viram no estado-nação a oportunidade de consolidar seus domínios sem as exigências reverenciais das cortes metropolitanas. Ao mesmo tempo em que interessavam as fórmulas liberais burguesas para assegurar e legitimar as propriedades oligárquicas já constituídas, interessava também a ordem político-administrativa centralizada no estado para a consolidação de um capitalismo em expansão (BORÓN, 2003). 43 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O cenário econômico da formação dos estados nacionais latinoamericanos apontava um contraste entre dois vetores econômicos: exploração primária das tradicionais oligarquias agrárias versus modo capitalista de produção incentivado por uma burguesia inovadora ascendente na onda da Revolução Industrial. Surgem então estados oligárquicos repetidores da fórmula revolucionária burguesa de cujo “pacto social” as massas subalternas compostas por trabalhadores, povos originários e escravos sequer foram avisadas: El Estado oligárquico manifiesta, en forma por demás vívida, el hiato existente entre liberalismo y democracia. Si al nivel de la organización jurídica y del discurso ideológico aquél era liberal, sus prácticas concretas evidencian un consistente desprecio por la participación de las clases subalternas y la cultura popular. El Estado oligárquico era liberal en la medida en que sancionaba la igualdad de los ciudadanos; garantizaba las libertades básicas (pensamiento, palabra, reunión, asociación etc.); creaba –o, mejor dicho, transcribía– códigos y una jurispruden - cia liberal e iluminada; garantizaba la propiedad individual; luchaba contra los anacrónicos privilegios de la Iglesia y confiscaba sus bienes terrenales; declaraba la división de los poderes públicos y adoptaba los principios de la república democrática; abolía la esclavitud y la servidumbre, creando así un mercado de hombres libres; y, por último, abrazaba el positivismo y hacía del laicismo una de sus banderas más agresivas en su batalla contra el oscurantismo precapitalista y clerical. (BORÓN, 2003, p. 103-104) Este estado assim declarado e formalizado, mas pouco concretizado em suas garantias, abria ainda mais uma ferramenta de dominação: o clientelismo, que mantinha uma dependência das camadas pobres aos coronéis e garantia certa estabilidade política. Com a crescente industrialização e tensão pela aceleração da implementação das condições objetivas para o modo de produção capitalista, já na transição entre os séculos XIX e XX, o confronto de perspectivas foi se acentuando, sobressaindo uma nova organização política: a classe operária organizada. Assim que, para contornar a tensão produzida por essa base crescente e cada vez mais politizada e organizada, veio à cena um novo arranjo político nos primórdios do século XX: a democracia bonapartista ou populista (BORÓN, 2003), com a constituição de aparato ideológico que neutralizava a tensão das classes exploradas, mantendo os mesmos atores do jogo político e conseqüentemente a alienação daquelas das decisões da vida política. Ainda descrevendo resumidamente o processo histórico de ambientação da democracia no continente latinoamericano, vale mencionar uma das suas últimas e recentes nuances, que foram os regimes ditatoriais civis-militares que assolaram diversos países, principalmente no Conesul. Com o desmoronamento do consenso operário-burguês bonapartista e populista e a crescente organização da luta operária, principalmente de matriz socialista, a resposta das elites burguesas (legatárias e ainda vinculadas ao conservadorismo oligárquico) foi um drástico refluxo das garantias liberais-democráticas (BORÓN, 2003), 44 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I valendo-se para tanto da força dos militares e do apoio do capital internacional, que viria a se consolidar a partir de então no baluarte da organização sócio-econômica dos países latinos, culminando na apropriação do receituário do Consenso de Washington. Em resumo, portanto, a democracia na América Latina teve seu percurso bastante conturbado em razão das especificidades da transição do modo de produção das colônias recém emancipadas, passando ainda pelos ataques das ditaduras, e culminando no que temos hoje enquanto dogma (por mais que se deva reconhecer a importância e as dificuldades para se chegar mesmo a este estágio tímido): a democracia liberal-representativa, consolidada nas Constituições. Desta narrativa resta visível que a democracia, em sua versão ocidental hegemônica, que é a liberal-representativa, a partir do constitucionalismo e da modernidade, esteve ciceroneada pelo capitalismo. O capitalismo tornou possível a redefinição de democracia e sua redução ao liberalismo. De um lado, passou a existir uma esfera política separada na qual a condição “extra-econômica” – política, jurídica ou militar – não tinha implicações diretas para o poder econômico, o poder de apropriação, de exploração e distribuição. Do outro lado, passou a existir uma esfera econômica com suas próprias relações de poder que não dependiam de privilégio político nem jurídico (WOOD, 2010, p. 201, grifado no original). A democracia liberal-represenativa, portanto, só pôde ser assim configurada, idolatrada pela história hegemônica e constituída como perfeita e acabada fórmula de uma sociedade racional e equilibrada, sob o signo do capitalismo2. O que convém ressaltar é que as mesmas condições objetivas que demandam e tornam possível a democracia liberal lhe impõem limites intransponíveis, separando-a e isolando-a por completo de esferas da vida como por exemplo o trabalho, a distribuição e apropriação de seus frutos. Para além destes vícios identificados na estrutura de sustentação material da democracia liberal-representativa, a sua frágil consistência na América Latina pode ainda ser compreendida através dos seguintes fatores, retratados por Wolkmer (2001, p. 87): Examinando o paradigma da representação nas últimas décadas, o professor argentino Daniel Delgado distingue seis causas explicativas para a complexa crise do sistema representativo, crise que, a seu ver, impulsiona a passagem para um outro modelo de Estado e para um outro regime de democracia representativa. Os principais fatores da crise encontram-se: (a) nos sucessivos descumprimentos dos programas; (b) no fenômeno da corrupção da classe política; (c) no declínio de vastos setores sociais; (d) na complexidade das demandas e na especialização técnica; (e) na crise dos grandes discursos de legitimação e, finalmente, (f) na influência dos meios de comunicação. 2 Mesmo os teóricos neoliberais, como Fukuyama, reconhecem a inevitável conexão entre democracia liberal e capitalismo, como ressalta Frank Cunningham (2009, p. 55) 45 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Armengol (2010), ao descrever o modelo democrático predominante no continente, vai no mesmo sentido, reportando as seguintes características, dentre outras3: eleitoralismo isolador do titular da soberania política; partidocracia fragmentada e caudilhista; elitista, nãotransparente e clientelista em seus procedimentos; competitividade de elites políticas; dinâmica não dialógica, ensejadora de regimes cesaristas; retroalimentada por sujeitos políticos abstencionistas e “consumidores” de política; reformas pontuais não-estruturais, mantenedoras do modelo; impossibilitada de construir consensos ou de gerar em seu seio soluções a problemas candentes do povo. No avançar da compreensão de como se erige esta democracia liberal-representativa ou formal, não há de se cogitar, por certo – e obviamente não é isto que o faz o novo constitucionalismo latinoamericano –, deslegitimar a democracia liberal como uma importante conquista dos povos em face da tirania do Estado. Há que, sim, questioná-la e superá-la positivamente. Tanto é assim que o caminho apontado pelo novo constitucionalismo latino americano, como se verá detalhadamente na sequência, é justamente a tentativa de institucionalização de uma democracia substantiva, também como resultado de um amplo processo de apropriação de espaços políticos nunca antes transitados por certas camadas dos povos de Venezuela, Bolívia e Equador, com a instrumentalização de uma democracia inclusiva, menos formal, mais substantiva, sem contudo descartar a democracia representativa ou abolir completamente seus métodos, com a clara projeção de que seus problemas intrínsecos e extrínsecos, pelo menos em termos de exercício efetivo da soberania popular, podem ser preenchidos com a concretização do paradigma da participação.4 3 4 Estas características, no entanto, não constituem apenas uma especificidade local ou um traço desvinculado dos limites da democracia liberal em si, mas são, sobretudo, características daquela potencializados pelas realidades periféricas, o que as configura ainda mais perversas. Como o próprio Wolkmer, na sequência de sua crítica ao paradigma da representação, afirma: “É nessa perspectiva que se pretende avançar na reflexão: a radicalização do processo democrático para a sociedade não implica descartar o paradigma da representação, mas reconhecer sua crise e redefini-lo em função de uma nova cultura política, fundada na participação dos sujeitos coletivos emergentes, corporificadores de uma cidadania comunitária”. (2001, p. 90) 46 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 3 AS NOVAS ORDENS POLÍTICAS: UM NOVO DESENHO DE ESTADO E UM NOVO ESPAÇO PARA A DEMOCRACIA 3.1 Os arranjos institucionais do novo constitucionalismo latinoamericano Características específicas dos novos Estados No mesmo passo da construção de um novo paradigma de democracia, o propósito refundacional do novo constitucionalismo latinoamericano, muito já dissecado nos capítulos anteriores, articula, como seria inerente às suas demandas e intencionalidades, novos modelos de Estado, para além do Estado Democrático de Direito. Este traço, ademais, configura uma de suas peculiaridades de maior relevo, de modo a merecer minimamente uma análise contempladora de sua estrutura básica. Não basta, portanto, verificar a nova “tipologia” dos estados consagrada nas constituições (Estado democrático y social de derecho e de justicia na Venezuela, Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario na Bolívia e Estado constitucional de derechos y justicia no Equador), mas, principalmente, verificar a repercussão destes mesmos termos e das cominações destas novas perspectivas na estrutura estatal desenhada nas respectivas cartas. Como já visto nos tópicos anteriores, em que para se compreender a construção do paradigma hegemônico da representação foram revisitadas algumas características históricas da democracia na América Latina, a compreensão do andar da carruagem dos Estados latinoamericanos passa igualmente por uma brevíssima retomada histórica de suas independências nacionais. Salvo exceções pontuais, as colônias livraram-se de suas metrópoles não por um levante dos povos originários vitimados pela espoliação e violação de seus territórios e organização, mas pela mão dos descendentes dos próprios colonizadores. A independência das colônias latinoamericanas se deu, portanto, para fins da instituição de estados nacionais autônomos garantidores das condições objetivas e mesmo subjetivas para a proeminência econômica e política das oligarquias locais, representada pela figura romantizada dos caudillos. Atilio Boron (2003, p. 102) destaca o papel das independências e constituição dos Estados nacionais num contexto de consolidação da revolução industrial na Europa, cumprindo um papel não de modernização do modo de produção local e mais de manutenção das formas primárias de exploração, doravante apropriadas por uma nascente burguesia com trações de aristocracia fundiária: La constitución del Estado oligárquico fue una etapa necesaria para el avance del capitalismo, dado que éste requería de ciertas condiciones que sólo podían 47 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I satisfacerse mediante la organización de un aparato administrativo y coercitivo centralizado y de alcance nacional. Estas tareas, usualmente englobadas bajo el equívoco nombre de “condiciones externas de la producción”, rebasaban con mucho las posibilidades del débil y tambaleante Estado surgido luego de las guerras de la independencia, razón por la cual la instalación de una organización política más acorde con las tareas a cumplir se transformó en uno de los imperativos centrales para garantizar el desarrollo del capitalismo en esas regiones. Assim que a formação dos estados nacionais, a conformação da idéia de nação e território não só não compreendeu a participação das massas trabalhadoras nativas e imigrantes como também negligenciou em absoluto as noções de organização, território e cultura das populações originárias, aglutinando-os sob o espectro destes novos estados oligárquicos, cujo Direito e cuja vocação liberal-iluminista servia à garantia da propriedade e à consolidação do Estado-burguês propulsor do capitalismo. É comumente partilhado entre os cientistas sociais que a formação dos Estados nacionais na América Latina se concretizou por meio do empoderamento de elites criolas locais que se desligaram, relativamente, das metrópoles. Este processo ocorreu sem que, no entanto, fossem constituídas unidades republicanas que transcendessem os modelos jurídicos e políticos do mundo europeu. Assim, salvo no caso de raras exceções conjunturais da parte de poucos caudilhos, elas atualizaram as formas correntes de espoliação colonial através de outra roupagem institucional. A leitura de soberania chega em tais países de forma a subsidiar os pretensos estados nacionais. E, no fundo, legitimava fundamentalmente os processos de autonomização dos grupos oligárquicos, que em meio às violentas marés de independência, estabeleceram o reconhecimento formal de novos senhores para os antigos súditos (VERONESE; BRANCALEONE; CORREA; 2010, p. 56). Assim se dá, a partir do novo constitucionalismo latinoamericano, uma disputa do plano hegemônico centrada na reconfiguração das instituições. Os preâmbulos das três constituições tornam isso evidente: todas retomam o histórico de exclusão e espoliação dos povos e classes que até então estavam apenas formalmente no espectro político-institucional, deixando expresso o caráter de refundação do pacto político, do Estado. Portanto, se bem não chega a ser uma ruptura total, se não é uma ruptura que sepulte o modo de produção capitalista nestes países, por exemplo, é possível visualizar que esta refundação dos três Estados se apresenta num plano estratégico de disputa hegemônica como elemento de sustentação das mudanças em curso e ao mesmo tempo como perspectiva de aprofundamento da consciência da necessidade de uma nova realidade para os segmentos explorados. A hegemonia é o instrumento pelo qual a sociedade capitalista faz um amálgama entre burguesia e proletariado, exploradores e explorados, mas, justamente por ser um elemento de coesão que dificulta o rompimento da estrutura do todo social é um elemento que deve ser atacado e conquistado, como contra-hegemonia, em benefício dos fins revolucionários (MASCARO, 2010, p. 497). Isto se dá com clareza principalmente nos casos da Bolívia e Equador, onde mais do que uma reconfiguração institucional, estão plantados na Constituição valores ancestrais que 48 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I propõem uma nova concepção do próprio homem, sua relação com a natureza e na coletividade. Se bem se pode questionar a profundidade de uma transposição cultural deste tipo a partir de uma Constituição, é de se reconhecer que se trata de um avanço considerável na suplantação das condicionantes subjetivas da organização social. 3.1.1 Venezuela A Venezuela a partir da Constituição de 1999 se constitui num “Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia” (Artigo 2º da Constituição). Traça como valores supremos a orientarem sua atuação a vida, a liberdade, a justiça, a igualdade, a solidariedade, a democracia, a responsabilidade social, a proeminência dos direitos humanos, a ética e o pluralismo político (Art. 2ª). Ora, ao qualificar o Estado como de “Direito e Justiça”, por certo os constituintes venezuelanos estão a reconhecer que o Estado Democrático de Direito não tem servido à promoção de uma sociedade materialmente igualitária. A fórmula em análise, a partir de uma hermenêutica integradora com outras referências da Constituição (principalmente o preâmbulo, o artigo 2º e o rol de direitos) implica no papel protagonista do Estado de promover a proeminência dos direitos humanos como sua função primordial, para a qual conta com uma série de ferramentas. A fórmula, ademais, supera a pretensão vazia do Estado Democrático de Direito, neutro a serviço da manutenção do status quo, mas ainda que dentro dos limites do próprio estado e do constitucionalismo, abre possibilidades de transformação legitimadas institucionalmente e que podem encontrar uma radicalização possível ao se pretender suscetíveis de tensão e apropriação pelos movimentos sociais, principalmente a partir das ferramentas de participação direta asseguradas. O Estado assume a forma de “estado federal descentralizado” e a forma de governo é a república. O nome “República Bolivariana da Venezuela” vem justificada no preâmbulo, ao invocar o “exemplo histórico do libertador Simón Bolívar”. Quanto às bases produtivas da economia venezuelana, muito embora a nova Constituição preserve a garantia da propriedade privada e não chega a avançar numa proposta estratégica de coletivização dos meios de produção, cabe destacar: Este desarrollo de las actividades por parte de las unidades econômicas de base, que vale mencionar ha venido siendo implementado con êxito en Venezuela a través de los Consejos Comunales y de empresas de producción social, ejecutarían sus actividades a través de medios y factores de producción en propiedad social y colectiva, a los fines de que la generación de los rendimientos de sus actividades, 49 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I efectivamente abarque a la generalidad del pueblo interviniente en ello, y de esta manera, sean satisfechas las necesidades generales de toda la comunidad y del pueblo involucrado en el desarrollo de tales actividades, logrando de esta manera a su vez, que dichos medios y factores de producción se encuentren prestos a servir con una vocación intergeneracional, tomando em consideración a la propiedad social que representan. (MALAVÉ, 2009, p. 857) Já inaugurando o que mais detidamente será analisado depois, a perspectiva participativa e de expansão cidadã da nova institucionalidade vem exposta com o preceito geral do Artigo 6º da Carta: El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Por fim, um dos destaques de relevo na constituição venezuelana – e traço que se repete nas dos países andinos – é o novo arranjo da organização dos poderes do estado, um finalmente inaugurado modelo que transcende o clássico de Montesquieu, a partir da divisão do poder público nos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, Cidadão e Eleitoral (art. 136). Merece especial referência o “Poder Cidadão”, composto principalmente pelo “Conselho Moral Republicano” cujas funções são [...] ejercer la iniciativa legislativa, controlar los órganos del poder, realizar propuestas de funcionarios de diferentes instancias, investigar y sancionar hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión en el uso del patrimonio público, supervisar el cumplimiento del principio de legalidad y promover la educación como proceso creador de la ciudadanía (ARMENGOL, 2012, p. 73). 3.1.2 Bolívia A Constituição Boliviana de 2008 institui aquilo que é um dos elementos mais ricos e originais do novo constitucionalismo latinoamericano: um “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” (art. 1º). Esta concepção comunitarista suplanta outra que perdurara neste país eminentemente indígena em suas instituições: a concepção liberal, que postulava a prevalência do sujeito individual, pelo que as identidades étnicas desapareciam, sem reconhecimento de sua existência ancestral e peculiaridades sócioculturais. Assim que a perspectiva comunitarista, consagrada na Carta e elemento central da refundação do Estado – que, relembre-se, teve no movimento social indígena um dos principais senão o mais forte dos campos – reconhece a identidade étnica dos grupos, assegura seu valor moral e seus costumes, através de uma série de garantias, reconhece ademais que tais grupos formam nações, com complexidades de organização, sem contudo desconstituir o 50 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Estado Boliviano com unitário, abaixo de uma estrutura estatal comum, sem que essa unidade deteriore a reivindicação nacional de cada comunidade. É neste sentido que o Artigo 2º preconiza: Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. Em decorrência da adoção desta perspectiva plurinacional comunitária, o Estado Boliviano, na compilação de Bonifaz (2009, p. 906), [...] es inclusivo al declarar que la nación boliviana se conforma por la totalidad de bolivianas y bolivianos, naciones y pueblos indígenas originario campesinos, y comunidades interculturales y afrobolivianas que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo com sus cosmovisiones, a la vez que se declara independiente de la religión. Establece como idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. [...]El Estado asume como fines y funciones esenciales el constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales; garantizar el bienestar, desarrollo, seguridad, protección e igual dignidad de las personas, naciones, pueblos y comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe; reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional; [...]. Como já dito acima quanto a retomada histórica e expressão do propósito refundador do Estado, o preâmbulo da Constituição Boliviana não é diferente: El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia,inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. A forma de governo é a república, através das formas democráticas direta e participativa, representativa e comunitária, esta última consignatária da organização das próprias nações e comunidades indígenas campesinas. Por último, um ponto peculiar da nova ordem política boliviana, também expressão da vertente comunitarista, é a valoração normativa de conceitos e cosmovisões indígenas em conjunto com princípios de equidade, justiça social e dignidade, conforme artigo 8º: Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 51 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Estas previsões incorporam das culturas indígenas valores éticos que refogem à lógica liberal individualista que via de regra se alça à normatividade constitucional, trazendo uma possível oxigenação do nexo comunitário, da centralidade da comunidade e das relações sociais, como explicam Veronese, Brancaleone e Correa (2010).5 3.1.3 Equador O novo Estado equatoriano, por fim, contém uma certa simbiose de elementos encontrados nas constituições de Venezuela e Bolívia. Como peculiar ao novo constitucionalismo latinoamericano, o preâmbulo da Carta reconhece o passado de lutas frente a todas as formas de exploração e colonialismo e relata a vontade popular soberana não só de refundar a ordem política como também estabelecer uma nova forma de forma de convivência cidadã, “[...] en diversidad y armonía com la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay” (preâmbulo). Assim que o Estado equatoriano se reivindica “constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.” (art. 1º). A repercussão das qualificações de “estado de justicia” e plurinacionalidade assumem contornos bastante parecidos com os mesmos elementos em Venezuela e Bolívia. A forma de governo é a república, governada de forma descentralizada, asseguradas aos governos descentralizados autonomia política, administrativa e financeira (art. 238). São governos autônomos descentralizados “las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales” (idem). No mesmo sentido da Venezuela, a constituição equatoriana também estabelece uma nova estrutura da divisão de poderes (cuja terminologia para se lhes referir usada na Constituição foi “función”), compreendidas a legislativa, judicial, executiva, eleitoral e de transparência e controle social. Este último que [...] promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación 5 “Uma das principais virtudes do processo boliviano, como expressão do protagonismo indígena diante das transformações sociais que se alçam em nosso horizonte é a recuperação do da experiência comunitária (ou o ‘nexo comunitário perdido’, como assinalou Marx)” (p. 58). 52 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.(ARMENGOL, 2012, p. 67 ) 3.2 Apontamentos teóricos da democracia constitucionalismo latinoamericano tal como desenhada no novo Se a democracia liberal-representativa por si só pressupõe a alienação do exercício do poder político, como dito logo acima, sua implementação precária (e consequentemente ainda mais formal), a miséria e a periclitante situação sócio-econômica da maioria do povo e o descrédito no sistema político e no Estado operou um distanciamento ainda mais abismal entre o poder popular e a organização da vida em sociedade na América Latina. Não obstante, a falência do sistema representativo e das organizações políticas tradicionais (descrita no primeiro tópico desde capítulo com as transcrições de Wolkmer, 2001, e Armengol, 2010), somada à extrema desigualdade social e outros fatores possíveis de identificação, acabaram por engrossar o caldo histórico das lutas periféricas por poder político e condições dignas de sobrevivência na América Latina. Retomando as narrativas dos processos constituintes e do brotar do poder constituinte originário, assim entendido nas tensões e na articulação radicalizada de movimentos sociais e organizações populares, vemos que a ressignificação da democracia desenhada nos textos constitucionais deriva de um dos eixos centrais das demandas insurgentes: a ampliação da cidadania, a institucionalização de meios para a manutenção do exercício da soberania pelo poder “revolucionário”. A democracia tal como estabelecida nas constituições de Venezuela, Bolívia e Equador, portanto, ainda que limitada pelos meandros do estado-nação, é fruto de uma luta, de um clamor popular e, principalmente, do labor dos movimentos sociais e atores políticos que protagonizaram os câmbios ora estudados. A luta pela instituição de uma democraica participativa, através de práticas participativas, se coloca no contexto da própria reorganização dos movimentos sociais latinoamericanos, que, a partir da década de 70, com um aporte mais incisivo do referencial teórico gramsciano, determinou a centralidade da disputa da hegemonia, tendo em consideração as imbricações entre cultura e política. Assim que a articulação destes organismos passou a se voltar para a construção teórico-prática de uma política cultural, pautada na reformulação do campo político, enquanto espaço apropriável pelos sujeitos históricos na afirmação da cidadania, do fim do autoritarismo e do fim das opressões (ALVAREZ; ESCOBAR; DAGNINO, 2000). 53 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Os mesmos autores (ALVAREZ; ESCOBAR; DAGNINO, 2000) referem ainda um duplo viés da disputa democrática dos movimentos sociais e populares nas últimas décadas: ela é voltada a proliferação de espaços públicos alternativos, no âmbito da sociedade civil, constituídos a partir da necessidade de uma integração afirmativa dos sujeitos excluídos, e, a partir disto, se projeta também para o interior das próprias instituições e do Estado. E, neste sentido, [esses movimentos] não apenas estão lutando por acesso, incorporação, participação ou inclusão na “nação” ou no “sistema político” em termos pré-definidos pelas culturas políticas dominantes. Como sublinha Dagnino, o que também está em jogo para os movimentos sociais de hoje é o direito de participar na própria definição do sistema políticom o direito de definir aquilo no qual querem ser incluídos (ALVAREZ; ESCOBAR; DAGNINO, 2000, p. 44-45). Com esta premissa, torna-se factível a compreensão da estratégia dos atores políticos sujeitos do novo constitucionalismo latinoamericano na construção de uma democracia institucional de tipo participativo, que é repercussão e também pretensa causa de uma nova cultura política. Passando à análise dos arranjos democráticos do novo constitucionalismo latinoamericano, vê-se que este repercute as premissas liberais clássicas, como não podia deixar de ser, bem como garante a democracia liberal mantendo o sistema representativo. Por ter sido fruto de uma possivelmente inédita incidência real do titular do poder originário na definição dos contornos da nova ordem política em construção, a democracia nas constituições de Venezuela, Bolívia e Equador alça ao âmbito da institucionalidade uma noção de organização política advinda de suas práticas comunitárias, no sentido visto acima. Assim que, numa tentativa de encaixar a democracia do novo constitucionalismo na tipologia das democracias que a ciência política oferece, pode-se dizer que Venezuela, Bolívia e Equador, a partir de suas mais recentes constituições, organizam-se sob a égide de um sistema de modelo misto de democracias: a representativa e a participativa. Já se tendo discorrido o suficiente sobre o modelo representativo, cabe trazer o aporte teórico do modelo participativo: Na perspectiva participativo-democrática, a democracia é o controle pelos cidadãos de seus próprios afazeres, que algumas vezes, embora nem sempre, envolve instruir os corpos governamentais a realizar os desejos dos cidadãos. Essa perspectiva conota ma relação de continuidade entre pessoas e governo que é quebrada quando este é visto como um representante daquelas. [...] (Cunningham, 2009, p. 152). A democracia participativa encontra seus fundamentos mais remotos em Rousseau (CUNNINGHAM, 2009), que, à semelhança de Marx (BELLO, 2010), divergia dos liberais quanto à suposta essência individualista do homem, sustentando sua indelével projeção social, de modo a entender inconcebível a representação, a alienação das atividades típicas das 54 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I interrelações políticas. O ideal democrático participativo, portanto, que, aliás, tem albergado vários setores de movimentos sociais e populares, invoca os efeitos nefastos da representação e reivindica a centralidade da participação direta na tomada de decisões sobre os rumos da vida em sociedade. Como descreve Armengol (2010, p. 66), o paradigma da democracia participativa como modelo [...] parte de la inmediatez entre titularidad de la soberanía y ejercicio de ésta. Su imaginario es el del pueblo deliberando, tomando decisiones y gestionando directamente sus propios asuntos, conformándose a nivel de toda la sociedad una estructura piramidal en la que interactúan múltiples espacios participativos. Esta noción se inspira en la idea de Rousseau de “todo el poder del Estado dimana del pueblo”. Con esta concepción se relacionan las pautas de autogobierno, elegibilidad y revocación de los mandatarios, renovación de éstos, transparencia de la política, control comunitario de la gestión pública, obligación de los agentes elegidos de rendir cuentas sobre los mandatos otorgados, apertura del poder político a las iniciativas populares y adopción consensuada de las decisiones. El sustento de esta visión es la de un ciudadano comprometido con la res publica, que es sujeto de libertades positivas cuyo ejercicio le posibilita convertirse en sujeto políticamente activo. A democracia participativa do novo constitucionalismo latinoamericano, portanto, se propõe a uma retomada conceitual da democracia a partir do demos, de um corpo cidadão inclusivo, ativo e politizado, que possa assumir a responsabilidade das decisões políticas da comunidade a partir de instrumentos efetivos e concretos para tanto, superando assim os engodos superestruturais da democracia formal e da exclusividade da representação. Vejamos as referências a uma idéia geral de democracia ou de exercício do poder popular que expõem as constituições do novo constitucionalismo latinoamericano. A Constituição venezuelana, em seu artigo 62, que abre a seção referente aos direitos políticos, estabelece: La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Mais adiante, em capítulo referente às competências do Poder Público Nacional, consta a seguinte orientação: La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales (Artigo 158). O arquétipo de democracia instituído na Constituição Boliviana, por sua vez, está assim descrito: La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres (Artigo 11, I). 55 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.[...] Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad (Artigo 241, I, II e IV). Por fim, a constituição equatoriana proclama: Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en um proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria (Artigo 95). Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos (Artigo 96). Como se vê, portanto, as cartas do novo constitucionalismo latinoamericano consagram a democracia participativa, asseguram a intervenção do cidadão nas decisões políticas, estabelecem como central para a ordem política dos três países – sem abolir o sistema representativo – a participação direta nos processos deliberativos e decisórios principalmente para a definição e desenho de políticas públicas e no controle da administração. Como relata Armengol (2010, p. 69), En este contexto, puede señalarse que se ha ido estructurando un prototipo democrático de dos carriles. De un lado, ha discurrido sobre los presupuestos de la representación, el pluralismo político, las elecciones libres, la garantía de los derechos, la seguridad de las minorías políticas y la distribución de poderes. De otro, ha ido estructurando nuevos mecanismos y ha ampliado sus ámbitos. Así, se ha desarrollado una democracia expansiva en sus umbrales e inclusiva en los sujetos participantes. Acerca do espírito da alternativa participacionista, encontramos referencial teórico atual e deveras influente na prática política de movimentos sociais latinoamericanos em Boaventura de Sousa Santos, que proclama a noção de “democracia de alta intensidade”, permeada por uma perspectiva de qualidade do processo democrático. (SANTOS, 2007). Trata-se de uma proposta de trabalhar os conceitos hegemônicos de uma forma contra-hegemônica (SANTOS, 2007) e, através de canais de participação direta, proporcionar a articulação de demandas de setores sociais plurais, oxigenando a democracia representativa e articulando o estado como um novíssimo movimento social (RIBEIRO e COUTINHO, 2006). 56 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Nestes termos, sem dúvida, é possível afirmar que há, a partir do novo constitucionalismo latinoamericano, de maneira inédita dentro dos limites do estado-nação e do constitucionalismo em si, uma superação da democracia formal-representativa. 3.3 A normatividade dos instrumentos de participação popular direta Neste tópico, após o desenho genérico-principiológico da democracia como um todo, que é bastante comum entre as três constituições do novo constitucionalismo latinomaericano, faz-se uma breve análise dos instrumentos e das alternativas participativo-democráticas institucionalizadas, especificamente em cada ordem política. 3.3.1 Venezuela Um dos primeiros marcos de interferência e controle público sobressalentes na constituição venezuelana e inclusive já abordado neste artigo é o que deriva do redesenho da repartição dos poderes da república, com a instituição do “Poder Cidadão” (art. 273). Exercido pelo “Consejo Moral Republicano”, por sua vez composto de órgãos como o Ministério Público e a Defensoria do Povo. Tal Conselho, para exercitar tal poder, tem uma série de prerrogativas, como a iniciativa legislativa, o controle das atividades administrativas, investigação, etc. O artigo 70 da constituição venezuelana enumera os meios de “participação e protagonismo do povo no exercício de sua soberania”, no meio político em si, através da eleição pra cargos púbicos, referendo, consulta popular, revocatória de mandato, iniciativas legislativa, constitucional e constituinte, o cabildo e a assembléia de cidadãos e cidadãs, entre outros. No “social e econômico”, garante-se algumas medidas já referidas no tópico anterior, como a auto-gestão, co-gestão, organização cooperativa, em empresa comunitária e demais formas associativas “guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad”. O referendo pode ser ativado em matérias de “especial transcendência nacional”, por iniciativa do Presidente, da Assembléia Nacional ou de pelo menos 10% do eleitorado nacional, o mesmo podendo ocorrer simetricamente em municípios e estados (art. 71). O referendo revocatório (também conhecido como recall) trata-se da possibilidade de revogação do mandato de todos os cargos de eleição popular em todos os níveis de poder, transcorrida a metade do período para o qual o funcionário fora eleito (ao qual, por exemplo, 57 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I foi submetido o Presidente Hugo Chávez em 2004). Há ainda outras formas de referendos, como o abrogatorio, consultivo e aprovatorio. Um dos mecanismos de co-gestão e definição de políticas públicas, execução de obras e prestação de serviços mais de base e comunitários são os “Consejos Comunales”, organizados a partir de pequenos núcleos locais (SILVA, 2011). Destacam-se ainda como instrumentos de base e mais locais o cabildo e as assembléias de cidadãos e cidadãs. 3.3.2 Bolívia Na Bolívia há o já referido reconhecimento da democracia comunitária, nas nações e povos originários campesinos, com o reconhecimento da auto-regulamentação e sem intervenção nos instrumentos próprios estabelecidos no seio da comunidade. (arts. 11 e 26). Conforme artigos 241 e 242 da constituição, o povo participa do desenho das políticas públicas, exerce controle social da qualidade dos serviços públicos, cabendo aos órgãos estatais a geração de espaços de participação e controle social da sociedade, ou seja, estabelecida a diretriz, cabe aos órgãos a sua efetivação. Este tipo de orientação para abertura à participação direta da comunidade envolvida perpassa toda a constituição, em referências à planificação da economia, gestão da educação e sistema de saúde, por exemplo. Estão consignados também como instrumentos de exercício da democracia direta e participativa, em relativa simetria ao que dispõe o texto venezuelano, o referendo, iniciativa legislativa cidadã, revocatória de mandato6, assembléia, cabildo e consulta prévia (art. 11, I). Por fim, um ponto que merece destaque pela novidade é a instituição de eleições diretas para a composição do Tribunal Supremo de Justiça (art. 182) e do Conselho da Magistratura (art. 194). 3.3.3 Equador A constituição equatoriana, à mesma maneira que a venezuelana, também estabelece um novo panorama de divisão de poderes da república, instituindo a “Função de Transparência e Controle Social”, para promover o controle das entidades e organismos do 6 Registre-se também que houve referendo revocatório em 2008, que sujeitou o presidente Evo Morales à confirmação da continuidade do mandato. Pontue-se, todavia, que a ativação do referendo não seu pelo eleitorado (como o venezuelano de 2004) mas sim pela provocação do próprio presidente Evo Morales através de decreto. Como se sabe, seu mandato foi ratificado. (WELP, 2009) 58 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I setor público e privado, fomentar a participação cidadã, proteger o exercício e cumprimento dos direitos e combater a corrupção, em exercício de seu poder de participação (art. 204). O artigo 100 da constituição equatoriana estabelece os propósitos da participação cidadã nos vários níveis institucionais, para fins da elaboração de planos e políticas nacionais e locais, fortalecer a democracia, definir agendas de desenvolvimento, entre outros, e estipula que para o exercício destas prerrogativas de organizarão audiências públicas, assembléias, cabildos populares, conselhos consultivos e demais instâncias que promovam a cidadania. São ainda instrumentos de participação direta as iniciativas legislativas e constitucionais, referendos (dentre eles o revogatório), consulta popular. Uma disposição curiosa e original da constituição equatoriana é a que de certa forma institucionaliza a desobediência civil: Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos (art. 99). 4 CONCLUSÃO O presente artigo se propunha a verificar as transições institucionais implementadas no seio do novo constitucionalismo latinoamericano, sob a perspectiva da superação da democracia representativa e da instituição de ordens políticas reflexivas e garantidoras da demanda de movimentos sociais por inserção no sistema político. Situado o campo de análise, se passou, num primeiro momento, à retomada da evolução conceitual da democracia, cuja síntese deixa patente a conformação dos tipos democráticos aos seus contextos sócio-econômicos, sendo possível conceber a democracia tal qual a conhecemos prioritariamente hoje como um reflexo superestrutural e uma condição para o desenvolvimento das formas de acumulação capitalista. Pontuou-se também que estas circunstâncias, para a América Latina, foram ainda mais perversas, ensejando a constatação de que desde a constituição dos estados nacionais até os dias de hoje a democracia em nosso continente é pura e estritamente formal. Dessa conformação histórica se pôde verificar que as constituições do novo constitucionalismo latinoamericano, principalmente compreendidas como fruto de mobilizações e demandas de sujeitos historicamente negados, refletiram a necessidade da reconstrução das ordens políticas dos três países, o que levou a cabo uma reformulação teórico-prática do Estado e da Democracia. 59 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Sustentou-se a hipótese de que essas inovações destacadas do fenômeno em análise, principalmente em se considerando a proposta de superação da democracia formalrepresentativa, a partir de um novo modelo teórico e de uma série de mecanismos constitucionalmente previstos de participação direta, articulam um novo cenário institucional apropriável e aberto à disputa e ao protagonismo de atores políticos historicamente defenestrados desses espaços, quais sejam, os movimentos sociais e as classes subalternas latinoamericanas. Assim concebidas e compreendidas as ordens políticas do novo constitucionalismo latinoamericano, restará acompanhar atentamente a evolução histórica desses fenômenos recentes e os novos caminhos inaugurados. 60 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I REFERÊNCIAS ALVAREZ, Sonia E.; ESCOBAR, Arturo; DAGNINO, Evelina. O cultural e o polítios nos movimentos sociais latinoamericanos. In: ALVAREZ, Sonia E. (Org.); ESCOBAR, Arturo (Org.); DAGNINO, Evelina (Org.); Cultura e política nos movimentos sociais latinoamericanos: novas leituras. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000, p. 61-102. ARMENGOL, Carlos Manuel Villabella. El derecho constitucional del siglo XXI en latinoamerica: Un cambio de paradigma. In: PASTOR, Roberto Viciano (Org.). Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Valencia: Editora Tirant lo Blanch, 2012 (versão eletrônica), p. 51-76. ____________. Constitución y democracia en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. IUS, nº 25. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. 2010, p. 49-76. BELLO, Enzo. Cidadania, Alienação e Fetichismo Constitucional. In: BELLO, Enzo (Org.) e LIMA, Martônio Mont’Alverne Barreto (Org.). Direito e Marxismo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 7-33 BOLÍVIA. Nueva Constitución Política del Estado. 2009. BONIFAZ, Carlos Romero. El proceso constituyente boliviano. In: Tendencias del Constitucionalismo en Iberoamérica. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Serie Doctrina Jurídica, Núm. 514. México: 2009, p. 889938. BORÓN, Atilio A. Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003. CUNNINGHAM, Frank. Teorias da Democracia: uma introdução crítica. Porto Alegre: Artmed, 2009. ECUADOR. Constitución Del Ecuador. 2008. MALAVÉ, Carlos Escarrá. Modelo de Estado establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (implicaciones). In: Tendencias del Constitucionalismo en Iberoamérica. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Serie Doctrina Jurídica, Núm. 514. México: 2009, p. 809878. MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, 1 ed. RIBEIRO, Adelia Maria M.; COUTINHO, George Gomes. Modelos de Democracia na era das transições. Civitas - Revista de Ciências Sociais, v.6, n.1. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2006. SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional. In: OSAL Nº 22. Buenos Aires: CLACSO, 2007. Disponível em: 61 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22SousaSantos.pdf>. Acesso em abril de 2012. _______________. Renovar a Teoria Crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo: Boitempo, 2007. SANTOS, Boaventura de Sousa; AVRITZER, Leonardo. Para ampliar o cânone democrático. In SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Democratizar a Democracia. Os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. SILVA, Fabricio Pereira da. Estado, Movimentos Sociais e Questão Democrática na Venezuela, Bolívia e Equador. In: XV Congresso Brasileiro de Sociologia, 2011, Curitiba, PR. Disponível em < http://netsal.iesp.uerj.br/bancodeartigos.php>. Acesso em 15 de abril de 2012. VENEZUELA. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. VERONESE, Alexandre; BRANCALEONE, Cássio; CORRÊA, Ana Maria M. Direito e Utopia: o Lugar da Soberania Popular e a Contribuição Marxista à Crítica Democrática Contemporânea. In: BELLO, Enzo (Org.) e LIMA, Martônio Mont’Alverne Barreto (Org.). Direito e Marxismo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 37-60. WELP, Yanina. El referéndum contra el status quo. Análisis de Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. Revista Dialogos Latinoamericanos, n. 16, Aarhus Universitet, 2009, p. 136155. Disponível em: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=16212429008>. Acesso em 10 de maio de 2012. WOLKMER, Antônio Carlos. Do paradigma jurídico da representação à democracia participativa. Revista Sequência nº42. Florianópolis: Programa de Pós-Graduação da UFSC, 2001. WOOD, Ellen. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. São Paulo: Boitempo, 2009. 62 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE NO ÂMBITO DA DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA RELATION STATE SOCIETY FOR UNDER THE CONTEMPORARY DEMOCRACY Eliane Fontana 1 Josiane Petry Faria2 RESUMO: O artigo trabalha a questão da relação entre Poder Público e a sociedade no Estado contemporâneo, notadamente no que tange a questão da cidadania ativa e a interlocução entre Estado o cidadão. Discorre-se acerca da nova cidadania na ambiência de um Estado regulador, bem como a questão da emancipação social no cenário da democracia contemporânea e a sua relação com a teoria constitucional . É de profunda relevância a questão da participação social no universo jurídico, na medida em que a leitura isolada da lei não mais consegue dirimir conflitos, negando a complexidade das demandas sociais. E por outro lado, à sociedade é sempre fulcral entender o poder diluído no tecido social como forma de buscar o protagonismo de sua história em relação aos direitos fundamentais. Tenta-se responder se existe de fato comunicação entre Estado e Sociedade no Estado Democrático de Direito. Num primeiro momento é perceptível que os mecanismos criados para solucionar o distanciamento do cidadão do Poder Público não atingiram suas finalidades, mesmo sendo notória uma evolução. Quanto maior for o envolvimento e argumentação mantidos na relação da sociedade com o Estado, através de seus órgãos de direção, maiores as chances de ampliação do círculo democrático de poder. O método utilizado no desenvolvimento do trabalho será bibliográfico. PALAVRAS-CHAVE: Cidadania ativa. Democracia. Emancipação Social. Estado Democrático. ABSTRACT: The article deals with the question of the relationship between the Public Power and the Contemporary Society, especially when it comes to issues of the active citizenship and the dialogue between the State and the Citizen. Discussions are presented on the new citizenship in the ambience of a regulatory state, and the question of social emancipation in the setting of contemporary democracy and its relation to the constitutional theory. It is really relevance the issue of the Social Participation in the Legal World, in that the reading of the law alone can no longer resolve conflicts, denying the complexity of social demands. And on the other hand, society is always crucial to understand the power diluted in the social fabric as a way to seek the limelight from its history in relation to fundamental rights. We try to answer whether there was communication between state and society in a democratic state of law. At first it is apparent that the mechanisms established to address the alienation of citizens of the Public Power didn’t achieve its goals, even though a noticeable 1 Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul- UNISC. Professora Universitária no Curso de Direito do Centro Universitário UNIVATES- Lajeado-RS Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas Interseções entre o Público e o Privado, vinculado ao CNPq. Advogada. Endereço eletrônico: [email protected] 2 Doutoranda em direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – PPG- UNISC, professora da Faculdade de Direito e Coordenadora do Projur Mulher, ambos da Universidade de Passo Fundo-UPF, advogada, [email protected] 63 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I evolution. The greater the involvement and other arguments in the relationship between society and the state, through its managerial bodies, the more likely to expand the circle of democratic power. The method used in the development of the work is based on literature, bibliographic research. KEYWORDS: Active Citizenship. Democracy. Emancipation. Democratic State. Social 1 Considerações Iniciais O artigo aborda alguns aportes teóricos acerca do Estado Democrático na atualidade e a relação entre Estado e sociedade nesse processo, com um enfoque mais pontual na questão do que hoje em dia se diz de uma cidadania ativa. Num primeiro momento fala-se das transformações ocorridas desde o nascimento da democracia e, fundamentalmente, o que esse viés democrático trouxe ao Estado desde o inicio da modernidade em relação à necessidade de os cidadãos não apenas serem sujeitos de direitos, mas, sobretudo, portadores de voz ativa nas deliberações públicas. A via comunicacional para uma nova cidadania trata-se, nessa perspectiva, não de garantia somente à igualdade dos projetos de democracia, mas, sobretudo, garantir que existam padrões mínimos de inclusão, suficientes para o desempenho de projetos da comunidade. Ao depois, fazem-se realces acerca de uma nova cidadania, que além de ser ativa em relação aos direitos afins, ainda busca um papel mais protagonizador na relação Estadosociedade. Diante de uma realidade mutifacetada a qual está inserida a sociedade atual, não mais é esperado que os veículos comunicacionais advenham, na sua totalidade, de cima para baixo, ou seja, que se espere da lei as respostas aos conflitos. É preciso mais investir nos espaços públicos de comunicação que a lei permite e alem disso, é fulcral que se mobilizem força para dar vazão a uma maior abertura de interlocução entre as vias sociais e o aparato estatal. 2 Estado Democrático e a revisão da democracia na atualidade Quando da formação do Estado de Direito, onde um regime de direito era a única relação do Estado com o individuo, e a atividade estatal desenvolvia-se na utilização de instrumentos de regulação e autorização pela ordem jurídica, - e, sobretudo, pelo excessivo formalismo e abstração-, era longínqua a possibilidade de interação social. No Estado Liberal, primeira veia do Estado de Direito após a passagem Absolutismo, havia uma limitação jurídico-legal negativa, ou seja, como garantia dos indivíduos cidadãos 64 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I frente à eventual atuação do Estado, impeditiva ou constrangedora de sua atuação cotidiana (STRECK; MLRAIS, 2001, p. 91). Foi a grande diferença do Absolutismo, já que neste o Estado era do Soberano, enquanto no Estado de Direito o Estado é do cidadão. O advento do Estado Social deu relevo ao que estava isolado no perfil liberal de Estado: as prestações sociais. A adjetivação pelo social pretende a correção do individualismo liberal por intermédio de garantias coletivas, ou seja, tenta-se criar uma situação geral de bem-estar que garanta o desenvolvimento da pessoa humana (STRECK; MORAIS, 2001, p. 91). Para Pelayo, o Estado Social não é uma negação ao estado das coisas, mas uma implementação importante na construção das tendências contemporâneas de Estado: En términos generales, el Estado social significa históricamente el intento de adaptación del Estado tradicional (por el que entendemos en este caso el Estado liberal burgués) a las condiciones sociales de la civilización industrial y postindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus grandes posibilidades técnicas, económicas y organizativas para enfrentarlos. No hemos de ver las medidas de tal adaptación como algo totalmente nuevo, sino más bien como un cambio cualitativo de tendencias surgidas en el siglo XIX y comienzos del XX para regular, en aquel entonces, aspectos parciales de la sociedad, regulación que sufre en nuestro tiempo un proceso de generalización, integración y sistematización (GARCÍA-PELAYO1996, p. 18). Diante do Estado Social, a igualdade preterida passa àquela materialmente posta, na medida em que a lei, funcionando formalmente como equalizadora de conflitos, ou mesmo discorrendo sobre as benesses sociais a que o cidadão tem direito, não oferece uma conotação real das garantias que potencializam (ou realizam) a questão social. A limitação da ação estatal e o conteúdo jurídico do liberalismo são deixados em detrimento das prestações positivas e da questão social. A lei passa a ser instrumento de acesso, de facilitação, de promoção, ao invés simples impedimento. Como expõe Leal: O Estado abandona a sua (aparente) neutralidade e apoliticidade e assume fins políticos próprios, tomando para sai responsabilidade de transformar a estrutura econômica e social no sentido de uma realização material da igualdade, a fim de impedir que a desigualdade de fato destrua a igualdade jurídica. A política estatal passa a levar a cabo, então, direta ou indiretamente, uma estruturação da sociedade que se manifesta em múltiplos aspectos, estendendo o usufruto dos bens materiais e imateriais por meio do incremento dos serviços sociais, especialmente de saúde de educação ( 2007, p. 33). Desde então, não se tratava mais de liberdade diante do Estado, mas, por meio do Estado (SARLET, 2001, p. 51), caracterizando-se, assim, as prestações estatais como assistência social, saúde, educação, trabalho, moradia, enfim, prestações consideradas concretamente e que compõem exemplos de direitos de segunda dimensão, chamados de 65 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I direitos sociais3 por se referirem à justiça social e ao homem em sociedade, não mais isolado de sua realidade. A questão envolvida no Estado Social reabre discussões que norteiam a justiça distributiva4 e o modelo de Estado que busca proporcionar uma ação da atividade estatal em direção ao bem comum: De este modo, mientras que el Estado tradicional se sustentaba en la justicia conmutativa, el Estado social se sustenta en la justicia distributiva; mientras que el primero asignaba derechos sin mención de contenido, el segundo distribuye bienes jurídicos de contenido material; mientras que aquél era fundamentalmente un Estado legislador, éste es, fundamentalmente, un Estado gestor a cuyas condiciones han de someterse las modalidades de la legislación misma (predominio de los decretos leyes, leyes medidas, etc.); mientras que el uno se limitaba a asegurar la justicia legal formal, el otro se extiende a la justicia legal material. Mientras que el adversario de los valores burgueses clásicos era la expansión de la acción estatal, para limitar la cual se instituyeron los adecuados mecanismos – derechos individuales, principio de la legalidad," división de poderes, etc. –, en cambio, lo único que puede asegurar la vigencia de los valores sociales es la acción del Estado, para lo cual han de desarrollarse también los adecuados mecanismos institucionales. Allí se trataba de proteger a la sodedad del Estado, aquí se trata de proteger a la sociedad por la acción del Estado. Allí se trataba de un Estado cuya idea se realiza por la inhibición, aquí se trata de un Estado que se realiza por su acción en forma de prestaciones sociales, dirección económica y distribución del producto nacional (GARCÍA-PELAYO1996, p. 26-27) Todavia, quando assume viés democrático, o Estado de Direito passa a objetivar a igualdade, agora não mais limitada à atuação estatal, mas voltada à busca da reestruturação das relações sociais. O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da realidade, ultrapassando o aspecto material de concretização, mas, sobretudo, é fomentador da participação pública na ordem jurídica (STRECK; MORAIS, 2001, p. 93). As formas tradicionais de democracia têm se modificado em função do declínio da ideologia liberal e do renascimento do republicanismo (SILVA;STEIN, 2009, p. 246). Numa perspectiva tradicional de verificação do processo democrático, somente as bases mais conceituais de representação são percebidas. Em Bobbio5 encontra-se o conceito que o próprio autor considera mínimo para entender-se tal processo: 3 É preciso esclarecer que, junto às prestações estatais surgidas em fase de segunda dimensão de direitos, algumas liberdades sociais fazem parte desse processo histórico, como os direitos de greve e sindicalização, férias e demais garantias ligadas aos trabalhadores. 4 Uma visão comunitária da liberdade positiva limita e condiciona em prol do coletivo a esfera da autonomia individual. Em outras palavras, direitos fundamentais não mais podem ser pensados apenas do ponto de vista dos indivíduos.( CITTADINO, 2004, p.17). 5 Afirmo preliminarmente que o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, entendida como contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. Todo grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para todos os seus membros com o objetivo de prover a própria sobrevivência, tanto interna como externamente. Mas até mesmo as 66 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A expressão democracia representativa significa genericamente que as deliberações coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade. Ponto e basta. O estado parlamentar é uma aplicação particular, embora relevante do ponto de vista histórico, do princípio da representação, vale dizer, é aquele estado no qual é representativo o órgão central (ou central ao menos em nível de princípio, embora nem sempre de fato) ao qual chegam as reivindicações e do qual partem as decisões coletivas fundamentais, sendo este órgão central o parlamento (2004, p. 56). A democracia representativa, embora não somente possa ser delineada pelo conceito acima, já que moldada por teorias e construções históricas importantes6, é a referência inicial para a discussão acerca de novas percepções daquilo que foi democrático, para o que ora se propõe a sê-lo. No tocante a República, pressupõe ampla divulgação e abertura da administração ao controle da cidadania, que se deve fazer ouvir seja pela assembleia de cidadãos (democracia direta, como na Grécia Clássica), seja por meio de representantes, como no caso na democracia representativa (SILVA; STEIN, 2009, p.247). Para Leal: Ocorre que, a partir da primeira metade do século XX, o processo de exclusão social e da marginalização provocado pelo modelo de crescimento econômico dissociado do desenvolvimento social que marca o contemporâneo estágio do capitalismo contribui, definitivamente, à revisão geral da Democracia Representativa e suas instituições (públicas e privadas), inclusive atingindo os Poderes de Estado, haja vista serem eles os depositários da vontade soberana popular (LEAL, 2006, p. 364). Não se perfaz a derrubada de estigmas acerca da representatividade democrática, mas, sobretudo, de uma agregação de seu significado originário, para além de o poder de participação por meio de um representante, ou seja, da deliberação da sociedade sobre seu próprio destino num perfil igualmente democrático (senão efetivamente democrático). Na realidade, o crescimento dos chamados direitos sociais e econômicos ampliou o rol o rol das atribuições estatais, transformando o Estado em empresário, muitas vezes tendo sua atuação desfocada das necessidades reais comunitárias (LEAL, 2009, p. 11). A ideia de democracia é a justaposição de forças para o bem comum, e assim, não há como falar em democracia sem dar relevo à relação entre a sociedade e o Poder Público, como expõe Leal: decisões de grupo são tomadas por indivíduos (o grupo como tal não decide). Por isto, para que uma decisão tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, todos) possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que seja tomada com base em regras (não importa se escritas ou consuetudinárias) que estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a tomar as decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à base de quais procedimentos. No que diz respeito aos sujeitos chamados a tomar (ou a colaborar para a tomada de) decisões coletivas, um regime democrático caracteriza-se por atribuir este poder (que estando autorizado pela lei fundamental torna-se um direito) a um número muito elevado de membros do grupo (BOBBIO, 2004, p. 30-31). 6 Em outras palavras, podemos dizer que o que acontece hoje quanto ao desenvolvimento da democracia não pode ser interpretado como a afirmação de um novo tipo de democracia, mas deve ser entendido como a ocupação, pelas formas ainda tradicionais de democracia, como é a democracia representativa, de novos espaços, isto é, de espaços até agora dominados por organizações de tipo hierárquico ou burocrático (BOBBIO, 2004, 67). 67 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Para ser democrático, pois, deve-se contar, a partir das relações de podre estendidas a todos os indivíduos, com um espaço político demarcado por regras e procedimentos claros, que efetivamente assegurem, de um lado, espaços de participação e interlocução com todos os interessados e alcançados pelas ações governamentais e, de outro lado, o atendimento às demandas públicas da maior parte possível da população ( 2006, p. 355). O modelo contemporâneo de Estado possui no preâmbulo da Constituição – e no corpo do texto – provimentos a serem realizados a bem da ordem democrática vigente. A grande diferença do perfil Democrático para o Liberal é que neste o Estado se colocava em lado oposto à sociedade7, enquanto a natureza democracia evidencia um papel social forte. Entremeio aos dois modelos, o Estado Social foi importante por ter acrescido a questão da promoção de prestações materiais ao grupo, e não mais ao indivíduo isoladamente. O sentimento de pertencimento é necessário na formação de um conceito social nessa quadra da história, haja vista o papel do coletivo ser determinante para a construção de uma interlocução com os entes estatais. A comunidade, enquanto produto da história tem sua relação com o direito relevada por Ost: [..] na perspectiva comunitarista, o individuo deixa de ser pensado como tendo prevalecendo à sociedade; ao contrario, é dela que se recebe os recursos para sua identidade, é nela que se extrai suas faculdades de ação. Por sua vez, esta comunidade não é a construção abstrata resultantes das clausulas racionais de um contrato social deliberado; ela é, ela mesma, o produto da história, o reflexo dos costumes e dos valores do povo. Cada uma de suas instituições (direito, língua, cultura...) é simultaneamente o fruto dessa tradição e o meio necessário para sua constante revitalização (OST, 2005, p. 381). Com o deslocamento do foco individual, uma nova identidade social passa a ser construída a bem dos acontecimentos históricos, políticos, jurídicos e sociais que aos poucos amoldam uma realidade plural e multifacetada. A possibilidade de uma união de forças começa a ser considerada e a própria Constituição, que se desenvolveu na perspectiva do Estado, também passa ter o papel da garantia e as formas de atuação da jurisdição constitucional que se modificaram na esteira destas transformações8. 7 Como es sabido, una de las características del orden político liberal era no sólo la distinción, sino la oposición entre Estado y sociedad, a los que se concebía como dos sistemas con un alto grado de autonomía, lo que producía una inhibición del Estado frente a los problemas económicos y sociales, sin perjuicio de las medidas de política social y económica que hemos denominado como factorializadas (GARCÍA-PELAYO,1996, p. 21) . 8 Para que se possam compreender as transformações que se operam por ocasião do chamado constitucionalismo social, é preciso considerar que as Constituições liberais são, ainda, do Estado, isto é, elas constituem um documento eminentemente jurídico cuja prerrogativa maior é a imposição de limites ao Estado e a garantia dos direitos individuais negativos. É no segundo pós-guerra, por sua vez, que as Constituições passam a ser concebidas como “comunitárias”, ou seja, como sendo o reflexo dos valores compartilhados pela comunidade que as adota, dando origem, desta forma, à chamada Teoria Material da Constituição, que propõe levar em consideração em sentido, fins, princípios políticos e ideologia que conformam a Constituição ( LEAL, 2007,p.29/30). 68 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Ao discorrer acerca da relação Estado e sociedade, Pelayo coloca sua predileção à denominação do Estado atual, mas acima de tudo evidencia o deslocamento da visão do indivíduo para a de classes, de grupos, de sociedade: Actualmente la sociedad y el Estado tanto en los países industrializados como en los países en curso de desarrollo ya no pueden definirse como dos sistemas, cada uno de ellos autorregulado, sino como dos sistemas o, más bien, subsistemas completamente interdependientes, vinculados y condicionados por un número creciente de interrelaciones, de flujos y reflujos, de insumos y productos, de modo que, como consecuencia de las crecientes y heterogéneas demandas y estímulos por parte de la sociedad, asistimos a una transformación de la estructura y función del Estado. Resultado de todo ello es la tendencia hacia la difuminación de límites entre ambos sistemas. De que estamos ante un nuevo tipo de Estado – del que probablemente no poseemos todavía la teoría adecuada – es muestra la profusión de nombres usados para designar al Estado de nuestro tiempo: Welfare State, Estado social, Estado administrativo, Estado manager, Estado de partidos, Estado de asociaciones u organizaciones (Verbändenstaat), etc. Por mi parte y con referencia a los Estados democráticos neocapitalistas, estimo que la designación más adecuada es la de Estado social (1996, p. 126/127) O fato é que sociedade e Estados são, como aborda Pelayo, sistemas9 que não podem ser vistos isoladamente na realidade democrática. A democracia é uma busca constante através da construção de ações estatais - quando da busca pelas finalidades preambulares da Constituição em todos os seus Poderes-, e, notadamente sociais, quando a organização civil é base de força e movimento para a realização do interesse coletivo. Enfim, é na comunicação limpa desses sistemas quem se pode falar em ampliação da democracia contemporânea. Desde a crise do Estado Social10, que culminou com a incapacidade do Estado em cumprir com as funções essenciais que lhe eram imanentes, houve a necessidade de atribuir diretamente a organismos sociais o desempenho de tais atividades. Contemporaneamente permanece a essência do Estado Social, todavia, integrado na civilização ocidental, tornado-se 9 Apenas para delinear melhor os conceitos ora estabelecidos, e sem o condão de abordar fortemente a matriz lhumaniana, entende-se por sistema a forma de uma diferenciação, possuindo, pois, dois lados: o sistema (como o lado interno da forma) e o ambiente (como o lado externo da forma). Somente ambos os lados constituem a diferenciação, a forma, o conceito. O ambiente, pois, é tão importante para esta forma, tão indispensável, quanto o próprio sistema. Como diferenciação a forma é fechada. [...] tudo o que se pode observar e descrever com esta diferenciação pertence ou ao sistema ou ao ambiente (LUHMANN, 1997. p. 78). 10 Sobre a crise do Estado Social refere Leal que, este processo tem suas origens ainda no começo do século XX, quando, diante das flagrantes desigualdades geradas pela noção de igualdade jurídica deixada entregue ao livre desenvolvimento do mercado, começam os movimentos sociais a reclamar uma atuação mais forte por parte do Estado, no sentido de regulação de certas distorções provocadas pelo modelo anterior. Surge, assim, um novo modelo estatal, denominado Estado de Bem-Estar Social (ou Welfare State), orientado por um novo entendimento do princípio da igualdade, que deixa de ser compreendido meramente sob a perspectiva formal para converter-se em elemento material, isto é, ele não se entende mais realizável senão mediante a igualdade social, o que quer dizer que a igualdade não se dá tão somente perante a lei, mas, fundamentalmente, através dela. (p. 31) Não se trata, todavia, de uma renúncia ao Estado de Direito, mas sim de dar a este um conteúdo econômico e social, no sentido da democracia social. Ambos, Estado de Direito e Estado de Bem-Estar Social, são tidos como compatíveis. Cf. HELLER, Hermann. Staatslehre. 6. Auflage. Tübingen: MOrh, 1983, pp. 217 et seq (2007, p. 30-31, Rod, 91) . 69 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I impossível a realização dos valores condensados constitucionalmente através da atuação monopolista do Estado, do que se denota o novo perfil- democrático- de Estado, como assinala Santos: A crise do Estado desenvolvimentista coincidiu com a transição democrática no final da década de 1970. Na época, o debate político colocou a democratização na vida política brasileira e a efetiva construção da cidadania no próprio centro da agenda política nacional. A esse respeito, as preocupações surgidas nos debates que conduziram à Constituição de 1988 puseram a tônica dos direitos de cidadania, na descentralização política e no reforço do poder local ( 2003, p. 459) . Desde a década de oitenta há notória modificação na organicidade do Estado em relação a sua posição de provedor do social. As mudanças na sociedade são muitas e acontecem velozmente, de maneira que passa a ser inconcebível o apego ainda enraizado ao legalismo, ao formalismo ou mesmo à espera de resoluções de conflitos à base de uma realidade estática. Se a sociedade está ágil, mais aceleradas terão de ser as respostas governamentais, a fim de se equalizarem demandas sociais urgentes aos programas de políticas públicas11. O novo modelo de Estado como gestor público, com o advento do perfil democrático, assume variáveis que abrangem a discussão da Teoria Constitucional- notadamente na Constituição de 198812, que recepciona tal perspectiva - e, também, às transformações que vêm ocorrendo na contemporaneidade, como o processo de globalização e a efervescência do capitalismo13. A burocratização14 dos serviços impediu a universalização do acesso. Falta 11 As políticas são chamadas de públicas, quando estas ações são comandadas pelos agentes estatais e destinadas a alterar as relações sociais existentes. São políticas publicas porque são manifestações das relações de forças sociais refletidas nas instituições estatais e atuma sobre campos institucionais diversos, para produzir efeitos modificadores da vida social. São políticas publicas porque empreendidas pelos agentes públicos competentes, destinadas a alterar as relações sociais estabelecidas. Evidentemente, tratando-se de ações promovidas pelo agente público, destinadas à sociedade, as finalidades destas políticas serão sempre- para serem aceitas pelo direito – em função do interesse coletivo (DERANI, 2002, p. 239). 12 Com esse contributo material de visão pluralista é que se realçam alguns dispositivos da Constituição de 1988 decorrentes do Parágrafo único do art. 1º - consagrador da democracia participativa - que atribuem responsabilidade ao povo e garantem sua efetiva participação na formação da vontade política do Estado, tais como o Art 5º, XXXIV, Art 5º, LXX, Art 5º, LXXIII, Art. 31, § 3º, Art. 37, § 3º, Art. 61, caput e § 2º, Art 74, § 2, e assim são muitos outros os artigos constitucionais que prelecionam a possibilidade de material de inserção do cidadão da administração de seu destino, notadamente quando a hermenêutica reconhecedora da historicidade do mundo da vida é enaltecida no processo de interpretação. 13 El sistema neocapitalista se centra en torno a la economía de mercado, a la que considera como el marco más adecuado para acrecer la productividad, asegurar la innovación tecnológica y satisfacer las necesidades de consumo con las máximas posibilidades de elección por parte de los consumidores. Sin embargo, los economistas neocapitalistas reconocen que la libertad de mercado ha de sufrir las limitaciones necesarias para eliminar sus efectos disfuncionales tanto de naturaleza social como económica (GARCÍA-PELAYO, 1996, p 71/72) . 14 Em que pese a sempre atual – e necessária –releitura acerca do tema, neste estudo é importante realçar que a burocratização weberiana – calcada no formalismo, na especialidade e na hierarquia – a qual a Reforma do Estado de 1995 tanto quis enfrentar (a bem de uma melhor eficiência na prestação dos serviços públicos), ainda pode ser atual. Todos os órgãos públicos, diretos e indiretos, permanecem altamente burocratizados e hierarquizados, a ponto de haver um abismo entre o menor setor de uma Agência e o usuário do serviço. São 70 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I realização de políticas públicas que efetivamente possibilitem o serviço de maneira a atingir a todos, na medida de suas necessidades. Apenas para referir, a falta de políticas públicas do Executivo acabou sobrecarregando o Judiciário, tornando-o protagonista na judicialização dos direitos socais no país nessa quadra da história. Assim, na possibilidade de alguém sentir-se vilipendiado na minoração de seus direitos busca no Poder Judiciário a realização dos valores que o sistema atribuído aos três Poderes, não consegue suprir. Isso ocorre a todo o momento na questão das políticas de inclusão social, na ausência de remédio na rede pública de saúde, na falta de eficiência na prestação de um serviço público, enfim, há uma lista inimaginável de afetamentos que sucumbem, hoje, ao Judiciário resolver. Ao se a questionarem os limites para a obtenção de medidas concretizadoras à democracia, reconhecidas constitucionalmente e, em não havendo ensejo à atendê-las, passam os Poderes Legislativo, Executivo e o Judiciário a fazê-lo. Na exploração desses limites adentrar-se-á na questão da cidadania perfilada na atualidade, como contraponto ao enfoque que o tema permite, mas que, sobretudo como liame principal entre o que se sabia acerca do Estado – formal e longínquo do cidadão - para o Estado que se busca hoje – mesmo não ainda concretizado-, ou seja, um Estado que permita uma soberania popular muito além do voto. 3 A nova cidadania e a interlocução entre Estado e sociedade no cenário da democracia contemporânea Muito antes do nascimento da democracia, o modelo de sociedade original era formado pela precedência do todo às partes, ou seja, a ideia de sociedade individualista é produto artificial da modernidade15. Os grupos e não os indivíduos são os protagonistas da vida política numa sociedade democrática, na qual não existe mais um soberano, o povo ou a nação, composto por indivíduos que adquiriram o direito de participar direta ou indiretamente do governo, mas apenas o povo dividido de fato em grupos contrapostos e concorrentes, com a sua relativa autonomia diante do governo central (BOBBIO2004, p.36). tantos os empecilhos formais que impedem o cidadão de reclamar ou fiscalizar, enfim, de ser ouvido, que é nesse nicho que pousa a crítica constante aqui sobre impossibilidade de uma realização adequada do serviço público. 15 E foi resultante de três eventos que, ao mesmo tempo em que abandonaram a concepção orgânica, determinaram a construção de uma não inserção do viés coletivo em seu cerne. A primeira foi o contratualismo do Seiscentos e do Setecentos; depois, o nascimento da economia política, vale dizer, de uma análise da sociedade e das relações sociais cujo sujeito é ainda uma vez o indivíduo singular, e por fim, a filosofia utilitarista de Bentham a Mill, que se utiliza de conceitos absolutamente individualistas para fundar uma ética objetivista (BOBBIO, 2004, p.34). 71 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I As principais correntes do pensamento contemporâneo dão centralidade ao papel do direito e da cidadania16 na construção de um Estado democrático, na medida em que a visão coletiva da sociedade trouxe a busca não apenas do gozo dos direitos por todos, indistintamente, mas, sobretudo, mas deu vazão à possibilidade da conquista de novos diretos, como coloca Vieira, [...] a democracia não é apenas um regime político com partido e eleições livres. É sobretudo uma forma de existência social. Democrática é uma sociedade aberta, que permite sempre a criação de novos direitos [..] Num Estado democrático, cabe ao Direito o papel normativo de regular as relações interindividuais, as relações entre indivíduos e o Estado, entre os direitos civis e os deveres cívicos, entre os direitos e deveres da cidadania, definindo as regras do jogo da vida democrática. A cidadania poderá, dessa forma, cumprir um papel libertador e contribuir para a emancipação humana, abrindo “novos espaços de liberdade” (1998, p. 41) Passa-se a se identificar a cidadania17 com a cidadania passiva, isto é, ser cidadão significa ser sujeito de direitos e deveres; trata-se de uma cidadania civil, extensível a todos os indivíduos – considerados isoladamente – indistintamente (LEAL, 2007, p.16, rod. 39). Todavia, ao se evidenciar o possível papel libertador citado no texto acima, a possibilidade de participação dos cidadãos no exercício de decisão pública, chamado de cidadania ativa. Para Julio-Campuzano, o perfil do cidadão está se transformando, [..] o status jurídico do cidadão está sendo definindo, talvez porque o modelo sobre o qual havia se concretizado tornou-se anacrônico. Já nãos valem as fórmulas abstratas nem as estruturas centralizadas de poder: já não servem os direitos indiferenciados que mutilam as derivações sociais da individualidade. [..] A pluralidade e a complexidade de nossas sociedades e dos processos que se desenvolvem já não são facilmente reconduzíeis ao esquema arquétipo desse estatuto monista da cidadania(2008, p. 44/45). Ocorre que, contemporaneamente, a cidadania tem um papel emancipador mais forte que aquele adquirido na modernidade. As transformações de mundo, político, social, e juridicamente, fizeram a busca da sociedade – plural e multifacetada – focar num papel protagonizador e, evidentemente, mais inclusivo nas decisões públicas que lhe possam lhe atingir. Para que haja uma interlocução comunicativa entre Estado e sociedade, o cidadão ativo coloca-se como sujeito de direito e participa diretamente no processo de deliberação 16 Sobre considerações fundamentais acerca da cidadania, Leal discorre que, a partir de uma perspectiva doutrinária, desde T.S. Marchall, os três elementos articuladores da cidadania moderna seriam os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, isto porque eles alcançariam os espaços de atuação mais corriqueiros e fundamentais da cidadania moderna e contemporânea, a partir dos quais há a proliferação de tantos outros direitos quantos as complexas relações sociais vão construindo (LEAL, 2007, p. 190/191) . 17 Uma das categorias políticas centrais da modernidade é, sem qualquer dúvida, a cidadania. O cidadão como centro de atribuição de faculdades e imputação de direitos é, certamente, o elemento nuclear da articulação das relações entre política e direito nos Estados nacionais (JULIOS-CAMPUZANO, 2008, p. 42). 72 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I sobre as demandas sociais - como, por exemplo, na definição acerca das prestações de serviço público -, bem como se insere nas discussões acerca dos problemas sociais, criando possíveis respostas às demandas existentes. Sobre a expectativa de se manter a comunicação, depende da improvável receptividade em conteúdo, bem como os fatores de interesse que nem sempre são equitativamente considerados. Assim, é improvável a certeza de uma via comunicativa na possibilidade de se estar diante de uma complexidade anunciada, quer seja pela falta de comunicação, quer pela sua ausência. Ainda há que se considerar as diferenças e dificuldades na realização dessa cidadania, como observa Leal: Quero dizer que a relação democrática entre Poder Público e Sociedade não implica faciliaddes para um ou outro, pelo simples fato de que – na maioria das vezes – há diferenças abissais entre projetos e concepções de vida, justiça, igualdade, liberdade, etc., fazendo com que cada demanda social se apresente como uma batalha no campo político, econômico, cultural e ideológico. Se este cenário vem marcado por tais relações de complexidade, ao menos ele se apresenta informado por outros inéditos pressupostos, fomentadores de regras axiológicas e deontológicas compromissadas com a aquela democracia (2009, p. 19). Em tempo, há a necessidade de espaços públicos de participação social onde a comunicação entre Estado e sociedade seja mais limpa, sem a linguagem truncada dos tecnoburocratas. A questão do controle social também passa pela comunicação, que se abre na busca pela transparência na gestão dos bens públicos. A sociedade precisa ser protagonista de sua história, todavia, sem o desprezo dos órgãos estatais. A modificação de alguns hábitos rançosos contribui, igualmente, para a mudança de paradigma em relação a tal distanciamento, como a uma maior participação do cidadão em audiências públicas e conselhos já apontam caminhos de possíveis interlocuções. Desta forma, a teoria da comunicação habermasiana, por exemplo, pressupõe uma rede de processos comunicativos, tanto dentro quanto fora do complexo parlamentar e dos seus corpos deliberativos18, sustentando a existência de palcos (espaço público) dialogicamente discursivos em que ocorre a formação da vontade e da opinião democráticas (LEAL, 2007, p. 182). Para Habermas, A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomada de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são 18 Ao postular um princípio de deliberação amplo, Habermas recoloca no interior da discussão democrática um procedimentalismo social e participativo,estabelecendo uma cunha na via que conduziu de Kelsen a Schumpeter e Bobbio. De acordo com essa concepção, o procedimentalismo tem origem na pluralidade das formas de vida existentes nas sociedades contemporâneas. Para ser plural, a política tem de contar com o assentimento desses atores em processos racionais de discussão deliberação (SANTOS2003, p.53). 73 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. Do mesmo modo que o mundo da vida tomado globalmente, a esfera publica se reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas o domínio de uma linguagem natural (2003, p.94) Significa dizer que é precisamente o fluxo de comunicação que evolui desde o plano da formação da opinião pública, através de discussões racionais orientadas para o entendimento mútuo, passando pelas eleições democráticas, reguladas por procedimentos que garantem a sua validade e legitimidade democráticas, até ao nível das eleições políticas, em forma de lei ou outras deliberações gerenciais e exclusivas, que assegura que a opinião pública e o poder comunicativo sejam convertidos em poder administrativo, através, justamente, do Direito (LEAL, 2007, p. 183). O exercício coletivo do poder político social possui base num processo de livre apresentação de razões entre iguais, ou seja, a proposta aqui nesse breve estudo foi de levantar a possibilidade – existente – de os atores sociais possuírem certo grau de inserção nas deliberações públicas. A possibilidade de abertura necessita vir conjugada a uma transformação latente em todos os segmentos. A sociedade necessita romper com uma cultura de não participacão nas discussões que lhe atinjam, enquanto ao Estado cabe possibilitar mais notoriamente veículos de comunicação com os cidadãos, a bem dos serviços públicos, por exemplo, nas Agência Reguladoras, que estão cada vez mais burocratizadas e hierarquizadas – distantes demais da possibilidade de qualquer fiscalização ou ouvida dos usuários ou de representantes da sociedade que possam transmitir as reclamações de parte dos cidadãos insatisfeitos. A globalização do homem e do mundo19, para Carducci, não sugere, talvez, uma comunidade universal que compreenda em si mesma todas as comunidades particulares nas quais o conceito de cidadania e a demanda da participação à distribuição dos bens sociais possam estar subordinadas (2003, p. 37), mas denota-se um projeto moderno cuja perspectiva é uma cidadania universalista, que possa intensificar de muitas maneiras a aproximação o Estado das necessidades locais, bem como das demandas que evocam as necessidades globalmente reivindicadas pelos cidadãos. 4 Considerações Finais 19 Sobre a questão da globalização, interessante citar Dawbor , quando o autor coloca que o processo transferiu para o espaço planetário uma série de processos de transformação social e econômica, sem que haja um governo mundial: gera-se assim um amplo espaço de perda de governabilidade, que se manifesta no sistema desenfreado de especulação financeira internacional, na pesca predatória mundial que está exterminando a vida nos mares, no sistema mundial de tráfico de drogas, armas, produtos radioativos e outros, reduzindo no conjunto a capacidade de governo dos Estados nacionais (DAWBOR, 2001, p. 19) . 74 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O artigo trabalha a questão da relação entre Poder Público e sociedade no Estado contemporâneo, notadamente no que tange a questão da cidadania ativa e a interlocução entre Estado e cidadão. Discorre-se acerca da nova cidadania que possibilita uma maior participação social, através de espaços públicos de ouvida à comunidade. Tais ligações podem dar-se através de sindicatos, movimentos sociais, conselhos e outros. Somente com algum grau de ingerência nas deliberações públicas é que de fato, a sociedade terá interlocução com o Poder estatal nas questões que lhe afetam, dando relevo pertinente à complexidade das demandas sociais Para que realize um Estado Democrático de Direito é necessário que haja um conceito mais abrangente de sociedade, igualmente Democrática de Direito. Todavia, para que tal ideia se concretize, fundamental não somente oportunidades materiais que se oportunize a gestão da comunidade, mas, principalmente, formulas e práticas, sensibilização e mobilização dos indivíduos e das corporações à participação, através de rotinas e procedimentos didáticos que levem em conta as diferenças e especificidades. Não há respostas hígidas para o entrechoque de questões que povoam as discussões sociais, entretanto, é notório que as respostas aos conflitos não provêm mais exclusivamente das leis, como queriam os liberais e nem tampouco é possível prever os conflitos aguardando um rol de direitos que possam abranger a todas as súplicas sociais. Só se pode pensar em cidadania ativa a partir de condições objetivas e subjetivas de interação e interlocução com o Estado, para que as pessoas não apenas saibam que existem oportunidades de participação no poder decisional, mas mais do que isso, que passem a acreditar nelas e busquem participar ativamente considerando que as decisões coletivas devem ser objetivas na busca da concretização do bem comum. 5 Referências BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004. CARDUCCI, Michele. Por um direito constitucional altruísta. Col. Estado Constituição. vol. 2. Trad. Sandra Regina Martini Vial. et.al. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva: elementos da filosofia constitucional contemporânea. 3.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 75 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I DAWBOR, Ladislau. A reprodução social. III- Descentralização e participação: as novas tendências. São Paulo: Vozes, 2001. DERANI, Cristiane. Privatização e serviços públicos: as ações do Estado na produção econômica. São Paulo: Max Limonad, 2002. GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial, 1996. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. Entre facticiadde e validade II. 2 ed. vol 2. Trad. Flávio Beno Siebeneicher. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. JULIOS-CAMPUZANO. Afonso de. Os desafios da globalização: modernidade, cidadania e direitos humanos. Col. Direito e Sociedade Contemporânea. Trad. Clóvis Gorczevski. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008. LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Jurisdição constitucional aberta: reflexões sobre a legitimidade e os limites da jurisdição constitucional na ordem democrática. Uma abordagem a partir das teorias constitucionais alemã e norte-americana. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007. LEAL, Rogério Gesta. A natureza social do serviço público no Brasil: aspectos introdutórios. Material elaborado especialmente para o Grupo de Estudos Estado, Sociedade e Administração Pública. Santa Cruz do Sul, 2009. ________. As potencialidades lesivas à democracia de uma jurisdição constitucional interventiva. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, vol. 1, n. 4, Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2006. ________. Esfera Pública e participação social: possíveis dimensões jurídico-políticas dos direitos civis de participação social no âmbito da gestão dos interesses públicos no Brasil. In: Administração pública compartida no Brasil e na Itália: reflexões preliminares. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2007. 76 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I LUHMANN, Niklas. O conceito de sociedade. In: NEVES, Clarissa Eckert Baeta; SAMIOS, Eva Machado Barbosa (Org.). Niklas Luhmann: A nova teoria dos sistemas. Porto Alegre: Editora da Universidade/Goethe-Institut, 1997. OST, François. O tempo do direito. Trad. Élcio Fernandes. Bauru: Edusc, 2005. SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Democratizar a democracia : os caminhos da democracia participativa. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. SANTOS, Boaventura de Souza. Orçamento participativo em Porto Alegre: para uma democracia redistributiva. In: In: Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. SANTOS. Boaventura de Souza (org). 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. SILVA, Eduardo Pordeus; STEIN, Leandro Konzen. Participação popular, capital social e políticas públicas de defesa do patrimônio cultural. Elementos e pressupostos para a construção de uma democracia deliberativa no município. Revista de Informação Legislativa. Ano 46, n. 182, Brasília, abril/junho 2009. STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do Estado. 2.ed. rev.ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 1998. 77 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I DEMOCRACIA DELIBERATIVA: ENTRE CRÍTICAS E POSSIBILIDADES* DELIBERATIVE DEMOCRACY: BETWEEN CRITICISM AND POSSIBILITIES Resumo O desencanto pelo funcionamento dos sistemas democráticos, a crescente despolitização dos governados e descolamento entre os cidadãos e seus representantes políticos, fez surgir, na década de 80, principalmente a partir das idéias de Jürgen Habermas, construções teóricas sobre a democracia deliberativa, em busca de um procedimento que, ao complementar a democracia representativa, seja capaz de conferir maior legitimidade às decisões políticas. O presente trabalho objetiva traçar as idéias centrais da concepção de democracia deliberativa, corrente de pensamento que, embora não seja homogênea, tem como ponto central a aposta nas relações calcadas no diálogo para assuntos de interesse coletivo. A partir das ideias de Jürgen Habermas, busca-se explicitar os fundamentos teóricos da democracia deliberativa, para, em um segundo momento, abordar as principais críticas opostas ao pensamento exposto, como, por exemplo, a inviabilidade de implementação em países periféricos, o caráter de idealidade inatingível ou a negação do caráter conflitivo do direito. Por fim, são esboçadas possíveis respostas para as objeções levantadas, a partir da reflexão habermasiana. Palavras-chave: democracia deliberativa; participação política; pluralismo político e diálogo. Abstract The disenchantment of the functioning of representative democratic systems, the depoliticization of the governed and detachment between citizens and their political representatives, gave rise, in the 80s, mainly from the ideas of Jugen Habermas, theoretical constructs about deliberative democracy, in search of a procedure that, to complement representative democracy, could be capable of conferring greater legitimacy to policy decisions. This paper aims to outline the central ideas of the concept of deliberative democracy, a current of thought that, although not homogeneous, has as the centerpiece the dialogue to build collective interest. From the ideas of Jürgen Habermas, seeks to clarify the theoretical foundations of deliberative democracy, for, in a second stage, address the main criticisms opposed to the thought above, as, for exemple, the impossibility of implementation of deliberation in peripheral countries, the character ideality of unattainable or denial of conflictive character of law. Finally, are outlined possible responses to the objections raised, from reflections of the ideas of Habermas. Keywords: deliberative democracy; political participation; political pluralism and dialogue. * Artigo elaborado por Francielle Pasternak Montemezzo, mestranda em Direito do Estado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná e Saulo Lindorfer Pivetta, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. 78 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 1. Considerações iniciais Como é possível alcançar a justiça nas sociedades plurais contemporâneas? A filosofia política vem se debruçando há décadas sobre essa pergunta, com vários autores oferecendo respostas diferentes. Este trabalho tem por objetivo desfiar algumas das ideias centrais de uma das concepções do justo – a corrente dos chamados “deliberativos”, ou “procedimentalistas”, como é comum encontrar em textos sobre o tema. Em suma, os adeptos deste pensamento rejeitam a estruturação de um sistema de justiça lastreado em critérios substantivos sobre a “vida boa”, apostando no fortalecimento de mecanismos que viabilizem o exercício de relações intersubjetivas calcadas no diálogo. É nesse campo, geralmente, em que se trava a disputa entre substancialistas e deliberativos.1 De antemão deve-se fazer a ressalva de que ao se referir a “deliberativos” não se está a falar de uma corrente homogênea de pensamento. Assim, para apresentar de maneira verticalizada os principais fundamentos que embasam este ramo teórico, o artigo centrará a reflexão nas ideias de um autor em especial: Jürgen Habermas. Tal escolha se deve ao fato de que sua construção intelectual sobre a matéria possivelmente seja a mais refinada, além de contar com significativa projeção na produção bibliográfica de inúmeros autores, nacionais e estrangeiros. Assim, suas ideias constituirão o fio condutor da análise, procurando-se, na medida do possível, dialogar com outros autores que, ainda que de maneira não expressa, compartilham dos ideais deliberativos. O desenvolvimento do texto tem a seguinte estrutura: o item 2 investigará os principais fundamentos do pensamento de Jürgen Habermas para, então, esboçar alguns elementos que permitam caracterizar a concepção deliberativa de justiça. No item 3 serão abordadas as críticas usualmente opostas a essa vertente. Ainda no terceiro ponto analisar-se-á como é possível responder a tais objeções a partir da reflexão habermasiana. 2. Pressupostos e fundamentos do pensamento deliberativo 2.1 Moralidade pós-convencional e a ética do discurso Uma questão inicial de suma importância para a compreensão da teoria habermasiana é sua constatação de que, na modernidade (vale dizer, desde fins do século XVIII), a tradição 1 Sobre as diferenças entre deliberativos e substancialistas (das vertentes comunitária e liberal), cf. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva: elementos da filosofia constitucional contemporânea. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 79 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I e as cosmovisões não se mostram mais capazes de legitimar qualquer sistema de regramento das ações humanas. Com isso, a história substitui as interpretações religiosas e metafísicas – aponta Habermas que apenas os cidadãos, através de discussões públicas, podem chegar a um entendimento sobre qual o modo de vida pretendem assumir, ou sobre quais tradições devem ser mantidas. Discursos ético-políticos, portanto, são inevitáveis para que seja forjada uma identidade coletiva que, ao mesmo tempo, não simbolize a aniquilação das subjetividades em particular.2 Como não subsistem mais (ao menos na maior parte do mundo ocidental) elementos metafísicos imunes à crítica, irrompem inúmeros projetos razoáveis de vida individuais, assim como coexistem variadas formas coletivas de convivência. Liberais, comunitaristas e deliberativos corroboram isso.3 O debate coloca-se, então, em como assegurar uma sociedade justa, a despeito do “fato do pluralismo”.4 A vertente liberal assevera que, a despeito do pluralismo, é possível encarar a justiça como imparcialidade. De acordo com Rawls, as diversas formas de “bem” podem conviver harmonicamente com o “justo”. De maneira sintética, isso ocorre através da ideia de “desacordo razoável”, pois, apesar de se admitir que pessoas razoáveis divirjam sobre a natureza da vida digna, é possível identificar princípios de associação política voluntária aos quais todos aceitam submeter suas próprias concepções de vida digna.5 Rawls, por exemplo, acredita que tais princípios podem ser definidos através de um procedimento racional, supondo que todos os cidadãos estivessem cobertos pelo “véu da ignorância”.6 De outra sorte, os comunitaristas, criticando as posições liberais, argumentam que a pluralidade deve ser encarada sob a perspectiva da tolerância. Confere-se prioridade à comunidade em relação ao indivíduo, pois este é encarado como um produto de sua própria realidade cultural. A existência de formas plurais de vida reflete a cultura fragmentada da sociedade liberal. A partir disso, se um consenso definitivo é inalcançável, é a tolerância que impõe a política democrática como prática permanente. Assim, cabe a cada comunidade 2 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade (trad. Flávio Beno Siebeneichler). Vol. I. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 130-131. 3 Sobre o embate entre liberais e comunitaristas, cf. GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política (trad. Alonso Reis Freire). São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 153 e ss. 4 GONÇALVES, Nicole P. S. Mäder. Jurisdição constitucional na perspectiva da democracia deliberativa. Curitiba: Juruá, 2011, p. 288. 5 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 84. 6 RAWLS, John. Uma teoria de justiça (trad. Jussara Simões e Álvaro de Vita). 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 165 e ss. 80 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I política historicamente considerada determinar as formas aceitáveis de vida. De qualquer modo, esse constante confronto entre valores e convicções deve ser promovido sem prejuízo da tolerância.7 Habermas, dialogando com essas duas correntes, defende uma terceira alternativa: é possível ser imparcial em relação aos diferentes modos razoáveis de vida, bem como em relação aos valores compartilhados por determinadas comunidades específicas. O filósofo alemão fundamenta sua reflexão através das noções de moral pós-convencional e de ética discursiva, de modo a interligar os interesses individuais e as perspectivas comunitárias ancoradas em valores compartilhados.8 A moralidade pós-convencional, diferentemente da moralidade convencional (que se amparava em justificações inquestionáveis, como a tradição ou a religião), impõe que tanto as concepções individuais sobre a vida digna como os valores, costumes e tradições de uma forma de vida concreta sujeitem-se a uma exigência comum: ambos estão obrigados a expor razões capazes de sustentar sua validade social (já que não se autojustificam, como no passado).9 Nessa esteira, expõe Habermas que a tradição política liberal acaba por valorizar o “momento moral cognitivo”, erigindo direitos individuais que seriam a expressão de uma autodeterminação moral. Por outro lado, as tradições comunitárias valorizam o momento ético-voluntário, alçando a soberania popular como expressão de uma autorrealização ética da comunidade. Para o pensamento habermasiano, essas correntes acabam por visualizar de maneira concorrente elementos que são, em verdade, complementares e cooriginárias (direitos e soberania popular).10 Não sendo possível optar por uma perspectiva em detrimento de outra, a moralidade pós-convencional exige a formação de uma ponte, a construção de um nexo entre o domínio estritamente individual sobre as concepções de vida digna (expressada normativamente através da ideia de direitos humanos), e o exercício comunitário da soberania do povo. Essa ponte é constituída através da ética discursiva, que simultaneamente se distancia de uma concepção solipsista (típica dos liberais) e de uma concepção coletivista de ética (como nos comunitários). Até porque, em Habermas, não existe um completo afastamento entre a manifestação individual das identidades e a conformação de valores sociais. Na 7 Sobre o tema, cf. WALZER, Michael. Da tolerância (trad. Almiro Pisetta). São Paulo: Martins Fontes, 1999. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 132. 9 CRUZ, Álvaro Ricardo de. Habermas e o direito brasileiro. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 90. 10 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 133. 8 81 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I verdade, tanto identidades individuais como identidades coletivas vão se constituindo por um processo de internalização de regras sociais que se transmitem comunicativamente por intermédio de costumes, valores e tradições. A inter-relação entre sujeito e sociedade, portanto, se opera mediante estruturas linguísticas – o que Habermas denomina de intersubjetividade.11 Com isso, a ética discursiva se distancia de qualquer noção subjetiva que possa assumir o conceito de ética, seja em relação às escolhas individuais sobre o bem (egocentrismo), seja em relação à intrassubjetividade de formas de vida compartilhadas (etnocentrismo).12 O pressuposto da filosofia habermasiana é o de que o indivíduo, no contexto da moralidade pós-convencional, é capaz de autorreflexão e crítica, o que o autoriza a exigir igualdade de tratamento e abertura para o diálogo. É a hermenêutica que representa o ambiente para a crítica e a autorreflexão; de outro lado, a pragmática constitui o espaço discursivo, que tem como núcleo central a possibilidade entendimento. Considerando superada a filosofia do sujeito, que pressupõe um indivíduo racional isolado, Habermas conjuga a hermenêutica e a pragmática – isto é, por meio de uma autorreflexão promovida no interior de um processo comunicativo – para constituir o mecanismo de formação racional da vontade.13 A moralidade de uma norma é fixada, assim, através do debate público. Portanto, as bases morais da sociedade não são mais fundadas através da intelecção de um indivíduo racional isolado – como pugna o liberalismo – nem através da identificação de tradições de uma sociedade concreta. É um acordo motivado racionalmente, mediante um procedimento discursivo, que sedimenta a validade moral de uma norma.14 A partir dessas considerações preliminares é possível avançar o debate para mais bem compreender a noção de justiça em Habermas. Para isso, é necessário tecer algumas considerações sobre a moral e o direito, questões centrais para a concepção deliberativa do justo. No cenário de moralidade pós-metafísica, as regras morais assim como as regras jurídicas distanciam-se da eticidade tradicional (embasada em visões metafísicas). Elas se apresentam como tipos diferentes de normas de ação, que surgem de maneira cooriginária 11 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 97. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 91. 13 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 93. 14 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Habermas e o direito brasileiro, p. 134. 12 82 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I (não há anterioridade lógica de nenhuma das normas – ou seja, normas jurídicas não são decorrentes de normas morais e vice-versa). Há, portanto, uma relação de complementação recíproca entre direito positivo e moral autônoma, sem que haja qualquer tipo de hierarquia entre eles.15 A diferença prima facie entre elas reside no caráter cogente do direito – que adquire obrigatoriedade no nível institucional, ao passo que a moral, em contextos pós-tradicionais, representa somente mais uma forma de saber cultural. Por outro lado, por se tratarem de normas de ação, ambas devem passar pelo crivo do princípio do discurso, que põe em evidência a exigência moral de fundamentação pós-convencional para que a norma possa ser considerada legítima.16 O princípio do discurso reflete, em termos normativos, a exigência da ética discursiva para a formação racional da vontade. Habermas o define nos seguintes termos: “Princípio D: são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais”17 O princípio geral do discurso (princípio D) é especificado no princípio moral e no princípio da democracia. O princípio moral se aplica àquelas normas que só podem ser justificadas do ponto de vista da consideração simétrica de todos os interesses. As normas morais, nessa esteira, dizem respeito às diversas concepções sobre a “vida boa”, sendo que, na ambiência pós-convencional, não há parâmetro substantivo para se definir quais seriam ou não válidas – também a validade das normas morais será fixada procedimentalmente.18 De outro lado, o princípio da democracia especifica o princípio do discurso para aquelas normas que são expressas na forma do direito. Basicamente, o princípio da democracia se destina a colmatar o procedimento de elaboração legítima do direito. Neste ponto Habermas deixa clara a relação de complementaridade entre direito e moral: em sociedades complexas, a moral apenas é dotada de efetividade, ou seja, passa a ter caráter obrigatório, se for traduzida para o código do direito.19 Através do princípio da universalidade (princípio U), que é decorrência lógica do princípio do discurso (princípio D), fica mais nítida a diferença existente entre justiça, moral e direito na perspectiva habermasiana. 15 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 141. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 141. 17 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 142. 18 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Habermas e o direito brasileiro, p. 143. 19 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 146. 16 83 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Habermas distingue as questões a respeito da “vida boa” (âmbito da moral) e do “justo” (âmbito da ética). Na moralidade pós-convencional, não existe uma forma de vida que possa demandar validade universal. No domínio da moral, portanto, impera um amplo pluralismo (incidência fraca do princípio da universalidade). Diferentemente, no domínio da ética (justo) vigora um forte universalismo, que compreende a determinação das regras imparciais destinadas a articular a convivência entre os diferentes interesses e visões de mundo, regras que são justificadas através de mecanismos discursivos. Trata-se, assim, de uma ética universalista da justiça20. Esta distinção entre o “justo” e o “bom” denota uma prioridade do primeiro: o conteúdo do justo, definido discursivamente, delimita os preceitos considerados pertencentes a um comportamento virtuoso e, dessa maneira, o “bom” resta delimitado pelo “justo”. A legitimação da moral e do direito, portanto, não decorre dos conteúdos das normas morais ou jurídicas, mas sim do procedimento através do qual são elas fixadas. É a própria racionalidade do procedimento que garantirá a validade de seus resultados. Com isso, é assegurada simultaneamente a coexistência de variadas formas de vida e a possibilidade de formação de acordos generalizáveis.21 Através da ética discursiva, o modelo habermasiano mantém a ideia de imparcialidade, pois estrutura um procedimento deliberativo mediante o qual os cidadãos podem decidir, racional e dialogicamente, sobre as concepções individuais de vida digna, bem como sobre as formas de vida coletivamente compartilhadas. Esta é a “terceira via”, que aproxima a imparcialidade do ponto de vista moral, tão cara aos liberais, bem como valoriza a política democrática como atividade permanente (de suma importância aos comunitários), mediante o qual o sistema permanece constantemente aberto à admissão de novos valores, novos argumentos, novas convicções.22 Na sequência se verificará como a ética discursiva articula a validade das regras procedimentais que viabilizarão que sejam equalizadas as concepções individuais e coletivas a respeito da vida digna, em outras palavras, como fixar o “justo” a partir das diversas concepções a respeito do “bom”. 2.2 O resgate da autonomia privada em conexão com a democracia radical: as bases para uma concepção deliberativa do justo 20 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho: sistema jurídico y democracia em Habermas. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, p. 111. 21 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho, p. 112. 22 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 96. 84 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A ética discursiva possui um caráter deontológico: somente através do procedimento deliberativo é possível solucionar conflitos normativos e estabelecer um acordo racional sobre a validade (legitimidade) das normas de ação.23 Habermas se propõe a explicar como, diante de uma disputa, é possível alcançar este acordo racionalmente motivado. Para isso, estrutura um modelo baseado na possibilidade de amplo e irrestrito diálogo, oportunizando a todos os cidadãos igual acesso, de modo a se alcançar ao final a vitória do melhor argumento. 24 Tal modelo se desenvolve no que Habermas denomina “situação ideal de fala”, de natureza estritamente contrafática, que se fundamenta em três exigências fundamentais: (i) a não limitação (quer dizer, não serão opostos impedimentos à participação); (ii) a não violência (inexistência de coações externas ou pressões internas); (iii) seriedade (os partícipes devem ter por objetivo atingir um acordo). Apesar de contrafático, o modelo possui função regulativa, pois viabiliza a comparação com os procedimentos adotados para a obtenção de um acordo concreto.25 O direito ocupa um papel de destaque na concepção deliberativa de justiça. Haveria uma verdadeira simbiose entre o direito moderno e a moral pós-convencional – tal relação decorreria de questões pragmáticas, porquanto não é possível a concretização de qualquer concepção ética sem um marco institucional sólido26. Mas, para que o direito seja legítimo e, portanto, justo, as instituições públicas de caráter coercitivo devem ser erigidas com base em 23 Na concepção de Habermas, os seres humanos, por serem dotados de capacidade crítico-reflexiva, podem não apenas agir baseados em interesses próprios, para a satisfação de determinados fins individuais (agir estratégico), mas também podem atuar voltados ao entendimento (agir comunicativo). O agir comunicativo seria típico das manifestações no âmbito do chamado “mundo da vida”, enquanto que o agir estratégico regularia a interação nos subsistemas sociais, caracterizada por critérios técnicos através dos quais é possível obter utilidades. É a partir da ideia de agir comunicativo que o autor constrói sua concepção sobre a própria razão humana (não mais centrada no sujeito, mas sim na capacidade de estabelecimento de vínculos comunicativos), essencial para a definição de seu modelo deliberativo de justiça. HABERMAS, Jürgen. Verdade e justificação: ensaios filosóficos (trad. Milton Camargo Mota). 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2009, p. 117 e ss. Ainda sobre o tema, cf. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 280-281. 24 De maneira aproximada, mas não idêntica ao modelo habermasiano, Carlos Santiago Nino defende que a discussão moral promovida de maneira intersubjetiva é o melhor mecanismo para se alcançar a cooperação e a evitar conflitos. Ainda, através de procedimentos legítimos seria possível a realização de um maior intercâmbio de ideias, pressionando-se a apresentação de justificativas coerentes, de modo que seja viabilizado o alcance de verdades morais (somente através de um processo dialógico os acordos sobre normas morais poderiam fundamentar determinado padrão social). Nesse sentido, o procedimento democrático teria valor epistemológico, pois seria o melhor método para a definição de princípios morais válidos. NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa (trad. Roberto P. Saba). Barcelona: Gedisa, 1997, p. 61. Ainda, cf. NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos: un ensayo de fundamentación. Barcelona: Ariel, 1989, p. 393-396. 25 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 112. 26 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática, p. 317. 85 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I pressupostos éticos. Em sociedades complexas, a legalidade apenas pode reclamar legitimidade se os procedimentos formais, diante de certas condições institucionais existentes, puderem satisfazer exigências de justiça material.27 Portanto, não é simplesmente a forma do direito que legitima o exercício do poder político, mas sim a conexão da política com o direito legitimamente estatuído.28 Esta é a tensão entre faticidade e validade, ou seja, como surge do princípio da legalidade (normas positivadas no ordenamento) a sua validade (já que as visões tradicionais não mais o legitimam)?29 No modelo racionalista habermasiano, esta tensão se resolve justamente através da institucionalização jurídica de formas dialógicas, mediante as quais pode o direito canalizar os discursos de fundamentação das normas jurídicas. Torna-se necessária, assim, a abertura sistêmica30 do direito em relação aos demais sistemas sociais, o que ocorre, em seu esquema teórico, através do princípio da democracia.31 O princípio da democracia representa o filtro capaz de absorver as linguagens dos demais sistemas sociais (política, economia, moral etc.) e transformá-las legitimamente em lei (forma de direito). Para isso, o resultado do processo deliberativo deve encontrar o assentimento de todos os participantes do debate.32 Mas não é qualquer procedimento capaz de legitimar a produção do direito.33 Habermas identifica dois elementos que aparecem como pressupostos para que o ordenamento jurídico queira reclamar a condição de legítimo: direitos humanos e soberania popular. 34 A sedimentação histórica destes dois pilares simboliza o surgimento de uma moralidade universal – no esquema habermasiano, direitos humanos e soberania popular refletem uma conquista moral irrenunciável do gênero humano. Contudo, para que possa se tornar 27 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho, p. 143-144. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 172 29 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 115. 30 Diferentemente de Luhmann, Habermas não encara o direito como sistema voltado apenas à estabilização social. Para este último, o direito consistiria num sistema especial, diferenciado, mediante o qual poderiam ser captadas diferentes linguagens dos sistemas parciais (político, econômico, científico), que filtrados pelo princípio do discurso erigiriam o direito legítimo. HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio (trad. Vamireh Chacon). 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002, p. 172. 31 GONÇALVES, Nicole P. S. Mäder. Jurisdição constitucional na perspectiva da democracia deliberativa, p. 296. 32 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 146. 33 Para uma concepção crítica sobre o modelo habermasiano de legitimação intersubjetiva do direito, cf. GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno (trad. Irene A. Paternot). São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 485-490. 34 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 137. 28 86 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I efetivamente universal, a linguagem dos direitos humanos deve abrir mão de suas conotações mais ocidentais para incluir elementos oriundos de outras culturas.35 Ainda, soberania do povo e direitos humanos possuem um nexo interno, que se expressa no conteúdo normativo de um modo de exercício da autonomia política, através do qual é possível a formação discursiva de uma decisão racional. Em outras palavras, esse nexo interno somente será construído se o sistema de direitos positivado assegurar as condições necessárias para o exercício de diálogos voltados ao entendimento.36 A relação intrínseca entre direitos humanos e soberania equivale à relação existente entre autonomia privada (assegurada pelo sistema de direitos) e autonomia pública (sedimentação dos procedimentos de produção válida do direito). Habermas promove a reconstituição lógica do surgimento do sistema de direitos. Ele parte do caráter pós-metafísico da cultura moderna (moralidade pós-convencional), que constitui a base material das formações sociais em que os direitos tomam corpo. Dessa base material extraem-se dois ingredientes fundamentais: (i) a forma jurídica das normas (enquanto meio de integração e coordenação social historicamente comprovado como imprescindível); (ii) o princípio discursivo (atuando como critério de justificação e fonte de legitimação social). Estes dois elementos direcionam para o direito a faticidade (potencial de força coercitiva das normas jurídicas) e a pretensão de validade intersubjetiva. Todo ordenamento incorpora a tensão estes elementos. O princípio discursivo fornece as bases para a aceitabilidade racional das normas elaboradas, mas é apenas através da linguagem do direito (forma jurídica) que elas poderão fazer circular na sociedade mensagens de cunho normativo. No momento em que o princípio discursivo adquire a forma jurídica, ele se transforma no princípio democrático.37 A partir dessa reconstrução conceitual, Habermas obtém, através de dedução lógica, as categorias de direito que, in abstrato, devem ser positivadas. O autor identifica as seguintes categorias: (i) os direitos a iguais liberdades subjetivas; (ii) os direitos que resultam do status de membro de uma associação voluntária; (iii) os direitos a igual proteção legal; (iv) direitos políticos de participação; (v) e os direitos de bem-estar e segurança sociais que tornam possível a utilização dos demais direitos. Não haveria direito legítimo sem estes direitos.38 35 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho, p. 151. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 138. 37 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho, p. 157-160. 38 Para uma análise pormenorizada do sistema de direitos, cf. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 159 e ss. 36 87 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Deve-se ressaltar que tal sistema não representa um conjunto de direitos que constituem um sistema supralegal, de observância obrigatória pelas legislações positivas. É justamente nas constituições de comunidades específicas que esses direitos assumirão uma conformação concreta. Ademais, em sociedades pós-convencionais, onde não mais vigoram sólidas comunidades étnicas ou culturais, são as próprias constituições que, ao incorporar um sistema de direitos, pode delinear uma “nação de cidadãos”. Este é o pressuposto para Habermas formular sua concepção de “patriotismo constitucional” como única modalidade pós-tradicional de conformação de identidades coletivas.39 Por outro lado, ao assegurar os procedimentos para a formação de decisões racionais, Habermas busca assegurar a efetivação da ideia, que ele reconstrói a partir da perspectiva republicana, de “democracia radical”. Ou seja, pelo princípio da soberania popular vincula-se a competência de legislar a uma compreensão democrática de produção de decisões coletivas, superando-se assim um sistema de validação autorreferencial do direito. O modelo habermasiano de democracia implica um procedimento ideal de deliberação, que deverá se refletir ao máximo possível nas instituições concretas. Através dele introduz-se uma racionalidade prática na política, na medida em que são institucionalizados juridicamente mecanismos que viabilizam uma práxis deliberativa. Transporta-se, assim, para o político, a teoria da ação comunicativa. Com essa passagem, a pretensão de universalidade, embora não se anule, traduz-se na exigência de participação efetiva dos cidadãos, que deve ser regulada pelo direito positivo.40 Habermas pressupõe uma sociedade plural, organizada informalmente como sociedade civil, em cujo seio se desenvolvem vários e heterogêneos foros de discussão. O fluxo de informações deles resultante deve ser canalizado e filtrado (sem que sejam desviados ou estancados), até que finalmente desemboquem nas instituições com poder de decisão. Esse é o modelo de política deliberativa41, que se estrutura através de procedimentos democráticos irrigados por fontes espontâneas de comunicação (fortalecimento de uma esfera pública de 39 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 177. MORAIS, José Luis Bolzan de; NASCIMENTO, Valéria Ribas do. Constitucionalismo e cidadania: por uma jurisdição constitucinoal democrática. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 32. 41 Através de sua concepção sobre política deliberativa, Habermas reconstrói a noção de “sociedade aberta de intérpretes da Constituição”, de Pete Häberle, a partir do paradigma da razão comunicativa. Sobre o tema, cf. BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 3ª ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 114-115. Ainda, cf. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição (trad. Gilmar Ferreira Mendes). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997. 40 88 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I debate). A prática associativa dos cidadãos deve formar a base social desse modelo para que ele não se torne elitista e opaco.42 Habermas não desconhece os inúmeros obstáculos concretos à prática deliberativa (como a burocratização dos partidos políticos e a elitização dos meios de comunicação). Contudo, ressalta a necessidade de se fortaleceram os mecanismos de representação cidadã (partidos políticos, ONGs, referendos, consultas populares etc.), assim como a necessidade de se ampliar a proteção da consciência individual face às decisões coletivas (reconhecimento da objeção de consciência e da desobediência civil).43 O próximo tópico do trabalho será dedicado à apresentação das principais críticas opostas a esse modelo, com a apresentação posterior da “tréplica” a partir da concepção deliberativa de justiça. 3. Críticas à concepção deliberativa de justiça e suas possíveis respostas 3.1 As principais críticas Diversos textos criticam o modelo habermasiano. Até mesmo autores que podem ser considerados “deliberativos”44 discordam de alguns dos elementos da concepção de justiça de Habermas. A seguir elas serão apresentadas esquematicamente, com as respostas apresentadas posteriormente (item 3.2). Crítica 1: a concepção deliberativa não seria adequada a contextos em que se verificam altos níveis de exclusão social, pois pressupõe sociedades que já passaram por um processo de emancipação social, onde os cidadãos efetivamente gozam de autonomia. Tal crítica, entre outros, é formulada, no Brasil, por Lênio Luiz Streck45, para quem a teoria habermasiana pressupõe sociedades em que o Estado de Bem-Estar Social já estivesse consolidado. Assim, defende que as concepções de justiça devem ser analisadas a partir das especificidades desses países periféricos, que não superaram o Welfare State. Crítica 2: o modelo habermasiano seria utópico, entrando em choque com as condições reais de fala e de exercício da democracia. Como aponta Dussel, o sistema 42 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática, p. 300. VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho, p. 177. 44 Por “deliberativos” consideram-se os esquemas teóricos em que a concepção de justiça não é vista a partir de critérios substantivos (como os comunitaristas) nem através de procedimentos racionais intrassubjetivos (como é, por exemplo, o modelo rawlsiano da situação hipotética do “véu da ignorância”). Assim, elemento fundamental para a definição da concepção deliberativa de justiça é a definição de um procedimento intersubjetivo de formação da vontade política da comunidade. 45 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 142. No mesmo sentido, cf. CABRAL PINTO, Luzia Marques da Silva. Os limites do poder constituinte e a legitimidade material da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. 43 89 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I deliberativo habermasiano seria insuficiente, afastando-se da realidade concreta ao focar essencialmente em questões formais para a legitimação do procedimento de decisão. 46 Crítica 3: talvez a crítica mais comum e severa seja quanto à suposta desconsideração, pelo constructo de Habermas, do caráter essencialmente conflitivo do direito. Nessa esteira, os consensos pareceriam inviáveis, de modo que o procedimentalismo propugnado pelo filósofo não seria apto a fundar acordos intersubjetivamente compartilhados. Este ponto é criticado até mesmo por autores que adotam perspectivas deliberativas, como Chantal Mouffe47 e Jeremy Waldron48 e Carlos Santiago Nino49? 3.2 Possíveis respostas às críticas Crítica 1: o modelo deliberativo de justiça não seria adequado a países periféricos. Quanto a este ponto, deve-se esclarecer, de início, que Habermas não partia do pressuposto de que a ética discursiva seria cabível apenas em sociedades que já tivessem 46 O filósofo Enrique Dussel defende que a ética do discurso não seria capaz de, sozinha, fundamentar um sistema ético, na medida em que abdicaria de conteúdos materiais. O modelo habermasiano teria uma visão extremamente reducionista do nível material do que seria a vida boa. Assim, apesar de tentar aproximar-se dos problemas materiais que impedem o exercício da razão prática por grande parcela do ser humano, o aspecto essencialmente formal de se pensamento impediria analisar o problema em toda a sua extensão, ou seja, “a ignorância do princípio material da ética impossibilita o descobrir eticamente a impossibilidade da reprodução e o desenvolvimento da vida de cada sujeito humano em comunidade neste ou naquele sistema ético concreto, com conteúdos.” DUSSEL, Enrique. Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão (trad. Ephraim Ferreira Alves, Jaime A. Clasen, Lúcia M. E. Orth). 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 201. 47 A autora concorda que o pluralismo é um dado a ser considerado, de modo que as teorias de justiça devem articular a liberdade individual com o exercício da liberdade política. Contudo, discorda da possibilidade da formação de consensos racionalmente fundamentados. Igualmente, a autora se mostra contraria à ideia de um procedimentalismo puramente formal, distante de valores substantivos. Nesse sentido, Mouffe defende a instauração de uma democracia radical, em que mesmo os acordos razoáveis devem ser encarados como parciais e precários – ou seja, através dos procedimentos democráticos são alcançadas, no máximo, algumas posições de hegemonia, entrecortadas por posições antagônicas. MOUFFE, Chantal. O regresso do político (trad. Ana Cecília Simões). Gradiva: Lisboa, 1993, p. 174-176. 48 Jeremy Waldron critica a concepção de que o alcance do consenso, racional e intersubjetivamente motivado, deveria ser encarado como o procedimento deliberativo adequado. Ou seja, ainda que o consenso possa ser pensado como objetivo a ser perseguido, ele não pode constituir o elemento central do processo político de deliberação, que é marcado justamente pelo dissenso. O desacordo não representa, portanto, uma etapa a ser superada através de mecanismos dialógicos. Nesse sentido, o princípio da decisão majoritária mostrar-se-ia correto para a definição de um resultado justo. WALDRON, Jeremy. The dignity of legislation.New York: Cambridge University Press, 1999, p. 148. 49 Nino reconhece que consensos (decisões unânimes) são praticamente inviáveis. Por outro lado, como as decisões devem ser tomadas – e geralmente em pequenos espaços de tempo – o autor defende que o princípio majoritário deve orientar o processo democrático como forma de produzir decisões morais corretas. Contudo,o princípio majoritário, por si só, é insuficiente para assegurar a imparcialidade do debate. É preciso temperá-lo, portanto, com alguns requisitos para que a imparcialidade seja alcançada, como, por exemplo, a capacidade de intervenção de todos os possíveis afetados. NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa, p. 170. 90 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I alcançado níveis satisfatórios de efetivação de direitos fundamentais sociais. Como já demonstrado acima (item 2.1 do trabalho), a moralidade pós-convencional é um dos pilares que embasam o raciocínio do filósofo alemão: nas sociedades modernas vigora a chamada moralidade pós-convencional, já que não há mais concepção de vida que esteja imune a críticas; por isso, apenas uma ética discursiva é capaz de legitimar as opções da comunidade em relação às normas de ação (normas morais e jurídicas, especialmente). Tal premissa não é exclusiva dos países centrais – nos países periféricos igualmente se constata o fato do pluralismo. Assim, se verifica de antemão que o modelo habermasiano não impõe qualquer óbice à sua recepção em países que não concretizaram o chamado Estado Social de Direito. Por outro lado, ressalte-se que a reflexão de Habermas a respeito das diferentes manifestações estatais não era nada simplória. Em seus textos, conclui que a juridificação de direitos tem sido gestada ao longo dos últimos séculos, correspondendo à conformação de quatro modelos distintos de Estado: (i) institucionalização do Estado burguês (positivação de regras centrais de direito privado e público, com a instauração da sociedade capitalista); (ii) institucionalização do Estado burguês de direito (consagração constitucional de garantias individuais e do princípio da legalidade na administração pública); (iii) institucionalização do Estado democrático de direito (juridificação dos mecanismos democráticos de legitimação – universalização do sufrágio e direitos de participação); (iv) institucionalização do Estado democrático e social de direito (reconhecimento de direitos econômicos e sociais).50 Estas “jornadas” de juridificação não expressam uma evolução linear, muito menos “condições necessárias” para que seja possível a implantação de um modelo deliberativo de justiça. Pelo contrário, Habermas tem sérias ressalvas em relação a esse processo intenso de “juridificação”, que, para ele, pode ocasionar demasiada burocratização, com uma consequente sufocação das instâncias comunicativas da sociedade. Ainda, essa demasiada interferência do direito no “mundo da vida”51 produz outro resultado negativo: os direitos sociais podem deixar de ser efetivos diante da enorme burocracia envolvida em sua concretização.52 50 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 159 e ss. O “mundo da vida” consiste, resumidamente, na esfera da sociedade em que as pessoas se relacionam voltadas ao entendimento mútuo. É nele em que se realizam os processos de socialização e de conformação de elementos intersubjetivos de solidariedade coletiva. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 115. 52 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho, p. 137. 51 91 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Ou seja, Habermas estava plenamente ciente de que o mundo da vida poderia ser colonizado por outros subsistemas (como o econômico e o administrativo)53: cada vez mais o dinheiro e o poder administrativo estão invadindo a esfera de liberdade do cidadão, retirandolhe a possibilidade de definir ativamente os destinos da sociedade. Em suma, os cidadãos estão cada vez mais alienados, distantes dos centros de decisão. O projeto habermasiano busca justamente subverter esse estado de coisas: através da ética discursiva é possível inverter o influxo, pois com a estruturação de uma democracia radical podem os sujeitos retomar o controle de suas vidas e de suas comunidades, impedindo a colonização que é promovida pelo dinheiro e pela burocracia. Trata-se, por isso mesmo, de um modelo que busca emancipar o ser humano, livrá-lo das condições opressivas que lhe impedem de exercer autonomamente sua razão. Dessa perspectiva que deve ser compreendido o nexo interno existente entre direitos humanos e soberania do povo: Habermas identifica que, historicamente, esses dois elementos são indispensáveis para a conformação de um direito legítimo. Quer dizer, não há como cidadãos exercerem sua autonomia política sem que lhe sejam previamente asseguradas as condições de sua autonomia privada (que se expressam através de um sistema de direitos, dentre os quais os direitos sociais). O homem só pode ser livre para participar ativamente da formação da vontade política de sua comunidade se forem satisfeitos seus direitos sociais básicos (verdadeira précondição para o exercício da soberania popular). Por outro lado, os direitos sociais também são fruto do exercício da soberania, na medida em que cidadãos, reconhecendo-se mutuamente como iguais, hão de assegurar-se reciprocamente um sistema de direitos para que o ordenamento seja legítimo.54 Portanto, o modelo habermasiano mostra-se igualmente pertinente a países periféricos, pois além de não pressupor a realização plena do Estado Social de Direito, demonstra a necessidade inarredável da conformação de um sistema de direitos (garantidores da autonomia privada dos cidadãos) como verdadeira pré-condição para a existência de um direito legítimo. 53 Em certa medida, Habermas concorda com Luhmann quanto à idoneidade do modelo sistêmico para enfrentar os estudos sociológicos, pois não seria possível negar a existência de parcelas da sociedade que apresentariam uma dimensão autorregulatória, ou seja, dotadas de uma linguagem própria de desenvolvimento. Em sociedades complexas, portanto, a compreensão sistêmica possibilita a redução da complexidade de análise. Mas isso não significa que Habermas adota integramente a teoria luhmanniana (como demonstrado, acima, em relação ao direito – cf. nota 31). VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho, p. 21. 54 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 138. 92 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Crítica 2: o modelo habermasiano seria utópico, já que na realidade nunca seria possível encontrar todas as condições procedimentais à deliberação calcada na ética discursiva. Como resposta a essa crítica, em primeiro lugar impende destacar que Habermas não acredita que o seu modelo procedimental apenas seria realizável diante de uma “situação ideal de fala”. Pelo contrário, ele elabora um modelo ideal que deve ser encarado estritamente de maneira aproximativa, ou seja, deverá ser refletido ao máximo possível nas instituições concretas. A partir de um marco ideal é possível analisar de maneira comparativa deliberações empíricas. Ou seja, a ética discursiva reconhece que, por seu conteúdo idealizador, os pressupostos comunicativos gerais de argumentações apenas podem ser preenchidos de maneira aproximada.55 É através dessa construção que o filósofo estrutura um sistema que preserva a imparcialidade, com a inclusão das concepções individuais sobre vida digna assim como os valores de formas coletivas de vida.56 Ainda, o constructo habermasiano não é elaborado de maneira desconexa em relação à própria historicidade das realidades concretas57. Ou seja, não se trata de um modelo absolutamente utópico (apesar dos elementos idealizadores), nem de um sistema exclusivamente formal. Isso se conclui em razão de dois fundamentos: (i) em primeiro lugar, pela concepção de política deliberativa defendida por Habermas (que parte das condições materiais em que ocorrem as disputas políticas); (ii) em segundo lugar, pois o filósofo não defende qualquer procedimento como apto à produção de acordos racionais, mas sim o estabelecimento de condições procedimentais legítimas, cuja concretização pressupõe o respeito a certos elementos substantivos. O primeiro fundamento (política deliberativa), será tratado de maneira detida na resposta à próxima crítica (crítica 3), motivo pelo qual remete-se o leitor às próximas páginas. Em relação ao segundo ponto, a preocupação de Habermas está em definir as condições que viabilizem o exercício da razão prática58 na esfera da política concreta. Ainda, defende que 55 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 223. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 111-112. 57 GONÇALVES, Nicole P. S. Mäder. Jurisdição constitucional na perspectiva da democracia deliberativa, p. 301. 58 Diferenciando-se do discurso teórico (que tem pretensão de verdade, e sua justificação se faz mediante alusão a fatos), o discurso prático se realiza através do respeito de determinadas regras (a pretensão de validade da norma é fundamentada mediante a invocação de normas aceitas socialmente). VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho, p. 124. 56 93 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I tais condições devem ser inscritas no direito positivo para que, em razão de sua força coercitiva, sejam sedimentadas estruturas legítimas de produção do direito.59 A postulação de um conjunto de regras elementares para o jogo de linguagem tem o propósito de estabelecer um procedimento que permita diferenciar as justificações válidas daquelas consideradas inaceitáveis.60 A partir disso, Habermas retoma algumas ideias de Robert Alexy61 para formular o seu próprio modelo, cujas regras estariam distribuídas em três esferas: (i) esfera lógica dos resultados (regras voltadas, basicamente, às propriedades intrínsecas dos argumentos a serem utilizados, indispensáveis à compreensão semântica dos conteúdos enunciados); (ii) esfera dialética dos procedimentos (regras ligadas aos pressupostos pragmáticos que devem ser observados pelos participantes do discurso); (iii) círculo retórico dos argumentos (também compreende regras de caráter pragmático, mas que objetivam excluir as possibilidades de distorção argumentativa, notadamente em decorrência de desigualdades).62 Diversamente de Alexy, entretanto, Habermas não reputa as regras do procedimento como neutras ou frágeis. O conteúdo desse “código mínimo” de regras é basicamente coincidente com os princípios da moral pós-convencional, pois reconhece direitos básicos (essencialmente no terceiro grupo) que delimitam a atuação de um indivíduo reconhecido e protegido intersubjetivamente. De outro lado, tais regras devem ser encaradas de um ponto de vista normativo, ou seja, para que o resultado da deliberação seja considerado válido, elas deverão ser respeitadas.63 Desse modo, nota-se que o procedimento deliberativo que esteja em consonância com o modelo discursivo de Habermas não é absolutamente utópico. Ele pressupõe regras procedimentais elásticas o suficiente para se amoldarem à realidade concreta, de modo que a formação racional da vontade seja legítima. Tal questão fica mais nítida ao se retomar o nexo 59 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 154. Nos discursos de fundamentação das normas jurídicas (portanto, no momento do exercício da razão prática), são admitidos os seguintes argumentos: argumentos pragmáticos (estabelecimento de meios para a realização de fins); argumentos ético-políticos (perspectiva de membros que buscam delinear a forma de via que estão compartilhando); argumentos morais (forma semântica de imperativos categóricos – o que se “deve” fazer corresponde ao que é justo, fundamentando-se em discursos morais). Diferentemente, no discurso de aplicação das normas jurídicas, deve-se utilizar o princípio da adequação, para identificar, dentre aquelas normas válidas (ou seja, já justificadas por discursos práticos através dos procedimentos legitimamente estatuídos), qual é a mais adequada para o caso concreto. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 191 e ss. 61 Cf. ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica (trad. Zilda Hutchinson Schild Silva). São Paulo: Landy, 2001. 62 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo (trad. Guido A. de Almeida). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, p. 110-113. 63 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho, p. 124. 60 94 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I interno entre direitos humanos e soberania popular: não basta o ordenamento jurídico estatuir os procedimentos de tomada de decisões; é necessário que o próprio direito assegure direitos básicos (um sistema de direitos), que outorgarão ao indivíduo sua autonomia privada, possibilitando-o a tomar parte nos processos deliberativos. Ou seja, os direitos não são mero resultado de escolhas políticas dos cidadãos. Eles são também condição para as deliberações públicas sejam legítimas.64 Crítica 3: o modelo habermasiano nega o caráter essencialmente conflitivo do direito ao pressupor um modelo deliberativo voltado ao consenso. Ao contrário do que faz supor a crítica, Habermas parte exatamente do caráter conflitivo das sociedades modernas, em que a eticidade tradicional, amparada em visões metafísicas do mundo, já não mais encontram consenso unânime entre os cidadãos. Nesse contexto de moralidade pós-convencional, apenas uma teoria procedimental é capaz de definir normas legítimas. Vale dizer, o modelo habermasiano permite a estruturação de um sistema normativo cogente (refletido na produção legítima do direito) que não extrai sua legitimidade de um consenso básico anterior (baseado na eticidade de uma comunidade concreta) – como pretendem os comunitaristas – nem através de um procedimento abstrato de atribuição de direitos (nos termos liberais).65 Assim, ao fixar regras procedimentais que viabilizem amplo debate argumentativo, com a inclusão de todos os sujeitos de direito (daí a relevância de um sistema de direitos), mais do que garantir um acordo, Habermas pretende delinear os contornos dentro dos quais se instaura o dissenso.66 Com isso, pretende o autor incluir os marginalizados sem que isso signifique a conformação de uma comunidade homogênea. A possibilidade do dissenso não exclui a possibilidade do consenso. Em sociedades plurais, como não existe mais visão de mundo imune à crítica, as concepções individuais de vida e os valores coletivamente compartilhados podem ser objeto de questionamento por outros cidadãos. Assim, as estruturas sociais, dentre elas o direito, e os próprios indivídusos aguçam sua capacidade reflexiva, de modo que as normas de ação apenas podem ter sua validade atestada por meio de procedimentos intersubjetivos.67 64 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Fundamentação e normatividade dos direitos fundamentais: uma reconstrução teórica à luz do princípio democrático. In BARROSO, Luís Roberto (org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 324. 65 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. São Paulo: Loyola, 2002, p. 156-157. 66 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 117. 67 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Habermas e o direito brasileiro, p. 151. 95 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Reconhecendo-se a pluralidade de modos de vida, o direito deve institucionalizar mecanismos a partir dos quais as decisões possam ser democraticamente tomadas. Ainda, o procedimento deliberativo deve ser capaz de depurar os argumentos, para que as pessoas, dotadas de capacidade crítica, possam inclusive mudar de opinião e ceder em face do melhor argumento. E, quando o acordo não for possível, a decisão deverá ao menos ser dotada de aceitabilidade racional, que consiste no reconhecimento, pelos vencidos, de que a deliberação foi legítima (pois decorreu de um procedimento considerado legítimo). A depuração dos argumentos utilizados na fundamentação de normas de direito ocorre através de um modelo processual, através do qual a normatização jurídica é conectada ao agir comunicativo. Esse modelo reflete a sequência de argumentos da razão prática, partindo de questionamentos pragmáticos (quais fins são racionalmente aceitáveis e quais meios são apropriados para a sua consecução), passando pela formação de compromissos éticos (definição de um autoentendimento que se apropria das tradições e valores, reconstruindo criticamente as formas de vida coletivas), para finalmente alcançar as questões morais (determinar se as práticas delineadas são boas para todos, assumindo a forma de imperativos categóricos – ou seja, independem de fins). Cada matéria a ser regulada envolve estas questões de maneira distinta. Contudo, com esse modelo, a vontade e a razão são encaradas do ponto de vista dialógico, ou seja, através de práticas intersubjetivas é possível a conformação de entendimentos racionais.68 Contudo, em sociedades complexas nem sempre o desenrolar de argumentos conduz à formação consensual da vontade. Nessas hipóteses, recorre-se à alternativa da negociação, ou seja, a formação de compromissos em que o acordo obtido equilibra interesses conflitantes. De qualquer forma, a formação de compromissos não pode violar o princípio do discurso, ou seja, o resultado do acordo deverá ter o assentimento de todos os envolvidos. Por isso os procedimentos de negociação devem ser regulados de modo a assegurar a imparcialidade, garantindo a todos os interessados iguais chances de participação, com possibilidade de influência recíproca. Desse modo, pode-se supor razoavelmente que os pactos são conformes à equidade.69 Esta é a estrutura teórica do modelo procedimental de justiça habermasiano. A partir dela é desenvolvida a noção de política deliberativa, que se ampara em procedimentos democráticos, irrigados por fontes espontâneas de comunicação. É por meio desse conceito de política que Habermas busca transportar para a esfera política os preceitos da teoria da ação 68 69 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 202. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, p. 208. 96 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I comunicativa. Essa passagem, apesar de não anular a pretensão de universalidade (princípio U), no âmbito da política a universalização se traduz na exigência de participação efetiva e simétrica de todos os interessados, nos moldes a serem regulados pelo direito.70 A política deliberativa pressupõe interesses divergentes, mas que podem alcançar resultados racionais por verificar-se o cumprimento dos requisitos estatuídos pelo direito (checagem da coerência jurídica), com o acolhimento de uma fundamentação moral (participação simétrica de todos os interessados). Tal modelo acolhe elementos liberais e republicanos, na medida em que forja uma coesão interna nas negociações (caras aos liberais), promove discussões de autoentendimento (como defendido pelos republicanos), sempre pautada por discursos de justiça (aceitabilidade racional da decisão por todos os possíveis afetados).71 Ainda, esta noção de deliberativa aponta para a relevância de uma cidadania cada vez mais ativa, incumbindo ao direito institucionalizar os mecanismos que possam captar as práticas discursivas informais e conduzi-las até as instâncias que produzirão a decisão final. Assim, o poder criado comunicativamente é transformado em poder administrativamente efetivo.72 O modelo habermasiano, portanto, busca apontar os pressupostos e as condições que viabilizem a formação legítima do direito. Este sistema parte justamente da multiplicidade de posições e interesses, e compreende que o consenso nem sempre pode ser alcançado. Entretanto, isso não faz desaparecer a pretensão de legitimidade das decisões, principalmente aquelas que estabelecem o direito, pois ainda que houver divergência de posições, o resultado da deliberação deverá ser justificado, o que assegura sua aceitabilidade racional por todos os envolvidos. 4. Considerações finais Do exposto, colhem-se resumidamente os seguintes elementos conformadores da concepção deliberativa de justiça, de acordo com o modelo de Jürgen Habermas: Pressupostos: (i) moralidade pós-convencional – sinaliza que não há mais, nas sociedades contemporâneas, justificações morais metafísicas para as instituições (inclusive o direito) capazes de forjar consensos sobre as formas de vida boa, seja em termos individuais ou coletivos; (ii) ética discursiva – considerando, portanto, o “fato do pluralismo”, torna-se 70 VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho, p. 177. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro, p. 278. 72 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro, p. 280. 71 97 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I inviável determinar concepções de justo que partam do indivíduo considerado em sua própria singularidade, assim como não é possível generalizar modelos coletivos de vida boa, sob pena de se cometer arbitrariedades. Nesse contexto, e como o homem é um ser reflexivo e dotado de autocrítica, a noção de justo deve ser erigida mediante um processo dialógico que viabilize ampla participação e debate, de modo que o melhor argumento possa prevalecer. Com isso, as normas de ação podem ser racionalmente motivadas, o que promove a integração da sociedade a partir de normas intersubjetivamente definidas; (iii) princípio D – normativamente, a exigência de justificação intersubjetiva da ética discursiva é expressa pelo “princípio do discurso”. Fundamentos: (i) ética universalista de justiça – no domínio da moral, imperam as mais variadas formas, individuais e coletivas, sobre a vida boa. Assim, o justo (domínio da ética) somente pode ter lugar nos procedimentos que viabilizam a formação racional da vontade, de maneira dialógica. Nesse sentido, é universalizável a exigência de que sejam asseguradas as condições de exercício da razão intersubjetiva (concepção procedimental da justiça); (ii) posição do direito – apenas é possível consolidar uma determinada concepção ética mediante um arcabouço institucional sólido, especialmente o direito, cujas normas são de observância obrigatória. Assim, devem ser asseguradas as condições procedimentais para que a produção do direito seja legítima (tensão entre faticidade e validade); (iii) nexo interno entre direitos humanos e soberania do povo – para garantir a legitimidade do direito, o ordenamento deve concretizar um sistema de direitos que promova a autonomia privada do sujeito, de modo que ele possa, em igualdade de condições com os demais cidadãos, tomar parte nos processos de deliberação pública; (iv) política deliberativa – com a conformação concreta do sistema de direitos nas constituições, deve-se fortalecer os canais informais de discussão pelos diversos atores da sociedade civil, que devem ser constantemente canalizados e filtrados para, finalmente, desembocar nos centros de decisão e de poder, onde será possível a produção de um direito legítimo, e, por isso, justo. Ainda, procurou-se demonstrar como a obra de Habermas pode rebater as principais objeções que lhe são opostas. Ainda, deve-se ter em mente que há outras formas de se delinear uma concepção deliberativa de justiça. De qualquer forma, o constructo habermasiano contribui de maneira significativa para que o debate possa ser aprofundado, seja em confronto com liberais e comunitaristas, seja em contraposição a outros autores deliberativos. 5. Referências bibliográficas 98 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica (trad. Zilda Hutchinson Schild Silva). São Paulo: Landy, 2001. BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de realização. 3ª ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. CABRAL PINTO, Luzia Marques da Silva. Os limites do poder constituinte e a legitimidade material da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva: elementos da filosofia constitucional contemporânea. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. CRUZ, Álvaro Ricardo de. Habermas e o direito brasileiro. Vol. I. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2006. DUSSEL, Enrique. Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão (trad. Ephraim Ferreira Alves, Jaime A. Clasen, Lúcia M. E. Orth). 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007. GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política (trad. Alonso Reis Freire). São Paulo: Martins Fontes, 2008. GONÇALVES, Nicole P. S. Mäder. Jurisdição constitucional na perspectiva da democracia deliberativa. Curitiba: Juruá, 2011. GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno (trad. Irene A. Paternot). São Paulo: Martins Fontes, 1999. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição (trad. Gilmar Ferreira Mendes). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997. HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio (trad. Vamireh Chacon). 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. São Paulo: Loyola, 2002. HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo (trad. Guido A. de Almeida). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. HABERNAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade (trad. Flávio Beno Siebeneichler). Vol. I. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. HABERMAS, Jürgen. Verdade e justificação: ensaios filosóficos (trad. Milton Camargo Mota). 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2009. 99 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I MORAIS, José Luis Bolzan de; NASCIMENTO, Valéria Ribas do. Constitucionalismo e cidadania: por uma jurisdição constitucinoal democrática. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. MOUFFE, Chantal. O regresso do político (trad. Ana Cecília Simões). Gradiva: Lisboa, 1993. NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos: un ensayo de fundamentación. Barcelona: Ariel, 1989. NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa (trad. Roberto P. Saba). Barcelona: Gedisa, 1997. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Fundamentação e normatividade dos direitos fundamentais: uma reconstrução teórica à luz do princípio democrático. In BARROSO, Luís Roberto (org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. VELASCO ARROYO, Juan Carlos. La teoría discursiva del derecho: sistema jurídico y democracia em Habermas. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. WALDRON, Jeremy. Law and disagreement. New York: Oxford University Press, 1999. WALDRON, Jeremy. The dignity of legislation.New York: Cambridge University Press, 1999. WALZER, Michael. Da tolerância (trad. Almiro Pisetta). São Paulo: Martins Fontes, 1999. 100 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I DAS INVASÕES EUROPEIAS À AMÉRICA LATINA À FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL FORÇADA: Um Diálogo entre o Estado Moderno Nacional e o novo Estado Plurinacional à Luz dos Direitos Humanos RAIDS AL AMERICA LATINA EUROPEA PARA LA FORMACIÓN DE UNA IDENTIDAD NACIONAL FORZADO: un diálogo entre el Estado y el National Modern nuevo Estado Plurinacional de Derechos Humanos de la Luz Heleno Florindo da Silva1 Daury César Fabriz2 RESUMO: O presente trabalho buscará discutir a formação de uma identidade nacional forçada, a partir dos horizontes da formação de um Estado moderno Nacional no fim do séc. XV. Também buscaremos destacar como o nosso presente ainda é um reflexo latente do nosso passado, ou seja, como essa identidade nacional forçada ainda hoje embasa nossas relações sociais, de modo a formarmos sociedades separadas entre o Eu/Nós e o Eles/Outros. Ao fim, apontaremos os contornos do novo modelo de Estado Plurinacional surgido na América Latina, bem como o novo constitucionalismo democrático latino americano dele decorrente, demonstrando como visualizarmos uma identidade nacional pautada em bases diversas daquelas utilizadas pelo Estado Nacional, o que nos possibilitará, ao dialogar com o outro, construir um novo modelo de Direitos Humanos, de base multicultural. RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo discutir la formación de una identidad nacional forzada de los horizontes de la formación de un Estado moderno Nacional a finales de siglo. XV. También buscamos destacar cómo nuestro presente es todavía un reflejo latente de nuestro pasado, o como funciona eso obligó identidad nacional todavía subyace en nuestras 1 Membro do BIOGEPE – Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão – da Faculdade de Direito de Vitória. Membro do Grupo de Pesquisa Estado, Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito de Vitória. Bolsista da FAPES – Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Espírito Santo. Mestrando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória. Pós Graduado em Direito Público pelo Centro Universitário Newton Paiva. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva. Professor e Advogado. 2 Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Coordenador do Programa de PósGraduação Stritu Sensu em Direitos e Garantias Fundamentais (Mestrado) da Faculdade de Direito de Vitória. Coordenador do Grupo de Pesquisa Estado, Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais. Presidente da Academia Brasileira de Direitos Humanos (ABDH). Professor e Advogado. 101 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I relaciones sociales, por lo que formar sociedades separadas entre Yo / Nosotros y Ellos Otro /. Al final, consideramos que los contornos del Estado modelo Plurinacional nuevo surgió en América Latina, así como el nuevo del mismo latín constitucionalismo democrático estadounidense que surja, lo que demuestra cómo visualizar una identidad nacional basada en bases distintas de las utilizadas por el Estado Nacional, que nos permitirá, a diálogo con otros, construir un nuevo modelo de derechos humanos, base multicultural. PALAVRAS-CHAVE: Identidade Nacional; Direitos Humanos, Estado Plurinacional. PALABRAS CLAVE: Identidad Nacional, Derechos Humanos, Estado Plurinacional. INTRODUÇÃO Vivenciamos uma época de grandes mudanças! O Estado Nacional, surgido após inúmeras revoluções paradigmáticas, a fim de substituir o modelo feudal de sociedade, está chegando ao fim. O momento de hoje, portanto, é singular. O moderno Estado Nacional, fragilizado pelos designíos de seu modelo econômico financeiro, que transformou o mundo, em um “globo” de consumo, vê o surgimento de um novo modelo de Estado, que se convencionou chamar de Plurinacional. Neste desiderato, o presente trabalho, através de um diálogo múltiplo dialético, buscará demonstrar como o Estado Nacional moderno se forjou a partir de uma identidade nacional, entendida aqui como estética do poder desse modelo de Estado a fim de se firmar enquanto novo modelo de pacto social, e mais, como essa estética ainda hoje prevalece em nossas relações sociais. A partir daí, buscaremos uma compreensão acerca do novo modelo de Estado surgido em “nossa vizinhança” Latino Americana, demonstrando a necessidade que temos de entender seus delineamos estruturais e conceituais, comparando-os com o paradigma do moderno Estado Nacional a fim de perceber como esses modelos tratam a questão dos direitos humanos. Desse modo, no presente labor construiremos uma visão acerca das “invasões” europeias ao novo mundo – Américas – demonstrando como se buscou forjar uma identidade nacional entre 102 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I os povos que aqui viviam, ou seja, como o europeu, “bárbaro”, entendido como Nós, iniciou sua relação com o Outro, com aqueles que lhes eram diferentes e, portanto, como o Estado Nacional se formou, desenvolveu-se e se encontra, atualmente, “à beira do precipício”. E mais, buscaremos destacar o grande problema do constitucionalismo moderno nacional, bem como do movimento neoconstitucionalista, qual seja, a diversidade cultural existente dentro de uma mesma sociedade e, consequentemente, dentro de um mesmo Estado. Diversidade essa, originária de inúmeros fenômenos, dentre os quais se destaca a globalização da era digital, que coloca por terra conceitos que foram criados como bases para o Estado Nacional, tais como: nação, soberania, cidadania e identidade, o que deflagra a impotência do paradigma moderno nacional, para trazer respostas aos anseios sociais, se é que um dia conseguiu respondelos indistintamente. Nestes termos, buscaremos respostas aos seguintes questionamentos: a identidade nacional, utilizada pelo europeu como estética do poder estatal para construir a ideia de nação/povo, ainda hoje reflete o distanciamento cultural na América Latina? O novo modelo de Estado Plurinacional inaugurado em nosso contexto latino americano é capaz de descobrir aqueles que foram encobertos durante a construção e afirmação do Estado Nacional moderno a ponto de fazer surgir uma visão multicultural dos direitos humanos? Assim, a partir dessas premissas e questionamentos, desenvolveremos o presente trabalho tratando, a princípio, do nosso presente como construção reflexa de nosso passado, demonstrando como a origem de uma necessária identidade nacional – forçada – se corrobora em estética do poder estatal. Após, visualizaremos o novo modelo de Estado Plurinacional da América do Sul, fazendo um contraponto entre Constitucionalismo Nacional e o Constitucionalismo Plurinacional latino americano, com objetivo de trazer uma concepção multicultural dos Direitos Humanos. Por fim, se extrairá desses delineamentos uma primeira conclusão, ou seja, uma síntese do diálogo proposto pela problemática abordada, que abrirá espaços para novos diálogos, à luz do sentido dinâmico que a dialética possui, percebendo, assim, que o Estado moderno Nacional, fruto de uma identidade forjada pelo “bárbaro” e “sanguinário” europeu, após, aproximadamente, 500 anos de supremacia, se encontra imersa em uma profunda crise, a ponto de países, que há poucos anos atrás eram reconhecidos apenas pelo gás natural – Bolívia – ou por Galápagos – Equador – tornarem-se o eixo central de discussões acerca de um novo modelo de Estado, um 103 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Estado pautado não pelo reconhecimento do Outro por aquilo que tem de igual a Nós, mas, ao contrário, pelo Outro ser reconhecido por aquilo que ele é em si. 1. UM MUSEU DE GRANDES NOVIDADES: A Identidade Nacional Enquanto Padrão de Estética do Poder no Estado Moderno Nacional e seus Reflexos Atuais A identidade nacional está para o Estado Nacional assim como o capitalismo está para o Estado Liberal, ou seja, iremos perceber nesse ponto, que a formação de uma identidade nacional foi essencial para o surgimento do Estado enquanto instituição moderna, em substituição ao modelo feudal de agrupamento social, e mais, que a identidade nacional foi utilizada pelo Poder soberano do Estado, com o objetivo de construir uma sociedade separada não só entre o Nós e o Eles/Outros, mas também, entre os considerados inexistentes. Nessa árdua caminhada, utilizaremos como marco de surgimento do paradigma do Estado Moderno – a história não pode ser vista de forma linear e estanque, ou seja, acontecimentos históricos, tais como o surgimento do Estado e, consequentemente, da Modernidade, não possuem hora, dia, mês ou ano, são frutos de revoluções, de décadas de avanços e retrocessos em direção ao novo – o ano de 14923, haja vista este ano ter marcado o “descobrimento” das Américas por Colombo, bem como a queda de Granada, última cidade muçulmana da Europa. Neste contexto, utilizando-nos de Dussel (1994, p. 11), percebemos que Espanha e Portugal são os primeiros modelos de Estados que surgem com a modernidade no fim do séc. XV, e mais, que a partir do momento em que espanhóis e portugueses se lançam ao mar, as primeiras periferias vão sendo formadas. Em Dussel podemos, ainda, fazer uma leitura não europeizada da história humana a partir do surgimento da figura do Estado, sendo que, a partir dessa desvinculação com o conhecimento da metrópole, percebemos que pensadores, do cabedal de Hegel, entendiam ser a Europa, o fim de toda e qualquer racionalidade, ou seja, tudo o que há de bom em se tratando de 3 Em que pesem as discussões histórico-doutrinárias acerca do termo inicial do Estado Nacional, adotamos nesse trabalho o mesmo entendimento de José Luiz Quadros Magalhães, conforme artigo acerca das discussões travadas entre o culturalismo e o universalismo diante do Estado Plurinacional. MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Culturalismo e Universalismo diante do Estado Plurinacional. In: Revista Mestrado em Direito – UNIFIEO – Osasco, ano 10, nº2. p. 201-219. 104 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I filosofia e teorias, em especial, àquelas ínsitas ao Direito, partem da Europa Ocidental, seja da Grécia, Alemanha, Itália ou França. Assim, a “conquista” das Américas se caracteriza como algo extremamente importante na construção da subjetividade europeia como sendo o centro e o fim de toda a história mundial, seja porque através da exploração dos recursos que aqui existiam, seja pela utilização dessas terras como mecanismos de enriquecimento dos pobres e miseráveis europeus, aqueles que, embora não tido como Nós, eram reconhecidos enquanto Outros, um “privilégio” que os habitantes originários das Américas, não possuíam, conforme veremos abaixo. Nesta mesma linha, podemos perceber que a partir do momento em que o Europeu coloca seus pés em solo Americano dá-se início a uma série de atentados contra os habitantes originários, ou seja, tais pessoas, não reconhecidas como humanas, eram passíveis de quaisquer tipos de atrocidades, seja frente a sua cultura, seja frente ao seu corpo e, na grande maioria das vezes, contra sua vida. Desta feita, ao perceber a necessidade de se utilizar os povos que aqui viviam como instrumentos de exploração de suas terras – coloniais – ao benefício da metrópole, deu-se a partida para a formação de uma identidade nacional, a fim de que as várias culturas diferentes entre si se reconhecessem como pertencentes àquela sociedade. Nesta busca, surgem instituições uniformizadoras, que aviltam a cultura existente, haja vista não sê-la condizente com aquela tida como a correta, como a que representa o belo. Diante disso, Magalhães aponta que: “A identidade nacional é fundamental para a centralização do poder e para a construção das instituições modernas, que nos acompanham até hoje, sem as quais o capitalismo teria sido impossível: o poder central, os exércitos nacionais, a moeda nacional, os bancos nacionais, o direito nacional uniformizador, especialmente o direito de família, de sucessões e de propriedade, a polícia nacional, as polícias secretas e a burocracia estatal, as escolas uniformizadoras e uniformizadas” (2012a, p. 2). Ademais, há que ressaltar também a utilização da religião como mecanismo uniformizador da identidade nacional, ou seja, a Santa Inquisição atuava como mecanismo de afastamento dos diferentes, do inexistente, de modo que nacionais eram aqueles que professavam as mesmas condutas do europeu da metrópole – Homem, Branco, Cristão e Rico. Portanto, podemos retirar algumas conclusões nesse primeiro momento, quais sejam, que o Estado Moderno surgido no final do séc. XV é uniformizador, haja vista existir um único direito de família, bem como de propriedade, que a ideia de nação/identidade nacional é 105 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I necessária para a formação e permanência do Estado e, desse modo, na busca por essa identidade o europeu pode valer-se de quaisquer meios que lhe prouver e, ao fim, que o modelo capitalista se consolida como sendo a essência da economia moderna, baseada na exploração mineral das colônias periféricas, dos povos originários enquanto instrumentos/produtos e, posteriormente, no tráfico dos habitantes da África para as Américas (MAGALHÃES, 2012b, p. 3). Nestes termos, percebemos que para haver, realmente, a formação de um Estado nacional europeu, haveria a necessidade de se criar uma identidade nacional europeia, ou seja, a partir da imposição de valores comuns que deveriam ser compartilhados pelos diversos grupos étnicos, para que assim todos reconhecessem o poder soberano do Estado. Portanto, o Estado nacional, em seu processo de gestação, está embrionariamente ligado à intolerância, ou seja, à negação da diversidade religiosa e cultural, que estando fora de determinados padrões e limites estabelecidos pela cultura hegemônica da identidade nacional, deveriam ser adequadas, ou, em muitos casos, exterminadas. De outro lado, trazendo a formação do Estado nacional para o contexto da América Latina, percebemos que aqui esse paradigma de Estado surge a partir de lutas pela independência no decorrer do séc. XIX, ou seja, antes de ser Estados nacionais, os atuais países latino americanos foram, durante séculos, espaços de exploração. Ressalta-se, a partir de então, que um contexto comum a todos os países latino americanos é o de que os seus entes soberanos surgiram como benefícios destinados a uma parcela minoritária da população, ou seja, para o contexto da busca pela identidade do povo de cada uma das sociedades independentes, necessária para a formação de um Estado, continuavam desinteressantes às elites, os representantes dos povos originários – “índios” –, bem como aqueles de imigração forçada – os negros. Neste desiderato, analisando a formação do Estado nacional no contexto europeu, com o Estado nacional que se formou na América Latina, Magalhães (2010c, p. 16) aponta que foram processos diferentes, senão vejamos: “De forma diferente da Europa, onde foram construídos Estados nacionais para todos que se enquadrassem ao comportamento religioso imposto pelos Estados, na América não se esperava que os indígenas e negros se comportassem como iguais, era melhor que permanecessem à margem, ou mesmo, no caso dos povos originários (chamados indígenas pelo invasor europeu), que não existissem: milhões foram mortos”. 106 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Assim, podemos perceber que em todo o contexto latino americano a formação dos Estados nacionais foi hegemonizada pelas classes dominantes, de matrizes europeias, sendo que, em relação aos inúmeros agrupamentos indígenas, por exemplo, houve um planejamento acerca de uma pretensa universalização, que ia desde o reconhecimento de direitos jurídico-políticos de cidadania àqueles que se enquadrassem como “cidadãos”, à prática de etnocídio (ALMEIDA, 2012, p. 72). Voltando à acepção europeia de identidade nacional como mecanismo uniformizador do Estado Nacional, percebemos que, partir dessa necessidade de se fortalecer enquanto Estado, cunhou-se o que entendemos como identidade nacional, ou seja, dos elementos que os europeus entendiam à época serem os que melhor demonstravam o modo de vida a ser seguido, buscou-se estratificar o mundo conhecido a partir de sua semelhança com esse modelo, o que legitimou a exclusão dos povos muçulmanos, bem como a dizimação dos “índios” nas Américas, e a escravização do africano. Quanto à expressão destacada acima – índios – temos de destacar o seu conteúdo, de separação entre o Nós – europeu – e o Eles – os povos originários – haja vista que etimologicamente índio se refere ao habitante do que se conhecia à época como Índias, e mais, nas Américas existiam dezena de milhões de “índios” de inúmeras culturas diferentes, o que para o Europeu não significava nada, legitimando, assim, a imputação de uma única personalidade a todos os povos originários que aqui existiam. Ademais, a história nos ajuda a perceber como essa identidade, índio, possibilitou a dizimação cultural pelo Europeu dos povos originários das Américas, entendidos como não humanos, haja vista, dentre inúmeras diferenças com o perfil, a estética, europeia, não professarem a mesma religião. Momento interessante que nos demonstra como essa configuração da identidade índio ocorreu, dá-se no debate entre o Frei Bartolomeu de Las Casas e o professor Juan Gines de Sepulveda, por onde o primeiro escrevia ao Rei que o Eles – os índios – assim como o Nós, eram pessoas humanas, e deveriam ser tratadas como tal, sendo que, em contrapartida, o segundo, visualizava a possibilidade de intervenção cultural, mesmo com a utilização da força, a fim de evangelizar. (MAGALHÃES, 2012a, p. 5). Ademais, antes de aprofundarmos no reconhecimento da identidade nacional como estética do poder soberano do Estado Nacional, há que ressaltar que no presente trabalho não há pretensão de esgotar todos os acontecimentos históricos ocorridos desde o surgimento do Estado, 107 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I da construção de uma identidade nacional, bem como do estado em que esse modelo se encontra em nossos dias, mas, tão somente, lançar uma nova visão de tais fatos. Escrevendo acerca do que denomina de injustiça social global, Boaventura de Souza Santos destaca que “o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal” (2007, p. 3), ou seja, para ele o modo de pensar moderno ocidental, cunhado desde o surgimento do Estado Nacional e pulverizado pela sociedade do consumo do séc. XX, reflexo do capitalismo, é abissal no sentido de eliminar as realidades que não estejam inseridas naquilo que se convencionou como sendo o correto, seja em relação a dissonância com o Direito ou com os conhecimentos científicos. Neste ínterim, podemos perceber que o citado autor destaca a construção do pensamento moderno ocidental como sendo aquele capaz de produzir e radicalizar distinções, o que ele faz por meio da metáfora das linhas, por onde estão separados e radicalizados aqueles que se encontram dentro do domínio moderno ocidental de ser, alocados de um lado da linha, esse tido como o lado correto e universal e, do outro lado, aqueles que não pactuam desses valores e modos de ser moderno ocidental – europeu. A partir dessa visão radicalizada, percebemos que as pessoas que não se encontram do lado “certo” e “universal”, o Nós, nem sequer são entendidas como outro, pois esse é passível de reconhecimento, são, além, entendidas como sendo seres inexistentes, matáveis 4. Diante disso, acentua Boaventura que: “A divisão é tal que o “outro lado da linha” desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mesmo produzido como inexistente. (...). Tudo aquilo que é produzido como inexistente é excluído de forma radical porque permanece exterior ao universo que a própria concepção aceite de inclusão considera como sendo o Outro. (...). Para além dela há apenas inexistência, invisibilidade e ausência não dialética”. (2007, p. 3-4). Podemos perceber, então, que a construção de uma identidade nacional pelo Estado Moderno Nacional atuou como mecanismo de radicalização entre aqueles que pactuam do modelo hegemônico de ser, e aqueles que sequer poderão, um dia, vir a ser reconhecidos, haja vista serem a-humanos, inexistentes. 4 Essa expressão está empregada no presente trabalho no mesmo sentido empregado por Agamben, ou seja, representa o que ele chama de Homo Sacer, ou seja, a vida matável. AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 108 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Diante dessa visão radicalizada entre os que são iguais e aqueles que sequer virão a ser igualizados, percebemos que a chegada do Europeu em terras americanas se pautou nessa dicotomia, ou seja, como os habitantes originários dessas terras não pactuavam com o modo de ser europeu, bem como não aceitavam tal ingerência – a cristianização dos povos originários da América é um dos inúmeros exemplos – poderiam ser objeto das mais vis atrocidades – afinal para além do equador não há pecados –, pois na condição de “zona colonial” esses povos originários eram vistos como exemplos do que um dia se intitulou “Estado de Natureza”, ou seja, “as teorias do contrato social dos séculos XVII e XVIII são tão importantes pelo que dizem como pelo que silenciam” (SANTOS, 2007, p. 6-8). Assim, o movimento de escravização dos “índios” foi entendido como mecanismo necessário para a conquista da metrópole sobre a colônia, pois como os habitantes dessas “novas” terras nem sequer eram humanos, ou morreriam ou serviriam como mercadoria, instrumento de trabalho. Neste sentido, Faoro nos aponta que: “O selvagem americano deveria ser subjugado, para se integrar da rede mercantil, da qual Portugal era o intermediário. Sem essa providência perder-se-ia o pau-brasil, e, sobretudo, a esperança dos metais preciosos se desvaneceria. (2001, p. 127). Diante desses apontamentos, podemos retirar a visão da Identidade Nacional como elemento estético do poder do Estado, ou seja, a estética europeia entendida como sendo aquela visão correta, haja vista ser o belo, o padrão a ser necessariamente seguido, o que deve ser endeusado, aparece, perfeitamente, na busca por uma identidade nacional, que como visto acima, foi o elemento utilizado pelo Estado Nacional Moderno e Soberano, para unir os vários povos, anteriormente separados em feudos. Desse modo, dentre os inúmeros filósofos que se aventuraram a dialogar sobre a estética, é o pensamento de Nietzsche (1984, p. 39-40) acerca do tema, que visualizamos de forma mais clara a construção do belo como sendo aquilo que a identidade nacional possuía – a beleza em Nietzsche é intrínseca ao que se entende por potência e impotência –, ou seja, só é belo, e consequentemente reconhecido como ser humano, passível de deter direitos e obrigações o nacional, pois ao feio, ao não nacional, não resta senão a morte, muitas vezes cruel, ou a instrumentalização do capital. Na busca por se tornar potência, o homem, partindo de sua imagem, construirá o seu mundo, dando a ele a sua beleza, o seu modus, de modo que aquilo que não se enquadrar nesse 109 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I contexto de beleza formado à imagem do Eu, será construído a golpes de martelo, ou seja, será separado do Eu. Neste sentido, Fabriz aponta, acerca dessa construção de Nietzsche a partir do entendimento de potência e impotência, que: “(...) o homem constrói o mundo à sua imagem e, em contato com aquilo que é obra de suas mãos, é tomado por um forte impulso estético, dimensionado à beleza de sua existência. Em contrapartida – a golpes de martelo –, tudo aquilo que se torna ameaçador ao seu desejo de potência, que o degenera e o torna impotente, assemelha-se ao antiestético, ao feio, à outra face, não semelhante ao mundo construído, que reflete sua imagem.” (1999, p. 70). Desse modo, podemos visualizar que formação de uma identidade nacional atuou, no âmbito do Estado Nacional moderno, como mecanismo do poder soberano, ou seja, a identidade funcionava como a estética do poder no Estado Nacional a fim de separar os nacionais, o Nós, dos não nacionais, o Eles/Outros, e mais, de possibilitar a utilização daqueles que nem sequer eram tidos como Outros, pois eram a-humanos, justificando, nesses termos, a escravidão e a dizimação de culturas milenares que existiam em terras do Novo Mundo, tais como a Inca, a Maia e a Asteca. Portanto, em que pesem as diferenças entre a América Latina ao final do séc. XV, com a atual América Latina, a ingerência da identidade nacional ainda está imanente em nosso meio, ou seja, se antes se nacional era professar os dogmas europeus, hoje ser nacional e participar avidamente da sociedade capitalista de consumo. A estética do poder do Estado Nacional que em sua formação vinculava-se a ideia de identidade nacional, ainda hoje separa aqueles que estão, nos dizeres de Boaventura, desse lado na linha, daqueles que estão do outro lado, não só pela cor da pele, etnia, credo ou sexo, mas, também, por ser ou não um homo consumens. 2. A PLURINACIONALIDADE LATINO-AMERICANA: A Dialética Entre o Constitucionalismo Nacional e o Constitucionalismo Plurinacional em Busca de uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos Visto os delineamentos utilizados na construção do moderno Estado Nacional através da imposição de uma identidade nacional, forjada a partir de divisões e separações entre os 110 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I indivíduos sociais, é chegado momento de analisarmos a construção desse novo modelo de Estado, entendido como Plurinacional, e mais, como se dá a construção desse constitucionalismo democrático latino americano, pautado pela busca de uma concepção multicultural dos direitos humanos. Assim, destacaremos neste ponto a influência da concepção capitalista na formação de uma sociedade de consumo, encrustando valores como sendo aqueles que devem ser seguidos, sem que, com isso, se mantenha um diálogo com culturas que não são de matriz europeia, ou seja, essa imposição de um modus vivendi do Estado Nacional provoca uma homogeneização social pautada em aspectos étnicos, religiosos, físicos, e mais, a partir do capital, pois quem consome e, portanto, gera riqueza, é cidadão, caso contrário, não é visto como pertencente aquele povo, indigno de ser escutado. Diante dessas premissas, destaca-se, em princípio, o tempo que vivemos. O hoje está repleto de crises, de mudanças, que vem e vão de forma tão rápidas que logo são esquecidas e deixam de ser entendidas como mudanças. O diferente não pode mais ser esquecido. O igual não pode ser restringido à antiga acepção europeizada de identidade nacional analisada acima, devemos saber conviver com o paradoxo do nacionalismo, entendendo-o como plurinacionalismo. Acerca desse paradoxo, destacam-se as palavras de Hobsbawm (1997, p.145), que entendia o paradoxo do nacionalismo como o fato de, ao se formar sua própria nação, o Estado automaticamente criava movimentos contra nacionais, ou seja, movimentos que não reconheciam a legitimidade do Rei, advindo de uma determinada cultura, em face de todas as outras. Os Outros eram forçados a assimilar-se à cultura dominante, esquecendo, ao poucos suas origens, ou a serem relegados a eterna inferioridade. Assim, em resumo o surgimento do Estado Nacional no fim do séc. XV ocasionou a origem de um Rei, ou seja, em substituição ao regime feudal, o Rei era aquele que encarnava o espírito de seu povo, e desse modo, não poderia identificar-se como pertencente a essa ou àquela cultura pretérita, sob o risco de não conseguir que as demais culturas lhe vissem como soberano. Portanto, a construção de uma identidade nacional tornou-se extremamente importante para que o soberano conseguisse desenvolver seus poderes. (MAGALHÃES, 2012a, p. 7). Nestes termos, a América Latina talvez seja o local de maior diversidade étnico cultural em nosso planeta, tendo em vista possuir representantes de várias culturas originárias, que apesar 111 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I de tudo, ainda resistem, bem como culturas orientais, africanas, europeias e muçulmanas, ou seja, é o Continente da diferença. É neste contexto de diversidade que surge um novo tipo de Estado, ou seja, uma nova formação de Estado, com objetivo de substituir o modelo de Estado nacional surgido no fim séc. XV, um novo paradigma apto a solucionar o problema do reconhecimento da diversidade cultural, não por meio de uma imposição cultural de uma identidade nacional, mas sim, através de um diálogo entre os diferentes. Desta feita, com o intuito de tracejarmos as primeiras visualizações desse novo modelo de Estado, destacamos as palavras de Vieira (2012) que aponta as principais características das Constituições Latino Americanas que inauguram esse novo constitucionalismo, surgido a partir dessa nova conformação do Estado, dentre as quais se destacam as Constituições do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009. Nestes termos, o citado autor apresenta como característica, o fato de nesse novo constitucionalismo, o povo ser visto como uma sociedade aberta de sujeitos constituintes, o que, via de consequência, representa uma superação das noções de identidade nacional, essa construída em torno de uma única cultura hegemônica dentro do Estado nacional. Sob tais pontos, Baldi (2008) destaca que esse Estado plurinacional, que faz emergir esse novo constitucionalismo latino americano, possuiu três ciclos, ou seja, esse constitucionalismo plural tem como origem o constitucionalismo multicultural (1982/1988), ou seja, as primeiras discussões acerca da insuficiência do modelo antigo em garantir direitos – de primeira, segunda ou terceira dimensão – para aquelas pessoas que não comungassem dos mesmos ideais culturais da cultura imposta pelo colonizador como a devida, o que objetivou o reconhecimento de direitos indígenas específicos, bem como introduziu no texto das diversas Constituições dessa época, a noção de diversidade cultural. Em seguida a esse constitucionalismo multicultural, deu-se a ascensão do que se denominou constitucionalismo pluricultural (1988/2005), que trouxe o reconhecimento da existência de sociedades multiétnicas e de Estados Pluriculturais. Exemplo de uma Constituição Pluricultural surgida neste período é a Constituição da Venezuela de 1999. E mais, neste contexto, há o surgimento, também, da Convenção 169 da Organização Mundial do Trabalho, reconhecendo um catálogo de direitos indígenas, afro e outros de cunho 112 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I coletivo aos indivíduos e povos cujo Estado a ratificasse – essa Convenção foi ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº 5.051, de 19 de Abril de 2004. Ademais, como último ciclo de desenvolvimento desse novo constitucionalismo latino americano, destaca o citado autor, temos o constitucionalismo plurinacional surgido em 2006 no contexto da Declaração das Nações Unidas sobre direitos indígenas. Como exemplos desse constitucionalismo plurinacional surgem as Constituições do Equador e da Bolívia. No entanto, em que pese Baldi destacar a construção desse novo modelo de Estado Latino Americano através de uma evolução iniciada no constitucionalismo multicultural da década de 1980, haja vista as constituições surgidas ali serem exemplos de reconhecimento e proteção cultural – por exemplo, os arts. 231 e 232, da CRFB/88 – existem entendimentos diversos, que ligam essa nova visão de Estado, originariamente a Constituição Colombiana de 1991, é o que destaca Noguera-Fernándes e Diego, ao afirmarem que: “Na Constituição colombiana aparecem, mesmo que imperfeitamente, mas claramente reconhecível, alguns elementos inovadores e diferenciados em relação ao constitucionalismo clássico, que mais tarde permearão e serão desenvolvidos nos processos constituintes equatoriano em 1998, venezuelano em 1999, e boliviano em 2006-2009 e, de novo, no Equador em 2007-2008.(...). A Constituição colombiana de 5 1991 é, por conseguinte, o ponto de partida do novo constitucionalismo no continente ”. (2011, p. 18). Em que pesem as discussões de qual instrumento normativo efetivamente deu o “pontapé-inicial” para o surgimento desse novo constitucionalismo latino americano, o que nos interessa aqui é o fato desse novo modelo paradigmático representar uma novidade capaz de romper com a lógica moderna de Estado vigente há 500 anos, ou seja, esse novo modelo de Estado, efetivamente diverso, pautado pela multiplicidade de ordenamentos jurídicos e pela elaboração de mecanismos de diálogo, objetiva, como se perceberá adiante, a construção de uma “carta” mínima de Direitos Humanos a serem respeitados dentro de uma sociedade, esses reconhecidamente multiculturais. Antes de continuarmos nosso caminho pelo deslinde desse modelo Plurinacional de Estado, há que ressaltar que esse novo paradigma, de onde surge o novo constitucionalismo 5 “En la Constitución colombiana aparecen, aún de forma imperfecta pero claramente reconocibles, algunos rasgos novedosos e diferenciados con respecto al constitucionalismo clásico, que más tarde impregnarán y serán desarrollados por los procesos constituyntes ecuatoriano de 1998, venezolano de 1999, boliviano del 2006-2009 y, de nuevo, Ecuador en el 2007-2008. (...). La Constitución colombiana de 1991 constituye, por lo tanto, el punto de inicio del nuevo constitucionalismo en el continente” (Tradução nossa). 113 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I democrático latino americano é diferente, em termos estruturais, por exemplo, de Estados regionais, tais como: a Espanha e a Itália. Neste sentido, aponta Magalhães (2010a, p. 202) que: “O Estado Plurinacional, portanto, vai muito além do regionalismo presente no constitucionalismo italiano (1947) e espanhol (1978), uma vez que nestes países, embora a constituição tenha admitido a autonomia administrativa e legislativa das comunidades autônomas ou regiões, reconhecendo a diversidade cultural e linguística, mantém a base uniformizadora, ou seja, um direito de propriedade e um direito de família”. Desta feita, diferentemente do Estado Nacional, essa nova conformação de Estado surgida na América Latina, se afasta dos elementos uniformizadores utilizados pela lógica dos Estados modernos nacionais, quais sejam, a existência de um único direito de propriedade e de família para toda a coletividade. A noção de família e de propriedade utilizada para uniformizar, identificar os nacionais de uma sociedade não surgia através de um diálogo entre as diversas culturas, ao contrário, era imposta pela cultura hegemônica, ou seja, conforme se deslindou acima, o poder do Estado imputava uma estética a ser seguida. Neste desiderato, a atual Constituição da Bolívia, na tentativa de resguardar os direitos dos indígenas ou descendentes destes, grande maioria da população daquele país, trouxe uma inovação, qual seja: a criação de uma justiça indígena, com tribunais próprios, formado por juízes escolhidos na própria comunidade indígena – atualmente existem 36 sistemas jurídicos na Bolívia –, bem como a formação de um Tribunal Constitucional Plurinacional, onde estão presentes representantes das comunidades indígenas, o que rompe com a lógica uniformizadora da identidade nacional, pautada em um único direito nacional. Destaca-se, ainda, que a jurisdição ordinária comum não se sobrepõe a jurisdição indígena, ou seja, as decisões tomadas nos tribunais indígenas não poderão ser revistas pela Justiça ordinária (MAGALHÃES, 2012c). Portanto, os povos originários – aquele conjunto de indivíduos que, originariamente, habitam determinado território – ou aqueles de migração forçada – historicamente os africanos – ganham espaço no Estado boliviano, ou seja, depois de séculos de silêncio, poderão participar da formação de seu ordenamento jurídico, bem como da solução de suas divergências, não a partir de um direito nacional uniformizador, mas nos termos que sua cultura lhes determina. Participarão da construção de um Estado onde os cidadãos serão iguais em direito, não pela dominação cultural, mas pelo que se tem de diferente. 114 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Ademais, há que lembrarmos que a construção do Estado Nacional na América Latina oriunda dos movimentos de independência dos vários Estados, dentre eles o Brasil, não fez cessar o sentimento de colonizado inerente ao latino americano, ou seja, depois dos movimentos pelas independências na América Latina, o colonialismo continuou, só que de outros meios, tais como: através da ingerência do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, em resumo, através do mercado global transnacional pautado economicamente pelo sistema capitalista consumista (SANTOS, 2009, p. 198). Assim, podemos retirar das premissas até aqui discutidas, que no âmbito desse novo Estado Plurinacional surgido na América Latina na primeira década deste século, será priorizado um modelo de institucionalização calcado numa democracia participativa, ou seja, os governos não serão compostos apenas de representantes das camadas sociais dominantes, pois serão, sobretudo, integrados por representantes de diversas culturas, inclusive a indígena, tudo isso a partir de um processo eminentemente participativo e dialógico (SIQUEIRA JÚNIOR e ABRAS, 2010, p. 44). Nestes termos, Grijalva (2008, p. 50-51), ao, também, analisar a formação desse novo constitucionalismo plurinacional surgido na América latina, destaca que: “O constitucionalismo plurinacional é ou deve ser um novo tipo de constitucionalismo baseado em relações interculturais igualitárias que redefinem e reinterpretam os direitos constitucionais e reestruturam a institucionalidade provenientes do Estado Nacional. O Estado plurinacional não é ou não deve se reduzir a uma Constituição que inclui um reconhecimento puramente cultural, (...), senão um sistema de foros de deliberação 6 intercultural autenticamente democrática ”. No entanto, Sánchez Parga (2008) analisando as diretrizes desse novo Estado plurinacional, tece algumas críticas a esse novo modelo, ao partir do entendimento de um existente exagero, nesse novo paradigma, dos poderes do Executivo, haja vista ser, segundo ele, a única forma, de se consubstanciar as propostas oriundas dessa matriz. Neste interim, o mencionado autor aponta que não será uma simples alteração constitucional, inaugurando o Estado Plurinacional e uma nova matriz constitucional, que alterará 6 “El constitucionalismo plurinacionales o debe ser um nuevo tipo de constitucionalismo basado en relaciones interculturales igualitárias que redefinan y reinterpreten los derechos constitucionales e reestruturen la institucionalidad proveniente del Estado Nacional. El Estado plurinacional no es o no debe reducirse a una Constitución que incluye um reconocimiento puramente culturalista, (...), sino um sistema de foros de deliberación intercultural auténticamente democrática” (Tradução nossa). 115 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I a realidade dos povos e culturas excluídas, tendo em vista que para ele “(...), é preciso reconhecer que é a sociedade que faz a Constituição e não a Constituição que faz a sociedade 7” (SANCHEZ PARGA, 2008, p. 82). Ressaltam-se, também, os apontamentos trazidos por Kraus (2012, p. 60) acerca dos problemas para se efetivar a democracia nesses novos Estados Plurinacionais, ou seja, para ele o potencial de conflitos advindos de um alto nível de pluralismo sub cultural – existência de várias culturas menores dentro de uma cultura estatal – afetará de forma negativa a capacidade de integração política de regimes plurinacionais. Em que pesem as referidas críticas, mesmo que haja um reforço dos poderes do Executivo, em um primeiro momento, com objetivo de se concretizar os direitos e garantias dispostos na Constituição, o novo constitucionalismo latino americano possibilita uma maior e mais ativa participação da sociedade, ou seja, o povo estará mais presente nas decisões de seu governo, pois dentro desse governo, estarão representantes de várias culturas. O Estado moderno nacional, de matiz liberal, consumista e capitalista, nascido da intolerância com aqueles que não partilhavam da identidade nacional, dependente em seu desenvolvimento de políticas de intolerância, exploratórias, uniformizadoras, já não suporta os anseios de um mundo interconecto, uma aldeia global, por onde os direitos humanos necessitam ser reconstruídos, não como mecanismos de uniformização, imposição cultural do poder enquanto estética do belo, mas como mecanismo de integração cultural. Disso, podemos retirar que todas estas deficiências apontadas ao marco do constitucionalismo moderno nacional, apontam para uma origem comum, ou seja, nas primeiras teorias do nacionalismo de cunho liberal se concretizou a desconsideração do caráter político, não meramente étnico-cultural, de modo que os governos, as organizações, as instituições de poder, em seus discursos nacionalistas, não refletiam, e ainda não refletem, o povo que lhe é subjacente, que lhe é “súdito”. (MAIZ, 2012, p. 18). Diante desse fato, Tápia (2007, p. 48) expôs uma série de crises que essa noção clássica – moderna e nacional – de Estado, vem cotejando nos últimos anos, sendo que, segundo ele, uma dessas crises é a de correspondência entre os cidadãos e seu governo, ou seja, os membros do poder de um Estado não são ligados às várias culturas de uma sociedade 7 “(...), es preciso reconhecer que es la sociedade la que hace La Constitución y no La Constitución que hace la sociedade” (Tradução nossa). 116 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I “Há, por último, um elemento de crise que se poderia chamar crise de correspondência, que é o que quero por ênfase. Se trata de uma crise de correspondência entre o Estado boliviano, a configuração de seus poderes, o conteúdo de suas políticas, por um lado, e, por outro, o tipo de diversidade cultural desenvolvida de maneira auto organizada, tanto a nível da sociedade civil, quanto de assembleia de povos indígenas e outros espaços de exercício da autoridade política que não formam parte do Estado boliviano, senão de outras matrizes culturais excluídas pelo Estado liberal desde sua origem colonial, bem 8 como em toda sua história posterior ”. Assim, com a expansão de uma globalização virtual, as culturas excluídas da lógica do Estado moderno, capitalista, voltado para a uniformização pela igualdade de crenças, atualmente o consumo – houve o surgimento de um novo modelo de Estado, de matriz Plurinacional, cujo fim é, não só o reconhecimento de direitos, mas a salvaguarda de meios que garantam o surgimento de cultural encobertas pelo Estado Nacional, ou seja, que a identidade nacional seja forjada a partir da diferença entre os vários Eu’s de uma mesma sociedade. Desse modo, como acentua Grijalva (2008, p. 52) acerca de como deveremos pautar a condução desse modo modelo constitucional de Estado latino americano, chegaremos a conclusão de que nesse paradigma que surge, necessariamente, deveremos ser: Dialógicos – pois o novo modelo requer comunicação e deliberações permanentes entre as culturas; Concretizantes – pois deveremos buscar soluções específicas, e em tempo, para situações individuais e coletivas; e Garantistas – haja vista essas soluções surgirem por meio de deliberações, cujo marco de compreensão é o reconhecimento dos valores constitucionais institucionalizados pelos Direitos Humanos. Neste sentido, Santos (2007) aponta a necessidade de refundação do Estado, ou seja, de uma nova construção estatal em busca de resgatar uma parcela do povo esquecida há 500 anos. Ademais, ainda nesta premissa, Santos (2007, p. 26-27) aponta que essa necessidade decorre de inúmeros fatores, sendo o principal deles o fato de enfrentamos hoje um grande distanciamento entre a teoria política e a prática política. Assim, o Estado plurinacional e, consequentemente esse novo constitucionalismo latino americano que surge, traz uma nova conotação à democracia, ou seja, estatui o que Santos (2007, 8 “Hay, por último, un elemento de crisis, que se podría llamar crisis de correspondencia, que es lo que quiero poner énfasis. Se trata de uma crisis de cosrrespondencia entre el estado boliviano, la configuración de sus poderes, el contenido de sus políticas, por un lado, y, por el otro, el tipo de diversidad cultural desplegada de manera autoorganizada, tanto a nível de la sociedad civil como de la asamblea de pueblos indígenas y otros espacios de ejercicio de la autoridad política que no forman parte del estado boliviano, sino de otras matrices culturales excluidas por el estado liberal desde su origen colonial y toda su historia posterior” (Tradução nossa). 117 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I p. 47) denomina de Demodiversidade, uma democracia onde a diversidade cultural tem voz, onde não ser igual é ser normal. Desta feita, temos de destacar, ainda, que o diverso não, necessariamente, será desunido, bem como o que aparentemente está unido, não, necessariamente, será uniforme, ou seja, “temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, mas, temos o direito de ser diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2011, p. 462). Ademais, a partir dessas premissas lançadas pelo novo modelo de Estado Plurinacional latino americano, e do novo constitucionalismo inaugurado a partir desse paradigma, podemos perceber a possibilidade de uma construção intercultural dos Direitos Humanos, ou seja, a partir do reconhecimento do Outro/Eles como seres assim como Nós, visualizarmos os direitos humanos a partir de uma interculturalidade. Nesse aspecto, podemos nos utilizar aqui das acepções trazidas por aquilo que se pactuou chamar de ética da alteridade e da responsabilidade, por onde o Eu sabe ver no Outro um ser igual a si, ou seja, a partir de uma responsabilidade intercultural. Ressalta-se que, a ética no contexto aqui trabalhado, deve ser entendida como a filosofia da moral, ou seja, a origem, o primado em que se embasa a moral – produto das regras e normas culturais de um povo (KROHLING, 2011, p. 19 e 37). Desse modo, a consciência advinda do citado entendimento acerca da ética, atua como um verdadeiro caminho de inter-relação entre todas as esferas humanas, se constituindo, assim, em ética da responsabilidade, ou seja, a ética, nesse ponto, se destaca como a reflexão crítica entre as possibilidades do fazer ou não fazer (KROHLING, 2011, p. 29). No entanto, a responsabilidade que temos com o outro na condução de uma construção intercultural dos Direitos Humanos se pauta pelo entendimento de que os relacionamentos intersubjetivos são assimétricos, ou seja, segundo Lévinas a relação intersubjetiva é uma relação não-simétrica, ou seja, serei responsável pelo outro sem esperar que a recíproca, ainda que isso venha me custar a própria vida (LÉVINAS, 2007, p. 82). Portanto, a relação com o Outro nos servirá como questionamentos, a fim de nos esvaziar de nós mesmos, nos possibilitando a descoberta de novas possibilidades e visões. Assim, ser Eu/Nós, nestes termos, significa para Lévinas (2009, p. 49 e 53), não poder me furtar da responsabilidade pelos outros, pois essa responsabilidade é que me tirará o individualismo, o egoísmo e o imperialismo em que o meu eu está inserido. 118 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Neste desiderato, podemos retirar dessas premissas acerca de uma ética da alteridade e da responsabilidade, uma conclusão no sentido de que Lévinas não só cria, mas também aprofunda as categorias da ética como uma filosofia do outro, desenvolvendo, neste contexto, o princípio matriz da ética da alteridade e da responsabilidade, que estão, necessariamente, relacionados com os Direitos Humanos sob um viés Intercultural (KROHLING, 2011, p. 91 e 92). A Ética da Alteridade e da Responsabilidade de Lévinas, portanto, é um caminho para o eu reconhecer o outro que habita em cada um de nós, ou seja, é a possibilidade de uma sociedade, que de fato é heterogênea, construir suas bases culturais não só no reconhecimento da diferença, mas no diálogo com esse ser, aprioristicamente, entendido como diferente. O Outro passa de inimigo, àquilo que me completa como Eu/Nós. De outro norte, não só pelo viés de uma ética da responsabilidade e da alteridade podemos buscar uma construção intercultural dos Direitos Humanos, mas, também, por aquilo que Raimon Panikkar (2004) chama de Hermenêutica Diatópica, conceito utilizado por Santos (2001, p. 21) para corroborar seu empreendimento de construção de uma identidade multicultural aos Direitos Humanos, diversa daquela exposta na Carta das Nações Unidas de 1948. Desta feita, a fim de entender o fato dos Direitos Humanos serem escamoteados pelo Estado moderno Nacional, através das ingerências nefastas do capitalismo do consumo, Panikkar abre os olhos para essas intricada questão, de modo a embasar sua resposta no fato de que tais Diretos Humanos não representarem um símbolo universal, ou seja, algo que seja reflexo de cada uma das inúmeras culturas existentes em nosso tempo (PANIKKAR, 2004, p. 206). Neste sentido, Krohling nos dá um ponto de partida, que permitirá repensarmos os Direitos Humanos, ou seja, à luz das contribuições de Panikkar, bem como de Christoph Eberhard, Boaventura de Sousa Santos e tantos outros, determina o papel do que chama de antropologia cultural, dispondo que: “O ponto de partida epistemológico para se repensar os Direitos Humanos é a antropologia cultural e a aproximação metodológica da hipótese de que só será possível uma filosofia jurídica não etnocêntrica e em diálogo com todas as outras culturas, se tivermos como premissa o pluralismo cultural. O pluralismo e a multipolaridade provocados pela mundialização cultural hodierna estão abertos à nova visão de aproximação e de teorizações interculturais do direito”. (KROHLING, 2009, p. 67). 119 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Desse modo, atento a essa conjectura multicultural da atualidade, Panikkar, através de uma teorização diatópica das equivalências homeomórficas9, nos propõe uma visão cosmoteândrica da realidade, ou seja, uma realidade formada a partir da visão do cósmico, do divido e do humano, que interligados formariam a base de uma busca pelos Direitos Humanos pautados por um diálogo intercultural. A partir de então, Krohling destaca que “a atual concepção de Direitos Humanos está inserida em um contexto de domínio cultural pelo fato de nem todas as tradições culturais terem atuado na formação dos instrumentos internacionais de Direitos Humanos” (2009, p. 91), ou seja, a atual visão que temos dos Direitos Humanos possui matiz ocidental, europeizada. Ao fim, ainda nesta conjetura da necessidade de construção multicultural dos Direitos Humanos, bem como a necessidade de salvaguarda das várias culturas de direito a fim de construir um conceito “pleno” de Direitos Humanos, ou seja, diferente daquilo que temos atualmente – imbuído de uma pretensão universalidade, mas que, ao contrário, nasce de uma matriz ocidental, europeizada e cristã –, há que ressaltar a contribuição de Joaquim Herrera Flores (2003, p. 299) e aquilo que ele denomina de racionalidade da resistência: “(...) nossa visão complexa dos direitos, aposta em uma racionalidade de resistência. Uma racionalidade que não nega que é possível chegar a uma síntese universal das diferentes opções relativas aos direitos. E tampouco descarta a virtualidade das lutas pelo reconhecimento das diferenças étnicas ou de gênero. O que negamos é considerar o universal como um ponto de partida ou um campo de desencontros. Ao universal há que se chegar – universalismo de chegada ou confluência – depois (não antes) de um processo conflitivo, discursivo de diálogo ou de confrontação no qual cheguem a romper-se os prejuízos e as linhas paralelas”. Assim, Wolkmer (2006, p. 125) aponta que será nessa perspectiva de um pluralismo cultural e, consequentemente, jurídico, de base comunitário-participativo, fundado em um diálogo intercultural, que deveremos nos pautar no momento de definir e interpretarmos os limites de uma nova concepção de Direitos Humanos, a fim de se englobar não só o Eu, de natureza cristã, ocidental, europeizado, mas, também, o Outro, independentemente de onde venha, ancestralmente ou localmente. 9 Essas equivalências homeomórficas tratadas por Panikkar tem o sentido de formas semelhantes, ou seja, são conceitos e símbolos que, tratados por diferentes culturas, de forma igual ou não, podem servir para criar um campo de diálogo entre elas. Um exemplo trazido por Panikkar é o da Dignidade da Pessoa Humana, que é tratada por todas as culturas, mas não como sendo Direito Humano Fundamental, haja vista algumas não a reconhecerem como tal. 120 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A partir dessas discussões sobre a multiculturalidade que permeia ou que deveria permear a noção de Direitos Humanos, Panikkar (2004, p. 210) aponta que tais Direitos funcionam como uma janela através da qual cada cultura jurídica constrói uma ordem humana para seus semelhantes, ordem essa entendida como justa, sendo que essas pessoas que vivem sob tal construção, não veem tal janela, de modo que necessitam do outro, ou seja, de outra cultura, para lhes auxiliar em sua percepção da realidade em que estão inseridos. É o que Krohling denomina de teoria das janelas (KROHLING, 2009, p. 117). É dessa concepção que Panikkar elaborará a noção daquilo que ele denomina de Hermenêutica Diatópica10, de modo que, para ele, tal fenômeno nada mais é do que “uma reflexão temática sobre o fato de que os loci (topoi11) de culturas historicamente não-relacionadas tornam problemáticas a compreensão de uma tradição com as ferramentas de outras e as tentativas hermenêuticas de preencher essas lacunas” (PANIKKAR, 2004, p. 208). Dessa perspectiva, podemos concluir que a hermenêutica diatópica se fundamenta numa ideia de incompletude cultural, ou seja, que por mais forte que determinado topoi de uma cultura seja, ele não será completo, incompletude que deflagra a necessidade de um diálogo intercultural entre o Eu/Nós e o Outro/Eles, para a formação de um novo Nós, que não segregue ou exclua aquele entendido, hoje, como diferente. Assim, Santos (2010, p. 447), dentro dessa perspectiva, aponta para a necessidade de realização desse diálogo, tendo em vista que “compreender uma determinada cultura a partir dos topoi de outra cultura é uma tarefa muito difícil”, ou seja, para ele o caminho, assim como para Panikkar, para a construção e realização de um novo modelo intercultural dos Direitos Humanos está em um diálogo intercultural, fomentado através das premissas do que denominam de hermenêutica diatópica. Por fim, exemplos de diálogos interculturais que embasam uma construção intercultural de direitos, nos possibilitando, assim, pensar tal perspectiva também na seara dos Direitos Humanos, são as novas Constituições do Equador e da Bolívia, por onde, na primeira, o meio ambiente é tido como sujeito de direitos e na segunda, as línguas indígenas são consideradas 10 Hermenêutica Diatópica (dia = através + topos = lugar). 11 Topoi segundo a construção teórica de Panikkar são conceitos fortes, lugares comuns retóricos, ou seja, locais dentro da cultura de cada sociedade que em que o contato com o outro fica restrito, sob pena de se descaracterizar culturalmente. 121 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I como línguas oficiais, ou seja, citados exemplos demonstram uma construção interna de um diálogo intercultural com objetivo de ser proteger os Direitos Humanos daqueles até então encobertos. CONCLUSÃO Após debatermos o presente trabalho na direção de construirmos uma nova imagem ao europeu, diferente daquela que ainda nos é passada, uma imagem condizente com a história do Estado moderno Nacional, qual seja, de um “bárbaro”, que ao invadir aquilo que denominou, posteriormente, de América, se utilizou de sua força e cultura para imputar aos que aqui habitavam, forçadamente, uma identidade nacional, buscamos, neste sentido, ligar essa construção às discussões acerca dos Direitos Humanos e sua necessária acepção multicultural, desaguando nos diálogos inaugurados pelo Estado Plurinacional e pelo novo constitucionalismo democrático latino americano. Desse modo, apresentamos, em um primeiro momento, os contornos acerca da utilização do poder para a construção de uma estética entorno daquilo que se entendeu por identidade nacional, ou seja, como essa ideia do belo, do correto, do modus a ser seguido, inaugurada pelo Estado moderno Nacional, ainda hoje se reflete em nossas relações sociais, sejam aquelas ocorridas dentro de um mesmo território, seja aquela praticada na órbita internacional. A partir de então, buscamos demonstrar como esse novo modelo de Estado intitulado Plurinacional, jungido em terras latino-americanas, bem como o modo pelo qual nasce dessa acepção de Estado, um novo constitucionalismo democrático, e mais, como essas linhas poderão nos auxiliar na busca de uma concepção multicultural dos Direitos Humanos. Nestes termos, a partir de tudo o que foi discutido acima, conseguimos chegar a conclusão que a identidade nacional, utilizada pelo europeu como estética do poder estatal para construir a ideia de nação/povo, ainda permanece em nossas relações sociais, fato que reflete o distanciamento cultural que podemos encontrar em nossa América Latina, e mais, que o novo modelo de Estado Plurinacional inaugurado em nosso contexto latino americano é capaz de trazer ao diálogo aqueles que foram encobertos durante a construção e afirmação do Estado Nacional moderno. 122 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Por fim, as maiores crueldades que os povos originários e os de imigração forçada sofreram, somente ocorreram pela necessidade do europeu de impor sua cultura sobre as outras, essas tidas como erradas, feias, contrárias ao cristianismo, aos dogmas da “nação” europeia, essa portuguesa, espanhola, francesa ou inglesa, ou seja, se hoje vivenciamos uma época de grandes mudanças, é necessário desencobrir àqueles que a história humana sempre encobriu, trazendo-os ao debate, a ponto de fazer surgir uma visão multicultural dos direitos humanos. REFERÊNCIAS AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. ALMEIDA, Lúcio Flávio Rodrigues de. Lutas sociais e questões nacionais na América Latina: algumas reflexões. Disponível em: <http://www.pucsp.br/neils/downloads/v17_18_lucio.pdf>. Acessado em: 20 de Agosto de 2012. AZURMENDI, Miren Gorrotxategi. La Gestión de la Diversidad Cultural: El Multiculturalismo em uma Sociedad Plurinacional. In.: Revista de Estudios Políticos (nueva época), n. 129, julio-septiembre, Madrid, 2005, p. 89-136. BALDI, César Augusto. Novo Constitucionalismo Latino-Americano. In: Jornal Estado de Direito. 32ªed. Disponível em: <http://www.estadodedireito.com.br/2011/11/08/novoconstitucionalismo-latino-americano/>. Acessado em: 14 de Agosto de 2012. DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho. A Noção de Pessoa Jurídica e sua Ficção Jurídica: a pessoa indígena no direito brasileiro. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/fernando_antonio_de_carvalho_dantas3.p df>. Acessado em 23 de Outubro de 2012. DUSSEL, Henrique. 1492 El Encubrimiento del Otro: hacia el origen del “mito de la Modernidad. La Paz: Plural Editores, 1994. _______. Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão. 4ªed. Petrópolis: Editora Vozes, 2012. FABRIZ, Daury Cesar. A Estética do Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. 123 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato público brasileiro. 3ªed. rev. São Paulo: Globo, 2001. FERNÁNDEZ-NOGUERA, Albert e DIEGO, Marcos Criado. La Constitución Colombiana de 1991 como Punto de Inicio del Nuevo Constitucionalismo en América Latina. In.: Revista Estudos Socio-Jurídicos, Bogotá (Colombia), n. 13 (1), enero-junio de 2011. p. 15-49. FREIRE, Patricio Pazmiño. Algunos Elementos Articuladores del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. In.: Cuaderno Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol n. 67/68, p. 27-54. GRIJALVA, Agustín. El Estado Plurinacional e Intercultural em La Constitución Ecuatoriana del 2008. In. Ecuador Debate 75. Quito-Ecuador, Dezembro de 2008. p. 49-62. Disponível em: <http://www.ecuadordebate.com/wp-content/uploads/2010/06/Ecuador-debate75.pdf>. Acessado em: 17 de julho de 2012. HERRERA FLORES, Joaquín. Human Rights, Interculturality and Resistance Rationality. trad. por PRONER, Carol. In: Revista Direito e Democracia. Vol. 4. N. 2. 2º Semestre de 2003. p. 287 a 304. HOBSBAWM, Eric J. A Era do Capital: 1848-1875. 5ªed. rev. Trad. por NETO, Luciano Costa. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1997. JUNIOR, Luiz Marcio Siqueira e ABRAS, Michelle. A Autodeterminação dos Povos do Estado plurinacional: da integração latino-americana à objeção aos efeitos perversos da globalização. In: revista da Faculdade Mineira de Direito, vol. 3, nº26, jul./dez. 2010. p. 41-60. KRAUS, Peter A. Problemas de Democratización em Los Estados Plurinacionales. Disponível em: <http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:filopoli-1996-8-3A7C3FCD12B9-C8CB-7797-F0C0D21071D3/problemas_democratizacion.pdf>. Acessado em 01 de agosto de 2012. KROHLING, Aloísio. A Ética da Alteridade e da Responsabilidade. Curitiba: Juruá, 2011. _______. Direitos Humanos Fundamentais: diálogo intercultural e democracia. São Paulo: Paulus, 2009. KUHN, Thomas S.. A Estrutura das Revoluções Científicas. 7ªed. Trad. por BOEIRA, Beatriz Viana e BOEIRA, Nelson. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003. 124 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I LÉVINAS, Emmanuel. Ética e Infinito. trad. por GAMA, João. revisão por MOURÃO, Arthur. Lisboa: Edições 70, 2007. _______. Entre Nós: ensaios sobre alteridade. trad. por PIVATTO, Pergentino S. (coord.); KUIAVA, Evaldo Antônio; NEDEL, José; WAGNER, Luiz Pedro e PELIZOLLI, Marcelo Luiz. 3ªed. Petrópolis: Vozes, 2004. _______. Humanismo do Outro Homem. trad. por PIVATTO, Pergentino S. (coord.); MEINERZ, Anisio; DA SILVA, Jussemar; WAGNER, Luiz Pedro; MENEZES, Magali Mendes de e PELIZZOLI, Marcelo Luiz. 3ªed. Petrópolis: Vozes, 2009. MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Culturalismo e Universalismo diante do Estado Plurinacional. In: Revista Mestrado em Direito – UNIFIEO – Osasco, ano 10, nº2. p. 201-219. _______. Plurinacionalidade e cosmopolitismo: a diversidade cultural das cidades e diversidade comportamental nas metrópoles. In: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais da Faculdade de Direito de Vitória. nº.7. p. 203 a 216. jan./jun. de 2010a. _______. Violência e Modernidade: o dispositivo de Narciso: a superação da modernidade na construção de um novo sistema mundo. Disponível em: <http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br/2011/02/197-teoria-do-estado-primeirasaulas.html>. Acessado em 24 de Setembro de 2012a. _______. Reflexões sobre o Novo Constitucionalismo na América do Sul: Bolívia e Equador. Disponível em: <http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br /2011/11/802-reflexoessobre-o-novo.html>. Acessado em 25 de Agosto de 2012b. _______. O Estado Plurinacional na América Latina. <http://jusvi.com/artigos/38959>. Acessado em: 13 de Agosto de 2012c. Disponível em: _______.Comunidades tradicionais, plurinacionalidade e democracia étnica e cultural: Considerações acerca da proteção territorial das comunidades de remanescentes de quilombos brasileiras a partir da ADI nº 3.239. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/14141/comunidades-tradicionais-plurinacionalidade-edemocracia-etnica-e-cultural>. Acessado em 28 de Junho de 2012d. _______ e AFONSO, Henrique Weil. Bioética no Estado de Direito Plurinacional. In: Direitos Culturais. Santo Ângelo, vol. 5, nº8, p. 13-26, jan/jun. 2010c. Disponível em: <http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/354>. Acessado em 16 de Agosto de 2012. 125 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I MAÍZ, Ramón. Nacionalismo y Multiculturalismo. Disponível em <http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/081116.pdf>. Acessado em: 17 de Agosto de 2012. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Crepúsculo dos ídolos ou a filosofia a golpes de martelo. São Paulo: Hemus, 1984. OLIVÉ, León. Por una Auténtica Interculturalidad Basada em el Reconocimiento de la Pluralidad Epistemológica. In.: Pluralismo Epistemológico. La Paz: Muela del Diablo Editores, 2009. PARGA, J. Sánchez. Paradojas Políticas e Institucional es del Constitucionalismo. In. Ecuador Debate,nº75. Quito-Equador, Dezembro de 2008. p. 77-92. Disponível em: <http://www.ecuadordebate.com/wp-content/uploads/2010/06/Ecuador-debate-75.pdf>. Acessado em: 17 de julho de 2012. PANIKKAR, Raimon. Seria a Noção de Direitos Humanos um Conceito Ocidental? In: BALDI, César Augusto. Direitos Humanos na Sociedade Cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. SANTOS, Boaventura de Souza. Para Além do Pensamento Abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 78, Outubro de 2007, p. 3-46. _________. A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política. 3ªed. São Paulo: Cortez Editora, 2011. _________. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional. In.: OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, Setembro de 2007. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22SousaSantos.pdf>. Acessado em 21 de Agosto de 2012. _________. Para uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos. In.: Contexto Internacional. Rio de Janeiro, vol. 23, n. 1, jan/jun, 2001, p. 7-34. _________. Pensar El Estado Y La Sociedad: desafios actuales. Buenos Aires: Waldhuter Editores. 2009. __________. Reinventar a Democracia. 2ª ed. Lisboa: Gradiva, 1998. SILVA, José Alves. O Indígena Brasileiro: perspectivas de cidadania em face da concepção de Estado. Disponível em: < http://www.conpedi.org.br/manaus/ 126 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I arquivos/anais/manaus/estado_dir_povos_jose_alves_da_silva.pdf>. Novembro de 2012. Acessado em 05 de TAPIA, Luis. “Una reflexión sobre laidea de Estado plurinacional” enOSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, Setembro de 2007. Disponibleen: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22Tapia.pdf>. Acessado em 22 de Agosto de 2012. VIEIRA, José Ribas. Refundar o Estado: o novo constitucionalismo latino-americano. In: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/24243799/UFRJ-Novo-Constitucionalismo-Latino-Americano>. Acessado em 15 de Agosto de 2012. WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. O Fim do Mundo como o Concebemos: ciência social para o século XXI. trad. por AGUIAR, Renato. Rio de Janeiro: Revan, 2002. WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico, Direitos Humanos e Interculturalidade. In: Revista Sequência. N. 53, p. 113 a 128. Dezembro de 2006. ZIZEK, Slavoj. Vivendo no Fim dos Tempos. Trad. por MEDINA, Maria Beatriz de. São Paulo: Boitempo, 2012. 127 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I PARTIDOS, SINDICATOS E COLETIVOS: VELHOS ATORES EM NOVAS FEIÇÕES PARA UMA NOVA DEMOCRACIA. POLITICAL PARTIES, TRADE UNIONS AND COLLECTIVES: OLD PLAYERS IN NEW FEATURES FOR A NEW DEMOCRACY. Gretha Leite Maia1 RESUMO A pesquisa objetiva de forma geral investigar as novas formas de organização, expressão e liderança dos movimentos sociais. Especificamente, identifica as experiências vividas no século XX nas formas associativas dos partidos políticos e dos sindicatos, bem como os movimentos de massas, enquanto (pretensos) canais de expressão de reivindicações sociais. Identifica como se reorganizam, no século XXI, os movimentos sociais para a consolidação da democracia como um princípio estruturante do Estado de Direito. Analisa novos paradigmas como a horizontalidade e a superação do medo e a efetivação da cultura da cooperação. A hipótese a ser verificada é se, contemporaneamente, os coletivos, novas formas associativas que fazem uso constante de vasto aparato tecnológico, representam uma proposta viável de superação dos partidos políticos e sindicatos, não somente como corpos intermediários entre a sociedade civil e o poder, mas como um projeto de efetivação da democracia crítica, utilizando o conceito de G. Zagrebelsky. Trata-se de pesquisa bibliográfica e exploratória. PALAVRAS-CHAVE: Partidos. Sindicatos. Coletivos. Democracia crítica. ABSTRACT The research aims to broadly investigate social movements and their new forms of organization, expression and leadership. Specifically, identifies the historical experiences of the twentieth century of political parties and trade unions, unveiling its main characteristics as a means of expression of social demands. Identifies how social movements reorganize themselves in the consolidation of democracy as a structuring principle of the rule of law in twenty-first century. The hypothesis to be verified is whether, now a days, the collectives, new forms of association that make constant use of a vast technological apparatus, represent a viable proposal of overcoming political parties and trade unions, not only as intermediate bodies between civil society and political power, but as a project of realization of critical democracy, in terms of G. Zagrebelsky. It’s an exploratory and bibliographic research. KEY-WORDS: Political parties. Trade Unions. Collectives. Critical Democracy. INTRODUÇÃO É comum a referência aos chamados “novos atores sociais”2, especialmente nos estudos de redemocratização no Brasil a partir da década de 90 do século passado. Trabalhadores, urbanos e rurais, as mulheres e a juventude não são, entretanto, novos atores. São velhos atores que nesses quatro séculos de modernidade, por meio de suas lutas, Doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará; Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará; advogada e professora. 2 Cf. os estudos de Sérgio Adorno, José Eduardo Faria e Maria Tereza Sadek publicados em 1994, na Revista USP – Dossiê Judiciário, referente ao trimestre mar-abr-mai. 1 128 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I protagonizaram os movimentos sociais e contribuíram de forma decisiva para a construção do cenário político que inaugura o século XXI, especialmente na América Latina: o pensamento pós-crítico que revolve o constitucionalismo (face do Estado de Direito) e a democracia, os dois pilares de sustentação de praticamente todos os povos contemporâneos. Velhos atores, em novas feições. A pesquisa que ora se apresenta objetiva de forma geral investigar as novas formas de organização, expressão e liderança dos movimentos sociais. Para tanto, identifica, por meio de uma análise histórica, as experiências vividas no século XX de formas associativas como os partidos políticos e os sindicatos, pretensos canais de expressão de reivindicações sociais, e os movimentos de massa da primeira metade do século passado. Em seguida, identifica como se reorganizam, no século XXI, os movimentos sociais para a consolidação da democracia como um princípio estruturante do Estado de Direito, reorientados por novos paradigmas como a horizontalidade e a superação do medo e a efetivação da cultura da cooperação. A hipótese a ser verificada é se, contemporaneamente, os coletivos, novas formas associativas que fazem uso constante de vasto aparato tecnológico, representam uma proposta viável de superação dos partidos políticos e sindicatos, não somente como corpos intermediários entre a sociedade civil e o poder, mas como um projeto de efetivação da democracia crítica, utilizando como referência o conceito de G. Zagrebelsky, ou uma democracia que se conquista todo dia, por meio de acordos e consensos, mas também com a dissidência e o conflito necessários para iluminar relações sociais mais igualitárias e livres de violência, como propugna G. Pisarello. Para fins dessa pesquisa, foram usados como referência dois movimentos recentes: o coletivo ‘Barricadas Abrem Caminhos”, um grupo nacional do movimento estudantil, com foco na sua participação no episódio da resistência à ação de despejo na Ocupação Vida Nova, na Granja Portugal/Bom Jardim, ocorrida em Fortaleza, no Ceará, em fevereiro de 2012, e os protestos ocorridos no Chile em agosto de 2012, monitorados por observadores de capacetes brancos ou azuis, armados com câmeras e notebooks. De que forma esses movimentos se articulam? O que tem em comum? Que novos paradigmas se projetam? Como se tece a rede invisível de convocação e articulação entre os diversos coletivos? Como se distinguem, enquanto proposta e enquanto ação, dos partidos políticos e dos sindicatos, e mesmo dos movimentos de massa que marcaram a primeira metade do século XX? 129 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A pesquisa, assim, se realiza mediante um estudo da interface entre o velho e o novo; entre as velhas formas associativas hierarquizadas e autoritárias e as novas formas horizontais e cooperativas; entre a democracia do século XX, dos partidos políticos e dos sindicatos, e a democracia do século XXI, dos coletivos e das redes sociais; entre velhas formas de fazer e pensar a democracia e novas formas de compreender e exercitar a soberania popular. Justifica-se a pesquisa na medida em que assistimos a novas formas e espaços de expressão reivindicados pelos movimentos sociais, especialmente os de juventude, para exercer o direito de livre manifestação e expressão, interferindo nos processos decisionais do Estado. Trata-se de pesquisa bibliográfica e exploratória. 1. MAIO DE 68: DENUNCIANDO OS PARTIDOS E OS SINDICATOS COMO PARTE DO ESPETÁCULO O ponto de partida para a reflexão que orientou essa pesquisa foi um balanço dos 40 anos de Maio de 68, feito pelo sociólogo francês Edgar Morin. Segundo Morin (2010), nos anos 60 do século XX aconteceu uma verdadeira expansão dos limites do conhecimento, alterando a visão que as pessoas tinham do mundo ao seu redor e do próprio universo: a ascensão da ecologia, novas descobertas da astronomia, o declínio das metanarrativas e das explicações totalizantes veiculadas na utopia comunista e, ao mesmo tempo, o abalo na crença do progresso impulsionado pelo capitalismo, as duas últimas concorrendo para minar o sentimento de esperança entre os humanos (crise do progresso/ crise de futuro). Maio de 68 foi uma revolta de jovens3. Investiram contra a autoridade, qualquer que fosse. Desvelou a inconveniente verdade de que onde se instala o bem-estar material muitas vezes se instala, para ficar, um imenso mal-estar moral ou psicológico. Pode-se falar de uma teoria francesa pós-68, sintetizada em estudo de Sylvère Lotringer (2010), que objetivava desenvolver estratégias de jogar o capitalismo contra ele mesmo, a fim de libertar o ser humano da lógica da alienação do capital. Lotringer denuncia a emergência da sociedade do simulacro, no rastro da cultura de massas, a ritualização cotidiana do espetáculo, os Segundo Morin (2010, p. 29), o “Maio de 68” é uma revolta plurinacional, multinacional, de estudantes, que acontece em países tão diferentes quanto os Estados Unidos, a Alemanha, o Egito, a Polônia, e, de certo modo, no mundo todo vê-se, pois esse movimento estudantil, já nos anos 1960, na Califórnia, se manifesta por meio de uma cultura que viria a se chamar contra cultura, tentativa dos jovens de fazer uma cultura diferente da do mundo em que viviam, criando comunidades. 3 130 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I micropoderes e biopoderes de que fala Foucault, e a aceleração da técnica e do tempo, que geram uma distopia desterritorializante, impedindo a compreensão do sentido das coisas que nos rodeiam. A ritualização cotidiana do espetáculo constitui-se em problema na medida em que torna obsoleta a ideia de revolução. O avanço do consumismo remodela a arquitetura da vida social, criando novas formas de relações sociais entre pessoas mediatizadas por imagens. Segundo Lotringer (2010, p. 48): “O espetáculo tinha o propósito de integrar as pessoas no sistema de consumo, homogeneizando as relações sociais por meio de imagens que impedem qualquer experiência direta. Ao mesmo tempo, reforça a separação e o isolamento social por meio do avanço da técnica. A comunicação instantânea que começou a se desenvolver com a tecnologia moderna apenas amplificaria esse efeito. Debord via esses movimentos como um meio de impedir o real diálogo, substituindo-o por um “monólogo sem fim”. A principal função do espetáculo era fabricar “alienação”.” A pergunta que insistia em si impor era “como sobreviver ao espetáculo e preparar a revolução dos trabalhadores?”. A crise dos paradigmas se consolida na medida em que as categorias explicativas até então produzidas pareciam caducar diante de fenômenos como a extração da mais valia não mais do trabalho nas fábricas, não mais na produção, mas diretamente do cotidiano, em suas próprias casas, diretamente do consumo; e não eram sequer os objetos propriamente ditos que as pessoas consumiam, mas signos diferenciais que reforçavam o prestígio: “os objetos de consumo não têm importância em si mesmos, apenas no sistema que formam. A necessidade de se diferenciar dos vizinhos ou rivais frequentemente substitui os antigos rituais simbólicos baseados no nascimento, na religião ou nas castas” (LOTRINGER: 2010, p.50). Assim, como fazer uma “revolução de consumidores”, em uma sociedade em que o trabalho material foi substituído pela produção imaterial – signos imagéticos que criam seu próprio espetáculo? Convertendo esse diagnóstico em termos políticos, o Maio de 68 demonstra que não se podia mais contar com partidos institucionalizados, especialmente o Partido Comunista, e com os sindicatos, para encabeçar a transformação revolucionária. Segundo Lotringer (2010, p. 53): “Eles [partidos e sindicatos] agora eram parte do espetáculo e sua principal preocupação era se auto preservar. Só se podia contar com novas forças liberadas pelo sistema – estudantes, jovens trabalhadores, desempregados – para fazer a 131 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I revolução. Essa constatação obrigou os filósofos franceses a repensar a política e o legado do marxismo.” No Brasil, o século XX foi um rico cenário em termos de desenvolvimento e atuação de partidos políticos e sindicatos, bem como outras formas associativas como “centros”, “uniões” e “ligas”. Segundo Moraes Filho (1988, p.36), “em meio à agitação, logo no dia seguinte da República, surgem os primeiro partidos operários e socialistas do Brasil, mas de cunho reformista do que propriamente revolucionário”. Mas a efemeridade foi a característica de praticamente todos eles: surgiam, lançavam manifestos e desapareciam logo depois de alguns meses ou um par de anos. Mesmo com existência legal efêmera na primeira década de existência, o Partido Comunista Brasileiro – PCB significou a associação dos brasileiros ao clube mundial dos revolucionários. Segundo Mário Magalhães (2012, p.69), “quem leu o Diário Oficial da União na primeira semana de abril de 1922 inteirou-se da novidade. O registro anunciou o nascimento do Partido Comunista – Seção Brasileira da Internacional Comunista, logo nomeado Partido Comunista do Brasil.” 4 Mas os registros do pensamento revolucionário brasileiro são ainda mais longínquos e peculiares, sendo imprescindível conhecer, a par dos movimentos de operários e camponeses, a história militar do Brasil5. A história dos sindicatos, assim como dos partidos, é profundamente identificada com o processo imigratório pós-abolição, fluxo que se estabilizou somente após 1910, e com a concentração urbana dos estrangeiros. As condições de vida e de trabalho extremamente precárias foram fomentando uma cultura de reivindicação e inconformismo. Surgiam agremiações para estudos marxistas e jornais operários que ajudaram a construir um novo léxico político (luta, união, classe, proletariado, burguesia). Ao analisar os periódicos cearenses “O Combate” – fundado em 1891, e “O Operário”, fundado em 1892, Adelaide Gonçalves (2000, p. 274) afirma que “o estudo dessa imprensa (...) revela a existência de diferentes tendências no movimento operário cearense (...), notadamente com o crescimento da influência católica, dos círculos operários, da sindicalização sob a orientação da Legião Cearense do Trabalho”. Assim, partidos, sindicatos e imprensa foram uma tríade que permitiu o avanço das lutas operárias que desembocaria, a partir dos anos 20, no trabalhismo, em seguida cooptado por Vargas. As décadas de 30 e 40 serão marcadas por uma repressão ao Filiado em 1924 ao Komintern – Internacional Comunista, criada em 1919 em um Congresso no Palácio do Kremlin, em Moscou, para congregar partidos e grupos que lutavam contra o capitalismo e pela revolução social – no mesmo ano organizou a Juventude Comunista. 5 Conferir “História militar do Brasil”, de Nelson Werneck Sodré, da editora Expressão Popular, para uma análise profunda, de orientação marxista, da história militar no Brasil, da colônia à década de 60 do sec. XX. 4 132 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I movimento dos trabalhadores, numa política violenta de dissolução de comícios e greves, se preciso à bala. Segundo Simone de Souza (2010, p. 300): “O que a interventoria queria impedir era a participação política dos trabalhadores na vida pública por meio de suas organizações – partidos, sindicatos, imprensa operária -, para isso contava com o apoio da Igreja Católica, por intermédio do jornal “O Nordeste”, dos Círculos Operários Católicos e dos intelectuais pertencentes à União dos Moços Católicos que realizavam programação cultural anticomunista, com conferência e debates nos sindicatos e associações beneficentes, a fim de evitar a divulgação de ideias comunistas nos meios operários (...) seguindo as orientações do Centro Dom Vital”. Assim, o sindicalismo de Estado que se desenvolveu no Brasil acabou excluindo a maioria dos trabalhadores. Considerando, ainda, que até os anos 60 mais da metade da população brasileira reside no meio rural, é preciso lançar um olhar sobre esses milhares de trabalhadores e trabalhadoras6 que viviam com assalariamento informal e instável, distantes de qualquer possibilidade de direitos trabalhistas e previdenciários, organizando sua luta em torno das Ligas Camponesas e mais recentemente no MST. Os governos militares que se sucedem a partir de 1964 enfraquecem os ainda incipientes canais de integração dos trabalhadores, por meio da repressão aos sindicatos e partidos e seus dirigentes. A clandestinidade e a luta armada, tanto urbana como no campo, torna-se tentativas desesperadas de resistência à ditadura, assim como o exílio, voluntário ou não. Seus participantes foram severamente punidos. Em meio à repressão germina a redemocratização. A anistia em 1979 e o movimento grevista dos trabalhadores do ABC paulista inauguram os anos 80, cujo momento mais significativo será a promulgação da Constituição de 1988. Nos anos 90 se consolida a democracia, mas, segundo Sorj (2004), não é a democracia esperada. Explorando a ideia de um paradoxo democrático, Sorj elabora sua análise sob a indagação: que tempos são estes? Como compreender e explicar a contradição entre o fortalecimento da chamada sociedade civil e, de outro lado, as dificuldades dos regimes democráticos de se confrontar com a multiplicação dos problemas sociais, como a violência, e com os desafios ecológicos, que se põem em escala planetária? Assim como o “Maio de 68” denunciou a falência dos partidos e sindicatos, Sorj (2004, p.15) considera que “a atual crise de representação política é produto Para uma análise mais detalhada conferir o estudo “Os movimentos de trabalhadoras e a sociedade brasileira”, de Paola Cappellin Giulani, em “História das Mulheres do Brasil”, organizado por Mary Del Priori, publicado em 1997 pela Editora Contexto. 6 133 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I do crescente distanciamento entre os partidos políticos e os novos movimentos sociais”, que preferem atuar inicialmente por meio das ONGs e no limiar do séc. XXI, por meio de coletivos e redes sociais. Diante dessa breve retrospectiva histórica, impõem-se as questões: sem os operários e os ideais socialistas dos secs. XIX e XX, sem os partidos e os sindicatos, como estão se estruturando novas formas de ação coletiva? Como superar a democracia inesperada que se instalou no Brasil? Como chegar o mais próximo possível de uma forma de governo que permita a todos e a cada um desenvolver suas máximas potencialidades como ser humano, em uma condição de coexistência solidária? Que entidades coletivas podem ser expressão da vitalidade da sociedade civil politicamente atuante e democrática, sem pulverizar o indivíduo, como pretendiam as teorias totalizantes do séc. XX? 2. MOVIMENTOS DE MASSA DO SEC. XX: JUVENTUDE, MILITARIZAÇÃO E TOTALITARISMO. É preciso que nesse estudo se verifique, ainda que de forma superficial, os chamados movimentos de massas do século XX, a fim de identificá-los como um risco permanente, veiculado por um discurso sedutor de ordem e segurança, embalados na retórica fácil da diferença que incita a intolerância, e a fim de distingui-los quer da proposta “partidos e sindicatos”, quer da proposta “redes sociais e coletivos” desse início de século. Segundo Agamben (2010, p.17): “A nossa política não conhece hoje outro valor (e, consequentemente, outro desvalor) que a vida, e até que as condições que isso implica não forem solucionadas, nazismo e fascismo, que haviam feito da decisão sobre a vida nua o critério político supremo, permanecerão desgraçadamente atuais. (...) A tese de uma íntima solidariedade entre democracia e totalitarismo (que aqui devemos, mesmo com toda prudência, adiantar) não é, obviamente (como, por outra, aquela de Strauss sobre a secreta convergência entre liberalismo e comunismo quanto à meta final), uma tese historiográfica, que autorize a liquidação e o achatamento das enormes diferenças que caracterizam sua história e seu antagonismo; não obstante isso, no plano histórico-filosófico que lhe é próprio, deve ser mantida com firmeza, porque somente ela poderá permitir que orientemo-nos diante das novas realidades e das convergências imprevistas do fim do milênio, desobstruindo o campo em direção àquela nova política que ainda resta em grande parte inventar.” 134 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A ascensão do indivíduo é, talvez, a principal característica da modernidade burguesa. Objeto de incontáveis estudos sociológicos7, a família burguesa implica um novo estilo de vida, com a invenção da intimidade, a sensibilidade que impulsiona e é impulsionada pelo romance romântico do sec. XVIII8, e a atomização do ser humano, agora indivíduo, núcleo mínimo da sociedade, apartado e diferente da vida comunal do período medieval. Nesse cenário, instaram-se as individualidades múltiplas e diversas. O fascismo, como o movimento de massas que varreu o ocidente na primeira metade do sec. XX, entendia a cidadania como a participação em cerimônias de massa de afirmação, conformidade e homogeneização. Essa última é perceptível na existência de um partido único, e de filiação partidária obrigatória, esvaziando completamente à lógica da identidade ideológica que orienta a organização partidária. Segundo Almeida (1982, p.21), desde o primeiro dia de governo nazista na Alemanha estava assinada a sentença de morte para o movimento operário, cujas organizações seriam pulverizadas pela “armadilha do fascismo, que levou à liquidação total da força acumulada pelo movimento operário durante decênios”. As estratégias preferidas de convencimento eram a intimidação e o medo. Segundo Robert Paxton (2007, p. 214), uma das chaves do sucesso de Hitler foi a sua disposição para cometer assassinatos. Mas é equivocada a noção de que apenas o líder carismático arrastava as multidões. Segundo Paxton (2007, p. 198): “Todas as gerações de estudiosos do fascismo notaram que esses regimes baseavamse em algum tipo de pacto ou aliança entre o partido fascista e as poderosas forças conservadoras. Em inícios da década de 1940, o social-democrata refugiado Franz Neumann afirmou, em sua obra clássica Behemoth, que um ‘cartel’ formado pelo partido, pela indústria, pelo exército e pela burocracia, governava a Alemanha nazista, unidos apenas pelos objetivos do lucro, poder, prestígio, e principalmente medo”. Negrito nosso. Muitas são as imagens do fascismo. Talvez por ser a mais explicitamente visual de todas as formas políticas, o fascismo muitas vezes é evocado pelo senso comum na figura de um ditador discursando para uma multidão em êxtase e fileiras de jovens militarmente disciplinados desfilando em paradas. Efetivamente, segundo Paxton (2007, p.234): “Os regimes fascistas lançaram-se à construção do novo homem e da nova mulher (cada qual na esfera que lhe era própria). Era a desafiante tarefa dos sistemas Apenas para citar, faz-se referência ao pensamento de Norberto Elias, em especial no “A sociedade de indivíduos”, publicado pela Editora Zahar em 1994. 8 Para uma análise mais aprofundada, conferir a “A invenção dos Direitos Humanos”, de Lynn Hunt, publicado pela Companhia das Letras em 2009. 7 135 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I educacionais fabricar “novos” homens e mulheres, que seriam simultaneamente lutadores e súditos obedientes. Os sistemas educacionais dos estados liberais, além da sua missão de auxiliar os indivíduos a realizar seu potencial educacional, já tinham o compromisso de moldar seus cidadãos. Os estados fascistas puderam utilizar os quadros e as estruturas educacionais já existentes, introduzindo apenas uma alteração na ênfase e passando a privilegiar os esportes e o treinamento físico militar. Algumas das funções tradicionais da escola foram absorvidas, sem dúvida alguma, pelas organizações paralelas do partido, tais como os movimentos de juventude de filiação obrigatória. Nos estados fascistas, todas as crianças eram automaticamente matriculadas em organizações do partido, que estruturavam suas vidas desde a infância até a universidade.” Negrito nosso. Os jovens, em todas as culturas, tendem a agrupar-se entre si, fenômeno universal e também fundamental. A atribuição e o reconhecimento de certos comportamentos tidos como próprios de um segmento etário ajudam a organizar o corpo social. As formas de convivência coletiva e expressões juvenis transformam-se a cada geração, bem como os muitos modos de registro dessas manifestações. Juventude significa um estado psíquico de comprometimento maior com o sentimento amplo em relação à capacidade de mudar a sociedade e de que a juventude nunca acaba, pois nela estão os traços mais profundos da personalidade, que nos acompanharão por toda a vida. Partido e Igrejas são exemplos de organizações que reservam um tratamento todo especial à juventude. Assim também fizeram os movimentos de massas e nisso assemelham-se a um movimento com força revolucionária. Entretanto, a aliança com os setores conservadores, a militarização (que dá margem às expressões de força e incitam o medo) e a intolerância com as diferenças multiculturais caracterizam os movimentos fascistas, nisso diferindo radicalmente das novas feições dos movimentos sociais, como adiante se verá. 3. OS COLETIVOS E AS REDES SOCIAIS: VELHOS ATORES EM NOVAS FEIÇÕES DE MOBILIZAÇÃO POLÍTICA. Existe hoje um considerável campo de estudos dos novos movimentos sociais, segundo Euzeneia Carlos (2011), designado como a Teoria dos Novos Movimentos Sociais, TNMS, que se caracteriza por afirmar que “a ação coletiva não se restringe às trocas, negociações e cálculos estratégicos de custos e benefícios, possibilitando a compreensão de certos movimentos contemporâneos cujas lutas se desenvolvem de modo conectado a questões culturais (simbólicas e identitárias), em um vasto campo cultural no qual se formam laços de confiança e solidariedade”. Afirma ainda que “a grande variedade de redes sociais presentes na estruturação da ação coletiva são quase sempre ignoradas pelos estudiosos de movimentos sociais e apenas mais recentemente o interesse pela relação entre movimentos 136 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I sociais e redes sociais tem crescido”. Cada vez mais as redes sociais e os coletivos se identificam como uma dinâmica social específica, no conceito de Euzeneia Carlos: “uma rede de interações informais, composta por uma pluralidade de atores (indivíduos, grupos, associações ou organizações) que se engajam em relações de conflito com oponentes claramente definidos e compartilham uma identidade coletiva distinta. A identidade coletiva é construída com base em interpretações e narrativas e permite que cada ator se identifique como parte do esforço coletivo, enquanto mantém sua própria identidade como ativista individual; ela está associada ao reconhecimento mútuo entre os atores, o qual define as fronteiras de um movimento que são, por consequência, inerentemente instáveis.” Especificamente no cenário da América Latina, a tendência de ampliação do uso dessas novas formas de exercício da ação reivindicatória se consolida. Segundo Ilse SchererWarren (2008) o movimento social atua cada vez mais sob a forma de rede, citando: “A rede da Via Campesina, que se expandiu no contexto das realizações do Fórum Social Mundial, criou seu espaço próprio de articulação política global e na América Latina. Em 2004, foi realizada a IV Conferência Internacional da rede, no Brasil (Itaicí/SP), sob o lema: "Globalizemos a luta, globalizemos a esperança". Os temas da soberania alimentar, das sementes transgênicas e da reforma agrária foram centrais. Representantes de organizações camponesas de 80 países compareceram, dentre as quais 18 países de América Latina e Caribe. Nesse encontro, foram realizadas a "II Assembleia de Mulheres da Via Campesina" e a "I Assembleia de Jovens Camponeses da Via Campesina", articulações que praticaram um ativismo de ação direta nos anos subsequentes, como nas ocupações dos canteiros da Aracruz Celulose, no Rio Grande do Sul. As manifestações também têm sido em solidariedade aos indígenas e quilombolas, especialmente do Espírito Santo, que perderam suas terras para a referida empresa, bem como contra o mercado de transgênicos praticado pela Monsanto, Syngenta e Stora Enso.” As redes sociais e os coletivos são propostas de ação coletivas fundadas em laço de confiança e solidariedade. Segundo Moraes e Mendes (2012, p.285) o triunfo da solidariedade é “o reflexo da ânsia de (re) ligação do ser humano com sua dimensão transcendental, a partir do momento em que sua consciência se expande para, ao mesmo tempo, perceber a unidade e integrar-se à totalidade do Cosmos”. Na busca do consenso mínimo entre os seres humanos, as autoras citam Leonardo Boff para lembrar a estreita relação entre a ética da solidariedade e a vida: “Após conceituar ethos como ‘a capacidade de ordenar responsavelmente os comportamentos com os outros e com o mundo circundante, para que possamos viver na justiça, na cooperação e na paz, no interior da casa comum dos seres humanos’, aponta [Leonardo Boff] a solidariedade como o novo imperativo categórico do ethos da humanidade na era ecológica e diante da ameaça global ao sistema”. 137 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A solidariedade, portanto, representa a alternativa à força, ao medo e ao terror, como elemento agregador de indivíduos livres, éticos e conscientes, coexistindo em comunidades, com igualdade de direitos, integrados e, ao mesmo tempo, reconhecedores de seu pertencimento a grupos culturais diversos. Os coletivos e as redes sociais são, também, marcadamente um movimento de juventude. Trata-se, de um lado, do reconhecimento, hoje consensual, de novos agenciamentos capazes de fomentar a ação coletiva juvenil para além dos espaços consagrados da política institucional partidária ou do movimento estudantil. Segundo Custódio (2006, p.207), “um aspecto diferencial que merece referência diz respeito à constituição de redes de juventude, facilitadas pelo uso da tecnologia, que re-significam a realidade juvenil brasileira, conjugando novas metodologias e estratégias de articulação juvenil”. Segundo Diógenes e Sá (2011), a história das relações Estado-jovens no Brasil tem sua face mais perversa nos casos reiterados de violência policial contra jovens de camadas populares. Assim, as relações entre as instituições policiais, e governamentais como um todo, e os jovens são marcadas acima de tudo pela desconfiança. Para exercer a cidadania e ocupar espaços públicos é preciso o exercício permanente e sem medo nas manifestações coletivas reivindicatórias. Machado (2007) também reforça a inversão da lógica do conflito à lógica da cooperação dentro dos movimentos sociais em rede. E é na cultura da cooperação que se trabalha a antítese medo/amor: “O medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-nos a fugir e a nos esconder. E fere. Se a base da vida ainda é o medo, lembro-me de ter aprendido sobreo Amor, e não o ódio, a outra emoção humana fundamental que motiva, em profundidade, todas as nossas ações. Assim, no caminho de transformação da Consciência, temos o grande exercício de conversão do medo em Amor. O Amor é a energia que expande, move, revela, leva-nos a ficar e partilhar. E cura. É a verdadeira essência da própria força de atração/coesão da natureza.” 9. As redes sociais tem assumido a função de “trabalho de base” na ampliação da mobilização e organização de novos grupos. Os jovens, especialmente, buscam espaços 9 Cf. apostila “Liderança circular”, utilizada no curso de Aperfeiçoamento “Despertando guardiãs de círculo das mulheres”, módulo VII, coordenado por Fátima Tolentino e Marisa Sanabria, do Instituto Renascer da Consciência, em parceria com a Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte/COC. 138 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I menos burocratizados e mais criativos, pondo em xeque o modelo estatal das conferências e dos conselhos, assim como dos partidos e sindicatos. Comprova tal afirmação uma visita ao coletivo “Barricadas abrem caminhos”, um grupo nacional do movimento estudantil. Apresenta como bandeira de luta a educação pública, a partir da crença de que a juventude organizada, ao longo da História e com muita luta, transformou a realidade: acreditam assim que a juventude de hoje também deve se movimentar e resistir a todos estas formas de acabar com a educação pública. Há o uso do twitter e do facebook como ferramentas regulares de troca de informações. Como afirmam no texto de apresentação: “Porém, a Universidade não é uma ilha. Por isso, pulamos os muros das nossas escolas para dar os braços aos que resistem à criminalização dos movimentos sociais da classe trabalhadora. O Barricadas levanta as bandeiras feministas, antihomofóbicas e anti-racistas, entendendo que o movimento estudantil deve pautar a luta pela transformação da nossa sociedade opressora e excludente. Também pautamos a necessidade da democratização da comunicação, da luta em defesa da saúde pública e somos contra a política proibicionista das drogas, que criminaliza apenas a classe trabalhadora. Defendemos a agroecologia, a reforma agrária e a luta contra o novo Código Florestal, apontando que não existe respeito ao meio ambiente na sociedade capitalista.” Em 25 de fevereiro de 2012 foi postada a seguinte notícia: “Despejo na Ocupação Vida Nova – Granja Portugal/Bom Jardim, Fortaleza-CE Desde o último 8 de Fevereiro, cerca de 300 famílias ocupavam um terreno do Governo Estadual reivindicando acesso à moradia no bairro da Granja Portugal, Regional V da Cidade de Fortaleza. A ocupação recebeu o nome de “Vida Nova” e contava com a participação de trabalhadores, desempregados, idosos e crianças, cuja estimativa era de cerca 1000 pessoas. Durante a madrugada de ontem para hoje, por volta das 4:30h da manhã, um contingente de cerca 100 homens do Batalhão de Choque e da COTAM, comandados pelo Major Martins, tendo este recebido orientação da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, órgão do governo estadual, despejaram todas as famílias, utilizandose de muita agressividade e violência. Física e psicológica. Várias mulheres e crianças foram agredidas. Muitas pessoas perderam o pouco que tinham, porque seus pertences foram queimados junto com as lonas e os barracos. A ação da Secretaria das Cidades foi completamente ilegal e não tem respaldo jurídico. A Secretaria se encontrava presente na ação e se recusou a falar com os moradores e dar explicações sobre o que estava acontecendo. Foram feitas ameaças inclusive, quando da tentativa de registro fotográfico por parte dos movimentos presentes. O escritório Frei Tito de Direitos Humanos está acompanhando, juntamente com o Movimento Comunidade em Luta e o Resistência Urbana, ambos movimentos atuantes da cidade de Fortaleza. Foi articulado um ato denúncia que ocorreu hoje pela manhã e também está se organizando a denúncia para o Ministério Público. 139 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Para quem puder ajudar e contribuir, favor ligar com urgência para a Angeline: (85) 8658.2453, do Movimento Comunidade em Luta. Reiteramos nosso apoio à comunidade da Ocupação Vida Nova e conclamamos todas e todos a juntar forças na resistência da luta por moradia demonstrada por essa comunidade!” Que outras mídias divulgaram a notícia? Quem monitora as ações da polícia? O trabalho de visibilidade realizado pelos coletivos e pelas rádios comunitárias permite o registro dessas ações. Ambos são espaços típicos da juventude. Nesses espaços é possível identificar uma cultura de reforço do coletivo, transformando a violência doentia (como a linha de fuga das drogas e da agressão física gratuita) em uma cidadania saudável. Os movimentos coletivos estão na vanguarda das novas formas associativas, cujo exemplo mais significativo talvez sejam as redes sociais e sua horizontalidade. Por outro lado, o modelo mais ultrapassado de exercício de poder e liderança talvez seja hoje o próprio Estado, os partidos políticos e os sindicatos e seu modelo de exercício de poder vertical, sob uma estrutura hierarquizada. Os novos movimentos sociais representam outro parâmetro de liderança, fundados na liderança circular. A ideia de liderança circular está inserida na cultura da cooperação. Um dos pontos fundamentais10 é a necessidade de superar o medo: “o medo alimenta a crença de que a sobrevivência só é garantida aos mais aptos – ou aos que cooptam com o status quo, mesmo sentindo interiormente que é necessário promover mudanças favoráveis à vida”. Tal postura tem como principal impacto devastar o verdadeiro espírito de grupo: “dando força a várias inseguranças, a humanidade abstraiu toda uma cultura de individualismo, controle e competição, que tão bem conhecemos”. Outro aspecto a ser notado é a utilização da tecnologia no controle das ações repressivas do Estado, conforme o movimento dos “capacetes”. Eles aparecem nas manifestações estudantis que tomam conta das ruas e ocupam as escolas de Santiago do Chile e também em hospitais e delegacias de polícia para onde vão as vítimas: pequenas tropas de observadores que usam capacetes azuis ou brancos, armados com notebooks, câmeras, gravadores de voz e máscaras de gás. Não estão lá para participar dos protestos ou interferir, mas para monitorar e gravar o que acontece quando a polícia reprime os protestos e para 10 Cf a apostila “Liderança circular”, utilizada no curso de Aperfeiçoamento “Despertando guardiãs de círculo das mulheres”, módulo VII, coordenado por Fátima Tolentino e Marisa Sanabria, do Instituto Renascer da Consciência, em parceria com a Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte/COC. 140 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I ajudar pessoas que tenham sido feridas ou sofrido algum tipo de abuso. Os observadores voluntários, conhecidos como "capacetes", são cidadãos de todas as idades e estilos de vida, profissionais e operários, estudantes universitários e aposentados, alguns com quase 70 anos de idade, que veem seu trabalho como algo essencial. No Chile, como em outros países, as marchas de protestos podem acabar em batalhas de rua com a polícia, que usa gás lacrimogêneo e canhões de água com químicos para dispersar a multidão e seus cassetetes para prender manifestantes. Cenas como essas têm sido registradas na Espanha, na Grécia, no Egito, para citar apenas conflitos recentes veiculados na grande mídia. Alguns manifestantes são violentamente reprimidos, chegando a sofrer lesões corporais. De acordo com os grupos de observadores, os detidos no Chile chegam a relatar atos de humilhação sexual pela polícia, como ocorre nas delegacias brasileiras cotidianamente. Por isso que os capacetes se organizaram. Antes de cada protesto, eles ligam uns para os outros para distribuir tarefas e locais. Nas ruas, eles usam capacetes marcados DDHH abreviação de "derechos humanos", e grandes credenciais penduradas em seus pescoços para deixar o mais claro possível quem são. Eles recebem treinamento nos fundamentos legais, e possuem regras rígidas a serem seguidas: não interferir nos acontecimentos, não xingar a polícia e trabalhar sempre em pares. A ação dos capacetes tem amplo amparo tecnológico: fotografam o que veem e registram relatos orais de manifestantes e testemunhas. Eles anotam as placas dos veículos da polícia e os nomes dos comandantes, e possuem registros de todos que são detidos. As informações são imediatamente publicadas na internet, em contas no Twitter. Eles continuam trabalhando até o último detido ser liberado pela polícia. 4. EM BUSCA DA DEMOCRACIA CRÍTICA E PÓS-CRÍTICA As redes sociais e os coletivos somente poderão expandir sua potencialidade em uma cultura política democrática, na qual vicejem indivíduos solidários. Na busca de propostas críticas de efetivação da democracia, esse trabalho encerra com um breve exame ao pensamento de Gustavo Zagrebelsky e a democracia crítica e o espírito da possibilidade, e de Gerardo Pisarello e a Constituição alternativa – dos sinais do Sul à indignação democrática. 141 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I No estudo “A crucificação e a democracia”, Zagrebelsky (2011, p. 131) estabelece um paralelo entre a democracia dogmática e a democracia cética e aquela que ele denominará de democracia crítica fundada no espírito da possibilidade: “A possibilidade combate tanto o dogma quanto a realidade, dado que, para ser possibilidade e não se contradizer, nunca pode desembocar na aceitação passiva das últimas consequências que a necessidade impõe. Ela postula que em toda situação falte algo, um lado que permaneceu na sombra e pede para ser levado à luz e ao que é possível ligar-se para ir além. Tudo deixa entrever uma perspectiva de superação do que é dado, do que é visível. (...) No comportamento de quem se inspira na possibilidade existe, portanto, uma força que atua para ir continuamente além, embora não necessariamente para ir ‘mais em frente’. Na possibilidade está compreendida também a eventualidade da derrota, do recuo.” A democracia crítica não se funda na onipotência e infalibilidade do povo. Na verdade, defende a limitação e a falibilidade de qualquer instância decisional (autoridade dos textos, autoridade dos reis e, inclusive, autoridade do povo). Por que então preferir a democracia a uma tecnologia elitista de poder? Porque é uma forma de exercício do poder compartilhada por todos. Segundo Zagrebelsky (2011, p. 137): “De fato, faz parte do espírito da democracia, sentirem-se todos, como se diz, ‘ no mesmo barco’. Portanto, as falhas de uns não valem para justificar as pretensões dos outros aos privilégios políticos. Os limites de uns refletem-se na qualidade da democracia como um todo e assim se tornam limites de todos. Como regime de todos, a democracia é o único sistema de vida e de governo cuja qualidade é uma média que envolve a todos, no qual é proibido isolar-se e estabelecer gradações e fomentar diferenças, mesmo se apenas psicológicas”. Como fundada nos limites e na possibilidade, a democracia crítica é incompatível com a existência de atos políticos juridicamente não modificáveis, com a passividade e com a mera reatividade do povo. Sobre a questão de como tornar o povo capacitado para o exercício do poder, Zagrebelsky assim se pronuncia (2011, p.144-145): “As instituições clássicas do povo capacitado para a ação são os partidos políticos. E estes últimos estão atravessando um período de crise e não há certeza de que seja possível superá-lo. A democracia crítica necessita dos partidos nas suas formas conhecidas e em outras formas de integração social para fins políticos, como poderiam ser novas instituições de comunicação ativa e circular entre os cidadãos (não diretamente entre os indivíduos e os detentores do poder) possibilitadas pelas técnicas informáticas.” A proposta de Zagrebelsky tem a qualidade de assegurar o direito à pluralidade de vozes. Essa não deificação do povo – humanização do povo – está em consonância com a negação das concepções unitárias e totalitárias do povo. Essas concepções são permissivas da 142 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I emotividade e da manipulação, sufocando por medo aqueles que não se reconhecem no grupo. Será preciso sempre assegurar um procedimento por meio do qual as vozes das maiorias e das minorias, do consenso e do dissenso, estejam garantidas para efetivar o exercício da autocrítica, do exame de todas as possiblidades, inclusive a de corrigir os próprios erros. No livro “Un largo Termidor”, subintitulado “uma ofensiva ao constitucionalismo antidemocrático”, G. Pisarello examina o cenário constitucional sul-americano como uma alternativa viável de ‘indignação democrática’, em oposição à rendição aos princípios oligárquicos nas democracias no Norte. Discorrendo sobre o que identificou como ‘processos de regeneração política’, Pisarello analisa detalhadamente o processo político e jurídico dos últimos anos na Venezuela, na Bolívia e no Equador, estes os mais significativos de uma ruptura com o consenso político e econômico até então vigentes. Segundo Pisarello (2011, p.206): “Naturalmente, la consagración constitucional de un programa avanzado en términos democráticos, sociales, culturales y ambientales no equivale a su automática concreción práctica, por lo que el balance del nuevo constitucionalismo latino-americano es contracditorio y arroja tantos luces como sombras. Por um lado, es indudable que estos processos han conseguido dar mayor visibilidade y voz a amplios sectores de la población históricamente marginados o invizibilizados, como los pobres urbanos, el campesinado e los pueblos indígenas. Este fortalecimento de los sectores populares y de los movimentos sociales há permitido atenuar, com éxito variable, el peso de las oligarquias tradicionales em el Constituición material y há facilitado um certo recambio em las elites políticas, contribuyendo así uma certa democratizatión del aparato institucional, más permeable a la presencia de colectivos sociales e menudo infrarrepresentados, como las mujeres.” Para Pisarello, apesar das dificuldades reais, não parece que o ciclo constituinte democrático aberto na última década na América Latina tenha perdido seu vigor; pelo contrário, essas propostas democratizantes do Sul podem contribuir para dar apoio a outras iniciativas democratizantes que também ao Norte tentam desestabilizar a constituição oligárquica-financeira que se articula em torno da crise. Nesse cenário, velhas e novas reivindicações do movimento democrático popular se cruzam: desde a liberdade de expressão e associação à defesa dos bens comuns, materiais e imateriais, como os que circulam nas redes e são sujeitos a novos cercamentos. Para a efetivação da Constituição democrática, deve-se observar a dinâmica do movimento democratizante na busca da constante ampliação do demos. Os coletivos e as redes sociais têm demonstrado aptidão para cumprir essa parte da tarefa. 143 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I CONSIDERAÇÕES FINAIS Pode-se concluir ao encerrar essa pesquisa exploratória que uma das grandes mudanças ocorridas na estrutura e na forma dos novos movimentos sociais nesse início de século no mundo é sua tessitura sob a forma de redes, caracterizadas pela circularidade e por articular a heterogeneidade de múltiplos atores coletivos, e a sua conformação ao mundo virtual: a ausência de territorialização, bem como sua tendência ou aptidão para tornar-se um movimento de multidões. Ademais, a pulverização de lideranças afasta a personalização do movimento, que utiliza o termo “coletivo” para se definir. A ideia de rede social também interliga esses movimentos, que, entretanto, não deixam de ter expressões físicas que são surpreendentes, articulando os diversos focos de reivindicação entre si. Assim, estudantes (juventude) apoiam trabalhadores da construção civil, professores, sem terra, sem teto... Os discursos são atravessados por uma sólida percepção de Direitos Humanos e noções do sistema econômico e politico e suas imbrincadas relações. Um milhão de pessoas na Praça Tahrir em agitação constante durante janeiro e fevereiro de 2011 fizeram a Primavera Árabe. Jovens europeus, americanos, chineses, árabes, formam uma rede invisível que atravessa o tempo e o espaço. Uma multidão pode afluir à praça pública mobilizada apenas nos espaços virtuais, nas redes de relacionamento. Camponeses, povos indígenas, mulheres, estudantes se interconectam solidariamente para reconfigurar o ethos da Humanidade no caminho do bem viver. Os novos movimentos sociais empunham suas velhas bandeiras de lutas pela igualdade em novas feições de lutas, reconstruindo dentro do próprio movimento, repensando a si mesmo, suas novas formas de liderança horizontais e amorosas, resgatando o que temos de mais humano. O modo como se relacionarão esses novos movimentos e modelos de articulação e lideranças e o antigo Estado moderno certamente atravessa uma série de questões, que envolvem desde direitos individuais, como liberdade de expressão e direito à intimidade, até novas tessituras do exercício do poder. Deve-se, portanto, ficar atento às novas formas de cidadania saudável na busca da democracia possível. Ao comemorar os 25 anos de Constituição Cidadã e a consolidação da República no Brasil é de suma importância investigar os atores sociais em nova feições dos movimentos sociais, suas formas de organização e liderança – talvez o que mais significativamente tenha mudado nos últimos 25 anos. 144 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS <http://barricadasabremcaminhos.wordpress.com/2012/02/25/estatuto-da-juventudecontradicoes-e-omissoes-das-necessidades-reais-da-juventude-brasileira/ > acesso 12.set.12. em <http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/nyt/2012-08-30/com-capacetes-voluntarios-dedireitos-humanos-monitoram-protestos-no-chile.html> acesso em 12.set.12. <http://www.msmcbj.org.br/> acesso em 12.set.12. AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. 2 ed. Belo horizonte: Editora UFMG, 2010. ALMEIDA, Ângela Mendes de. A República de Weimar e a ascensão do nazismo. Coleção Tudo é História. São Paulo: editora Brasiliense, 1982. CARLOS, Euzeneia. Contribuições da análise de redes sociais às teorias de movimentos sociais, disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010444782011000200011&lang=pt>, acesso em 07.mar.13. CUSTÓDIO, André Viana. Direitos de Juventude no Brasil contemporâneo: perspectivas para a afirmação histórica de novos direitos fundamentais e políticas públicas, em WOLKMER, Antônio Carlos. VIEIRA, Reginaldo de Souza. Estado, política e direito: relações de poder e políticas públicas. Santa Catarina: UNESC, 2008. DIÓGENES, Glória, SÁ, Leonardo. Juventude e segurança pública: dissonâncias e ressonâncias, em FREITAS, Maria Virgínia de. PAPA, Fernanda de Carvalho. Juventude em pauta: políticas públicas no Brasil. Peiropolis, 2011. GONÇALVES, Adelaide. Imprensa dos Trabalhadores no Ceará: histórias e memórias, em SOUZA, Simone. Uma Nova História do Ceará. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2000. LOTRINGER, Sylvère. Como foi inventada a teoria francesa, em AXT, Gunter e SCHULER, Fernando Luís (orgs.). Fronteiras do pensamento: ensaios sobre cultura e estética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. MACHADO, Jorge Alberto S.. Ativismo em rede e conexões identitárias: novas perspectivas para os movimentos sociais, disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151745222007000200012&lang=pt>, acesso em 07.mar.13. MAGALHÃES, Mário. Mariguella: o guerrilheiro que incendiou o mundo. 1 ed, 2 reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. MORAES, Germana de Oliveira. MENDES, Ana Stela Vieira. Da crise do ensino jurídico à crisálida da ética da transdisciplinariedade: a metamorfose do direito do amor e da solidariedade através da formação jurídica, em MAIA, Gretha Leite; TEIXEIRA, Zaneir Gonçalves. Ensino Jurídico: os desafios da compreensão do Direito. Fortaleza: faculdade Christus, 2012. MORAES FILHO, Evaristo de. O socialismo brasileiro. Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 1998. (Coleção Pensamento Social-democrata). 145 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I MORIN, Edgar. 1968-2008: o mundo que eu vi e vivi, em AXT, Gunter e SCHULER, Fernando Luís (orgs.). Fronteiras do pensamento: ensaios sobre cultura e estética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. PAXTON, Robert. Anatomia do Fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007. PISARELLO, Gerardo. Un largo Termidor – la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Madrid: editorial Trotta, 2011. (Colección Estructuras y proceso; Serie Derecho.) SORJ, Bernardo. A democracia inesperada: cidadania, direitos humanos e desigualdade social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2004. SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais na América latina - caminhos para uma política emancipatória?, disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010349792008000300007&lang=pt>, acesso em 07.mar.13. SOUZA, Simone de. Da “Revolução de 30” ao Estado Novo, em SOUZA, Simone. Uma Nova História do Ceará. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2000. TOLENTINO, Fátima. SANABRIA, Marisa. Liderança circular, apostila utilizada no curso de Aperfeiçoamento “Despertando guardiãs de círculo das mulheres”, módulo VII, coordenado por Fátima e Marisa Sanabria, do Instituto Renascer da Consciência, em parceria com a Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte/COC. ZAGREBELSKY, Gustavo. A crucificação e a democracia. São Paulo: Saraiva, 2011. Série IDP. 146 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O INDIVÍDUO INVISÍVEL: UMA PERSPECTIVA TEÓRICA SOBRE OBSTÁCULOS FÁTICOS PARA A EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS CONSTITUCIONAIS CAPAZES DE PROMOVER A TRANSCENDÊNCIA DO SUBCIDADÃO À CONDIÇÃO DE CIDADÃO EL TIPO INVISIBLE: UNA PERSPECTIVA TEÓRICA SOBRE LOS OBSTÁCULOS DE HECHO A LA EFICACIA DE LOS INSTRUMENTOS CONSTITUCIONALES CAPACES DE PROMOVER LA TRANSCENDENCIA DEL SUBCIUDADANO A LA CONDICIÓN DEL CIUDADANO Mariana Dionísio de Andrade1 RESUMO A qualificação do indivíduo como cidadão, conhecedor de seus direitos, socialmente responsável e partícipe das decisões políticas, está estreitamente relacionada ao campo da equalização de condições sociais e materialização de direitos. Nesse sentido, urge elucidar a importância da educação inclusiva, jurídica e cidadã, como instrumento capaz de emancipar o ser humano, fortalecendo-o, conferindo-lhe a necessária autonomia para deliberar sobre temas de interesse coletivo. Sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, resta comprometida a democracia, destarte, as condições mínimas para a proteção de institutos constitucionalmente tutelados como dignidade humana restam despidas de efetividade. A pesquisa tem por objeto analisar de que maneira a atuação de políticas públicas voltadas à promoção da cidadania e dignidade humana possibilitam a transformação do indivíduo, a partir da transcendência da condição de subcidadão, alheio aos procedimentos constitucionais, à esfera de cidadão, capaz de tomar decisões autônomas e aptos ao exercício dos instrumentos constitucionais. O método utilizado na elaboração do estudo constitui-se em um estudo descritivo-analítico, desenvolvido por meio de pesquisa de campo e bibliográfica quanto ao tipo, de natureza qualitativa e quantitativa e, quanto aos objetivos, descritiva e exploratória. Conclui-se que as práticas de fortalecimento do cidadão constituem mecanismos capazes de transformar o indivíduo inserto na condição de subcidadão a outra esfera, na qual passa a se reconhecer como ser detentor de direitos, a compreender a dimensão de suas prerrogativas e a multiplicar o conhecimento adquirido, emergindo, assim, à consciência sobre a reconquista de suas liberdades. Palavras-chave: Subcidadão; Efetivação de instrumentos constitucionais; Cidadania real no contexto da Constituição de 1988. 1 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Professora da Disciplina Direito Processual Civil na Universidade de Fortaleza. Especialista em Direito Processual Civil. Pesquisadora do Multidoor Courthouse System. Coordenadora do Curso de Graduação em Direito na mesma instituição. Membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/CE. Advogada. 147 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I RESUMEN La calificación del individuo como ciudadano, conocedor de sus derechos, socialmente responsable partícipe de las decisiones políticas, está estrechamente relacionada al campo ecualización de las condiciones sociales y materialización de los derechos. En este sentido, urge elucidar la importancia de la educación, jurídica y ciudadana, como instrumento capaz de emancipar el ser humano fortaleciéndole, confiriéndole la necesaria autonomía para deliberar a cerca de temas de interés colectivo. Sin los derechos del hombre reconocidos y protegidos, resta comprometida la democracia, y de esta manera, las condiciones mínimas para la protección de instituciones constitucionalmente tuteladas, como la dignidad humana, restan despidas de efectividad. La investigación tiene como objeto analizar de cual manera la actuación de las políticas públicas direccionadas a la promoción de la ciudadanía y de la dignidad humana posibilitan la transformación del individuo partiendo de la transcendencia de la condición de subciudadano, ajeno a los procedimientos constitucionales a la esfera de ciudadano, capaz de tomar decisiones autónomas y capaces de ejercer los instrumentos constitucionales. El método utilizado en la elaboración de dicho estudio se constituye en estudio descriptivo analítico, desarrollado por medio de investigación de campo y bibliográfica en lo que se refiere al tipo, de naturaleza cualitativa y cuantitativa y, cuanto a los objetos, descriptiva y exploratoria. Se concluye que las prácticas de fortalecimiento del ciudadano, constituyen mecanismos capaces de transformar El individuo inserto en la condición de subciudadano a la otra esfera, en la cual pasa a reconocerse como un ser detentor de derechos, a comprender la dimensión de sus prerrogativas y a multiplicar el conocimiento adquirido, emergiendo así a la consciencia a cerca de la reconquista de sus libertades. Palabras Clave: Subciudadano; Efectivización de los instrumentos constitucionales; La ciudadanía en el contexto real de la Constitución de 1988. INTRODUÇÃO Consiste a cidadania em um conjunto de direitos e deveres pelos quais o indivíduo pode exercer ações relevantes para o desenvolvimento da sociedade, buscando condições sociais mais adequadas ao usufruto dos instrumentos constitucionais, inclusão e maiores possibilidades de acesso aos direitos, busca pela consciência e responsabilidade sobre as escolhas, participação política nos processos decisórios e exercício de deveres. O exercício da cidadania pressupõe a participação nos assuntos públicos, mas compreende tal ideia em um contexto de plena liberdade de participação, na qual exista espaço próprio para discussões e desenvolvimento de ideias em prol da transformação social. Para esse exercício, faz-se necessário dirimir desigualdades e promover a inclusão, com o suporte de um sistema jurídico autônomo e capaz de resistir aos fatores reais de poder, realizando, assim, a conquista e ampliação da cidadania. 148 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A história da cidadania no Brasil detém estreita relação com a história das lutas pela materialização de direitos fundamentais, marcada por conflitos de toda ordem e cujos caracteres se assemelham em seu pano de fundo: a desigualdade social. Avanços políticos ainda devem percorrer um longo caminho até a consolidação da cidadania em termos práticos, visto que seu incipiente exercício ainda precisa enfrentar problemas tão reais quanto os óbices que impedem o pleno curso da democracia. Se for mínima a possibilidade de diminuir as diferenças, deve-se, por outro lado, arquitetar novas propostas inclusivas, no sentido de estabelecer condições de igualdade para o usufruto dos instrumentos constitucionais necessários e aptos à proteção do indivíduo. Ações afirmativas, por exemplo, voltadas à emancipação do indivíduo e à consagração de direitos fundamentais, demonstram-se de essencial relevância para o alcance dos ideais de igualdade pretendidos pelos diplomas normativos que enunciam força jurídica contra a segregação de determinadas camadas sociais ao alcance dos direitos mais elementares. 1 CIDADANIA E LIBERDADE COMO CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE DIREITOS A liberdade do indivíduo depende de sua ação, de sua noção quanto ao papel que desempenha no contexto social, quanto à importância que recai sobre a materialização de direitos. O homem pode ser politicamente ativo quando detém inteligência sobre os fatos para discernir entre a concordância e a aquiescência sem reflexão, o que, invariavelmente, necessita da liberdade de escolha, oriunda da consciência sobre a condição de cidadão e que advém da concretização de um patamar mínimo de igualdade de acesso entre indivíduos, eminentemente, no que se refere ao exercício consciente de direitos. Renunciar à liberdade implica, portanto, em abdicar aos direitos da humanidade e aos deveres que lhes são proporcionados pelo ordenamento. Destituir-se de liberdade equivale a renunciar, voluntariamente, a toda e qualquer moralidade das ações humanas, visto que se transfere, com a liberdade, a responsabilidade sobre os atos de toda ordem. É a troca de uma subserviência sem limites pela autoridade absoluta e desconhecida. Só é verdadeiramente legítima a sociedade embasada na soberania popular, na construção do sujeito coletivo, na participação livre nos processos decisórios. (ROUSSEAU, 1973). A liberdade, em sentido 149 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I amplo, possui estreita vinculação com o conhecimento, cujo conteúdo se amplia com a constante e contínua evolução do homem. Se o verdadeiro pilar de sustentação da liberdade e da realização de direitos está na participação ativa dos cidadãos nas decisões de cunho político, é de essencial importância a formação de capital humano e social, para tornar os cidadãos responsáveis pelas próprias escolhas, promovendo assim, a emancipação humana pela busca da liberdade. Sobre o tema, importa considerar: Para Toqueville, embora seja necessário que se anuncie a liberdade como um direito, que se formalize ou institucionalize através de leis e instituições, essas medidas sozinhas não seriam suficientes para que se garantisse a liberdade. Isso porque o verdadeiro sustentáculo da liberdade está posto na ação política dos cidadãos e na sua participação nos negócios públicos. O que pode, evidentemente, ser incentivado através da implantação de instituições tais como a descentralização administrativa, a organização de associações políticas que tenham como finalidade a defesa da cidadania ou mesmo a existência de grandes partidos. (QUIRINO, 2006, p. 157). Há de se considerar, portanto, que a estrutura do poder democrático pode restar comprometida quando não se supõe um patamar mínimo de respeito aos direitos e garantias adquiridos como resultado de intensas lutas sociais. Faz-se necessária a efetivação de uma parcela mínima de políticas públicas voltadas ao resgate do cidadão quanto à igualdade de oportunidades, ao respeito de direitos sociais e à formação do indivíduo, fazendo com que este se torne diretamente responsável por suas escolhas políticas, em um contexto de desenvolvimento de capital humano e social. Subdesenvolvimento político, desigualdades abissais e indicadores numéricos que, ainda, não alcançam a complexidade e profundidade da miséria em sua totalidade, não permitem que os indivíduos se expressem com a liberdade essencial para a necessária inserção nos negócios políticos. Na medida em que emerge da humanidade a essência basilar do princípio da dignidade, insurge da força humana o sentimento de liberdade e busca por sua efetivação, apesar de, não raro, haver o desconhecimento dos meios pelos quais a liberdade pode ser alcançada. As ideias de liberdade e igualdade, tratados por Kant de forma diversa da clássica formulação de liberdades públicas, não deixam de possuir estreita relação com a origem da dignidade humana. Sobre o tema, importa destacar: É incensurável a permanência da concepção kantiana no sentido de que a dignidade da pessoa humana, sendo esta considerada como fim e não como meio, repudia toda e qualquer espécie de coisificação e instrumentalização do ser humano, levando à condenação de muitas práticas de aviltamento da pessoa à condição de coisa. (SARLET, 2001, p. 35). A consideração da pessoa à condição de coisa evidencia a ausência de consciência sobre a complexidade dos eventos, limitada reflexão sobre as normas que regem a conduta 150 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I dos indivíduos e distância quanto à participação na formulação das decisões políticas. Se a sociedade se prostra em uma cômoda situação de subserviência enquanto desconhece direitos fundamentais sobre os quais deveria exercer titularidade, a dignidade do indivíduo que compõe o todo social resta comprometida. O direito é racionalidade, descende de conquistas e não apenas de um compêndio de normas. Ademais, sobre a condição de cidadão, cumpre destacar a visão de Thomas H. Marshall, que elenca que três elementos essenciais compõem a cidadania, quais sejam; os elementos civil, político e social. O elemento civil é composto por direitos necessários à materialização da liberdade individual. O elemento político constitui o direito de participar no exercício do poder político, como eleitor ou na qualidade de membro investido da autoridade política. O elemento social, por sua vez, mais abrangente, se refere à busca por um patamar mínimo de igualdade entre indivíduos, garantidos bem-estar, direito de participação e acesso à educação. Tais elementos devem seguir juntos, pois, além de semelhantes, são complementares. (MARSHALL, 1967). A estabilidade democrática pressupõe o exercício livre da cidadania e tal liberdade depende, diretamente, da consciência e responsabilidade do indivíduo sobre sua própria condição de cidadão, eminentemente descrita pela prática social. Essa cidadania, no entanto, ainda consiste em elemento de um discurso que ainda não ultrapassou os limites da retórica, visto que, se liberdade e exercício da cidadania são partes do mesmo conceito, resta evidente que a jornada pela conscientização coletiva ainda tende a se estender. “Responsabilidade requer liberdade. Assim, o argumento do apoio social para expandir a liberdade das pessoas pode ser considerado um argumento em favor da responsabilidade individual, e não contra ela”. (SEN, 2000, p. 322). A convivência com o sistema verdadeiramente democrático compreende a generalização do acesso aos instrumentos constitucionais sob a perspectiva da inclusão social e da consolidação da cidadania. Para que o sistema democrático atinja o desiderato da participação do público nas decisões políticas, necessária se faz a oitiva quanto às preferências e opiniões dos cidadãos, que devem estar inseridos em uma esfera de igualdade substancial, sem distinções de qualquer ordem, principalmente, no que se refere à equalização de condições em situações sociais distintas. Deve haver igualdade de oportunidades para que cada cidadão possa formular suas opiniões de maneira autônoma, manifestando pública e livremente sua vontade. (DAHL, 2002). 151 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Da consolidação da cidadania depende o bom funcionamento da engrenagem democrática, que conta a autonomia de pensamento e a liberdade de manifestação como alguns de seus pilares básicos. Se a liberdade possui relação direta com os processos decisórios, como ser plenamente livre, ou manifestar a vontade de maneira autônoma e independente sem que antes haja consciência sobre o objeto das decisões? Como contar com a presença de cidadãos emancipados para o estabelecimento de levantes democráticos se nem todos os indivíduos sequer possuem a noção do que seja a cidadania? Como se pleitear direitos que não se sabe ser titular? Conforme entendimento de João Baptista Herkenhoff (2000, p. 33), a história da cidadania constitui “a própria história dos direitos humanos e a história das lutas para a afirmação de valores éticos como igualdade, liberdade, a dignidade de todos os seres, sem exceção, a proteção legal dos direitos [...] a democracia e a justiça”. 2 DA SUBCIDADANIA À CIDADANIA A virtude do cidadão consiste na ciência sobre sua própria condição, como detentor de direitos e obrigações características de sua conduta e do regulamento jurídico que as descreve. Responder pelo caráter de cidadão, portanto, é ter consciência dos direitos e deveres constitucionalmente estabelecidos e participar ativamente de todas as questões que envolvem o âmbito de sua comunidade, de seu bairro, de sua cidade, de seu Estado e de seu país, inclusive no que se refere ao aparato legal que tutela sua conduta e assegura seus direitos, o que diz respeito diretamente ao postulado da justiça. Trata-se a cidadania de uma “inclusão de toda a população na prestação dos sistemas sociais, com vinculação à auto-referência dos sistemas político e jurídico [...] incompatível com ingerências bloqueantes e destrutivas de pluralismos políticos e econômicos na reprodução do direito”. (NEVES, 1994, p. 259). Tal conceito possui amparo na semântica dos direitos humanos e no reconhecimento destes em uma ordem jurídica constitucional, como aspecto abrangido pela proteção dos direitos fundamentais. No Brasil, uma das características elementares da cidadania é o acesso aos instrumentos e procedimentos constitucionais, de maneira equânime e generalizada, para o exercício de direitos. “A reconquista da convivência democrática traduz-se na descoberta da cidadania e na afirmação dos direitos fundamentais”. (ZIPPIN FILHO, 2006, p. 154). É uma referência à justiça social, que está além do ambiente forense e que implica em resultados produzidos pelo 152 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I sistema jurídico de forma a se efetivar a promoção de uma ordem jurídica produtora de igualdade política e social entre os indivíduos. Não se trata o cidadão, portanto, de massa amorfa, prostrado diante dos fatos como mero expectador da vida política e social. Tal conceito de justiça social, que enseja direitos e deveres fundamentais como força ativa da constituição política e da consonância de entendimento entre esfera econômica e social, se insere na estrutura básica da sociedade, evidenciando a urgência pela atuação conjunta de instituições e tecido social em prol do resgate da igualdade de acesso a benefícios. (RAWLS, 1981). Trata-se de um delineamento necessário de uma estrutura social na qual a coerção estatal tornar-se-ia mais eficaz na manutenção de liberdades individuais, participação política e promoção da inclusão, contemplando, assim, a realização da cidadania. A cidadania não se limita a um conceito hermético de exercício de direitos políticos e obtenção do título eleitoral. Manifesta-se como a plena sintonia entre atividade, atuação e inquietude, demonstradas pela participação livre nos negócios políticos e na construção do contínuo e inacabado processo democrático. O ser humano faz parte de um processo contínuo de desenvolvimento e é plenamente capaz de agir e formular ideias, compreender circunstâncias e arquitetar mecanismos contra a desigualdade de condições. “Se podemos conceber a natureza e a história como sistemas de processos é porque somos capazes de agir, de iniciar nossos próprios processos”. (ARENDT, 2008, p. 244). Assim ocorre com a cidadania. Conduzir o indivíduo ao status real de cidadão demanda tempo e, principalmente, vontade política, pois a cidadania não é elemento inato ao nascimento com vida, mas sim, uma construção da própria liberdade, criticidade e autonomia. A cidadania encontra amparo na real mobilidade entre esferas sociais, o que só é possível com o acesso aos procedimentos constitucionais. Há de se fazer, oportunamente, uma delimitação semântica para a compreensão da expressão “cidadania”, relevando, inclusive, as condições estruturais que permitem seu desenvolvimento, para que o sentido não se restrinja ao exercício de direitos políticos e transcenda aos direitos civis e sociais. O próprio conceito de igualdade, como elemento inerente à condição de cidadão, decorre da consonância entre liberdade política, participação social e liberdades civis, o que veio a contrastar frontalmente com o ideário de desigualdade implantado pelo capitalismo no início do século XX. A conquista e ampliação de direitos passou a evocar a emergência de uma ordem de direitos coletivos, aumentando, assim, a área de abrangência da cidadania e da afirmação de liberdades de autonomia e de participação. 153 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I (NEVES, 1994). A própria autonomia do sistema jurídico é elemento característico da condição de materialização da cidadania, sob a perspectiva da realização da democracia na esfera pública da governabilidade política. A diferença entre inclusão e exclusão está na participação nos processos decisórios, na atuação política, visto que a presença do indivíduo, evidenciada muitas vezes pela participação de grandes grupos, pode ser meio de inserção nos sistemas sociais e, sem embargo, na ordem jurídica proposta, que deve conceber um sistema jurídico autônomo como condição para a realização da cidadania2. (LUHMANN, 2005). Sobre essa participação do indivíduo, sob a forma de ação coletiva e em atuação conjunta, cumpre destacar: As ações coletivas referentes a direitos difusos possibilitam o acesso mais generalizado e eficiente dos indivíduos e grupos aos benefícios e vantagens do sistema social, fortificando a cidadania. Já as discriminações inversas, além de assegurarem juridicamente a integração das minorias nos sistemas sociais, institucionalizaram o direito de ser diferente. Ao discriminarem juridicamente, orientam-se pelo princípio igualitário da cidadania. [...] No conceito luhmanniano, a cidadania pode ser lida como inclusão de toda a população na ‘prestação dos sistemas sociais’, ou seja, acesso/dependência aos seus benefícios vantagens e regras. [...] Assim concebida, estaria indissociavelmente vinculada à auto-referência dos sistemas político e jurídico. (NEVES, 1994, p. 257 e 259).3 2 Para Niklas Luhmann (2005), a autonomia do sistema jurídico, que possui estreita relação com a democracia do sistema político, constitui um pré-requisito para a realização da cidadania, que deve ser compreendida como a inclusão de toda a população, de modo geral, quanto ao acesso aos instrumentos sociais, e quanto à observação de deveres. Tal binômio faz parte da chamada “prestação de sistemas sociais”, modelo no qual os indivíduos devem ter pleno acesso aos direitos e, de igual maneira, consciência sobre as regras que deve cumprir. Desse modo, não poderia se desvincular da referência à autonomia dos sistemas político e jurídico em relação aos fatores reais de poder. Sob a ótica luhmaniana, dar-se-ia uma generalização includente para toda a população, com acesso a benefícios e vantagens, mas com correlata igualdade de deveres, o que só se viabiliza com um sistema jurídico autônomo. 3 “Luhmann define a integração (sistêmica) ‘como redução dos graus de liberdade de subsistemas’ ou ‘como limitação dos graus de liberdade para seleções’ e, portanto, negação aponta tanto para a interdependência entre sistemas quanto para a dependência de pessoas para com os sistemas funcionais. Considerando a dependência das pessoas relativamente aos sistemas sociais, Luhmann afirma que a sociedade mundial é superintegrada e, portanto, precisa de desintegração. Mas, em relação à interdependência entre sistemas sociais, caberia afirmar que ela aponta fortes tendências negativas à desintegração (fragmentação), que também importa um perigo de desdiferenciação. Nesse particular, pode-se sustentar que um certo grau de desintegração intersistêmica contribui para a integração (dependência) excessiva de pessoas aos sistemas sociais. Mas, quanto ao excesso de integração de pessoas, a questão é perpassada pelo problema da ‘integração social’ (inclusão/exclusão), de tal maneira que o primário no conceito de integração é interdependência sistêmica, sobretudo entre sistemas funcionais. Portanto, o que a sociedade mundial precisa é de uma maior integração sistêmica, para que a mera fragmentação não leve a estilhaços como restos sem sentido funcional.” (NEVES, 2009, p. 287 – 288). Leia-se: se há superintegração de um indivíduo a determinado sistema, e desintegração em outro, essa pessoa detém as características da subcidadania, visto não estar incluída em todas as esferas das quais deveria se ocupar. Por exemplo, se uma pessoa que está incluída no plano econômico, mas pode usufruir do direito de voto, passa a depender do voto para e de suas circunstâncias para tentar a inclusão no plano econômico, podendo, inclusive, utilizá-lo como meio de permuta por melhores condições. A superdependência em uma das esferas da vida e subinclusão nas demais, não permitem que o cidadão exerça livremente sua vontade, dificultando a participação nos negócios sociais. 154 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A cidadania pressupõe a igualdade de direitos e deveres, em semelhante proporção, diante de um sistema jurídico autônomo e creditício, não condicionado a fatores econômicos ou políticos de qualquer ordem. Assevere-se, ainda, que: “Do ponto de vista jurídicodogmático, os direitos fundamentais tornam-se relevantes somente quando ocorre uma intervenção em seu livre exercício”. (DIMOULIS; MARTINS, 2008, p. 132). A perspectiva sobre a inclusão desse indivíduo na esfera da prática dos direitos fundamentais, pelo que se observa, possui estreita relação com o exercício de direitos, que denota a prática da cidadania. Esta, definida como elemento de coerente integração jurídica, depende da aplicabilidade para transcender ao plano prático proposto por seu próprio exercício de prerrogativas. Consiste o subcidadão, denominação proposta por Marcelo Neves, no indivíduo que não detém a totalidade de acesso aos procedimentos constitucionais, mas que, ainda assim, faz parte de um sistema integrado, jurídica e politicamente, e que possui normas de conduta a serem seguidas, sob a vigência impositiva das leis. Não se tratam de indivíduos excluídos do sistema social, pois ainda estão sob a égide do sistema jurídico, mesmo que muitas vezes afastados da aplicabilidade de normas relacionadas à proteção e salvaguarda de direitos fundamentais. Desta feita, a integração não significa, necessariamente, a inclusão social. “Portanto, os subcidadãos não estão excluídos. Embora lhes faltem as condições reais de exercer os direitos fundamentais constitucionalmente declarados, não estão liberados dos deveres e responsabilidades impostos pelo aparelho coercitivo estatal [...]” (NEVES, 1994, p. 261). Sim, as pessoas que ainda não possuem pleno acesso aos instrumentos constitucionais permanecem integradas ao sistema, de modo que continuam responsáveis pelo cumprimento de obrigações materializadas em deveres. Entretanto, ocorre que, enquanto são cumpridores desses deveres, falta-lhes o respeito aos direitos fundamentais, medida em que são relegados à significativa parte da população brasileira. Tal aspecto ganha contornos especialmente complexos quando as ofensas aos direitos constitucionalmente tutelados são praticadas pela atuação repressiva da atividade estatal, subintegrando e segregando massas de baixa renda. Essa subintegração de massas está estreitamente relacionada à condição de sobrecidadania de determinados grupos sociais, economicamente mais confortáveis e menos passíveis de qualquer alteração ou inadequação da ordem social. Ou seja; a danosa distância entre o subcidadão, cujos direitos mais elementares restam expostos tão-somente em esfera teórica, sem a aplicabilidade prática necessária ao alcance e busca pela efetividade dos procedimentos constitucionais, e o sobrecidadão, acima das leis, a quem o aparato estatal parece servir indistintamente, 155 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I deturpando a institucionalização de direitos fundamentais, mostra-se como perigosa deformação da Constituição como meio operacional do próprio Direito, em que pese, no campo da eficácia jurídica e na manutenção da credibilidade do cidadão na ordem normativa. Se a ordem constitucional permanece afastada da concretização, distante da população de maneira generalizada, a cidadania deixa de se materializar, pois a própria natureza da ordem normativa deixa de ser cidadã quando não aplicada, ou, quando aplicada de maneira parcial, apenas para determinados e privilegiados grupos sociais. Tais condições extrajurídicas apenas prejudicam a unidade operacional do Direito, acentuando a percepção da exclusão4. Importa ressaltar o seguinte: “Por isto pode ser, ao extremo, muito difícil, em certas sociedades, falar de unidade operacional do Direito, sobretudo se nelas ainda existem condições extrajurídicas que tendem a sabotar a própria existência e funcionalidade de um Estado de Direito [...]”. (ALBUQUERQUE, 2010, p. 68). A proclamação do Estado Democrático de Direito demonstra que a chamada Constituição cidadã não foge ao clamor social, mas não dispõe com toda a clareza sobre os mecanismos para efetivá-la. Sem dúvida, a positivação é essencial, mas não chega a ser suficiente, no contexto de uma norma constitucional, a descrição dos eventos sem a possibilidade real de que sejam efetivados. Ora, se a Constituição é fruto do desenvolvimento da sociedade, cumpre estabelecer um elo maciço de identidade entre esta e a ordem jurídica. Quando tal evento não ocorre, deixa de ser possível a construção da cidadania de maneira institucionalizada, sustentada por uma ordem jurídica congruente. As normas que proclamam a proteção de direitos fundamentais, quando despidas de eficácia jurídica, passam a não deter mais tanto sentido, perpetuando assim, as destrutivas relações de subcidadania e sobrecidadania como novos componentes da identidade do sistema jurídico brasileiro. 3 DIFICULDADES PARA A CONSTRUÇÃO DO CIDADÃO Trata-se a cidadania de um conceito ainda controvertido, para o qual não se concebem, de maneira pacífica, definições universais, mas cujo propósito implica na 4 O indivíduo ocupa-se de várias circunstâncias, que compreendem elementos como religião, política, educação e direito, mas a inclusão do mesmo só é possível quando os sistemas jurídico e político permitem que ele possa ser incluído nos diversos sistemas. Apesar de integrado, o subcidadão não possui essa inclusão generalizada. 156 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I expressão do exercício de direitos, de maneira a proporcionar a participação generalizada de indivíduos na esfera da eficácia jurídica. A cidadania deve versar sempre sobre as relações de tensão existentes entre direitos de cuja pretensão detém cunho universal, pensamento a partir do qual se pode denotar que a cidadania não pode ser simplesmente adquirida, mas sim, conquistada a partir da identificação dos indivíduos com o ordenamento jurídico. (WEHR, 2010). Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia, e exercê-la é deter a plena consciência sobre direitos civis, políticos e sociais. Corresponde a essa qualidade o poder de exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas, sócio-econômicas de seu país, além da consequente sujeição aos deveres que lhe são imanentes, relacionando-se, portanto, com a participação responsável do indivíduo na sociedade, zelando pela não violação de direitos, representando, ainda, um histórico de lutas em favor dos direitos do indivíduo como membro de uma sociedade organizada. É necessário haver uma predisposição social para que se assumam as responsabilidades sobre as dimensões do proceso democrático, o que vem a se concretizar a partir de uma revitalização da sociedade em relação às instituições políticas. (LASSALE, 1980). A participação consciente nas decisões que regem o processo democrático brasileiro necessita de indivíduos livres, emancipados em suas ideias e inquietos em seus ideais. Para isso, faz-se primordial a caracterização da pessoa como cidadã, destinatária de direitos e responsável pelo cumprimento de deveres. Uma democracia, como instituto, não deve apenas funcionar, mas trabalhar o próprio conceito, o que, por si, exige a participação de indivíduos emancipados. Assim, quedar-se-ia infrutífero imaginar o curso de uma verdadeira democracia sem o desenvolvimento de seu elemento essencial; uma sociedade construída por pessoas emancipadas. (ADORNO, 2003). Um padrão mínimo de participação na esfera social implica a presença de reconhecimento social e de precondições de participação social com dignidade, refletindo e demonstrando um acervo de disposições que devem ser adaptadas ao contexto de participação social na esfera pública, como cidadão atuante na persecução de direitos e, principalmente, emancipado como indivíduo, em termos práticos de participação política, que sugere determinante condição para a possibilidade de efetivo compartilhamento da ideia de igualdade. Ora, essa igualdade, em que pese, sob o enfoque substancial, deve se constituir em elemento básico para a convivência social, com correspondente reconhecimento dos indivíduos por seus pares. Se a igualdade se evidencia como mero elemento de um discurso 157 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I retórico, afasta-se o cidadão de sua própria condição, deixando, assim, de usufruir de conquistas, estas, materializadas em instrumentos constitucionais, aos quais deveria ter livre acesso. A construção do cidadão depende de uma série de fatores que evidenciam a necessidade pela organização social para a afirmação de direitos. Se as atividades do Estado não correspondem à perfeita consolidação democrática, é válido supor que a atuação dos indivíduos pode construir fator social de impulso político, combatendo, assim, a exclusão social, que se apresenta na tradição histórica brasileira como elemento de contínua inserção difícil solução. (CARVALHO, 2008). A mobilização estimula desenvolvimento social pela participação política, conduzindo para a esfera da concretude a essência das lutas sociais por melhores ou mais adequadas condições de vida, eminentemente, no que concerne à participação democrática. A complexa a tarefa de identificar os elementos que constituem a causa das dificuldades enfrentadas para a construção do cidadão, depende da elucidação sobre a relação de causalidade entre múltiplas desvantagens sociais e a propagação das circunstâncias de desigualdade, estas, materializadas por fatores que se relacionam, desde a configuração da economia à dimensão dos direitos de cada pessoa. O fato é que tais elementos acabam por dificultar a participação social, aumentando, ainda mais, o fosso que distancia muitos indivíduos do acesso à materialização de direitos. Sociedade e Estado são faces de um mesmo sistema, portanto, devem seguir em consonância na organização de práticas em favor do indivíduo, encontrando, assim, pontos de articulação, em especial, no que diz respeito à atuação estatal para o desenvolvimento social em seus aspectos críticos, por meio da elaboração de políticas públicas ou mecanismos outros que propiciem a redução de desigualdades de acesso aos instrumentos constitucionais. Nesse diapasão, faz-se essencial a participação cidadã, responsável e consciente, capaz de, pela própria atuação, conquistar espaços e dirimir diferenças, por meio do empenho de esforços voltados à inclusão social. Esforços estes cujos resultados serão obtidos a médio e longo prazos, com especial impacto nas futuras gerações. 4 A REALIDADE DA CIDADANIA NO CONTEXTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988: A EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS CONSTITUCIONAIS COMO MEIO DE REALIZAÇÃO DO CIDADÃO REAL 158 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Em discurso proferido em 27 de julho de 1988, o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, o então Deputado Ulysses Guimarães, defendia o novo texto constitucional contra as críticas, segundo as quais o país seria ingovernável, caso a nova Constituição fosse aprovada. A expressão por ele utilizada naquela ocasião imortalizou a novel Lei Fundamental, ao consagrá-la como verdadeira “Constituição Cidadã”. Qual a razão dessa adjetivação? A nova ordem constitucional rompia com o autoritarismo instalado pelo golpe de 1964, revelando-se como símbolo maior de um processo político de transição democrática. A proposta da Assembleia Constituinte seria devolver a governabilidade aos legítimos detentores do poder: o povo. Porém, segundo Ulysses Guimarães, não bastava o restabelecimento da democracia representativa e participativa, pois a governabilidade não estava tão somente na seara política, mas, especialmente, no aspecto social. É por essa razão que ele qualifica a Constituição como “cidadã”, na expectativa de que o novel texto constitucional irradiasse uma eficácia que transcendesse o aspecto políticojurídico. O novo Estado que estava a surgir era contemplado com a participação popular no poder, seja de forma direta ou indireta. O espírito da nova Constituição exigia uma Democracia Substancial. Todavia, os governantes e os próprios cidadãos teriam como vetor de suas ações políticas a erradicação da injustiça social, retirando milhões de brasileiros da miséria. Cumpre-nos resgatar trechos do histórico discurso do Deputado Ulysses Guimarães: A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a doença inassistida são ingovernáveis. Governabilidade é abjurar o quanto antes uma carta constitucional amaldiçoada pela democracia e jurar uma constituição fruto da democracia e da parceria social. A injustiça social é a negação e a condenação do governo. A boca dos constituintes de 1987-1988 soprou o hálito oxigenado da governabilidade pela transferência e distribuição de recursos viáveis para os municípios, os securitários, o ensino, os aposentados, os trabalhadores, as domésticas e as donas-de-casa. Repito, esta será a Constituição cidadã, porque recuperar como cidadãos milhões de brasileiros, vítimas da pior das discriminações: a miséria. Cidadão é o usuário de bens e serviços do desenvolvimento. Isso hoje não acontece com milhões de brasileiros, segregados nos guetos da perseguição social. Esta Constituição, o povo brasileiro me autoriza a proclamá-la, não ficará como bela estátua inacabada, mutilada ou profanada. O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! (2012, on line). Na concepção do Presidente da Assembléia Constituinte, ser cidadão não significava ser mero detentor do poder de influenciar nas decisões estatais. O alcance do conceito de cidadania estaria umbilicalmente relacionado à inclusão social, isto é, à possibilidade de 159 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I milhões de brasileiros fruírem dos bens necessários a uma vida digna e dos serviços públicos essenciais. Como, então, a Constituição de 1988 disciplina a cidadania? Ela a apresenta, essencialmente, em três blocos:5 a) direito a reconhecer-se cidadão; b) direitos políticos; c) instrumentos de realização da cidadania. Dito isso, passemos à análise desse tríplice aspecto da normatividade constitucional da cidadania. Segundo a vertente adotada por este estudo, a cidadania não se limita ao direito fundamental de participação nas decisões governamentais. Ela possui um alcance maior. Ao qualificar a República Federativa Brasileira como Estado Democrático de Direito, a Constituição concebe a cidadania como um pressuposto para que o indivíduo exerça seus direitos. Ela se apresenta como a primeira etapa de reconhecimento dos direitos fundamentais. Para tanto, exige-se que o Estado brasileiro consagre a emancipação da própria consciência do indivíduo, para que ele tenha grampeado em sua consciência a convicção de que é portador de direitos. Trata-se do direito de reconhecer-se cidadão, pois, sem ele, a cidadania restará sufragada pela inação. Tal direito encontra-se imanente no direito social à educação (arts. 6º, caput e 205 a 214 da Constituição Federal de 1988) e no direito à liberdade de consciência (art. 5º, incisos VI, IX e X da Constituição Federal de 1988). Desse modo, o Estado deve envidar meios de concretização da educação, propiciando a formação de pessoas conscientes, aptas ao exercício da cidadania. Havendo a formação de pessoas com perfil ativo na sociedade, somente então o cidadão exercerá seus direitos políticos com consciência, quer seja escolhendo os mandatários políticos, quer se candidatando, ou mesmo no exercício do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Agora se torna mais fácil entender por que a garantia do direito a reconhecer-se como cidadão é pressuposto para o exercício da própria cidadania. A cidadania, porém, não se esgota no exercício dos direitos políticos. Os demais direitos fundamentais existentes na Constituição de 1988 manifestam os direitos inerentes à cidadania. No rol dessa categoria de direitos, existem alguns preceitos que se revelam como verdadeiros instrumentos de realização do cidadão real. Dentre eles, destacam-se: a liberdade de reunião, de associação e organização sindical; o exercício do direito de greve; 5 A tripartição sugerida orientou-se pelos três elementos essenciais componentes da cidadania (civil, político e social) propostos por Thomas Marshall. 160 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação; o direito de informação perante os órgãos públicos; o direito de petição; o acesso à justiça; a assistência judiciária gratuita; o mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, ação popular, ação civil pública, ação de improbidade administrativa, ação de impugnação de mandato eletivo; as políticas urbana, agrícola e rural; o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público; o Ministério Público; a Defensoria Pública. É necessário elucidar que tais instrumentos constitucionais denotam uma conquista popular de ímpar consideração, mas que, ao mesmo tempo, dependem de constante vigília para sua efetivação. O subcidadão, contextualizado em um cenário de desrespeito aos direitos mais elementares e afastado dos instrumentos constitucionais, deve se posicionar como partícipe das decisões que regem suas vidas, a partir do resgate da própria autonomia. A reconquista dessa autonomia, por sua vez, requer a existência de instituições e políticas públicas capazes de promover a equalização social. É necessário estabelecer ações voltadas à ruptura definitiva de uma tradicional linhagem de falta de acesso do cidadão aos direitos mais básicos. 5 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS PELA BUSCA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL AOS INSTRUMENTOS CONSTITUCIONAIS A existência de instituições que promovam a descentralização administrativa, com a participação ativa dos indivíduos em busca da efetivação de suas liberdades, aduz a existência do homem como ator social, que busca por si a defesa de prerrogativas. Entretanto, se o indivíduo não é conhecedor sobre a titularidade de seus direitos, se não se reconhece como parte de um sistema político por estar excluído das decisões, poderá restar inapto a pleitear 161 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I novos rumos para a democratização e justiça social, visto não estar em condição de paridade com os demais cidadãos da sociedade em que está inserido. Ainda, há de se considerar um foco de discussão: e quando essa situação específica se torna a realidade da maioria? A resposta pode estar nas grandes razões para os desajustes sociais. Ora, se subsiste a ausência de participação ativa do Estado, quedam-se infrutíferos os gritos pela efetivação e resguardo de direitos fundamentais, visto que os indivíduos não estão, em um plano real, em condições de igualdade substancial de acesso aos procedimentos constitucionais. Diante desse cenário, faz-se necessária a atuação estatal na tentativa de diminuição das desigualdades de acesso, por meio da adoção de políticas públicas 6 adequadas a sanar uma realidade com tantas dessemelhanças, promovendo, dessa forma, o acesso a bens jurídicos essenciais, como igualdade de direitos, dignidade humana e materialização de direitos fundamentais. Para que ocorram reais avanços, no sentido de concretizar a mudança social, é necessário, como elemento primário, possibilitar aos indivíduos visão outra, que não a busca pela sobrevivência diária pela necessidade de conseguir alimentação. Ora, não é admissível que parte significativa da população brasileira encare como benesse do Estado a transferência de renda para a aquisição de alimentos, afinal, trata-se, pois, de condição essencial para a vida, requisito elementar. Se a única preocupação da vida do cidadão se concentra na próxima refeição, pela completa ausência de recursos e exclusão social, evidencia-se um nível tal de miséria que impede a promoção da dignidade humana ou de qualquer aprendizado de cunho social. “Não é possível falar em desempenho, educação, produção e futuro quando a radicalidade do risco de fome é a questão central da existência do indivíduo”. (MOURA, 2010, p. 83). A abordagem sobre a adoção de políticas públicas sob a perspectiva da proteção de direitos requer a dimensão sobre a complexidade da questão e, mais, o reconhecimento sobre as dificuldades reais em se garantir o resguardo do bem-estar coletivo a partir da conscientização do cidadão. Tal ação requer, ademais, a exposição das fragilidades sociais ocasionadas, não raro, pela esparsa atuação estatal. A reflexão sobre os direitos do homem, principalmente os que se referem à proteção da cidadania, deve conduzir à elaboração de 6 Sobre políticas públicas, diz-se a articulação entre Estado e sociedade em prol da essencial a participação da comunidade e de seus integrantes no exercício de vigília em relação aos assuntos de interesse coletivo, para reafirmar um compromisso de mudança social e fazer dos cidadãos partícipes dos processos de modificação e mobilização social. A articulação entre União, Estados e Municípios consiste na força motriz para o fortalecimento desses sistemas e de políticas públicas em vários setores, em especial, no setor social, que se refere diretamente à elaboração de políticas públicas voltadas ao cidadão. 162 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I alternativas capazes de reordenar e reajustar a estrutura quanto à participação política de grupos sociais. (PRÁ, 2006). Solidificar direitos fundamentais no Brasil não tem sido tarefa das mais fáceis, visto que, por vezes, a própria noção sobre a existência dos mesmos se faz ausente para grande parcela da população. Como se a própria inserção dos direitos tivesse sido construída de maneira pouco ortodoxa, em uma cronologia que propõe um desafio ao processo de democratização. Inicialmente, foram implantados direitos sociais em uma época de supressão dos direitos políticos. Em seguida, os direitos políticos, superadas maiores resistências impostas por regimes pouco democráticos. Apenas depois, advieram os direitos civis, que deveriam deter prioridade na tradição jurídica brasileira, justamente porque, sem direitos civis, não há que se falar em exercício dos direitos políticos ou sociais. (CARVALHO, 2008). A complexidade do processo democrático implica na participação popular, que muitas vezes deixa de se manifestar pelo simples desconhecimento quanto aos direitos fundamentais o que, por consequência, dilata o fosso entre o cidadão e a efetividade de seus direitos. Desta feita, pensar os problemas que afetam a ordem social e política compreende um nível de inteligibilidade acerca das instituições e das pessoas que a compõem, justamente para tentar entender as razões da pobreza, da falta de oportunidades e da pouca efetivação de direitos em um ambiente democrático em que resista o fortalecimento institucional não apenas de maneira legal, mas de maneira legítima. É sabido que algumas estruturas institucionais são de grande relevância para o desenvolvimento de democracia, e que “é por essa razão que o fortalecimento institucional foi eleito uma das mais importantes tarefas para que se garantissem uma democracia sustentável e uma boa governança”. (ELLIOTT, 2002). Para tal análise, urge criar condições políticas e sociais, por meio de políticas públicas adequadas, para que se formule uma nova mentalidade, na qual se tenha a exata medida sobre a titularidade dos direitos dos cidadãos, para que estes possam deles usufruir livremente. Relacionam-se, assim, políticas públicas, desenvolvimento humano na busca pela efetivação de direitos, objetivando a valorização de princípios democráticos e a elaboração de estratégias governamentais de promoção de políticas públicas que atuem em consonância com os apelos reais. (SEN, 2000). A igualdade material, como distribuição igualitária de capacitações, deve ser o sentido principal da implementação de políticas públicas voltadas à emancipação do cidadão, bem como do desenvolvimento como mecanismo de se alcançar a liberdade. 163 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Tal desenvolvimento é necessário e urgente, visto que o próprio sistema democrático depende da liberdade e da consciência real dos indivíduos, sob pena de uma drástica inserção em regimes não democráticos pela busca alternativa de concretização de direitos que hoje são vilipendiados. O sistema democrático, como elemento de governabilidade próprio da esfera pública, depende da perpetuação de aspectos de notável constância como o binômio entre a presença dos governados no exercício do poder e a liberdade dos indivíduos, o que evidencia forte contradição com a realidade factual muitas vezes observada. Trata-se de um regime que não abrange maiores precisões, justamente, pelo confronto com os verdadeiros problemas sociais. Pensar a democracia enquanto forma de participação política significa se deparar com questões voltadas à liberdade e dignidade na condição humana, forças tais que, nem sempre, conseguem erradicar a barbárie. (GOYARD-FABRE, 2003). A própria conquista dos direitos relacionados à cidadania, em sua implicação principal, quanto à semântica dos direitos humanos, surge como exigência valorativa do reconhecimento e satisfação de determinadas expectativas normativas, e pressupõe a existência de um processo de evolução no que diz respeito à elevação da consciência moral e resposta do direito positivo às exigências por inclusão nos diversos sistemas sociais, sendo, assim, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro na forma de direitos fundamentais. Deve ocorrer, pois, a necessária reflexão sobre a concretização de normas constitucionais referentes a direitos fundamentais, sob pena de a cidadania se converter em simples texto, desprovido de significado e aplicabilidade. (NEVES, 1994). Nesse sentido, sobre a defesa de direitos, cumpre assinalar que “a essência dos direitos humanos está no ato de deter direitos, tornando efetivas ações e opiniões que revelem o conteúdo da luta humana pela defesa de suas prerrogativas”. (ARENDT, 1989). A edificação de novas relações entre o indivíduo e o Estado, que envolvam a credibilidade, depende da reciprocidade da confiança institucional oriunda do desenvolvimento do próprio indivíduo e da participação política pela defesa dos direitos fundamentais ao ser humano. CONCLUSÃO Para se afirmar a presença do indivíduo na esfera democrática de participação e de acesso aos instrumentos constitucionais, urge pensar em mecanismos de inclusão social que alcancem o plano da eficácia. As políticas públicas em prol do indivíduo e do exercício da 164 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I cidadania, dentro da dinâmica das relações sociais, constituem ações necessárias e possuem importante papel no que concerne à discussão sobre o desenvolvimento social e combate à pobreza ou desigualdades de toda sorte, marcando de maneira indelével a trajetória de muitas pessoas que enxergam nas políticas públicas, que possuem atuação contínua, meios possíveis para o alcance de um patamar mínimo de igualdade de direitos e inserção social. Deve-se ressaltar, ainda, que as políticas públicas promovidas pelo Estado e voltadas à proteção dos direitos do homem, refletem um novo panorama de compreensão quanto à necessária redução das desigualdades e da exclusão social, bem como devem promover o incentivo à participação dos indivíduos nas decisões que a eles dizem respeito, para que tais ações não se travistam em um discurso falacioso de construção de políticas públicas como um simples benefício proporcionado pelo Estado. Para planejar uma redução dessa desigualdade, deve-se incentivar a conquista pelo próprio cidadão, cônscio de seus direitos e da respectiva proteção que a eles deve ser destinada. Não raro, percebe-se que significante parcela da população brasileira possui como ideia única a possibilidade de conseguir a sobrevivência por meio da persecução diária por uma ainda incerta refeição, como se tal não fosse elemento básico para a condição de ser humano digno. A realidade que impulsiona essas pessoas não atinge, portanto, o conhecimento em direitos e busca pela pacificação social, visto que há uma preocupação bem maior e mais urgente: a de se manter vivo. A miséria se torna forte obstáculo ao desenvolvimento de ideias, visto que não há espaço para o aprendizado social ou promoção do conceito de dignidade dentro de um contexto em que parece não ser possível outro tipo de atenção que não seja a própria sobrevivência, muitas vezes, em condições de extrema vulnerabilidade e invisibilidade social. Como se falar em igualdade substancial de acesso aos instrumentos constitucionais, dignidade humana e luta pela pacificação social pelo empoderamento do indivíduo sob as referidas circunstâncias sociais? Pelo exposto, enquanto não houver um sério, contínuo e conjunto compromisso pela redução desses abissais índices de exclusão, quedam-se infrutíferos esforços isolados, pontuados em forma de políticas públicas que não alcançam a realidade factual e que, apenas, perpetuam o discurso retórico e ineficaz. 165 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I REFERÊNCIAS ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Tradução: Wolfgang Leo Maar. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. ALBUQUERQUE, Paulo Antônio de Menezes. Comentário. In: NEVES, Marcelo (Coord.) et. al. Transnacionalidade do direito: novas perspectivas dos conflitos entre ordens jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 65-70. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução: Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. _______. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: um longo caminho. 10. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. DAHL, Robert. La poliarquía: participación y oposición. 2. ed. Madrid: Tecnos, 2002. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 28.07.1988, p. 12151. Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/Ulysses-Guimaraes-constituicao-cidada.pdf. Acesso em 06.set.2012. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. ELLIOTT, Kimberly Ann. A corrupção e a economia global. Tradução: Marsel Nascimento Gonçalves de Souza. Brasília: Universidade de Brasília, 2002. GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Tradução: Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003. HERKENHOFF, João Baptista. Como funciona a cidadania. Manaus: Valer, 2000. LASSALE, Ferdinand. Que é uma Constituição? Porto Alegre: Editorial Villa Martha, 1980. LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad (Das recht der gesellschaft). 2. ed. Tradução: Javier Torres Nafarrati. México: Herder, 2005. MARSHALL, Thomas H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. MOURA, Cleyton Domingues de. Subcidadania, desigualdade e desenvolvimento social no Brasil do século XXI. Disponível em:< http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/168>. Acesso em: 28 abr. 2011. 166 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I NEVES, Marcelo. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, p. 253-276, 1994. QUIRINO, Célia Galvão. Toqueville: sobre a liberdade e a igualdade. In: WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os clássicos da política. 11. ed. São Paulo: Ática: 2006. p. 149-161. v. 2. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução: Vamireh Chacon. Brasília: UnB, 1981. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a desigualdade. São Paulo: Abril Cultural, 1973. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. WEHR, Ingrid. Hemos constrído Europa, ¡ahora construyamos a los europeos! In: NEVES, Marcelo (Coord.) et al. Transnacionalidade do direito: novas perspectivas dos conflitos entre ordens jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 415-44. ZIPPIN FILHO, Dálio. Ouvidoria, direitos humanos e segurança pública. In: LEAL, César Barros (Org.). Prevenção criminal, segurança pública e administração da justiça: uma visão do presente e do futuro à luz dos direitos humanos. Fortaleza: C. B. Leal, 2006. p. 153165. 167 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O ATIVISMO JUDICIAL ESTUDADO SOB A ÓTICA DA TEORIA DA DEMOCRACIA: A LEGITIMAÇÃO DOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO PARA ATUAR COMO AGENTES POLÍTICOS EVIDENCIADA NA CONSTITUIÇÃO BOLIVIANA PROMULGADA EM 2009. Marcel Julien Matos Rocha THE JUDICIAL ACTIVISM STUDIED UNDER THE PERSPECTIVE OF THE THEORY OF DEMOCRACY: A LEGITIMATION MEMBERS OF THE JUDICIARY TO ACT AS AGENTS POLITICAL CONSTITUTION IN BOLIVIAN EVIDENCED ENACTED IN 2009. Marcel Julien Matos Rocha 168 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I RESUMO No primeiro capítulo é pesquisada uma delimitação conceitual para o ativismo judicial, sendo sugerida a doutrina de Marcelo Casseb que reconhece a referida prática como gênero das decisões atípicas proferidas pelo Poder Judiciário. No capítulo segundo, o ativismo judicial fora pesquisado sob uma perspectiva filosófica, sendo buscadas as bases que legitimaram a atuação proativa dos julgadores, bem como as principais críticas quanto aos excessos na mencionada forma de atuação. Na construção crítica a problemática é enfrentada, seja em razão da crise de legitimidade dos membros do Poder Judiciário para atuarem como agentes políticos, seja pelas ofensas às principais teorias clássicas do movimento constitucionalista, em especial, o princípio da separação dos poderes, teoria da democracia e do Estado de Direito. A pesquisa objetiva identificar as incongruências teóricas que fundamentam o ativismo judicial, em especial, sob a ótica da teoria da democracia, encontrando solução à problemática enquanto analisada a inovação constitucional na América do Sul surgida na Bolívia. Conclui-se pela necessidade de uma típica Corte Constitucional no Brasil. Por derradeiro, evidencia-se como método científico utilizado o método dedutivo. PALAVRAS CHAVE: ATIVISMO JUDICIAL – TEORIA DA DEMOCRACIA – CORTE CONSTITUCIONAL ABSTRACT The first chapter is conceptual delimitation searched for judicial activism, and suggested the doctrine of Marcelo Casseb recognizing that practice as gender atypical of decisions handed down by the judiciary. In the second chapter, judicial activism was searched under a philosophical perspective, the bases being sought that legitimized the proactive role of the judges, and the main criticisms of the excesses mentioned in the form of performance. In building the critical issue is addressed, both because of the crisis of legitimacy of the members of the judiciary to act as political agents, whether the offenses to major classical theories of the constitutionalist movement, in particular the principle of separation of powers, democratic theory and the rule of law. The research aims to identify the incongruities theoretical underpinning judicial activism, especially from the standpoint of democratic theory, finding solution to the problem while analyzing the constitutional innovation in South America that emerged in Bolivia. It concludes the need for a typical Constitutional Court in Brazil. For ultimate, it becomes clear how the scientific method used deductive method. KEYWORDS: JUDICIAL ACTIVISM - THEORY OF DEMOCRACY CONSTITUTIONAL COURT 169 - COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I INTRODUÇÃO Na atualidade, o ativismo judicial é tema discutido em diversos âmbitos de produção de conhecimento humano em razão das inúmeras consequências no âmbito jurídico, social e político das intervenções do Poder Judiciário na sociedade. A atuação extraordinária realizada pelo Poder Judiciário enseja diversas discussões quanto a extrapolação de seus limites jurisdicionais, em especial, enquanto não observados pilares do movimento constitucionalista, tais como o princípio da separação dos poderes, bem como os pressupostos esperados para um Estado tipicamente Democrático e de Direito. Na prática, quando o Poder Judiciário age tal qual um típico agente político se arvorando em dar causa à efetivação dos direitos sociais sem, para tanto, deter de um mínimo de representatividade política, vislumbra-se a ofensa direta às teorias quer perfazem o esperado Estado Democrático, ensejando, por consequência, uma atuação desprovida de legitimidade. Como poderia um membro do Poder Judiciário poderia adentrar em questões políticas para direcionar o orçamento e políticas públicas sem, para tanto, deter um mínimo de legitimidade ou representatividade política? A problemática é enfrentada neste trabalho. No primeiro capítulo, o ativismo judicial é delineado como um gênero das manifestações atípicas do Poder Judiciário, não se resumindo à conhecida prática quanto a judicialização da política ou mesmo aos casos de efetivação de direitos sociais, mormente, na área da saúde, possibilitando verificar que o ativismo judicial é tema de abrangência ampla, objeto de atual discussão em diversas áreas sociais, econômicas e política. O segundo capítulo adentra na essência doutrinária do constitucionalismo, em especial na atual fase pós-positivista, sendo primeiramente delineados os fundamentos favoráveis à prática ativista previstos na teoria da argumentação de Alexy, bem como é analisado o ativismo judicial sob uma perspectiva crítica construída à luz da teoria da democracia, da separação dos poderes e do Estado de Direito. O terceiro capítulo traz solução prática evidenciada na Constituição da Bolívia promulgada em 2009, que, seguindo precedentes da Constituição do México e da Guatemala, institui um Poder Judiciário paralelo ao Poder Judiciário oficial com competência exclusiva 170 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I para tratar das questões ligadas à política, direitos humanos e administrativo, além de inaugurar uma típica Corte Constitucional cujos membros são eleitos pelo povo, através do sufrágio universal e secreto, com mandato certo e sem remuneração, o que traz solução às críticas quanto a ausência de legitimidade democrática dos membros do Poder Judiciário para adentrar em questões de cunho político. 1. ORIGEM E DELIMITAÇÃO CONCEITUAL A RESPEITO DO ATIVISMO JUDICIAL. 1.1. O ativismo judicial como gênero das manifestações atípicas do Poder Judiciário. Primeiramente, para conhecer uma definição sobre ativismo judicial, impõe-se a realização de pesquisa histórica a respeito do tema. Marcelo Casseb Continentino (2012), afirma que a qualificação ativista surgiu pela primeira vez em 1947, quando a revista Fortune publicou o artigo “The Supreme Court: 1947” em que o autor do artigo, Arthur Schlesinger, analisando detidamente a atuação dos magistrados da Suprema Corte americana, apresentou classificação que considerava ativistas os magistrados mais inovadores e passivistas os mais conservadores. Surgiu o termo ativista como uma adjetivação relacionada ao perfil de julgamento do magistrado, fosse aquele um perfil conservador ou progressista, ressaltando Marcelo Casseb Continentino (2012) que as atuações ativistas do Poder Judiciário sempre estiveram sob fortes críticas dado que eram inovações no contexto jurídico que implicavam em mudanças dos paradigmas da época. Muito embora o ativismo judicial estivesse associado a uma avaliação negativa da atuação da Suprema Corte, sinônimo de atuação imprópria enquanto havia se apropriado das prerrogativas dos poderes eleitos para estabelecer políticas públicas, o trabalho de Schlesinger apenas buscou identificar a posição de cada juiz, o que possibilita afirmar que o ativismo judicial não teve origem, enquanto definição, em qualquer fato, mas sim, à qualificação dos magistrados da Suprema Corte americana. 171 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Prosseguindo na pesquisa quanto à origem do ativismo judicial, Marcelo Casseb Continentino (2012) informa que, mesmo havendo pesquisadores que reservavam ao conceito o caráter normativo, avaliando as decisões da Suprema Corte de forma qualitativa, existiam ainda aqueles que atribuíam ao termo acepção descritiva, medindo a atuação da Suprema Corte através de critérios objetivos, como, por exemplo, o número de leis declaradas inconstitucionais: Porém, se de um lado há autores que reservam ao conceito caráter normativo, isto é, de avaliação da atuação da Suprema Corte como boa/correta ou ruim/excessiva, de outro há aqueles que lhe atribuem uma acepção descritiva da atuação da Suprema Corte. O uso do conceito de ativismo judicial prestaria para medir descritivamente a atuação da Suprema Corte, a partir de determinados critérios, a exemplo do número de leis federais e estaduais declarados inconstitucionais, do número de leis cuja constitucionalidade foi afirmada, do número de votos de um juiz quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade e assim por diante. Em face da múltipla possibilidade semântica, é importante abordar quais seriam os elementos ou dimensões desse conceito a fim de delimitar melhor o seu significado. (CONTINENTINO, 2012, p.130) Marcelo Casseb Continentino (2012) conclui tópico de sua pesquisa informando que, por mais que exista uma dificuldade em chegar à delimitação do conceito de ativismo judicial, há, na doutrina, um relativo acordo quanto a multidimensionalidade do mencionado termo, e, citando o artigo “The Origen and Current Meaning of Judicial Activism”, de Keenan Kmiec, considera cinco as dimensões do ativismo judicial, quais sejam: a) anulação de atos normativos cuja constitucionalidade é sustentável; b) desrespeito ao precedente (horizontal e vertical); c) criação judicial; d) desvio da metodologia interpretativa e e) julgamentos direcionados pelo resultado. Em relação a primeira dimensão, qual seja, o prisma da anulação de atos normativos, seja do Executivo, seja do Legislativo, o autor reconhece que nesta atuação é onde estão as principais críticas à atuação da Suprema Corte americana em face da inúmeras possibilidades de interpretação constitucional, principalmente quando a interpretação do Poder Judiciário vai de encontro à interpretação fornecida pelos próprio Poder Legislativo. Como se sabe, numa sociedade multicultural na qual muitas e diversas são as visões sobre justiça, a moral e a ética, é inevitável subsistir o desacordo razoável (reasonable disagreements) sobre a interpretação das normas constitucionais. Embora haja acordo quanto às cláusulas constitucionais gerais e abstratas (v.g.: devido processo legal, liberdade de expressão, vida, etc), no momento da especificação constitucional, isto é, quando se vai aplicar a norma constitucional abstrata ao caso concreto, começam-se os confrontos em torno da melhor interpretação constitucional. (CONTINENTINO, 2012, p.131) 172 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Se a própria lei já traria interpretação própria1, como um órgão do Poder Judiciário poderia anular um diploma legal sob o argumento de melhor interpretação? Parece ter razão os autores das pesquisas que aduziam críticas contra ao ativismo judicial sob a dimensão acima, quanto a possibilidade de anulação de atos normativos cuja constitucionalidade é sustentável. A segunda dimensão do ativismo judicial (b) seria quanto a resistência de juízes ou tribunais em não seguir precedentes jurisdicionais, inovando, assim, na pacífica jurisprudência dos Tribunais com entendimentos pontuais. Julgar de forma contrária aos precedentes judiciais sem uma justificativa plausível seria a segunda dimensão ou manifestação de ativismo judicial, neste sentido Marcelo Casseb Continentino: O ativismo judicial, sob tal perceptiva, decorreria da não aderência às interpretações anteriormente perfilhadas em casos semelhantes, sem uma justificativa plausível ou razoável. A corte que não mantem uniformidade de entendimento é uma corte que não aplica o direito preexistente; isto é, ela julga conforme a própria conveniência e subjetividade, ao sabor das circunstancias. (CONTINENTINO, 2012, p.132) Terceira dimensão (c) através da qual se verifica o ativismo judicial é quanto a possibilidade de criação de direitos pelo Poder Judiciário. O juiz ativista seria aquele que, agindo além de suas atribuições funcionais, agiria criando direito em inobservância ao princípio da separação dos poderes e ao Estado de Direito. Na quarta dimensão do ativismo judicial (d), o conceito assume nova significação sobre a qual haveria um modo adequado e correto de interpretação da Constituição que não a forma tradicional por subsunção. Qualquer método que se afastasse da subsunção seria considerado método inovador ou ativista. A quinta e última dimensão/acepção do ativismo judicial é encontrada naquelas decisões nas quais o juiz-intérprete profere julgamento tendente a atingir determinado resultado (e). A crítica a esta forma de ativismo judicial estaria na ocorrência do desvio de finalidade da própria sentença enquanto proferida em não observância do dever de 1 O autor cita como exemplo hipotética lei americana que, liberando a prática do aborto e especificando os casos permitidos, poderia, sob o argumento da violação do direito à vida, ser invalidada pela Suprema Corte Americana, anulando, inclusive, os casos permitidos pelo próprio legislador. A ponderação a favor da vida do nascituro se daria em detrimento da liberdade individual, da autonomia privada, saúde e dignidade da pessoa humana que concorreriam a favor da livre opção da gestante. 173 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I imparcialidade do julgador, não sendo observado o ordenamento legal como parâmetro idôneo, livre e válido. Enfim, Marcelo Casseb Continentino apresenta o ativismo judicial como um gênero de manifestações do Poder Judiciário que não se limita às expressões mais usuais conhecidas, tais como judicialização da política ou outras. O ativismo judicial seria gênero de manifestações atípicas do Poder Judiciário. Nesta pesquisa o ativismo judicial é defendido como gênero, portanto, tendo sentido amplo e ocorrendo em diversas hipóteses. Não obstante tratar o tema como gênero, buscando uma delimitação conceitual, Andrea Elias da Costa, assim define o que é ativismo judicial: [...] a ideia de ativismo judicial está associada a uma intensa participação do Judiciário na concretização dos valores Constitucionais, o que pode se dar de diferentes maneiras, tais como pela aplicação direta da Constituição em situações não expressamente contempladas em seu texto, independentemente de manifestação do Legislador; a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; a imposição de condutas ou abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas. (COSTA A. 2010, p.53). Conclui a autora (2010) que o ativismo judicial seria “... uma maneira ativa de interpretação da Constituição.”, considerando o ativismo judicial como manifestação extraordinária do Poder Judiciário legitimada pela hermenêutica, no caso, uma hermenêutica constitucional. Na busca por um melhor conceito de ativismo judicial, a obra de Elival da Silva Ramos (2010) assim define ativismo judicial: [...] o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições objetivas (conflitos de interesse) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos). (RAMOS, 2010, p.129). 2. O ATIVISMO JUDICIAL: FUNDAMENTOS PROATIVOS SEGUNDO A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO DE ALEXY E CONSTRUÇÃO CRÍTICA EM JONH LOCK, MONTESQUIEU E ROUSSEAU. 2.1. A Teoria da Argumentação de Alexy. Os fundamentos para a prática do ativismo judicial estão presentes a linguística, e, especialmente na teoria da argumentação de Alexy. 174 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A teoria de Alexy desenvolveu-se, basicamente, com o exame das regras de linguagem, elaborando uma teoria baseada na argumentação prática, enquanto, ampliando o conceito de norma jurídica os princípios constitucionais foram reconhecidos como norma. Em relação ao conceito de norma jurídica, Alexy (2011) evidencia uma mudança no conceito positivista enquanto diferencia enunciado normativo de norma: O ponto de partida desse modelo consiste na diferenciação entre norma e enunciado normativo. Um exemplo de enunciado normativo seria o seguinte: (1) „Nenhum alemão pode ser extraditado‟(art.16,§2º, 1 da Constituição alemã). Esse enunciado expressa a norma segundo a qual é proibida a extradição de um alemão. Que é proibido que um alemão seja extraditado é o que significa o enunciado‟nenhum alemão pode ser extraditado‟. Uma norma é, portanto, o significado de um enunciado normativo. (ALEXY, 2011, p.53, destaque nosso). Partindo do pressuposto que a norma é um significado do enunciado normativo, Alexy estende a possibilidade de criação de normas ao maior intérprete das normas, o julgador. Passa este a ter atribuições semelhantes à de parlamentar enquanto criador de normas através da reconstrução destas no caso concreto através da interpretação, dando azo ao juiz equiparado ao deus Hermes2. Segunda distinção na teoria da argumentação de Alexy (2011) é que regras e princípios passaram a ser espécies do gênero norma jurídica. Neste sentido vale sua citação direta: Aqui, regras e princípios serão reunidos sob o conceito de norma. Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados por meio de expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto as regras, razões para juízos concretos de deverser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção de regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas. (ALEXY, 2011, p.87). Estabelecido o princípio como norma, os princípios constitucionais poderiam, sem qualquer regulamentação infraconstitucional, servir como fonte normativa primária, única e suficiente para sua aplicação na solução de litígios no caso concreto. Em relação a diferenças entre regras e princípios, Alexy (2011) estabelece como critério principal o da generalidade: Há diversos graus para se distinguir regras de princípios. Provavelmente aquele que é utilizado com mais frequência é o da generalidade. Segundo esse critério, princípios são normas com grau de generalidade relativamente alto, enquanto o grau 2 Hermes era o deus da filosofia grega com incumbências pela transferência da comunicação, ou melhor, interpretação. 175 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I de generalidade das regras é relativamente baixo. Um exemplo de norma de grau alto de generalidade é a norma que garante a liberdade de crença. De outro lado, uma norma de grau de generalidade baixo seria a norma que prevê que todo preso temo direito de converter outros presos à sua crença. Segundo o criterio de generalidade seria possível pensar a primeira norma como princípio e a segunda como regra. (ALEXY, 2011, p.87) Alexy (2011) deixa claro que entre regras e princípios existe uma diferenciação qualitativa, sendo os princípios mandamentos de otimização: O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios, são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de q ue a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O ámbito das posibilidades jurídicas é determinado pelos principios e regras colidentes. Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou nao satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no ámbito daquilo que é fática e jurídicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e principios é uma distinção qualitativa e não uma distinção de grau. Toda norma é ou uma regra ou um principio. (ALEXY, 2011, p.90) O próprio Alexy estabelece que os princípios, por sua generalidade, impõem sua aplicação máxima tendo por limites somente impossibilidades fáticas e/ou jurídicas. Já enquanto as regras, ou estas simplesmente se aplicam ao caso concreto ou não se aplicam. Existe uma diferença qualitativa enquanto as normas-princípios implicam que algo seja realizado na maior medida possível. Neste sentido, a doutrina brasileira através de Humberto Ávila (2008) traz a seguinte diferenciação entre regras e princípios: As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectiva e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da criação normativa e a construção conceitual dos fatos. Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicabilidade de demanda uma avaliação da correlação entre o estado das coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção. (ÁVILA, 2008, p.78). No mesmo contexto, Paulo Bonavides (2009) comenta a reviravolta no mundo doutrinário partindo do pressuposto que os princípios constitucionais passam a ser considerados normas: 176 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Assim como Muller, na Alemanha, rompe com a tradição de Kelsen, Jellinek, Laband e Gerber, já Dworkin, no mundo anglo-americano, levanta a cátedra de Harvard contra a de Oxford, onde até então a filosofia jurídica de Hart conservava intangível a inspiração positivista de Bentham e Austin. São momentos culminantes de uma reviravolta na região da doutrina, de que resultam para a compreensão dos princípios jurídicos importantes mudanças e variações acerca do entendimento de sua natureza: admitidos definitivamente por normas, são normas-valores com positividade maior nas Constituições do que nos Códigos; e por isso mesmo providos, nos sistemas jurídicos, do mais alto peso, por constituírem a norma de eficácia suprema. Essa norma não pode deixar de ser o princípio. (BONAVIDES, 2009, p.276) Neste sentido, Alexy traz em sua obra tópico específico a respeito da colisão de princípios e conflito de regras, avitando formas de colisão e sopesamento: Um conflito entre regras somente pode ser solucionado se se introduz, em uma das regras, uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou se pelo menos uma das regras for declarada inválida. [...] As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente diversa. Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro, permitido-, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Isso é o se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com maior peso têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios – visto que só princípios válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso. (ALEXY, 2011, p.93) Adentrando na teoria da argumentação de Alexy, a questão principiológica fora, tão somente, o substrato para sua inovação na teoria da decisão com a defesa da argumentação prática. Alexy esclarece que o discurso jurídico é caso especial do discurso prático, revelando, no mesmo texto, a questão da valoração no caso concreto que pode ensejar resultados diferentes, bem como o discurso prático como uma nova versão de uma teoria moral procedimental: O ponto de partida da teoria da argumentação é a constatação de que, no limite, a fundamentação jurídica sempre diz respeito a questões práticas, ou seja, àquilo que é obrigatório, proibido e permitido. O discurso jurídico é, por isso, um caso especial do discurso prático geral. Enquanto caso especial do discurso prático geral, ele é caracterizado pela existência de uma série de condições restritivas, às quais a argumentação jurídica se encontra submetida e que, em resumo, se referem à vinculação à lei, ao precedente e à dogmática. Mas essas condições, que podem ser expressas por meio de um sistema de regras e formas específicas do argumentar jurídico, não conduzem a um único resultado em cada caso concreto. A questão da racionalidade da fundamentação jurídica leva, então, à questão da possibilidade de fundamentação racional de juízo práticos ou morais gerais. [...] Uma versão especialmente promissora de uma teoria moral procedimental é a teoria do discurso prático racional.(ALEXY, 2011, p.548) 177 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Comentando a tese central de Alexy, Álvaro Ricardo de Souza Cruz (2004) ressalta que a teoria da justificação jurídica era uma forma especial do discurso prático e que a coerência da argumentação era justamente o seu elemento de controle e legitimidade. Neste sentido discorre a respeito: A tese central de Alexy é a de que a teoria da justificação jurídica era uma forma especial do discurso prático. Portanto, desenvolveu as linhas gerais desse último e, ao final, anotou as particularidades do primeiro. Os discursos racionais práticos são aqueles que se preocupam com a correção das afirmativas normativas. Em Alexy esses discursos assumiram a forma normativa, vez que se preocupam com a justificação de critérios de sua própria racionalidade, apesar de assumir que não há modo de justificação que não tenha suas deficiências. Contudo, a ausência de um conceito absoluto de correção, não diminuiria as possibilidades de a Teoria Discursiva reduzir/controlar o subjetivismo/intuicionismo das afirmações normativas. (CRUZ, 2004, p.166) Ainda no sentido da justificação ou legitimação da própria decisão por seus argumentos, Alexy estabelece quatro regras básicas indispensáveis ao discurso. Álvaro Ricardo de Souza Cruz (2004) comenta cada uma delas: A primeira é a proibição da autocontradição do orador. Logo, a(s) afirmação(ões) do orador deve(m) ser coerente(s) entre si. Ao mesmo tempo, ele deve ser sincero, pois quem afirma, quer expressar uma crença. Isso não o impede conjecturar, mas seguramente exige a boa-fé do orador, que deve sempre afirmar aquilo em que, de fato, acredita. [...] A universalidade de Hare implicava também a necessidade de essa regra ser clara e poder ser ensinada/compreendida por todos. [...] Por fim, a última regra básica do discurso prático geral sustenta que o mesmo devese sujeitar-se a uma „ortolinguagem‟ ou seja, ao emprego de palavras gestos, expressões com significação conhecida/dominada pela comunidade participante do discurso. (CRUZ, 2004, p.167) Além das regras básicas acima dispostas, Alexy acrescenta que o discurso deveria ser complementado pelas “regras de racionalidade”, não bastando a coerência e sinceridade do orador. Como consequência da racionalidade que se impunha ao discurso, tal lógica deveria ser pública, clara e transparente de modo a possibilitar ampla liberdade de discussão sobre as razões do discurso. A teoria da argumentação de Alexy inova na teoria da decisão judicial enquanto possibilita ao Poder Judiciário julgar qualquer questão lhe posta ao apreço, inclusive, imprimindo maior efetividade aos valores constitucionais para decidir como melhor convém na análise do caso concreto. 178 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Na atualidade, a teoria de argumentação de Alexy serve como fundamento jurídico para a prática do ativismo judicial de modo que todo e qualquer litígio posto ao apreço do Poder Judiciário pode ser julgado através da análise dos argumentos levantados pelas partes, sendo justificada a decisão de acordo com a ponderação dos valores dada ao caso concreto. A ampla subjetividade das decisões judiciais é característica marcante das soluções jurídicas ativistas na atual fase pós-positivista, podendo o julgador imprimir solução mesmo contrária à lei desde que fundamente suas razões no caso concreto. Em Alexy, a legitimidade do julgador para atuar como agente político, mesmo proferindo decisões em desconformidade com as leis e/ou adentrando em campo de atuação política, advém dos fundamentos da própria decisão jurídica, assim, a motivação da decisão é a sua própria justificação que a deve legitimar perante as partes e terceiros. 2.2. Construção crítica a respeito do ativismo judicial. 2.2.1. O ativismo judicial e sua relação com a concepção do Estado Democrático de Direito: as leis na concepção moderna, a separação dos poderes e a necessária representatividade dos agentes políticos. O subjetivismo decorrente da utilização dos conceitos pessoais de moral em detrimento das regras escritas e postas também foi uma preocupação na antiguidade. Carlos Eduardo Bittar (2002), parafraseando Aristóteles, defende o governo das leis em detrimento do “governo do que seja melhor”: Ainda mais, pode-se dizer que, na busca do verdadeiro regime e do verdadeiro governo, é melhor que na lei esteja depositada a soberania, e não no homem, pois este está sujeito às paixões que acometem a alma. A lei tem um papel preponderante na conformação do espaço político. De fato, as leis bem esclarecidas são as que dever exercer a soberania. Acima dos homens estão as leis, e isso quanto ao governo e à condução das coisas comuns. Os magistrados somente devem exercer uma função supletiva ou complementar quando a lei não mais cobrir com suas previsões genéricas o conjunto de hipóteses práticas ocorrentes. (BITTAR, 2002, p.24) Sugerida a lei como forma de manifestação da vontade popular, e, do próprio Estado, esta deveria ser observada por todos, substituindo ela a própria vontade do monarca, da aristocracia ou da república. O autor deixa claro, ao final, que o papel primário dos magistrados seria de solucionar litígios através da aplicação pura e simples da lei, somente podendo exercer uma 179 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I função supletiva quando a lei não fosse suficiente para prever solução ao caso concreto, sendo esta, portanto, a exceção da atividade jurisdicional em prol da existência do Estado de Direito. É claro que não se está a defender um Poder Judiciário neutro no cenário político, no entanto, evidencia-se, desde a história antiga, a preocupação em evitar a concentração de poder, o subjetivismo e a ausência de parâmetros como critérios formais para a condução do Estado e mesmo da sociedade. Não obstante as primeiras linhas acima delineadas que já evidenciam uma preocupação das civilizações passadas na formação de uma sociedade dirigida por parâmetros/critérios únicos, objetivos, conhecidos e voltados para a realização do bem comum, ou seja, por leis que expressassem a vontade do próprio Estado e da população, não se pode negar uma preocupação doutrinária em vários autores quanto a necessidade de execução das leis em forma impessoal e não direcionada a interesses próprios. Jonh Locke foi um expoente quanto a necessidade de separação dos poderes enumerando os poderes em três: poder legislativo, executivo e federativo, sendo que, indubitavelmente, o poder legislativo era supremo, cabendo-lhe governar o povo por meio de leis estabelecidas. Em Locke percebe-se que à atividade judicial sequer era lhe conferida a qualidade de poder, podendo-se aferir que os julgadores não podiam ser qualificados como agentes políticos, justamente, por não participar do processo de formação da vontade estatal. Do ponto de vista estritamente jurídico, seguindo uma concepção generalista das normas, em Locke as leis deveriam servir como parâmetro normativo de observância para todos, de modo que, além de serem estabelecidos direitos e deveres para toda a coletividade, num ideal de Estado de Direito, seria ainda uma forma de promover a igualdade entre os súditos. Assim, o poder legislativo era considerado o poder supremo por representar a vontade popular e editá-la através das leis após o consenso da maioria dos agentes políticos, vislumbrando-se ainda um viés democrático decorrente do necessário consenso como pressuposto para o estabelecimento das regras estatais. 180 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Não obstante considerando o poder legislativo como poder supremo, Locke mencionava a necessidade de limites para o poder legislativo. Neste sentido vale o comentário de Nelson Nery Costa(2006): Em todo o caso, esse poder permanecia inalterável e sagrado, nas mãos de quem fora colocado, em primeiro ligar, pela comunidade. E não podia habilitar qualquer outro, fosse quem fosse, a legisferar. Existiam, entretanto, limites para o poder legislativo: a) a lei da natureza subsistia como norma eterna para todos os homens; b) o parlamento devia editar leis que tivessem uma certa estabilidade; c) não podia privar um indivíduo da sua própria propriedade sem o consenso dele; d) não podia transferir o poder de fazer leis para outras mãos, porque o seu poder já era delegado pelo povo e o delegado não podia delegar. (COSTA, 2006, p. 114). O estado civil nascia para garantir os direitos naturais em Locke, em especial a propriedade e a segurança, de modo que, o próprio poder legislativo tinha como especial limite não delegar seus poderes de legisferação, nem privar os indivíduos dos direitos naturais que já possuíam mesmo no estado natural, por exemplo, a propriedade. A não observância das leis ou dos limites legitimava, inclusive, o direito de resistência ou desobediência civil. Segundo autor clássico de maior expressão quanto a separação dos poderes foi Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu que, em 1748 afirma a importância das leis na sociedade, bem como da separação de competências. Montesquieu(1979) faz referência a três espécies de governo: o Republicano, o Monárquico e o Despótico, sobretudo, atribuindo qualificação negativa ao governo despótico por inobservar as leis: Governo republicano é aquele em que o povo, como um todo, ou somente uma parcela do povo, possui o poder soberano; a monarquia é aquele em que um só governa, mas de acordo com leis fixas e estabelecidas, enquanto, no governo despótico, uma só pessoa, sem obedecer a leis e regras, realiza tudo por sua vontade e seus caprichos. (MONTESQUIEU, 1979, p.197) As leis, em Montesquieu(1979), representavam as relações que se estabeleciam entre os seres humanos, concluindo que eram as relações necessárias que derivavam da natureza das coisas: Devem as leis ser relativas ao físico do país, ao clima frio, quente ou temperado; a qualidade do solo, à sua situação, ao seu tamanho; ao gênero devido das provas, agricultores, caçadores ou portarias; devem relacionar-se como grau de liberdade que a constituição por permitir com a religião dos habitantes, nas indicações, riquezas, número, comércio, costumes, maneiras. Possuem elas, enfim, relações entre si e com sua origem, com os desígnos do legislador e com a ordem das coisas sobre as quais são elas estabelecidas. É preciso considera-las em todos os aspectos. (MONTESQUIEU, 1979, p.45) 181 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Nelson Nery Costa comenta o que se poderia entender por “natureza das coisas” reconhecendo que existiria uma razão primitiva e que as leis eram expressão de tal razão. Fazendo um paralelo entre as leis divinas ou naturais e as leis humanas, defende a existência autônoma destas últimas para uma ordenação da vida em sociedade: Ele [Monstesquieu] sustentava, na companhia dos estóicos, que existiam uma razão primitiva e que as leis eram as relações que se estabeleciam entre ela e os diferentes seres, a começar por Deus, criador e conservador do Universo. […] Em outras palavras, o homem, enquanto ser inteligemte, não transgredia incessantemente as leis que Deus estabelecera e modificara as que ele mesmo originara. Cumpria-lhe [ao homem] adapta-las à sua natureza e que fossem diferentes daquelas por que eram governados os seres puramente físicos, os corpos [...]. A vida em sociedade, exatamente em sociedade particulares, exigia leis positivas. (COSTA apud MONTESQUIEU, 1979, p.197, destaque nosso). No livro XI da obra de Montesquieu se encontram as ideias célebres quanto a tripartição do poder em funções legislativa, judiciária e executiva, cabendo salientar que a separação dos poderes tivera como pressuposto o ideal de liberdade, seja para o súdito uma vez que a separação seria uma forma de evitar a concentração de poderes que ensejasse um governo despótico, seja a liberdade3 de atuação para cada esfera de poder enquanto para a melhor atuação do Estado cada esfera tinha funções próprias e independentes. Neste sentido, transcrevo parte do capítulo XI da obra citada de Montesquieu(1979): Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executálas tiranicamente. [...] Não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do poder executivo. Se tivesse ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria o legislador. Se tivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. (MONTESQUIEU, 1979, p.148). Conclui Montesquieu (1979) quanto ao risco de se acumularem funções estatais em um só corpo estatal ou homem: Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos individuos. (MONTESQUIEU, 1979, p.149). 3 Liberdade seria fazer tudo o que as leis permitem, coincidindo com o moderno conceito de legalidade estrita que a Administração Pública está adstrita. 182 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Vale dizer que Montesquieu ponderou a respeito da necessidade de cada poder fiscalizar outro, ressaltando a importância da independência, contudo, também a de equilíbrio entre todos para que nenhuma das conhecidas “potências” pudessem abusar do poder. Nelson Nery Costa (2006) comenta as formas de intervenção em cada poder da seguinte forma: O ideal político do autor coincidiria com um regime, no qual seria rigorosamente assegurada esta separação dos poderes. Deveriam existir três poderes: o executivo, como rei e seus ministros; o legislativo, a câmara baixa e a câmara alta; e o judicial, o corpo de magistrados. Esta famosa teoria era complementada com outras: a) o executivo interferiria no legislativo, porque o rei gozava do direito de veto; o legislativo podia, em certa medida, exercer um direito de vigilância sobre o executivo, pois controlava a aplicação das leis que votara e sem que se tratasse de responsabilidade ministerial, podendo pedir contas aos ministros perante o parlamento; c) que o legislativo interferia seriamente no judicial, pois, em algumas circunstâncias particulares erigia-se em tribunal. (COSTA, 2006, p.137). Por mais que se tenha uma definição teórica de limites entre as três funções do estado, a rigor a rigor, a separação dos poderes em Montesquieu tratava de uma combinação de atribuições políticas entre legislativo e executivo, não sendo aprofundada a questão de limites quanto ao poder judiciário, até mesmo porque este era considerado um poder “invisível”, não sendo um poder em sentido próprio, dado que, somente quando necessário, o Senado era convocado para o exercício das funções jurisdicionais. Não obstante isso, tanto em Locke quanto em Montesquieu se encontram as principais bases teóricas clássicas para a formação do Estado de Direito, bem como de parte do constitucionalismo quanto a necessidade de definições de atribuições com a separação de poderes. 2.2.1.2. Ofensa ao princípio da separação dos poderes. Em relação a crítica quanto a ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, percebe-se que enquanto o Poder Judiciário invalida ou mitiga atos próprios do Poder Executivo, ou mesmo cria direitos e obrigações não previstas nas normas infraconstitucionais para obrigar o Estado a uma determinada prestação social, não resta dúvida que adentra em um campo específico de outro poder enquanto passa a ser autor determinante para a execução de uma política pública. Além da invasão nas atribuições próprias de outro poder, é a notória a ofensa ao princípio da separação de poderes enquanto o membro do Poder Judiciário substitui o juízo de conveniência e oportunidade do gestor executivo para destinar parte das verbas orçamentárias 183 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I para a solução de um caso pontual em detrimento da realização de outras prestações à sociedade. No tocante a substituição do mérito dos atos administrativos (discricionariedade do gestor) pela motivação do julgador, este teria conhecimento de todas as peculiaridades conhecidas pelo gestor? O limite restrito de conhecimento do julgador quanto a questões factuais não implicaria numa prestação social de má qualidade? Vale ressaltar que, por vezes, o mérito do ato administrativo que é substituído por um juízo pessoal do julgador, mesmo que motivado, não é legítimo dado que, primeiro, se está substituindo uma decisão tomada em conformidade com uma política pública instituída por agentes providos de representação política, não tendo os agentes públicos do Poder Judiciário qualquer representatividade política, segundo, em razão do juízo de conveniência e oportunidade decorrem de estudos eminentemente técnicos cujas variáveis, por fugirem a seara jurídica, raramente são conhecidas ou mesmo estão levantadas no bojo do processo judicial, fugindo, portanto, do conhecimento do magistrado. O juízo de conveniência e oportunidade é uma ponderação própria do gestor na execução de um ato administrativo, juízo que abrange conhecimento factual, especial e temporal sobre determinado projeto que está sendo executado, variáveis estas que fogem ao campo da (i)legalidade a ser observada pelo Poder Judiciário. Mesmo havendo a possibilidade de juízo sobre a razoabilidade e proporcionalidade de um ato administrativo, comum é o direcionamento judicial de execuções de projetos, não somente substituindo o juízo de conveniência e oportunidade dos gestores, mas ainda, criando novas diretrizes sobre uma realidade não conhecida, pelo menos, tanto quanto o próprio administrador. Têm-se o registro de casos práticos de ativismo judicial na área da saúde em que juízes, motivando suas decisões com base na ponderação de valores constitucionais, quase sempre atribui maior peso à saúde, no entanto, determinando a realização de prestações sociais criticáveis, por exemplo, acolhendo pretensões individuais para que seja destinada parte do orçamento público para a realização de intervenções médicas indevidas ou desnecessárias , ou mesmo determinando a compra de medicamentos importados cuja entrada no país não fora autorizada pela ANVISA, compra de medicamentos em valores superfaturados dados que não comprados em lote por licitação ordinária do governo, etc. 184 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Além da concentração de poderes/atribuições notadamente incompatíveis, o ativismo judicial, na atual concepção neopositivista, ainda permite ao Poder Judiciário proferir julgamentos em que a lei, fonte normativa primária e outora suficiente como critério de julgamento, pode ser afastada ou mitigada por mera interpretação pessoal do julgador. A ofensa ao Estado de Direito é notória uma vez que, julgando casos sem a observância das leis ou mesmo de forma contrária à elas, o julgador se coloca acima das normas postas substituindo ou desconsiderando o consenso político alcançado, através do processo legislativo, construído pelo Poder Executivo e Legislativo. A inobservância às leis ou regras postas que compõem o ordenamento jurídico ensejam ofensa ao Estado de Direito, sobretudo, não sendo observada a soberania popular que fundamenta todo o processo de formação legislativa. 2.2.1.3. Ofensa à teoria da democracia. Em relação a teoria de democracia, na fase pré-revolução francesa, Rousseau e Sieyès já defendiam a democracia como governo dos povos, sendo que este último, com clareza, trazia com maior lucidez a necessidade da representação do povo através de agentes políticos. Simone Goyard-Fabre (2003) afirma que Sieyès, não desprezando as ideias de Rousseau, defende o governo representativo, porém, através de um exercício democrático indireto: No terreno do realismo político, descarta a „democracia bruta‟ e cinzela – nos antípodas de Rousseau a quem crê apenas retificar – a concepção de um governo representativo que, corpo político de associados que vivem sob uma lei comum e representado pela mesma legislatura, busca sua força política na Nação. (GOYARDFABRE, 2003, p.180). Defendendo os mandatos representativos em detrimento de mandatos imperativos, Simone Goyard-Fabre (2003) citando Sieyès afirma que a democracia indireta necessariamente deveria se instalar através da técnica do sufrágio, única forma de legitimar os representantes: [...] não se pode separar a Nação de seus representantes. Nesse sentido, o terceiro estado - que é „a própria Nação‟- deve compor sozinho a Assembleia Nacional. Com efeito, os representantes são os órgãos da Nação; ele querem pela Nação inteira. O que deles detêm não é um mandato imperativo que faria deles os portadores de voto de seus eleitores, mas um „mandato representativo‟ pelo qual agem de acordo com a vontade nacional soberana. Em outras palavras, Sieyès 185 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I descarta a ideia de „democracia bruta‟, que considera primitiva e simplista porque ela repousa exclusivamente sobre um mandato imperativo, e a substitui pela esperança democrática conquistadora, que seria de um outro tipo porque obedeceria a uma outra técnica de sufrágio: encontraria legitimidade nos diversos corpos de representantes designados, em nome de toda a Nação, para agir em seu próprio domínio e segundo suas capacidades. (GOYARD-FABRE, 2003, p.181). Sieyès traz imensa contribuição à necessidade de representatividade dos agentes políticos ao mesmo tempo em que se verifica o discurso sobre legitimidade dos atos dos agentes enquanto atuando em nome da nação. Imbuído da ideia de soberania nacional, na qual a nação é representada via mandatos, Sieyès deixa claro ainda que os representantes devem estar submetidos ao controle permanente dos representados. Neste sentido os comentários de Simone Goyard-Fabre(2003): [...] para que não se rompa a unidade da vontade nacional, Sieyès estima ser necessário que os representantes sejam submetidos ao controle permanente dos representados; por meio desse controle, estes se asseguram de que a maneira como os governantes cumprem o „mandato de fazer‟, que, em tal ou qual domínio, lhes foi confiado em razão de suas competências, corresponde bem à vontade da Nação. (GOYARD-FABRE, 2003, p.185). As teses acima referidas denotam que a representação popular deve estar acompanhada de mandatos temporários, de modo que, não havendo efetiva representação do povo, os agentes políticos deveriam desocupar o cargo público, seja após a expiração do mandato, seja através de formas mais modernas de destituição daquele, por exemplo, através de um impechaman. Do acima exposto, analisando a teoria clássica relativa a formação do Estado, a edição e necessidade de leis a serem observadas por todos dado ser um critério legítimo de tratamento em igualdade dos cidadãos, a necessidade de separação de atribuições e controle dos poderes, o requisito de uma mínima representatividade para que um agente público possa ser qualificado como agente político, já se pode chegar a um posicionamento crítico a respeito do ativismo judicial. As críticas ao ativismo judicial identificam-se com as maiores preocupações doutrinárias clássicas, em especial: enquanto o Poder Judiciário passa a invadir a esfera de competência própria dos demais poderes enquanto mitiga/executa políticas públicas; na ausência de controle do Poder Judiciário por outro poder republicano; quanto a carência de legitimidade/representatividade para um julgador adentrar em questões políticas; na 186 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I inobservância da lei enquanto qualquer juiz pode reconstruir a norma jurídica no caso concreto através da atual hermenêutica constitucional. Quanto ao ingresso dos membros do Poder Judiciário na ordem política, duas ofensas à teoria da democracia se vislumbram: a questão do ingresso no cargo político e a questão do tempo de exercício. Primeira ofensa ao princípio democrático se evidencia no caso do Poder Judiciário enquanto seus membros não ingressam no cargo através de um processo reconhecidamente político que possibilitasse a eleição de membros com um mínimo de representatividade política e a manifestação da vontade popular. Segunda ofensa evidencia-se enquanto não existe um controle efetivo quanto ao 4 cargo de seus membros uma vez que não se permite controle popular sobre a atuação dos magistrados, característica esta inerente aos mandatos representativos que não pode ser reproduzida aos membros do Poder Judiciário dado que estes são providos da garantia de vitaliciedade, garantia esta incompatível com o exercício de mandato. A falta de legitimidade do Poder Judiciário para a execução das políticas públicas decorre da ausência de representatividade política de seus membros, não passando por uma escolha popular através de sufrágio, não se pode reconhecer representatividade política somente em decorrência de uma investidura derivada de uma aprovação em um concurso público, não se podendo confundir mandatos imperativos com mandatos representativos. O fato de no Brasil ser possível a invalidação de atos por qualquer juiz em qualquer instancia reforça a crítica quanto a ausência de efetivos limites e controles sobre o Poder Judiciário, ensejando a necessidade de uma autêntica Corte Constitucional composta por membros eleitos pelo povo para tratar das questões eminentemente políticas levadas ao Poder Judiciário. Focando na ausência de representatividade dos membros do Judiciário brasileiro e na ausência de controle do povo sobre a titularidade de quem ocupa tais cargos, Francisco Gerson Marques de Lima(2009), em sua obra “O STF na crise institucional brasileira”, sugere proposta para uma reestruturação do Supremo Tribunal Federal para que o Brasil venha a ter 4 O cargo dos magistrados é reconhecido pela característica imperativa que não se confunde com os mandatos representativos dos agentes tipicamente políticos. 187 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I uma Corte Constitucional e que esta tenha o mínimo de representatividade em observância aos ditames mínimos democráticos: À guisa de sugestão, fica aqui a proposta de que, no Brasil, uma vez havendo Corte Constitucional, seja ela composta de 12 membros, para mandatos de 10 anos, exceto se a idade para aposentadoria compulsória sobrevier a este lapso, sendo proibida a recondução.(LIMA, 2009, p.162). O argumento democrático é evidente por não guardarem os membros do Poder Judiciário o mínimo de representatividade popular, cabendo salientar que, mesmo mitigada essa ausência de legitimidade política, um efetivo instrumento de controle de seus atos deveria ser efetivo para maior legitimidade. A doutrina de Habermas aduz critica ao juiz comparado ao deus Hércules, não aceitando como critério de legitimação a mera motivação das decisões judiciais. Neste sentido a transcrição de Habermas em prol que a norma jurídica adviesse do alcance da razão prática através do consenso dos próprios cidadãos e não de um terceiro, no caso, o magistrado: As objeções até aqui levantadas contra o sentido e a viabilidade de uma teoria do direito ideal, capaz de proporcionar a melhor interpretação judicial dos direitos e deveres, da história institucional, da estrutura política e de uma comunidade constituída segundo o direito do Estado constitucional, partiram da premissa de que essa teoria possui um único autor – o respectivo juiz, que escolheu Hercules como seu modelo. Ora, as próprias respostas que Dworking deu, ou poderia dar, a seus críticos levantam as primeiras dúvidas com relação a possibilidade de se manter esse princípio monológico. Pois o ponto de vista da integridade, sob o qual o juiz reconstrói racionalmente o direito vigente, é expressão de uma ideia de Estado de direito que a jurisdição e o legislador político apenas tomam de empréstimo ao ato de fundação da constituição e da prática dos cidadãos que participam do processo constitucional. Dworking oscila entre a perspectiva dos cidadãos que legitima os deveres judiciais e a perspectiva de um juiz que tem a pretensão de um privilégio cognitivo, apoiando-se apenas em si mesmo, no caso em que a sua própria interpretação diverge de todas as outras. [...] Tais enunciados pressupõem que o juiz esteja altamente qualificado, seja por seus conhecimentos e habilidades profissionais seja por suas virtudes pessoais, a representar os cidadãos e a garantir interinamente a integridade da comunidade jurídica. E, uma vez que cada juiz está convencido de que a sua teoria lhe permite chegar à única decisão correta, a prática da jurisdição deve garantir a socialização autônoma de cidadãos que se orientam por princípios.(HABERMAS, 2010, p.276). A problemática aduzida no presente artigo se evidencia na atualidade enquanto a prática de decisões ativistas proferidas de acordo com os argumentos levantados no caso concreto se distancia dos pilares clássicos que fundamentam o próprio constitucionalismo. Decisões ativistas que adentram em questões de cunho eminentemente político, por vezes contrárias aos preceitos legais vigentes, criando direitos não previstos na legislação, até 188 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I mesmo mitigando políticas públicas enquanto direcionam parte do orçamento público para o atendimento de decisões judiciais que buscam a efetivação de direitos sociais, não podem encontrar sua legitimação somente em sua motivação. De acordo com a doutrina clássica, o ativismo judicial é prática que enseja ofensa ao Estado de Direito enquanto as leis vigentes podem ser afastadas de acordo com o caso concreto, ao princípio da separação dos poderes enquanto substituídos os juízos de conveniência e oportunidade próprios dos gestores públicos e a teoria da democracia enquanto o Poder Judiciário adentra em questões políticas sem ter um mínimo de representatividade. Os típicos agentes políticos do Estado, pertencentes ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, possuem legitimidade para agir em nome dos cidadãos e adentrar em questões políticas em decorrência de sua escolha livre e universal, escolha popular que reverte os agentes de representatividade política. O provimento originário legitimado por sufrágio para o exercício de mandato, portanto, periódico, também permite certa forma de controle sobre os agentes políticos, pressupostos estes, provimento através de escolha popular e controle periódico, inexistentes no provimento dos cargos inerentes ao Poder Judiciário. Solução à crise de legitimidade dos membros do Poder Judiciário para atuarem em questões políticas fora enfrentada na Bolívia, advindo solução jurídica na Constituição promulgada em 2009, o que será analisado no próximo tópico. 3. O MODELO CONSTITUCIONAL BOLIVIANO PROMULGADO EM 2009. 3.1. O Tribunal Constitucional da Bolívia: solução quanto à crise de legitimidade dos membros do Poder Judiciário para atuar como órgão político. Conforme jurisprudência e doutrina pátrias, o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, já se manifestou em diversas lides se eximindo de adentrar em questões de cunho estritamente político por reconhecer sua impossibilidade de atuação em certas matérias, por exemplo, questões interna corporis de outro Poder republicano. Conforme construção crítica acima, a ausência de um típico Tribunal Constitucional no Brasil, reforça a crítica realizada contra o ativismo judicial quanto a falta de legitimidade dos membros do Poder Judiciário para proferir decisões eminentemente políticas. 189 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Tal como visto no capítulo primeiro, decisões judiciais qualificadas como ativistas têm a característica de invadir competências próprias dos demais poderes, seja legislando enquanto cria direitos e obrigações não previstas em lei, seja indiretamente gerindo os recursos públicos ou mesmo determinando execução diferenciada das políticas públicas, substituindo direcionamentos próprios dos agentes do Poder Executivo. A intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas ou mesmo proferindo decisões de cunho puramente político somente poderiam ser tomadas por agentes públicos que tivessem representação política, pensar o contrário é aceitar que um agente técnico possa mitigar ou mesmo anular a vontade da maioria através da mera argumentação jurídica. O ativismo judicial no Brasil se confunde com tal prática, inclinando a presente pesquisa por concluir por sua falta de razoabilidade uma vez que, tão somente, um típico Tribunal Constitucional cujos membros sejam eleitos pelo povo teria a competência e legitimidade para apreciar questões relevantes que envolvam a vontade das maiorias. No Brasil, além de não existir um típico Tribunal Constitucional com composição que assegurasse um mínimo de representatividade dos diversos setores que compõem a sociedade brasileira, o exercício da jurisdição constitucional é realizado por qualquer juiz em todas as instâncias, fato que enseja ainda mais a insegurança jurídica e a ofensa aos pilares democráticos. Em posição de vanguarda na América do Sul, a Bolívia, seguindo precedentes do movimento constitucionalista do México e da Guatemala, traz inovação na Constituição promulgada em 2009 que traz solução à crise de legitimidade dos membros do Poder Judiciário na intervenção em causas políticas enquanto institui uma Corte Constitucional. Constituição da Bolívia de 2009. Artículo 197. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino. II. Las Magistradas y los Magistrados suplentes del Tribunal Constitucional Plurinacional no recibirán remuneración, y asumirán funciones exclusivamente en caso de ausencia del titular, o por otros motivos establecidos en la ley. 190 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I III. La composición, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional serán regulados por la ley. Artículo 198. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 199. I. Para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional Plurinacional se requerirá, además de los requisitos generales para el acceso al servicio público, haber cumplido treinta y cinco años y tener especialización o experiencia acreditada de por lo menos ocho años en las disciplinas de Derecho Constitucional, Administrativo o Derechos Humanos. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. II. Las candidatas y los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional podrán ser propuestas y propuestos por organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Artículo 200. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional.(destaquei) Conforme preceitos acima, a Bolívia adotou posição de vanguarda na América do Sul enquanto, nos artigos 197 à 200, instituiu um Tribunal Constitucional cujos membros são eleitos pelo povo mediante sufrágio universal, com tempo certo de exercício, não remunerados e acima de trinta e cinco anos com oito anos de experiência nas áreas Constitucional, Administrativa e ligada aos Direitos Humanos. Tal inovação constitucional ratifica toda argumentação crítica a respeito do ativismo judicial, em especial, quanto a crise de legitimação dos membros do Poder Judiciário brasileiro, ao mesmo tempo em que conclui pela necessidade de uma típica Corte Constitucional no Brasil. 191 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I CONCLUSÕES No primeiro capítulo, a pesquisa buscou a origem do termo ativismo judicial ao mesmo tempo em que delimita o seu conceito, concluindo que o tema deve ser encarado como gênero de manifestações atípicas do Poder Judiciário. O ativismo judicial surge em um primeiro momento como uma adjetivação à atuação da Corte americana em casos específicos cuja solução jurídica fora considerada atípica e inovadora, adquirindo o ativismo judicial uma concepção social positiva ou válida ao mesmo tempo em que adquiria uma concepção jurídica negativa ou crítica. No capítulo segundo, o ativismo judicial fora pesquisado sob uma perspectiva filosófica, sendo buscadas as bases que legitimaram a atuação proativa dos julgadores, bem como as principais críticas quanto aos excessos na mencionada forma de atuação. Em relação aos fundamentos para uma atuação proativa do Poder Judiciário são traçadas breves linhas a respeito da teoria da argumentação de Alexy que, atribuindo força normativa aos princípios constitucionais, acentuando a característica da autoaplicabilidade daqueles e a eficácia máxima dos valores constitucionais, possibilita a solução dos litígios através da análise do caso concreto enquanto ponderando valores constitucionais e argumentos trazidos pelas partes é construída a soluções tida por mais justa no processo. Na construção crítica que permeia o mesmo capítulo, o ativismo judicial é analisado à luz das teorias que fundaram o movimento constitucionalista, em especial, a teorias clássicas da separação dos poderes, teoria da democracia e do Estado de Direito construído sobre os parâmetros legais. Maiores críticas são aduzidas em face da ausência de representatividade política dos membros do Poder Judiciário enquanto novos atores no cenário político, sendo concluída a argumentação com o reconhecimento da ausência de legitimidade para os membros do Poder Judiciário brasileiro atuar em questões eminentemente políticas. Em busca da solução da problemática evidenciada no presente trabalho, terceiro capítulo é construído partindo da premissa que o Brasil necessita de uma típica Corte Constitucional cujos membros fossem eleitos pelo povo e exercessem mandatos passíveis de controle, solução esta à crise de legitimidade dos membros do Poder Judiciário brasileiro. 192 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Ratificando a argumentação teórica desenvolvida, a pesquisa é concluída com a adução do modelo do Poder Judiciário instituído pela Constituição boliviana promulgada em 2009, única forma de legitimar os membros do Poder Judiciário para julgar questões eminentemente questões políticas em consonância com as teorias democráticas e a vontade das maiorias estabelecidas em lei. Conclui-se que pela necessidade de uma Corte Constitucional no Poder Judiciário brasileiro cujos membros sejam eleitos por sufrágio universal e com o cumprimento de mandato, inovação que legitimaria o Poder Judiciário para atuar no campo político enquanto reconhecida mínima representatividade popular para os seus membros. 193 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso Silva. São Paulo: Malheiros, 2011. ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2008. BITTAR, Eduardo C.B. Doutrinas e filosofias políticas: contribuições para a história das idéias políticas. São Paulo: Atlas, 2002. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24ª. São Paulo. Ed. Malheiros. 2009. CONTINENTINO, Marcelo Casseb. Ativismo Judicial: considerações críticas em torno do conceito no contexto brasileiro. INTERESSE PÚBLICO - v. 14 n. 72 mar./ abr. 2012. Belo Horizonte: Notadez. CONTINENTINO, Marcelo Casseb. Ativismo Judicial: considerações críticas em torno do conceito no contexto brasileiro. INTERESSE PÚBLICO - v. 14 n. 72 mar./ abr. 2012. Belo Horizonte: Notadez. COSTA, Andréa Elias AL. Estado de Direito e Ativismo Judicial. São Paulo: Quarter Latin, 2010 COSTA, Nelson Nery. Ciência política. Rio de Janeiro: Editora forense, 2006. CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. A jurisdição constitucional democrática. Belo Horizonte: Del Rey. 2004. HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia entre a facticidade e validade I, 1929, Tradução: Flávio Beno Siebeneichler – UGF, Rio de Janeiro, Tempo Universitário, 2010. GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? São Paulo: Martins Fonte. 2003. LIMA, Francisco Gerson Marques de. O STF na crise institucional brasileira. Estudos de casos: abordagem interdisciplinar de sociologia constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Tradução de Fernando Henrique Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 194 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial. São Paulo: Saraiva, 2010. 195 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O CONTRASSENSO DA EFETIVAÇÃO: A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO E O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO THE POSITIVIZATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND THE EFFECTIVE NONSENSE: THE CRISIS OF LEGAL POSITIVISM AND THE ROLE OF THE JUDICIARY Karina Pereira Benhossi1 http://lattes.cnpq.br/8422258752882441 Zulmar Fachin2 http://lattes.cnpq.br/8640721822545057 RESUMO: Este artigo se propõe a discutir o positivismo jurídico na sociedade contemporânea e a ausência da efetivação dos direitos fundamentais positivados no ordenamento jurídico. Parte da premissa de que tais direitos, por estarem positivados, deveriam por consequencia serem respeitados. Todavia, diante da constante evolução que a sociedade hodierna vivencia, inúmeras e complexas questões surgem nesse contexto, dificultando mais uma vez a concretização dos direitos fundamentais e o respeito à dignidade da pessoa humana. Por tais razões, salienta-se a importância de se obter meios eficazes e soluções plausíveis para a superação desse obstáculo. Nesse sentido, o Poder Judiciário, embora não tenha como missão a criação da norma, possui papel relevante na solução das mais complexas questões, sobretudo na tarefa de concretizar os direitos fundamentais, tão imprescindíveis para a evolução do direito e da própria sociedade. PALAVRAS-CHAVE: Positivismo; Direitos Fundamentais; Poder Judiciário. ABSTRACT: This paper aims to discuss the legal positivism in contemporary society and the absence of effectuation of fundamental rights positivized on the legal order. It assumes that such rights, being positivized, consequently should be respected. However, given the constant evolution that today’s society goes through, countless and complex issues arise in this context, once again making difficult the implementation of the fundamental rights and the respect to the dignity of the human person. For these reasons, is emphasized the importance of obtaining effective means and plausible solutions to overcome this obstacle. In this sense, the judiciary, although it has no mission to create the standard, has a relevant role in the solution of the most complex issues, particularly in the task to fulfill the fundamental rights, so indispensable to the evolution of law and society itself. 1 Mestranda em Direito pelo Centro Universitário de Maringá – CESUMAR. Graduada em Direito pela mesma instituição. Advogada. Endereço eletrônico: <[email protected] > 2 Doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná – UFPR; Docente de Direito Constitucional no Mestrado do Centro Universitário de Maringá – CESUMAR e na Universidade Estadual de Londrina; Membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Presidente do IDCC - Instituto de Direito Constitucional e Cidadania. Endereço eletrônico: <[email protected]>. 196 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I KEY WORDS: Positivism; Fundamental Rights; Judiciary. INTRODUÇÃO A sociedade contemporânea vive um período de profundas e significativas mudanças sociais e econômicas. Embora a história já tenha se encarregado de balizar os acontecimentos e positivar as normas necessárias diante dos anseios e sofrimentos das gerações anteriores, infere-se que o processo de evolução encontra-se em constante mutação e, mesmo tendo um sistema normativo de regras escritas e impostas, muito precisa ser feito para poder de fato efetivar os direitos fundamentais que clamam por respeito. Pretende-se, dessa forma, esclarecer o quão se mostra importante refletir sobre o positivismo jurídico atual, qual sua contribuição para a sociedade contemporânea e o quanto pode estar defasado em função das novas tendências sociais. Na busca de se deparar com uma solução para o problema da efetivação dos direitos fundamentais, haja vista ser algo notório e extremamente importante para a sociedade, propõe-se analisar o papel do Poder Judiciário e sua direta influência para a concretização de tais direitos, bem como para a promoção da dignidade da pessoa humana, garantias sem as quais não se cogita sequer a sobrevivência humana. Mediante o estudo da sistemática positivista e sua contribuição no ordenamento jurídico, buscar-se-á chegar a resposta da indagação acerca do porquê direitos e garantias fundamentais são constantemente violados, bem como a possibilidade de solucionar tal impasse por meio da força normativa que tem o peso das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições coadunadas com o direito natural, o direito positivo e a hermenêutica. Saliente-se que o Poder Judiciário, além de forte influência na condução das questões mais complexas vivenciadas pela sociedade, tem o poder e o dever de zelar pela Constituição, portando-se sempre à luz da observância dos princípios constitucionais, o que o faz mantenedor da solução e pacificação da ordem jurídica. Em função de tais premissas, é que se pretende lançar a reflexão do quanto se faz importante a preocupação com a efetividade dos direitos fundamentais e os eventuais problemas que possam barrar o progresso do direito que deve acompanhar os anseios sociais, bem como propiciar o alcance do bem-estar e desenvolvimento da sociedade. 197 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 1 O POSITIVISMO JURÍDICO Diante de várias correntes que embasam o estudo do Direito, importante admitir que cada qual possui sua validade, seus fundamentos, críticas e defensores, sendo necessário tratar cautelosamente a defesa de qualquer concepção, diante dos fundamentos que sustentam a validade de cada uma. O positivismo jurídico, fortemente discutido, influi de maneira significativa nos ordenamentos jurídicos, ratificando a ideia de norma posta e rechaçando questões relacionadas à metafísica. Em breves considerações, há de se construir uma percepção de que o positivismo jurídico, embora possua grande força normativa e seja essencialmente coercitivo, não acompanha a crescente evolução social e jurídica suportada pela sociedade. Além disso, necessário se faz discutir o resultado da aplicação do positivismo nos dias atuais. Muitas questões envolvem o positivismo, sobretudo, o fato de que ele surgiu como uma forma de se opor ao direito natural. É possível se fazer uma analogia relacionando-se que o intento do direito positivo é buscar o que é útil, se ocupando com a sociedade real, enquanto o direito natural se pauta na idealização de uma sociedade perfeita, segundo concepções morais e não necessariamente jurídicas, o que equivale à uma busca utópica3. Para a vertente positivista, determinado elemento é ou existe, porque está escrito, estritamente e formalmente previsto, seja na Constituição, em um código ou em um documento, não havendo espaço algum para discussões metafísicas, que são fortemente afastadas do contexto jurídico positivo. Nessa senda, oportuno a transcrição do entendimento de Ivan de Oliveira Silva acerca do direito positivo como sendo [...] o conjunto de regras e princípios que regulam a vida do homem em sociedade e vigora em determinada época para um número de pessoas sujeitas a determinado poder estatal. Está ele fortemente vinculado à noção de lei escrita e vigente em determinado período histórico4. Há que se considerar que “o mote central do Direito Positivo é a afirmação de que não há outro direito além daquele presente nas leis e no ordenamento jurídico estatal”5, o que faz corroborar a ideia de que se trata de uma imposição estritamente coercitiva, que vincula o aplicador do direito ao que se encontra escrito. Nesse sentido explana Hans Kelsen: 3 SILVA, Ivan de Oliveira. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 14. SILVA, Ivan de Oliveira. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 13. 5 SILVA, Ivan de Oliveira. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 13. 4 198 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O direito positivo é essencialmente ordem de coerção. Ao contrário das regras do Direito natural, as suas regras derivam da vontade arbitrária de uma autoridade humana e, por esse motivo, simplesmente por causa da natureza da sua fonte, elas não podem ter a qualidade da auto-evidência imediata6. Na realidade, a norma positivada induz a segurança de se ter algo a ser rigorosamente cumprido. Essa função talvez seja a que mais favoreça a defesa da doutrina positivista, isto é, uma característica que resguarda a seriedade e aplicabilidade do que está previsto no ordenamento. Nessa perspectiva, assume Ivan de Oliveira Silva que [...] o grande alvo do sistema normativo é a segurança jurídica, alcançada na medida em que a lei é austeramente cumprida nos exatos termos do que nela está expressa. Assim, o bem-estar social decorre da adequação dos casos concretos à exata medida da lei, vez que ela é a expressão máxima da ordem e segurança do Estado7. Sob a ótica de se ter um sistema em que a segurança jurídica esteja presente em qualquer circunstancia, reconhece-se a razão de uma doutrina embasada na positivação da norma. Nessa perspectiva, válidos são os ensinamentos de Tércio Sampaio Ferraz Júnior: O positivismo jurídico, na verdade, não foi apenas uma tendência científica, mas também esteve ligado, inegavelmente, à necessidade de segurança da sociedade burguesa. [...] A exigência de uma nova sistematização do Direito acabou por impor aos juristas a valorização do preceito legal no julgamento de fatos vitais decisivos. [...] A tarefa do jurista circunscreveu-se, a partir daí, cada vez mais à teorização e sistematização da experiência jurídica, em termos de unificação construtiva dos juízos argumentativos e do esclarecimento dos seus fundamentos8. De outro giro, é preciso salientar o significado frio da norma positivada, que impede a possibilidade de moldar seu sentido e efeitos para se ajustar ao caso concreto, permitindo o alcance da justiça. Em consonância, ressalta Welligton Pacheco Barros: O Direito é a norma pura sem mescla de qualquer valoração. O Direito é a lei que emana do poder constituído e não importa a forma de sua 6 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 559. 7 SILVA, Ivan de Oliveira. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 14. 8 FERRAZ JÚNIOR,Tercio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1980, p. 32. 199 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I constituição. Ao intérprete não é dado discutir a justeza ou injusteza do dogma legal. Seu dever é o de aplicá-lo numa operação matemática: se A é, B deve ser. O Estado é a fonte única do Direito que, após criado, tem vida própria e prescinde de outras ciências para continuar existindo. E, com estes princípios, Kelsen criou a Teoria Pura do Direito, que influenciou vários sistemas jurídicos detentores de um Estado tutelador da vida social, inclusive o nosso9. Não há como não mencionar a extremada influencia do positivismo kelsiano para os aplicadores do Direito do século XX, que legitimou o poder do Estado e reforçou a aplicação da lei escrita sob o pretexto de regular a sociedade conforme a vontade de uma autoridade. Tal situação pode ser delineada ao relembrar o episódio triste vivenciado pelo regime nazista, onde inúmeras atrocidades foram cometidas, além de ofensas contra a dignidade da pessoa humana, que massacraram milhares de pessoas, não obstante o amparo no regime jurídico normativo instaurado na Alemanha. Assim, ao evidenciar a aplicação de uma lei que por vezes pode não estar apta a atender as necessidades de determinado momento da história, passa-se a encarar uma defasagem no atendimento da justiça, no respeito aos indivíduos, bem como no acompanhamento da evolução social. Acerca do positivismo jurídico, salienta Michel Villey que apesar do sucesso desta espantosa filosofia nas esferas acadêmicas, é impossível extrair o direito de uma ciência que zomba do Bem e do Mal. As doutrinas positivistas só aparentemente os ignoram: mascaram seus princípios. Tanto quanto as teorias do Contrato Social e da Escola do natural, são ideologias10. O positivismo, na ânsia de elaborar uma ciência desprovida de juízos de valor, que fosse exata e adequada para a solução de qualquer fato ocorrido na sociedade, olvidou-se de questões importantes, que são fundamentais para o respeito de direitos e garantias individuais. Nas palavras de Agostinho Ramalho Marques Neto O jurista, ao contrário, sob o peso de uma formação dogmática que não o deixa sequer vislumbrar ciência alguma que constitua o referencial teórico do seu universo específico, limita-se a falar da lei, a procurar interpretá-la, mas raramente a critica em seus próprios pressupostos, pois sua formação mesma o induz a considerar a norma como algo perfeito e acabado, 9 BARROS, Welligton Pacheco. Dimensões do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995, p. 15. VILLEY, Michel. Filosofia do direito. definições e fins do direito: os meios do direito. Tradução de Maria Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 331-332. 10 200 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I formalmente válido em si mesmo como produto do sistema de poder constituído11. Ressalte-se que o papel do legislador, na concepção positivista é de fato considerar a norma posta como perfeita e pronta para a aplicação, mas é preciso mencionar que a maior insuficiência do positivismo é a questão epistemológica, isto é, situada no seio da teoria do conhecimento ou da ciência12. É imperioso citar também que o positivismo contribuiu significativamente para o avanço em questões referentes a fundamentação do direito e do ordenamento jurídico, como a estrutura da norma, sua vigência, incidência e eficácia, além de aspectos como a diferenciação entre vigência e eficácia, o problema das lacunas e antinomias do direito, dentre inúmeras outras questões que foram aprimoradas em função do positivismo13. Apesar de seus contributos, ao positivismo precisa ser lançada a crítica de que embora tenha trazido sistematicidade, método e segurança, não progrediu mais que isso, ou seja, não foi capaz de evoluir14. Importante esclarecer o fato de que a lei precisa acompanhar os anseios da sociedade, mudando se preciso a própria forma de visão e elaboração. Ao se referir ao positivismo de Norberto Bobbio por suas obras, é possível inferir uma mudança na sua concepção, desmistificando a visão fechada do positivismo e admitindo interferências do meio externo que possuem forte influência para uma decisão mais justa, ao invés de limitar-se apenas ao positivismo estrito e fechado. A princípio, esclarece-se que Norberto Bobbio também era adepto de um positivismo fechado à influências externas, considerando o Direito como [...] um conjunto de regras que são consideradas (ou sentidas) como obrigatórias em uma determinada sociedade porque sua violação dará, provavelmente, lugar à intervenção de um ‘terceiro’ (magistrado ou eventualmente árbitro) que dirimirá a controvérsia emanando uma decisão seguida de uma sanção ao que violou a norma15. Com a obra “A era dos direitos”, Norberto Bobbio explana de forma clara sua visão aprimorada acerca da necessidade de se aceitar e admitir, embora seja a lei formal e escrita, as 11 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciência do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 214. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 57. 13 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 58. 14 REIS, Márcio Monteiro. Moral e direito – a fundamentação dos direitos humanos nas visões de Hart, PecesBarba e Dworkin. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 125. 15 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Icone, 2006, p. 27. 12 201 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I influências do meio externo como a cultura, os valores, a moral, as questões históricas que contribuem significativamente para o desenvolvimento do direito. Percebe-se então a grande distância que separa o positivismo de Hans Kelsen do positivismo de Norberto Bobbio. Hans Kelsen é completamente fechado não admitindo intervenção em sua bem elaborada teoria pura do Direito, que se contrapõe a ideia de Norberto Bobbio, cuja maior justificativa se pauta nas dimensões do direito, não se confundindo preceitos morais, éticos e culturais com o próprio direito posto, regulamentado. Essa limitação em ter que olhar apenas para o direito posto, sem poder se ater a questões alheias que influem consideravelmente na solução dos problemas e fatos sociais, fez com que o positivismo atrapalhasse o progresso necessário ao direito. Para Hugo de Brito Machado Segundo No âmbito do positivismo normativista, de igual, modo, a afirmação de que se deve apenas estudar o direito posto, e não como esse direito deveria ser, inutiliza em grande parte a ciência jurídica, que passa a ser como uma medicina que busca apenas conhecer as técnicas cirúrgicas atuais, sem se preocupar em aprimorá-las. Pode-se dizer, por essa razão, que o positivismo jurídico com o propósito de estudar o direito de forma científica, vale dizer, de forma supostamente neutra e objetiva, em verdade atrasou o seu progresso16. Reflexões acerca da influência do positivismo na evolução do direito são oportunas, pois ao entender e constatar a essência do que a doutrina positivista defende, compreende-se hodiernamente uma extremada defasagem entre aquilo que se busca, e o que ocorre de fato no ordenamento jurídico vigente. Fala-se na necessidade de positivar normas, contudo, tal positivação não possui a força necessária para que tal norma seja efetivamente concretizada. Sem esforços, vem à mente os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana, garantias imprescindíveis ao bem-estar e promoção do indivíduo que são claramente afrontados tanto pelo Estado, como por particulares, embora haja um rol expresso de direitos assegurados no texto da Constituição Federal. Por tais motivos é que se discute o contrassenso de um sistema de positivação, onde este não possui a força necessária a fim de fazer efetivar as normas de direitos fundamentais postas no texto constitucional. 2 A POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 16 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 57. 202 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Os direitos fundamentais percorreram um longo trajeto na história, para estarem hoje positivados tanto nas constituições dos países, como em vários documentos internacionais que exercem forte influência no ordenamento jurídico interno de várias sociedades. Para compreender a dinâmica da positivação dos direitos fundamentais, é importante entender que estes “nascem em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas”17, sendo portanto, considerados o fruto das necessidades sociais que clamam atendimento em determinado momento da história. Dentre as características dos direitos fundamentais, ressalta-se a historicidade, que resume o fato de que tais direitos são um "produto da história", da evolução social, pois “nasceram a partir de lutas encetadas na vida cotidiana – lutas sem tréguas, longas no tempo”18, como afirma Zulmar Fachin. Na perspectiva de uma construção histórica em função do sofrimento enfrentado por várias gerações, é que se passou a dar maior importância aos direitos humanos e fundamentais, que se tornaram instrumentos indisponíveis de proteção dos indivíduos em face do Estado. Nesse contexto, inclusive, discute-se a questão da eficácia vertical19 e horizontal dos direitos fundamentais. Em fervoroso debate encontra-se a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, haja vista a questão da incidência de tais direitos em relações pactuadas por entes particulares sob as quais são reguladas, em regra, pelo direito privado. Ao mesmo tempo em que se tem a autonomia privada, garantia constitucional que ampara a liberdade de ação nas relações entre particulares, verifica-se o desrespeito a vários direitos fundamentais e consequentemente a ofensa a indivíduos. Chama-se a atenção para tal fato, a fim de intensificar a relevância dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico. Ressalta-se a defesa de que tais direitos devem estar presentes em todas as esferas do direito, independentemente dos sujeitos, pois são aplicáveis de forma imediata, tendo em vista a necessidade iminente de efetivar tais direitos que são a garantia de bem-estar, proteção e promoção de todas as pessoas. 17 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 5. FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 235. 19 No que tange a eficácia vertical, relevante consignar que não há controvérsias acerca da incidência dos direitos fundamentais nas relações entre Estado e indivíduo, haja vista tais direitos serem o próprio escudo de proteção da sociedade em face do Estado. 18 203 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Destaca-se a grande impossibilidade de se mensurar ou conceituar os direitos fundamentais de forma definitiva, mas é preciso ao menos tentar delinear o conteúdo que envolve tais direitos. Nessa vertente, Ingo Wolfgang Sarlet entende que são [...] todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram por seu conteúdo e importancia (fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à constituição material, tendo, ou não assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do catálogo)20. Os direitos fundamentais, em virtude de sua importância, são visualizados como a base do ordenamento jurídico, pois regulam as ações do Estado, em benefício aos indivíduos, bem como a estrutura normativa em que se pauta o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. É por meio dos direitos fundamentais que são tomadas decisões importantes, que dizem respeito inclusive sobre a estrutura normativa do Estado e da sociedade, independentemente da quantidade de conteúdo a que é atribuído a cada direito21. Mesmo diante de críticas direcionadas ao positivismo, importante contribuição agrega o pensamento de Joaquim José Gomes Canotilho, que ressalta a necessidade de positivação dos direitos fundamentais: A positivação de direitos fundamentais significa a incorporação na ordem jurídica positiva dos direitos considerados ‘naturais’ e ‘inalienáveis’ do indivíduo, Não basta uma qualquer positivação. É necessário assinalar-lhes a dimensão de fundamental Rights colocados no lugar cimeiro das fontes do direito: as normas constitucionais. Sem essa positivação jurídica, os ‘direitos do homem são esperanças, aspirações, ideias, impulsos, ou até, por vezes, mera retórica política’, mas não direitos protegidos sob a forma de norma (regras e princípios) de direito constitucional22. Evidentemente que o fato de os direitos fundamentais estarem positivados no texto constitucional é importante, pois implica numa previsão com fins de cumprimento. O positivismo permite uma segurança jurídica, além de vincular a ação do Estado à obrigação de 20 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 91. 21 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 522. 22 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 347. 204 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I efetivar tais direitos. A questão é que mesmo estando posicionados de forma especial no ordenamento, bem como escritos e apresentados com grande força normativa, são inúmeras as circunstâncias em que se violam direitos fundamentais. Ressaltada, portanto, a importância dos direitos fundamentais e a evidente e necessária preocupação em ter efetivados direitos imprescindíveis à proteção humana, é que se discute novos meios de se fazer aplicar a norma positivada que necessita de concretização. A questão referente à hermenêutica paira sempre quando da análise da necessidade de resolução de problemas referentes à norma e sua efetiva aplicação, bem como seu resultado. Eis a relação direita com o papel exercido pelo Poder Judiciário, mais precisamente em relação à função do Supremo Tribunal Federal que se encontra em posição de destaque, diante da força normativa e do peso da última palavra proferida em seus julgamentos. É preciso então reconhecer que, na ausência de uma jurisdição constitucional eficiente, os direitos fundamentais tornar-se-ão vulneráveis, bem como extremamente dependentes das condições oferecidas pela sociedade para lhes tutelar, além do Poder Executivo, que por vezes deixa muito a desejar23. Ademais, na busca de se obter um tratamento especial aos direitos fundamentais, cogita-se a ideia de se impor a criação de um Tribunal Constitucional específico para a análise de decisões que envolvem direitos tão relevantes para o ordenamento jurídico, que por meio de procedimentos próprios, poderia garantir a imparcialidade, desenvolvendo, por óbvio a democracia, e consequentemente permitindo que as decisões estejam sempre pautadas no respeito aos direitos e garantias fundamentais24. Na perspectiva atual, não há como não discutir as novas tendências da sociedade, vislumbrando o desafio enfrentado pelo homem ao querer desafiar todas as coisas, se olvidando, por vezes, da resposta referente à suas ações. É preciso que a Constituição seja sempre a referência a ser seguida, pois “[...] o Estado brasileiro tem como valor, fins e meta fundamentais organizar-se para prover, de modo eficaz, o reconhecimento, a proteção e a concretização dos direitos fundamentais” 25 . A sociedade está em constante mudança, e necessita que os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana sejam efetivamente respeitados, tal como se encontram positivados. 23 LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 176. 24 HONESKO, Vitor Hugo Nicastro. A Norma Jurídica e os Direitos Fundamentais: um discurso sobre a crise do positivismo jurídico. São Paulo: RCS Editora, 2006, p. 115. 25 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na constituição de 1988. In: BITTAR, Eduardo C. B.; FERRAZ, Anna Candida da Cunha (orgs.). Direitos humanos e fundamentais: positivação e concretização. São Paulo: Edifieo, 2006, p. 124. 205 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 3 O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS Diante da extremada evolução vivenciada pelas gerações atualmente, é imperioso compreender a grande dificuldade de tornar o direito em consonância com todas as insurgências impostas pela sociedade hodierna. Assim, nesse período de pós-modernidade, segundo Alessandro Severino Váller Zenni “instala-se uma amargurada convulsão no seio social e, por vias reflexas, todo contingente que a circunda, colocando em descrédito os meios científicos criados para contornar e resolver os problemas humanos, inclusive o jurídico26”. É fato que com as modificações da era moderna e a globalização acirrada, a litigiosidade não é mais a mesma que a das gerações passadas, não bastando mais um sistema codificado para resolver os conflitos e embates vividos pela atual sociedade, sendo necessário outros meios para a efetivação e eficácia da norma. Nesse panorama, salienta Eduardo C. B. Bittar: Em poucas palavras, na pós-modernidade, o sistema jurídico carece de sentido, até mesmo de rumo e sobretudo de eficácia (social e técnica), tendo em vista ter-se estruturado sobre paradigmas modernos inteiramente caducos para assumirem a responsabilidade pela litigiosidade contemporânea. Assim, a própria noção de justiça vê-se profundamente contaminada por esta falseada e equívoca percepção da realidade27. Nesse cenário jurídico, discute-se frequentemente, uma resposta plausível que possa de fato solucionar o quão lamentável se mostra o não cumprimento efetivo das normas previstas no texto constitucional. Por mais que seja um problema do Poder Executivo, em função da má gestão de governos, é preciso discutir todos os meios necessários que se fazem presentes e são aptos a solucionar questões que não podem perdurar eternamente. De tal premissa, destacam-se indagações a respeito de qual seria a razão para a não efetividade dos direitos fundamentais e o porquê ainda são frequentemente violados, mesmo com a existência de um consenso mundial acerca do respeito à dignidade humana, como previsto em vários documentos 26 ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do direito liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2006, p. 13. 27 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 87. 206 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I internacionais? Destas questões surge também a necessidade de uma tutela jurisdicional que imponha e preveja sanções contra quaisquer violações aos direitos humanos e fundamentais. Nessa senda, explana Norberto Bobbio que [...] só será possível falar legitimamente de tutela internacional dos direitos do homem quando uma jurisdição internacional conseguir impor-se e superpor-se às jurisdições nacionais e quando se realizar a garantia dentro do Estado – que ainda é característica predominante da atual fase – para a garantia contra o Estado28. Da mesma forma, o autor conclui que o problema da não realização dos direitos do homem está vinculado a uma postura histórica, que de fato construiu este arcabouço que hoje se vislumbra nos textos das constituições, ou seja, o rol de direitos fundamentais. Assim, o problema da ausência da não concretização de tais direitos, muito embora estejam positivados, [...] não é nem filosófico nem moral. Mas tampouco é um problema jurídico. É um problema cuja solução depende de um certo desenvolvimento da sociedade e, como tal, desafia até mesmo a Constituição mais evoluída e põe em crise até mesmo o mais perfeito mecanismo de garantia jurídica29. Diante dessa extrema mudança observada no século XXI, onde as necessidades e anseios sociais clamam por soluções de problemas que em tese não afligiam as gerações em período anterior, é necessário que o Poder Judiciário, por meio do jurista, adapte o direito às exigências da sociedade contemporânea, de modo que se utilizem todos os meios necessários para se alcançar a efetividade da aplicação do direito, seja observando a crescente evolução ou no uso de técnicas ou métodos de interpretação, a fim de convalidar a norma prevista, permitindo que por esta frequente prática jurídica possa se atingir o direito libertário e protetor da dignidade humana30. Pela ótica do positivismo tradicional, ilógico seria não se chegar à conclusão de que o positivismo realmente não pode resolver todos os problemas da era pós-moderna. Nessa temática, interessante colacionar a ideia de Márcio Monteiro Reis: 28 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 4041. 29 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 45. 30 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Uso Alternativo do Direito e Saber Jurídico Alternativo. In: ARRUDA Jr., Edmundo Lima de (org.). Lições de Direito Alternativo. Acadêmica: São Paulo, 1991, p. 116. 207 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O positivismo, em seu tempo, resolveu com enorme sucesso aqueles problemas que se punham quando de seu aparecimento no mundo jurídico. Cabe agora às novas gerações, enfrentar os temas atuais, como a busca de maior efetividade para os direitos fundamentais; a construção de um sistema jurídico menos rígido, que permita a busca de soluções mais adequadas aos casos concretos; o fim do mito da imparcialidade judicial; a necessidade de adequações constantes do direito frente às rápidas transformações da vida social; entre outros, que permitirão o avanço da Teoria Geral, tal como se apresenta hoje31. Por ter o direito a finalidade de regular as questões advindas das relações sociais, seja no contexto econômico, político, social ou cultural, é necessário ponderar os problemas da sociedade e perquirir novas formas de interpretação, a fim de se alcançar a justiça necessária. Na oportunidade, interessante colacionar o entendimento de Paulo Bonavides apoiado no método de Friedrich Müller: Afigura-se-nos, porém, haver para tanto uma saída possível: aquela vislumbrada na Metódica de Friedrich Müller, constante de sua Teoria Estruturante do Direito. Ela afasta esse perigo e protege os direitos fundamentais com a hermenêutica normativa da concretização compreendida na moldura de um Estado democrático de Direito, onde avulta sobretudo a eficácia das regras constitucionais fora de todo formalismo exclusivo, unilateral e restritivo, sem janelas ou abertura para o universo das realidades sociais concretas; estas que, na aplicação hermenêutica, fazem parte, indissociavelmente, da própria natureza, vida, substância e normatividade do preceito jurídico, do qual a praxis é conteúdo integrativo essencial32. Convém salientar também, que a função do Poder Judiciário não deve ser interpretada como uma tarefa simples, haja vista que uma decisão judicial implica em inúmeras outras consequências, dentre as quais se ressalta o fato de poder tornar determinada decisão como algo reiterado, fazendo com que o precedente possa diminuir o espaço para indeterminações, não obstante a possibilidade de o juiz sofrer pressões políticas33. Na tentativa de olvidar tal possibilidade, e pautando-se na premissa da impossibilidade de corrupção do aludido poder, imprescindível analisar a visão de Miguel Reale acerca da condução do problema em pauta, 31 REIS, Márcio Monteiro. Moral e direito – a fundamentação dos direitos humanos nas visões de Hart, PecesBarba e Dworkin. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 125-126. 32 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 542-543. 33 MUÑOZ, Alberto Alonso. Transformações na Teoria Geral do Direito – Argumentação e Interpretação do Jusnaturalismo ao Pós-positivismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 155. 208 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I destacando-se a união da tríade do direito natural, do direito positivo e da hermenêutica34 como substratos a serem sempre analisados e invocados para a solução do problema: [...] numa projeção sucessiva, correlacionando-se e desdobrando-se três estruturas jurídicas fundamentais: a do Direito natural, como esquema normativo de exigências transcendentais; a do Direito positivo, como ordenamento normativo de fatos e valores no plano experiencial; e a da Hermenêutica jurídica, a qual, além de esclarecer o conteúdo das regras positivas, assegura-lhes contínua atualização e operabilidade35. Por uma perspectiva neoconstitucionalista, a posição de essencialidade assumida pelos direitos fundamentais na Constituição Federal, exige uma atenção e interpretação especial. Questões voltadas à eficácia vertical e horizontal de tais direitos, bem como a proibição do retrocesso social, a efetividade, a restringibilidade excepcional e a projeção positiva são características determinantes e essenciais que devem ser sempre evidenciadas na interpretação e aplicação dos direitos fundamentais36. Assim, para Jamile Coelho Moreno, O Poder Judiciário, na perspectiva neoconstitucionalista, possui papel não só criativo como ativo. Inexistente são as questões insuscetíveis de apreciação judicial, quando está em lide algum direito fundamental e a apreciação, de acordo com o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, deve conduzir a processo decisório de efeito substancial, pelo qual a concretização do direito fundamental lesionado ou ameaçado de lesão seja colocada sob a veste superior de proteção do Poder Judiciário, poder este capaz (em sede de controle de constitucionalidade, tanto difuso quanto concentrado), de impor aos demais Poderes os efeitos concretizadores das suas decisões, exercendo o controle efetivo das políticas públicas infraconstitucionais37. Evidente a constatação de que o Poder Judiciário não só contribui para a análise e reflexão da solução dos problemas da sociedade, como também conduz a possibilidade para 34 Nessa perspectiva, convém mencionar a lição de Paulo Bonavides: “O Direito Constitucional, ao criar, assim, a Nova Hermenêutica, que lhe é específica, acolheu no plano científico do Direito as considerações axiológicas, mas referidas unicamente àqueles valores vazados no direito positivo e que desde muito, por um certo ângulo, constituem a matéria-prima do sociologismo jurídico ou do concretismo [...]. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 535. 35 REALE, Miguel. Direito natural/Direito positivo. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 49. 36 ROSSI, Amélia do Carmo Sampaio. Neoconstitucionalismo e Direitos Fundamentais. In: Conpedi, 2008, Salvador. XVII Encontro preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI, 2008, p. 3819. 37 MORENO, Jamile Coelho. Sistema constitucional de direitos e garantias. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ANSELMO, José Roberto (Orgs.). Estudos sobre os Direitos Fundamentais e Inclusão Social: da falta de efetividade à necessária judicialização, um enfoque voltado à sociedade contemporânea. Birigui: Boreal, 2010, p. 213. 209 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I extirpar todos os empecilhos que impedem a concretização dos direitos fundamentais necessários à sobrevivência da sociedade, sejam os direitos que dependem da ação do Estado ou de sua abstenção, sejam os direitos relativos às ações de terceiros, ou qualquer que seja o bem violado, não há como o Judiciário ficar inerte e não se preocupar com tais fatos, pois esses direitos são essencialmente a base que assegura suas próprias decisões. O que se pretende é ressaltar a importância da figura do Poder Judiciário, por meio de seus magistrados e tribunais, sobretudo do Supremo Tribunal Federal perante a concretização dos direitos fundamentais numa era em que a positivação das leis não se mostra mais suficientemente forte para solucionar todos os problemas de ordem Executiva e Legislativa. É preciso a imposição de um poder veementemente respeitado, pautado estritamente no texto constitucional, a fim de assentar toda e qualquer controvérsia acerca do cumprimento de uma norma, forçando, por óbvio, o Executivo atuar incondicionalmente no respeito dos direitos fundamentais. Andréia Regina Schneider Nunes explana que [...] a leitura do direito sob o viés da Constituição, além de contribuir para a normalidade institucional e para o alcance da supremacia da Constituição, requer compromisso com a tutela dos direitos fundamentais. Eis o modelo constitucional consagrado pelo Estado Democrático de Direito: jurisdição constitucional fortalecida e a respectiva concretização dos direitos fundamentais38. Nesse panorama, frisa-se a alternativa de não se descartar o positivismo como meio de solução, mas aprimorá-lo, evitando a visão restrita e fechada apenas da norma imposta, mormente em conjunto e sob a perspectiva do direito natural, que deve inspirar sim a justiça ideal, podendo-se encontrar a tão almejada luz para aclarar o grande problema da efetivação dos direitos fundamentais. É necessário assim, que o Poder Judiciário esteja sensível às mudanças sociais, estando desvinculado de conceitos e dogmas ultrapassados, mas pautado na hermenêutica que legitime a preocupação com o ser humano. Além disso, é imprescindível que os intérpretes se utilizem de todos os meios e métodos necessários como reflexão para solucionar o problema relativo à efetividade dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana, pois o direito não é uma mera positivação da norma, ele se perfaz em algo muito 38 NUNES, Andréia Regina Schneider. Tutela constitucional dos direitos fundamentais. In: AGOSTINHO, Luis Otávio Vincenzi de; HERRERA, Luiz Henrique Martim (Orgs.). Tutela dos Direitos humanos e fundamentais. ensaios a partir das linhas de pesquisa: construção do saber jurídico e função política do direito. Birigui: Boreal, 2011, p. 119. 210 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I maior, na busca também do reconhecimento do ser humano e de todas as necessidades provindas de uma sociedade em constante processo de evolução. CONSIDERAÇÕES FINAIS Durante o século XIX e, especialmente, na primeira metade do século XX o positivismo jurídico esteve apto a dar respostas e solucionar inúmeras e complexas questões da realidade contemporânea. Registre-se, contudo, que a extremada evolução da sociedade hodierna provocou uma radical mudança tanto nos litígios atuais, como na forma de solucionar e lidar com tais questões, não estando apta a estrutura normativa atual para acompanhar tais avanços. Nota-se que um sistema jurídico foi construído a partir do positivismo e por um razoável lapso temporal bem sobreviveu diante da organização e estruturação desse sistema normativo positivo, embora inúmeras barbáries tenham sido cometidas com amparo na lei, isto é, em função da própria positivação legislativa. Todavia, constatou-se que as várias novas tendências que circundam a sociedade, como por exemplo, a intensa globalização, forçaram de forma significativa uma mudança de paradigma da sociedade atual, que necessita que o direito evolua e acompanhe as insurgências e modificações sociais. É preciso analisar criticamente o positivismo, verificando sua atuação como legitimador do poder, mas desprendendo-se da afirmação equivocada de que o direito só se justifica para atender as classes mais poderosas. Há uma quebra entre a realidade que perdurava no passado e a que se apresenta hoje. Com a ascensão de novos direitos, nota-se uma defasagem do positivismo tradicional, o qual precisa ser aprimorado e utilizado em conjunto com a concepção naturalista, além de uma nova visão hermenêutica, desapegada de conceitos e dogmas legalistas, primando sempre pela aplicação incondicional e efetivação dos direitos fundamentais. Foi partindo da análise evolutiva da sociedade, que se constatou o contrassenso da positivação e não efetivação dos direitos fundamentais. É evidente que o direito é muito mais que uma norma positivada. Eis então a verificação do papel primordial do Poder Judiciário no alcance da solução desses problemas. É por meio dele, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que se alcança o poder da força normativa necessária para refletir e julgar as questões mais complexas, baseadas em profundas análises do contexto contemporâneo com o fito de impor a observância imediata da aplicação e respeito aos direitos fundamentais e a dignidade 211 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I da pessoa humana, que necessitam estar sempre presentes a fim de resguardar a proteção da humanidade e o desenvolvimento da sociedade. REFERÊNCIAS ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. BARROS, Welligton Pacheco. Dimensões do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995. BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Icone, 2006. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1997. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1998. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Uso Alternativo do Direito e Saber Jurídico Alternativo. In: ARRUDA Jr., Edmundo Lima de (org.). Lições de Direito Alternativo. Acadêmica: São Paulo, 1991. FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na constituição de 1988. In: BITTAR, Eduardo C. B.; FERRAZ, Anna Candida da Cunha (orgs.). Direitos humanos e fundamentais: positivação e concretização. São Paulo: Edifieo, 2006, p. 115-181. FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1980. KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2005. LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do Direito. São Paulo: Atlas, 2010. 212 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciência do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. MORENO, Jamile Coelho. Sistema constitucional de direitos e garantias. In: SIQUEIRA, Dirceu Pereira; ANSELMO, José Roberto (orgs.). Estudos sobre os Direitos Fundamentais e Inclusão Social: da falta de efetividade à necessária judicialização, um enfoque voltado à sociedade contemporânea. Birigui: Boreal, 2010. MUÑOZ, Alberto Alonso. Transformações na Teoria Geral do Direito – Argumentação e Interpretação do Jusnaturalismo ao Pós-positivismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008. NUNES, Andréia Regina Schneider. Tutela constitucional dos direitos fundamentais. In: AGOSTINHO, Luis Otávio Vincenzi de; HERRERA, Luiz Henrique Martim (Orgs.). Tutela dos direitos humanos e fundamentais. ensaios a partir das linhas de pesquisa: construção do saber jurídico e função política do direito. Birigui: Boreal, 2011, p. 110-120. REALE, Miguel. Direito natural/Direito positivo. São Paulo: Saraiva, 1984. REIS, Márcio Monteiro. Moral e direito – a fundamentação dos direitos humanos nas visões de Hart, Peces-Barba e Dworkin. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 121-156. ROSSI, Amélia do Carmo Sampaio. Neoconstitucionalismo e Direitos Fundamentais. In: Conpedi, 2008, Salvador. XVII Encontro preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI, 2008, p. 3819. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. SILVA, Ivan de Oliveira. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010. VILLEY, Michel. Filosofia do direito. Definições e fins do direito: os meios do direito. Tradução de Maria Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2003. ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do direito liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2006. 213 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E AMBIENTALISMO. Democracy, human rights and environmentalism. Leandro Ferreira Bernardo1 Mariane Yuri Shiohara2 RESUMO O racionalismo moderno nos legou importantes institutos e valores que se constituíram nos fundamentos da sociedade ocidental nos últimos séculos. Os ideários da liberdade do indivíduo, da igualdade entre os homens dentro de uma mesma sociedade, a vontade da maioria, surgem, assim, dentro daquela tradição, como superiores aos demais valores. Por outro lado, a realidade atual tem imposto uma reanálise daqueles institutos sob uma nova ótica, que leve em conta os direitos dos grupos sociais minoritários e a questão ambiental. O presente trabalho tem por objeto, assim, analisar três institutos surgidos nos últimos séculos, como frutos de importantes momentos da história. Tratar-se-á das relações existentes entre Democracia, Direitos Humanos e Ambientalismo, suas aproximações e, sobretudo, formas de superar as dificuldades decorrentes de possíveis choques entre vontade popular e o resguardo de outros valores. PALAVRAS-CHAVE: Democracia - Direitos Humanos - Ambientalismo, ABSTRACT The modern rationalism has given us important institutions and values that formed the foundations of the Western society in the lasts centuries. The ideals of individual liberty, equality between men within a society, the will of the majority, this way, appear within that tradition, as superior to other values. On the other hand, the current reality has imposed a review of those institutions in a new light, which takes into account the rights of minority social groups and the environmental issues. This paper purpose analyze, this way, three institutes have arisen in recent centuries, as fruits of important moments in the history. This paper will analyze the relationship between democracy, human rights and environmentalism, their approaches and, above all, ways to overcome the difficulties arising from possible confrontation between popular will and the other values. KEY WORDS Democracy - human rights - environmentalism. 1 Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC-PR (2012), especialista em Direito Ambiental pela UNB (2010), especialista em Direito Constitucional pela PUC-PR (2008), graduado em DIREITO pela Universidade Estadual de Maringá (2004). Atualmente é procurador federal em Maringá/PR, na Procuradoria Seccional Federal em Maringá/PR e professor em cursos de graduação e pós graduação. 2 Coordenadora dos cursos de especialização em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral e MBA em Gestão Pública no UNICURITIBA-PR; Mestra em Direito Socioambiental e Econômico pela PUCPR. 214 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 1. INTRODUÇÃO O período das grandes revoluções liberais na Europa e Estados Unidos, em fins do século XVIII e início do século XIX, fundadas nos lemas da liberdade do indivíduo e na igualdade de todos, foram responsáveis por uma mudança no paradigma de organização social, com repercussões em todo o mundo. Por outro lado, a precipitação de novos eventos ocorridos ao longo do século XX, em especial a eclosão de duas guerras mundiais e a constatação de que vários grupos minoritários dentro dos espaços estatais estavam sujeitos a toda sorte de abusos, fez eclodir o discurso dos direitos humanos no mundo. Já se fazia sentir nas últimas décadas do século passado a preocupação com outra questão que traz impactos diretos à vida em sociedade. Trata-se da questão ambiental, que ganha cada vez maiores espaços de debate, à medida que se agravam os problemas de degradação do meio em que vivemos. A emergência da preocupação com os direitos humanos – independentemente de se pertencer a um grupo minoritário dentro de determinada sociedade ou se ostentar uma nacionalidade diversa ou não identificada - e do ambientalismo – e a necessidade de se preservar valores e bens ainda que contra a vontade da maioria – impõe uma releitura dos valores e institutos formulados na modernidade racionalista europeia. 2. A DEMOCRACIA NO MUNDO OCIDENTAL. O início da modernidade na Europa, contextualizada entre fins do século XIV e início do século XV, é marcado por um período de maior centralização do poder público, na figura dos Estados-Nação. Naquele momento histórico, caraterizado por uma expansão marítimo-comercial, os Estados, juntamente com o poder religioso, passam a deter grande preponderância sobre a ação dos cidadãos. É o período dos Estados absolutistas, que caracterizado por uma restrição à liberdade do povo maior do que aquela experimentada na Idade Média3. Em contraposição àquele estado de coisas, começou a se desenvolver nos séculos seguintes importantes correntes filosóficas que propugnavam maiores liberdades ao povo, e uma menor intromissão do Estado nos assuntos de caráter particular. Merecem destaque, aí, as teorias contratualistas, com concepções individualistas da sociedade4. 3 4 KERSTING, Wolfgang. Universalismo e direitos humanos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 47. Ibidem, p. 40. 215 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I De acordo com Hobbes, um dos mais importantes teóricos contratualistas, o homem possui uma individualidade intrínseca, decorrente de sua natureza. Nas palavras de Kersting, o homem seria: [...] um indivíduo a-social, desprovido de vínculos, situado fora de todas as ordens preexistentes da natureza, do cosmo e da criação e que só pode contar consigo mesmo e com sua inteligência. A filosofia política de Hobbes é o local de nascimento do indivíduo moderno, atomístico, livre de tudo e absolutamente soberano, o qual só pode ser compreendido de modo adequado como projeto construtivo contrário ao ser humano comunitariamente integrado da tradição [...]5. Essas teorias individualistas da sociedade funcionariam como o principal mote para a eclosão de vários movimentos sociais que surgiram entre fins do século XVIII e início do século XIX, dos quais se destaca, principalmente pela sua repercussão no mundo, a Revolução Francesa, com a consequente aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 17896. Como consequência daquelas teorias, movimentos e revoluções, e fundada sobremaneira na ideia de liberdade é que surge a democracia moderna7. O ideário democrático, ao reservar ao povo o verdadeiro poder soberano na sociedade política, garantia a maior liberdade do cidadão na participação dos assuntos estatais e, em contrapartida, uma maior restrição à ação do Estado nos assuntos particulares8. Estabelece-se, neste período, como nunca antes, uma clara separação entre o público e o privado. O individualismo é o fundamento maior da democracia surgida naquele período9. A vontade estatal seria decorrência poder popular10. Assim, obviamente, a vontade da maioria, embora nunca absoluta, passa a ser determinante na direção da ação estatal11. 5 KERSTING, op. cit., p. 42. Embora de maior repercussão, a Revolução Francesa é posterior e se inspira, em grande medida, na Revolução Americana (1776). 7 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad.: Carlos Nelson Coutinho; Apresentação: Celso Lafer. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 6ª reimpressão, p. 109. 8 Estabelece-se aí uma grande diferença no conceito de liberdade moderno quando contrastado com aquele imperante na antiguidade. Enquanto na modernidade a liberdade possui um caráter negativo, de não intromissão do Estado nos assuntos particulares, na antiguidade aquela liberdade consiste no poder de participar dos assuntos sociais. 9 BOBBIO, op. cit., p. 57. 10 WOODS, Ellen Meiksins. O que é (anti)capitalismo? In: Crítica Marxista. Tradução: Ligia Osório Silva. In: < http://www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista/critica17-A-wood.pdf>. Acessado em 21 de agosto de 2011, p. 45. 6 216 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Não demorou muito para que ganhasse força na maioria dos países ocidentais a ideia de democracia e que, dentro dos Estados, passasse-se a garantir, ainda que formalmente os seus valores. O século XIX foi o momento de grande expansão dos regimes democráticos. Embora o regime democrático representasse infindáveis vantagens sobre o sistema anterior, não foi capaz de garantir, de fato, o acesso à liberdade propugnada. Além disso, muitas vezes travestida de uma “vontade do povo”, o sistema, na prática, concorria para a garantia de direitos a alguns grupos a despeito de outros. O direito, embora aparecesse como fundamental para a organização do Estado e na limitação do poder 12, representava uma importante ferramenta para a manutenção daquele status inalterável13. Assim, após a conquista pela sociedade de novas liberdades políticas, inclusive a participação democrática na esfera pública, tornou-se necessário, por outro lado, o surgimento de formas de limitação ao poder da maioria14. Observou-se que o “governo do povo” não era ilimitado em seu poder, uma vez que deveria observar os direitos individuais mínimos, inclusive das minorias, sob pena de ilegitimidade15. Não se poderia impor àquela minoria definitivamente uma decisão que lhe fosse prejudicial, tendo em vista que, no futuro, poderia a ser maioria16. Nesse sentido é que Toqueville, no século XIX, apresenta em diversos momentos a preocupação com um desvirtuamento da democracia, quando se eleva a vontade da maioria a um verdadeiro dogma. Segundo o autor “o despotismo me parece, pois, particularmente temível nas eras democráticas”17. 3. A EMERGÊNCIA DO VALOR “DIREITOS HUMANOS” A instalação do regime nazista na Alemanha foi marcada pela negação de direitos fundamentais a milhões de pessoas não pertencentes do grupo hegemônico no território sob sua dominação. A indivíduos e grupos minoritários, em especial os judeus, foram suprimidos 11 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Tradução: Pietro Nassetti. São Paulo: Editora Martin Claret, 2011, p. 35. 12 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 4 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 4. 13 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. I, 2ª. ed; Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 82. 14 RAWLS, John. Justiça e democracia. Tradução: Irene A. Paternot; seleção, apresentação e glossário Catherine Audard. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 372. 15 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Posfácio de Antônio Paim; tradução, notas de Neil Ribeiro da Silva. 2ª Ed. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1987, p. 193. 16 RAWLS, op. cit., p. 224. 17 TOCQUEVILLE, op. cit., p. 534. 217 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I o reconhecimento da nacionalidade e, consequentemente, o status de cidadãos pertencentes àquele Estado18. A ausência de reconhecimento daquela nacionalidade pelo Estado alemão, somada à inexistência de outra nacionalidade a que pudesse recorrer, tornava esses grupos detentores de praticamente nenhum direito19. O conceito de Estado-Nação, que coincidia o poder público com determinada comunidade parecia necessitar de limites mais enfáticos20. Tornou-se evidente a necessidade de um grande incremento na proteção dos direitos dos indivíduos e grupos, independentes de sua nacionalidade, mas, pelo contrário, decorrente da condição de ser humano. A defesa dos direitos humanos passou a ser uma preocupação, cada vez mais, de caráter supra estatal21. Em resposta às violências praticadas na Segunda Guerra, importantes organismos e documentos na ordem internacional foram criados. Em 1945 surge oficialmente a Organização das Nações Unidas e em 1948 é aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos22. De acordo com Hannah Arendt: A Declaração dos Direitos Humanos destinava-se também” – ao lado da pretensa elevação do Homem a um status de maior liberdade, independente da sua condição social – “a ser uma proteção muito necessária numa era em que os indivíduos já não estavam a salvo nos Estados em que haviam nascido, nem [...] seguros de sua igualdade perante Deus23. Sobretudo na segunda metade do século XX, multiplicaram-se os instrumentos de defesa dos direitos humanos na esfera internacional, inclusive com a criação de tribunais internacionais24, a fim de garantir maior eficácia aos seus preceitos25. Multiplicaram-se, 18 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 123. 19 TOCQUEVILLE, op. cit., p. 193. 20 ARENDT, HANNAH. Origens do totalitarismo. Tradução: Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 262 21 PIOVESAN, op. cit., p. 123. 22 Ibidem, p. 116. 23 ARENDT, op. cit., p. 324. 24 PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais e direitos civis e políticos. In: SILVA, Letícia Borges e Oliveira, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: Juruá. 2007, p. 109. 25 BOBBIO, op. cit., p. 40. 218 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I também, neste período, o reconhecimento de direitos a grupos específicos de pessoas, em função de suas deficiências específicas26. Embora submetida a avanços e retrocessos, reconhece-se, no âmbito dos mais importantes organismos internacionais, enfim, a defesa dos direitos humanos como questão pertinente a toda humanidade27. Sem dúvida que a proteção dos direitos humanos não encontrou repercussão apenas na esfera internacional. Constata-se, nas últimas décadas, um movimento de internalização de garantias aos direitos humanos pelos mais diversos ordenamentos nacionais ao redor do mundo. O desenvolvimento da ideia de direitos humanos representou, fundamentalmente, a necessidade de se criar novos limites e novas obrigações aos Estados, como forma de garantir os direitos mais básicos de toda pessoa ali inserida, independente de pertencer ou não a qualquer categoria hegemônica. Ao estabelecer a necessidade de uma nova conformação do Estado, os direitos humanos representaram também, nesse sentido, uma limitação maior à vontade estatal, fosse esta formada por um grupo reduzido, fosse ela formada de forma democrática28. Em outro sentido, para que a ação estatal possua legitimidade não é suficiente apenas que seja fundado na vontade democraticamente expressa pela maioria do povo, mas, também, que respeite e promova os direitos humanos29. Cada vez mais, assim, o ser humano passa a ocupar papel central, tanto no âmbito internacional, como interno30. E, nesse sentido, passa a ser elemento fundamental na aferição do desenvolvimento dos Estados a apuração da garantia dos direitos mais básicos ao homem31. O reconhecimento da primazia dos direitos humanos nas últimas décadas fez alterar ou relativizar conceitos anteriormente tidos por imutáveis ou intocáveis. Isso se dá, hoje, em 26 ARAUJO, Ana Valéria e LEITÃO, Sergio. Socioambientalismo, direito internacional e soberania. In: SILVA, Letícia Borges & Oliveira, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: Juruá, 2007, p. 31. 27 PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais e direitos civis e políticos. In: SILVA, Letícia Borges e Oliveira, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: Juruá. 2007, p. 113. 28 ARENDT, op. cit., p. 169. 29 HABERMAS, op. cit., p. 133. 30 TRINDADE. Antônio Augusto Cançado. A Humanização do direito internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 18. 31 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão técnica Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 31. 219 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I relação ao conceito de Estado e os limites de sua soberania32. No âmbito internacional, os movimentos de maior garantia aos direitos humanos têm permitido a criação de mecanismos inimagináveis até pouco tempo atrás. Tal se dá com o acesso do indivíduo diretamente, e independente de provocação dos Estados, aos mais diversos órgãos e foros internacionais33. Exemplo de maior acesso do indivíduo aos organismos internacionais de garantia ocorre dentro do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, em que se defere ao indivíduo uma serie de instrumentos que o capacitam a reivindicar seus direitos e apontar a sua violação dentro dos Estados34. Embora nesses últimos períodos tenha ocorrido uma verdadeira revolução na esfera internacional de proteção dos direitos humanos, não se pode deixar de constatar como preponderante a internalização dentro dos Estados daquele valor. De acordo com Kersting, no atual desenvolvimento dos direitos humanos a função reservada ao Estado, resta insubstituível. Segundo o autor: O único ser humano relevante em termos de fundamentação teórica dos direitos humanos é um ser finito, mortal, vulnerável e capaz de sofrer; a proteção dos direitos humanos baseia-se na simples evidência da vulnerabilidade humana e na preferencialidade, não menos evidente, de um estado de ausência de assassinato e homicídio, dor e violência, tortura, miséria e fome, opressão e exploração. E essa proteção só pode ser concedida num Estado. Os direitos humanos são, por conseguinte, essencialmente um direito ao Estado; a ligação entre os direitos humanos e a pertença a um Estado nacional é bem mais estreita do que pensam os cosmopolitas35. O discurso dos direitos humanos tem fundamentado uma maior proteção de um mínimo fundamental aos homens, proteção esta não restrita aos limites dos Estados. A historicidade do surgimento daquele discurso, como resposta a uma série de desrespeitos à integridade de grupos e indivíduos não pertencentes às maiorias, não impede que novos direitos sejam a ele integrados. Pelo contrário, aquela historicidade impõe que dentro dos 32 HÄBERLE, Peter. Estado constitucional cooperativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 1. PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais e direitos civis e políticos. In: SILVA, Letícia Borges e Oliveira, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: Juruá. 2007, p. 121. 34 ALTHAUS, Ingrid Giachini & BERNARDO, Leandro Ferreira (Org.). O Brasil e o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. São Paulo: Iglu, 2011. 35 KERSTING, op. cit., p. 94. 33 220 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I direitos humanos sejam enquadradas as novas necessidades fundamentais do ser humano, com o passar dos tempos. 4. A EMERGÊNCIA DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL O desenvolvimento da sociedade industrial nos últimos séculos, a par de trazer grandes benefícios à humanidade, trouxe consequências muito graves para o meio em que habitamos. Ações do homem sobre o meio ambiente, como poluição do ar, das águas, devastação das florestas, contribuíram, em grande medida, para problemas sentidos em todo o planeta. A temática ambiental tem entrado na pauta das principais discussões de interesse da humanidade nos últimos anos. Um importante marco histórico foi a ocorrência da Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, no ano de 1972, que foi a primeira ação importante em nível mundial com o intuito de tratar da temática ambiental. A emergência da questão ambiental no cenário mundial se deve à constatação de que haveria sinais claros de esgotamento do sistema de produção industrial, sob o qual se fundou nossa sociedade nos últimos séculos, que coloca em lados opostos o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais36. A visibilidade, já presente, de graves danos causados na natureza, somada à existência de riscos reais, embora de dimensões incalculáveis, em função, em grande parte, da ação humana, já não permitem uma posição de passividade37. Nesse ponto, a variável “ambiental”, desprezada tanto pelo sistema produtivo até então vigente, como pela crítica que lhe fora ordinariamente dirigida38, tem se transformado numa das principais barreiras à exploração irracional e pela construção de alternativas de desenvolvimento para a humanidade39. Tanto no âmbito internacional, como dentro dos Estados, a temática ambiental tem ganhado maior relevância nas últimas décadas. De acordo com Capella: “Em nosso próprio tempo, a problemática ecológica está passando ao primeiro plano, da autoconsciência não ideológica da humanidade em várias formas”40. 36 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. 7ª. Rio de Janeiro: Ed. Petrópolis/Vozes, 2009, p. 89. 37 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madri: Siglo XXI de España Editores, 2006, p. 113. 38 LÖWY, Michael. Ecologia e Socialismo. São Paulo: Editora Cortez, 2005, p. 42. 39 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 2004, p. 23. 40 CAPELLA, Juan Ramón. Os cidadãos servos. Tradução: Lédio Rosa de Andrade & Têmis Correia Soares. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1998, p. 159. 221 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A constatação cada vez mais reiterada no sentido de que, a menos que o homem passe a utilizar os recursos existentes no meio de forma sustentável, corremos graves riscos para a manutenção da vida das futuras gerações de uma forma segura, traz como exigência lógica a necessidade de um desenvolvimento que tenha pressupostos diversos daqueles propalados pela sociedade industrial. De acordo com Henrique Leff: A sustentabilidade é o tema do nosso tempo, do final do século XX e da passagem para o terceiro milênio, da transição da modernidade truncada e inacabada para uma pós-modernidade incerta, marcada pela diferença, pela diversidade, pela democracia e pela autonomia41. Desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, inúmeros organismos foram criados e vários documentos aprovados no âmbito internacional, a fim de tratar dos mais diferentes problemas ambientais e da necessidade de preservação dos bens ambientais. Movimento parecido, e influenciado pelo desenvolvimento da temática no direito internacional, deu-se dentro dos ordenamentos jurídicos internos dos países. Atualmente, uma grande parte dos países do mundo possui legislação voltada à proteção ambiental e, ainda que não haja uma perfeita similitude naquela proteção, em razão das peculiaridades locais de cada país, é possível verificar que a normatização internacional tem funcionado como um importante norteador da ação dos Estados42. 5. AMBIENTALISMO X DEMOCRACIA A emergência da questão ambiental nas últimas décadas em todo o mundo tem tornado presente, cada vez mais, o debate sobre a necessidade de novos limites ao sistema produtivo, principalmente quando a produção deixa de considerar os efeitos maléficos trazidos ao meio ambiente43. Por outro lado, a importância da questão ambiental está longe de se limitar apenas à crítica relativa ao sistema produtivo industrial, embora este tenha sido o principal desencadeador do esgotamento dos recursos naturais pela mão do homem. Pelo contrário, tendo em vista a inextirpável inserção do homem dentro do meio em que habita, a temática 41 LEFF, op. cit., p. 9. LIBERATO, Ana Paula Gularte. Educação ambiental e desenvolvimento sustentável: Uma abordagem para a proteção internacional do meio ambiente. In: SILVA, Letícia Borges e OLIVEIRA, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: Juruá. 2007, p. 15 43 CAPELLA, op. cit., p. 161. 42 222 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I ambiental traz reflexos para as mais diversas relações e áreas do saber44. No que toca ao presente trabalho, importa, em especial, os resultados decorrentes da interação entre o ambientalismo e a democracia, entendida esta última em seu conceito tradicional. Como já observado anteriormente, o sistema democrático representou para muitos países uma verdadeira revolução na forma de organização do poder público, na medida em que representava uma alternativa aos regimes despóticos até então existentes, bem como representava uma maior garantia dos direitos individuais do povo, inclusive em face do Estado. Entretanto, a constatação de que os problemas de ordem ambiental trazem reflexos impossíveis de serem limitados no espaço – a apenas algum país ou região – e no tempo – uma vez que seus efeitos perduram à posteridade –, o fundamento individualista do sistema democrático deve se submeter a novos filtros. Um exemplo potencial de embate entre os valores ambientais e democráticos ocorre na situação ocorre, p. ex., quando interesses de repercussão social mais imediata se sobrepõem à necessidade de se garantir um desenvolvimento que respeite os limites da natureza. É o caso quando interesses como desenvolvimento econômico, geração de empregos sobrepujam a preservação do meio em que se vive45. Nesse ponto, afirma Carlos Marés Filho que: Contradições muito mais complexas, porque não comportam definição jurídica prévia, são aquelas existentes no próprio seio de uma comunidade, como, por exemplo, a preservação cultural ou natural, e o chamado desenvolvimento econômico. Essas situações são corriqueiras e têm afetado com especial ênfase os bens ambientais naturais46. Diante da possibilidade de que os valores ambientais venham a ser preteridos em favor de outros mais imediatos, ainda que legitimados por uma vontade coletiva democraticamente evidenciada, a questão que se coloca é saber se existiriam limites à vontade da maioria, e quais os limites para a expressão dessa maioria47. 44 CAPRA, op. cit., p. 26. BERNARDO, Leandro Ferreira. A utilização da queima da palha nas plantações de cana-de-açúcar à luz do direito ambiental. In: GAIO, Alexandre; ALTHAUS, Ingrid G. e BERNARDO, Leandro F. (Org.) Direito ambiental em discussão. São Paulo: Iglu, 2011, p. 165. 46 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e sua proteção jurídica. 3. ed., Curitiba: Juruá, 2005, p. 33. 47 CAPELLA, op. cit., p. 60. 45 223 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I De acordo com Enrique Leff, o ambientalismo exigiria uma mudança das teorias e valores preexistentes, em favor de uma racionalidade – não mais predominantemente econômica e produtiva – mais próxima às interações entre natureza e cultura48. Aquela racionalidade ambiental deve representar um limite à vontade estatal, ainda que esta tenha sido alcançada de forma democrática, ou seja, mediante deliberação e concordância da maioria dos cidadãos. Assim como o desenvolvimento dos direitos humanos representou uma limitação à ação dos Estados, em função da necessidade de proteção dos indivíduos – sobretudo de grupos não hegemônicos – pela simples ostentação de uma condição humana, o ambientalismo, tendo em vista que as consequências dos danos ambientais são suportadas por uma quantidade incalculável de pessoas, não restritas a lugar e tempo definidos, deve se sobrepor a interesses mais imediatistas. Por outro lado, tendo em vista a inexistência de um discurso ambientalista único, há dificuldades para a implementação de limites claros que venham a ser respeitados pela ação do homem e do Estado. Pelo contrário, muitas vezes os discursos ambientais são contraditórios49. Dessa forma, o ambientalismo representa o surgimento de novos limites à democracia e ao individualismo que lhe dá fundamento. Trata-se de limites fundamentais para garantir a manutenção da vida no planeta50. Tais limites democráticos impostos pelo ambientalismo tendem a reduzir, até sua total eliminação, à medida que a educação ambiental seja adequadamente levada a toda a humanidade51. Por outro lado, a implementação daqueles limites pode significar, legitimamente, restrições à democracia, na atualidade, quando se observa que o conhecimento dos problemas ambientais ainda é deficiente e, de outro, que o risco de um agravamento dos problemas ambientais é real e torna necessária a adoção de medidas com certa urgência52. 6. OS DIREITOS AMBIENTAIS COMO DIREITOS HUMANOS? 48 LEFF, op. cit., p. 67. HARVEY, David. O novo imperialismo. Tradução: Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. 4ª edição. Editora Loyola. São Paulo: 2010, p. 138. 50 BOFF, Leonardo. Os limites do capital são os limites da terra. Carta Maior, 15/01/2009. <www.cartamaior.com.br>. Acessado em 21de julho de 2010, p. 2. 51 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 158. 52 CAPELLA, op. cit., p. 57. 49 224 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Observa-se, na atualidade, o agravamento da crise ambiental e dos prejuízos para toda a humanidade, inclusive para as gerações futuras. Embora seja inegável a expansão da proteção ambiental, tanto no âmbito internacional, como dentro dos ordenamentos jurídicos estatais, há várias dificuldades, ainda, para uma mais completa efetivação dos valores ambientais. A mais importante, como acima citado, seria a existência de barreiras – muitas delas democraticamente impostas – que relegam o ambientalismo a um segundo plano, quando este representa óbice ao desenvolvimento econômico. Estas barreiras muitas vezes acabam por impedir a real efetividade jurídica das normas ambientais existentes53. Nesses casos ainda se parte de concepções que desvinculam o desenvolvimento humano do destino do meio em que vivemos. Por outro lado, tem se desenvolvido nas últimas décadas teorias que aproximam o discurso dos direitos humanos à necessidade de preservação ambiental 54. Tal aproximação decorre da constatação de que a proteção dos direitos humanos decorre logicamente da garantia de um meio ambiente equilibrado, ou, em outras palavras, a negligência com a segurança do meio reflete diretamente na proteção dos direitos de toda a humanidade 55. Neste ponto, afirma Enrique Leff: Além do direito a um bem-estar fundado na satisfação de necessidades básicas (vestido, trabalho, educação, moradia), a Carta dos Direitos Humanos incorporou o direito a um ambiente sadio e produtivo, inclusive os novos direitos coletivos para a conservação e aproveitamento do patrimônio comum de recursos da humanidade, pela dignidade e pelo pleno desenvolvimento das faculdades de todos os seres humanos56. Tendo em conta que os direitos humanos são produtos culturais, surgidos em uma realidade específica, ostentam valores, regras, objetivos de difícil delimitação 57. Por outro lado, a aproximação do ambientalismo e dos direitos humanos tem se tornado cada vez mais 53 BOBBIO, op. cit., p. 7. LEFF, op. cit., p. 92. 55 LÖWY, op. cit., p. 73. 56 LEFF, op., cit., p. 90. 57 FLORES, Joaquin Herrera. Teoria crítica dos direitos humanos: Os direitos humanos como produtos culturais. Tradução Luciana Caplan et al. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009, p. 14. 54 225 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I efetiva à medida que se tem adotado uma concepção mais ampla de direitos humanos58 e de ambientalismo59. Decorrem importantes efeitos práticos da aproximação entre aqueles dois valores. Observe-se que, como já explicado acima, houve um grande desenvolvimento dos sistemas protetivos de direitos humanos nas últimas décadas, sobretudo no âmbito internacional. Esse sistema conta, hoje, com inúmeras instituições que garantem a aplicação dos direitos humanos de forma razoavelmente impositiva, inclusive com a imposição de sanções no caso de descumprimento das obrigações que prevê60. O reconhecimento da questão ambiental como efetivamente um problema que afeta diretamente o ser humano poderia permitir a sua inclusão no rol dos direitos humanos. A consequência mais importante para tal inclusão seria a garantia de maior efetividade ao ambientalismo, na medida em que passaria a contar com todo o sistema previamente existente de proteção aos direitos humanos61. Não há um rol exaustivo dos direitos humanos preexistentes que possa se contrapor à inclusão dos direitos ambientais em seu rol. Pelo contrário, reconhece-se a historicidade dos direitos humanos, de modo que é perfeitamente cabível a inclusão de novas garantias à medida que surgem novas necessidades ao ser humano, como se dá no caso do ambientalismo62. CONSIDERAÇÕES FINAIS A democracia representou uma importante conquista da humanidade – sobretudo na Europa setecentista – no caminho da garantia de maiores liberdades ao cidadão e de transferência da legitimidade do poder estatal ao povo. A este passou a ser deferida a legitimidade, até então nas mãos dos monarcas, de decidir os rumos do Estado e ao indivíduo eram garantidas liberdades impensáveis no regime antecessor. Contudo, a ação estatal, ainda que pudesse traduzir a vontade popular democraticamente expressa, demonstrou não ser imune a desvios, sobretudo quando a vontade da maioria deixava albergar garantias mínimas a grupos minoritários. 58 SEN, op. cit., p. 35. SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e sua proteção jurídica. 3. ed., Curitiba: Juruá, 2005, p. 15. 60 SEN, op. cit., p. 261. 61 NICKEL, James N. The human right to a safe environment: Philosophical perspectives on its scope and justification. In: The philosophy of human rights. Patrick Hayden (Org.). St Paul: Paragon House, 2001, p. 615. 62 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 113. 59 226 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Sobretudo no período da Segunda Guerra verificou-se a necessidade de maiores garantias ao ser humano, independente de sua nacionalidade ou enquadramento em grupos majoritários dentro de cada nação. A condição humana deveria ser suficiente para que se garantisse o acesso a direitos fundamentais básicos. Assim, nas últimas décadas houve um aprofundamento das garantias dos Direitos Humanos no mundo, inicialmente na esfera internacional e depois dentro dos Estados. Após anos de desenvolvimento, os Direitos Humanos contam com vários sistemas normativos e organismos que lhe garantem uma não desprezível efetividade. A emergência da questão ambiental expõe novas problemáticas à humanidade, principalmente no que diz respeito à forma de exploração dos recursos naturais e, consequentemente, apresenta novos desafios para a organização da sociedade política. A questão ambiental representa, tal como os Direitos Humanos representaram, um limite à ação estatal, mesmo quando esta represente a vontade da maioria. A potencialidade de que os efeitos da crise ambiental sejam rapidamente aprofundados, de modo, inclusive, a colocar em risco a manutenção da vida no planeta, somada à pouca educação ambiental, em geral, do homem, exige, muitas vezes, soluções rápidas e que contrariem interesses mais imediatistas, sobretudo aqueles ligados à acumulação de dinheiro. O ambientalismo representa, assim, uma nova variável a ser contabilizada na organização do ser humano em sociedade, sobretudo no Estado, e que traz a necessidade de reformulação de institutos já existentes, submetidos a novos limites, como é o caso, p. ex., do poder popular63. Por fim, a aproximação entre ambientalismo e direitos humanos, diante da inegável imbricação entre a proteção do meio ambiente e a garantia de direitos mínimos de vida ao ser humano, tem tudo para fazer com que se garanta, sobretudo no âmbito internacional, maior efetividade na proteção ambiental. O reconhecimento do meio ambiente seguro como condição fundamental ao desenvolvimento do homem é pressuposto fundamental para se compreender aquele sob uma 63 Sob a perspectiva da emergência da questão ambiental, torna-se necessário a revisão de importantes pressupostos da organização social. Não parece ser possível sustentar o ponto de partida, p. ex., de John Rawls – op. cit., p. 59 – ao afirmar que: “Continuarei apenas com a ideia de que podemos razoavelmente tomar como ponto de partida a estrutura básica da sociedade considerada como um sistema de cooperação fechado e autossuficiente”. Diante da impossibilidade dos problemas ambientais se limitarem a limites intranacionais, a concepção acima se torna impraticável atualmente. 227 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I perspectiva de direitos humanos e, consequentemente, englobá-lo como valor a ser protegido pelos sistemas de proteção de direitos humanos existentes na atualidade. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALTHAUS, Ingrid Giachini & BERNARDO, Leandro Ferreira (Org.). O Brasil e o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. São Paulo: Iglu, 2011. ARAUJO, Ana Valéria e LEITÃO, Sergio. Socioambientalismo, direito internacional e soberania. In: SILVA, Letícia Borges & Oliveira, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: Juruá, 2007. ARENDT, HANNAH. Origens do totalitarismo. Tradução: Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madri: Siglo XXI de España Editores, 2006. BERNARDO, Leandro Ferreira. A utilização da queima da palha nas plantações de canade-açúcar à luz do direito ambiental. In: GAIO, Alexandre; ALTHAUS, Ingrid G. e BERNARDO, Leandro F. (Org.) Direito ambiental em discussão. São Paulo: Iglu, 2011. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad.: Carlos Nelson Coutinho; Apresentação: Celso Lafer. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 6ª reimpressão. BOFF, Leonardo. Os limites do capital são os limites da terra. Carta Maior, 15/01/2009. <www.cartamaior.com.br>. Acessado em 21de julho de 2010. CAPELLA, Juan Ramón. Os cidadãos servos. Tradução: Lédio Rosa de Andrade & Têmis Correia Soares. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1998. CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 2004. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de Direito e Constituição. 4 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 228 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I FLORES, Joaquin Herrera. Teoria crítica dos direitos humanos: Os direitos humanos como produtos culturais. Tradução Luciana Caplan et al. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009. HÄBERLE, Peter. Estado constitucional cooperativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. I, 2ª. ed; Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. HARVEY, David. O novo imperialismo. Tradução: Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. 4ª edição. Editora Loyola. São Paulo: 2010. KERSTING, Wolfgang. Universalismo e direitos humanos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. 7ª. Rio de Janeiro: Ed. Petrópolis/Vozes, 2009. LIBERATO, Ana Paula Gularte. Educação ambiental e desenvolvimento sustentável: Uma abordagem para a proteção internacional do meio ambiente. In: SILVA, Letícia Borges e OLIVEIRA, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: Juruá. 2007. LÖWY, Michael. Ecologia e Socialismo. São Paulo: Editora Cortez, 2005. NICKEL, James N. The human right to a safe environment: Philosophical perspectives on its scope and justification. In: The philosophy of human rights. Patrick Hayden (Org.). St Paul: Paragon House, 2001. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. PIOVESAN, Flávia. Direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais e direitos civis e políticos. In: SILVA, Letícia Borges e Oliveira, Paulo Celso da. Socioambientalismo: uma realidade. Curitiba: Juruá. 2007. 229 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I RAWLS, John. Justiça e democracia. Tradução: Irene A. Paternot; seleção, apresentação e glossário Catherine Audard. São Paulo: Martins Fontes, 2000. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. Tradução: Pietro Nassetti. São Paulo: Editora Martin Claret, 2011. SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005. SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão técnica Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e sua proteção jurídica. 3. ed., Curitiba: Juruá, 2005. TRINDADE. Antônio Augusto Cançado. A Humanização do direito internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Posfácio de Antônio Paim; tradução, notas de Neil Ribeiro da Silva. 2ª Ed. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1987. WOODS, Ellen Meiksins. O que é (anti)capitalismo? In: Crítica Marxista. Tradução: Ligia Osório Silva. In: < http://www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista/critica17-A-wood.pdf>. Acessado em 21 de agosto de 2011. 230 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I DESAFIOS TEÓRICOS DA TUTELA JURISDICIONAL DEMOCRÁTICA DE DIREITOS COLETIVOS: BASES HERMENÊUTICAS PARA A REFLEXÃO SOBRE A EFETIVIDADE DAS AÇÕES COLETIVAS NUM CONTEXTO CONSTITUCIONAL PLURALISTA THEORETICAL CHALLENGES OF THE COLLECTIVE RIGHTS PROTECTION: IN SEARCH OF HERMENEUTICAL BASES FOR REFLECTION ON THE EFFECTIVENESS OF COLLECTIVE ACTIONS IN A PLURALIST CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Marcelo Guimarães Coutinho (UFG)* Saulo de Oliveira Pinto Coelho (UFG)** Resumo: O pluralismo social contemporâneo apresenta-se como um conjunto perspectivas das quais derivam os interesses coletivos, que representam uma categoria de direitos humanos marcada pela multiplicidade de sujeitos com identidade de demandas. A reiterada desconsideração de interesses coletivos, massificados no contexto do Estado Social, ensejou a criação de instrumentos judiciais para a tutela coletiva. Esses instrumentos, nascidos no contexto da sociedade de massas, mal se consolidaram no Brasil e já encontram seus fundamentos — o Estado Social de Direito e a hermenêutica positivista — em xeque. A pesquisa destaca a ação civil pública, cujo manejo possui grande potencial transformador de relações sociais, como instituto propício para uma reflexão de cunho hermenêutico-filosófico nos marcos do novo constitucionalismo, visto que pouco se pesquisa sobre a efetividade e a eficiência do manejo desse instrumento no Brasil, no que tange à consecução conjugada dos Direitos Fundamentais tratados como um complexo indissociável na ordem constitucional vigente. Busca-se apresentar os desafios da tutela jurisdicional de direitos coletivos e difusos, quando pensada no contexto totalizado da Constituição de 1988, notadamente no que diz respeito ao projeto constitucional de uma efetivação dos Direitos Sociais, sem tratamento massificador da sociedade e dos indivíduos. * Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás (e-mail: [email protected]), sob a orientação do Prof. Doutor Saulo de Oliveira Pinto Coelho. ** Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor efetivo da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG). É professor do Programa de Mestrado em Direito Agrário da Faculdade de Direito da UFG e do Programa Interdisciplinar de Mestrado em Direitos Humanos da UFG (e-mail: [email protected]). 231 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Palavras-chave: constitucionalismo democrático; direitos fundamentais; direitos coletivos; pluralismo; ações coletivas. Abstract: The contemporary social pluralism is presented as a set of perspectives from that derive collective interests, which represent a category of human rights marked by the multiplicity of subjects with identity demands. The repeated disregard of collective interests, massified in the context of the Social State, led to the creation of legal instruments for the collective protection. These instruments, that were born in the context of mass society, hardly been consolidated in Brazil and already have its foundations — the Social State and positivistic hermeneutic — in check. The research highlights the public civil action, whose management has a great potential to transform social relations, as a conducive institute to a reflection of perspective philosophical and hermeneutic in the new constitutionalism‘s milestones, since there is little research on the effectiveness and efficiency of the management of this instrument in Brazil, with respect to the conjugated achievement of Fundamental Rights treated as a inseparable complex in current constitutional order. The aim is to present the challenges of judicial protection of collective and diffuse rights, when totaled thought in the context of the 1988 Constitution, especially with regard to the constitutional design for an effectuation of Social Rights, without a massified treatement of the society and the individuals. Keywords: constitutionalism; human rights; pluralism; collective protection. Introdução O presente artigo faz uma reflexão acerca dos problemas da tutela de interesses coletivos na contemporaneidade, segundo a evolução do contexto histórico-sociológico das demandas subjacentes a essa categoria de direitos humanos, revelando, assim, a construção 232 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I dos instrumentos judiciais de sua defesa conforme a trajetória de reconhecimento da pluralidade social no Brasil, que tem seu ponto alto na promulgação da Constituição Federal de 1988, a partir do qual se abre um novo horizonte de possibilidades a ser explorado na busca pela efetivação de direitos sociais, sem massificação social. Primeiramente, são apresentados posicionamentos e análises acerca do fenômeno do pluralismo social, da crise do jusnaturalismo até a atual contemporaneidade pós-positivista, em que o direito democrático tem com uma de suas facetas o direito pluralista. Relevante se faz, nesse contexto, verticalizar a compreensão da perspectiva democrática do Direito e da pretensa não-estatalidade do pluralismo nos dias atuais, incluindo-se seus desafios, riscos e formas de expressão. Em sequência, será analisada a carência de instrumentalidade na efetivação dos interesses/direitos sociais em geral, evidenciando-se o desrespeito e a violação a que está sujeita, cotidianamente, essa categoria de direitos humanos. Foca-se em dois diferentes problemas centrais da questão: o primeiro, a ineficácia da proteção coletiva dos direitos sociais, fruto muitas vezes do silêncio institucional provocado pelo poder econômico, outras tantas, do ainda presente apego ao discurso legalista; o segundo problema refere-se à massificação da proteção coletiva dos direitos sociais, fruto da má compreensão dos mesmos, como direitos da pessoa humana: em que pese poderem ser tratados coletivamente, não pode essa tutela coletiva desembocar em tutela massificada desses direitos. Ineficácia, de um lado, e massificação, do outro, são pensados como duas faces da mesma moeda: a inefetividade dos direitos sociais coletivos e difusos. A pesquisa propõe refletir sobre como esses problemas se configuram na experiência brasileira de tutela desses direitos. Em razão da amplitude de seu objeto, a ação civil pública destaca-se como um dos principais instrumentos processuais para a defesa de interesses coletivos no ordenamento jurídico brasileiro. O modelo da ação coletiva e a experiência de seu manejo no atual contexto da jurisdição constitucional brasileira serão tomados como paradigma a ser criticamente avaliado, do ponto de vista dos problemas teóricos de fundo, envolvidos na configuração desse instrumento constitucional de eficácia constitucional. Questões como o problema do alcance legal dos legitimados a manejar a ação civil pública são tomadas como questões de partida para proposição de uma revisão das bases dogmáticas e meta-jurídicas, acerca dos instrumentos de tutela de interesses coletivos. Remanescendo ainda pouco problematizadas várias questões relacionadas a isso, como a avaliação da relevância do interesse social na legitimação, ou a colisão da garantia de acesso à justiça com o devido processo legal e a segurança jurídica, a busca por respostas 233 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I adequadas/corretas para essas questões atrai, como será visto, uma reflexão hermenêuticofilosófica acerca da efetividade desse instrumento na defesa de direitos fundamentais nos marcos do novo constitucionalismo. 1. Individualismo, Coletivismo e Pluralismo social no Direito Contemporâneo No decurso da segunda metade do século XX, a forte recorrência ao termo pluralismo social nos discursos políticos levou à constatação da complexidade das sociedades industriais, em diferentes âmbitos. Nelas têm sido formadas, cada vez mais, esferas particulares de autonomia em relação aos Estados, ― desde os sindicatos até os partidos, desde os grupos organizados até os grupos não organizados‖ (BOBBIO, 1995, p. 16). Luhmann (2010, p. 121) atribui tal fenômeno a um incremento na diferenciação social. Não seria algo essencialmente novo, mas o aprofundamento de um processo que se evidenciou com a crise do jusnaturalismo, ou seja, com o descompasso entre uma concepção de sociedade fundada em determinada ordem moral (aplicável a um contexto social de uniformidade de valores, pouco diferenciado) e a conquista de espaços autônomos de representação e fundamentação de ideias religiosas, morais e científicas. O pluralismo contemporâneo, por sua vez, não se mostra apenas como uma simples postura antidespótica, mas fundamentalmente como uma tendência pretensamente antiestatal, que, em verdade, nas suas versões amadurecidas, se revelam como tendência paraestatal. O Estado passa a ser tido como um estágio necessário da evolução histórica, que não teria o condão de paralisá-la. Se da sociedade medieval até a consolidação do Estado Moderno observou-se um processo de concentração do poder, na sociedade industrial estaria com a explosão da sociedade civil e posterior acontecendo uma inversão desse processo, ― socialização do Estado‖ (BOBBIO, 1995, p. 17). No início do séc. XX, o Direito Público surge, enquanto regulamentação da burocracia estatal e da democracia representativa, como o principal mecanismo de descentralização e desconcentração do poder (cf. GOZZI, 1998, p. 409-413). No início do séc. XXI, esse Direito Público, para além da descentralização do poder, consolida seu maior enfoque na capilarização da eficácia dos Direitos Fundamentais do Homem, e na implementação dos instrumentos de democracia participativa e dialogal (cf. PEREIRA, 2011, p. 172-176). É imprescindível ressaltar que não existe uma só concepção de pluralismo. Nos albores da década de 1980, Bobbio (1995, p. 17-8) já alertava que eram várias e distintas as ideologias que se autodefiniam pluralistas, considerando três delas como as principais 234 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I correntes: a doutrina social cristã, o socialismo sindicalista (trabalhista) e o liberalismo democrático. Conquanto essa análise ainda permaneça válida no tocante à existência de inúmeros pluralismos, deve-se notar que ela está inscrita no horizonte de compreensões divisado na disputa pela hegemonia ideológica, econômica e militar entre os Estados Unidos da América (EUA) e a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), representantes do capitalismo e do socialismo, respectivamente. A queda do muro de Berlim (1989), seguida do fim do regime soviético, expôs as fragilidades das experiências socialistas de governo em propiciar condições econômicas para a fruição de um padrão de vida confortável, ao contrário do que ocorria nos Estados de Bemestar social da Europa (Welfare States), nos EUA e no Japão. Mas esse triunfo do capitalismo sobre o socialismo não pôs fim à angústia diante da crise das ideologias: As transformações do mundo que vivenciamos nos últimos anos, seja por causa da precipitação da crise de um sistema de poder que parecia muito sólido e, aliás, ambicionava representar o futuro do planeta, seja por causa da rapidez dos progressos técnicos, suscitam em nós o dúplice estado de espírito do encurtamento e da aceleração dos tempos. Sentimo-nos por vezes à beira do abismo e a catástrofe impende. (BOBBIO, 2004, p. 211). Com o avanço da informática e o aparecimento da rede mundial de computadores (internet), as sociedades, que já eram tidas como complexas, passaram a ser consideradas hipercomplexas. Observou-se um acirramento do individualismo, pulverizando os interesses de grupo sob o signo da fluidez das relações de consumo, dado o arrefecimento do sentimento de pertencimento a determinada classe ou comunidade (cf. BAUMAN, 1999, p. 78-9). Luhmann (2010, p. 140-1), por sua vez, não partilha desses prognósticos sombrios de uma época de massas. Enxerga no mesmo estado de coisas uma ampliação das alternativas para o pleno desenvolvimento da personalidade, oportunizando ao indivíduo o exercício de vários papéis sociais. Segundo ele, não fosse pelo caminho do heroísmo, o desenvolvimento da personalidade, em tempos anteriores, dificilmente poderia lograr êxito, pois os papéis sociais eram praticamente fixos. Os indivíduos eram condenados, quase invariavelmente, a resignar-se com as suas frustrações e/ou conviver eternamente com os seus sofrimentos. Na contramão desse sedutor — talvez especioso — convite ao hedonismo sob a perspectiva do individualismo, os problemas coletivos puseram em pauta a necessidade de uma participação efetiva da coletividade na organização do convívio em sociedade. Exemplo disso é a percepção da relevância de colimar esforços no sentido de assegurar a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tanto é assim que, com os resultados dos trabalhos da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 235 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I publicados em 1987 no livro intitulado Our common future (Nosso futuro comum), ficou definido que desenvolvimento sustentável seria aquele ― que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.‖ (UNITED NATIONS, 1987, p. 41, tradução nossa). Sem entrar em maiores detalhes quanto às questões ambientais, a fim de não extrapolar os limites do presente trabalho, cumpre alertar que, em razão das mais variadas contingências (riscos) inerentes ao meio ambiente como macrossistema que abriga e mantém a vida em todas as suas formas (cf. LEITE, 2004, p. 14), as tentativas de determinação das necessidades do presente encontram sérias dificuldades no plano prático, quiçá em relação às necessidades do futuro. No Brasil, para além do reconhecimento do direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o constituinte externou o desejo de construir uma sociedade pluralista e comprometida como a solução pacífica das controvérsias, assentada no ideal de solidariedade, conforme disposto no preâmbulo da Constituição Federal de 1998. Estatuiu-se o pluralismo político como fundamento da República (art. 1º, V) e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas como base para o ensino a ser ministrado (art. 206, III). Essa base normativa radicada no texto constitucional deve, então, ser levada em consideração no delicado imbricamento entre individualismo e coletivismo, a fim de que sejam divisados critérios que garantam uma efetivação, sem massificação, de direitos sociais. 1.1 Os desafios e riscos do pluralismo na democracia Ao conceber o Estado pluralista democrático como aquele que respeita a posição autônoma e crítica dos indivíduos em relação ao todo, ou seja, como legítimo veículo de expressão do poder que se reserva à condição de guia (mentor) e não de tutor (proprietário) dos destinos da sociedade, Miguel Reale ressalta a importância da colaboração positiva dos indivíduos e das associações para a própria unidade estatal, in verbis: [...] é a irrenuciabilidade à liberdade originária e o consequente poder de crítica dos indivíduos que assegura continuidade e autenticidade ao direito que se objetiva mediante o poder estatal. Poder-se-ia talvez falar em criticismo democrático para qualificar essa solução política de cunho realista, que não recusa ao Estado a realização de fins comuns, — fins êstes irredutíveis aos fins individuais, e que não são também simples soma de interesses individuais, — mas, por outro lado, preserva a fôrça de colaboração positiva e criadora dos indivíduos e das associações, sem cuja autonomia o Estado seria uma unidade amorfa, o ‗monstro frio‘ de que nos fala Nietzsche. (REALE, 1963, p. 234, grifo do autor). O ordenamento jurídico desse Estado resulta, então, de um complexo de relações entre as partes e o todo. Portanto, leva em consideração o potencial negativo do pluralismo de 236 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I converter-se em fator de desagregação social, o que conduziria a sociedade a disputas entre grupos de interesses opostos que tornam impossível satisfazer qualquer interesse coletivo. Outro problema capital na vivência do pluralismo no ambiente democrático é que, à medida que o número de membros de determinado grupo cresce, ampliando o seu raio de influência, ― o indivíduo que crê ter-se libertado do Estado-patrão torna-se escravo de muitos patrões‖, pois ― onde quer que se constitua um poder, este mostrará, cedo ou tarde, seu vulto ‗demoníaco‘.‖ (BOBBIO, 1995, p. 33, grifo do autor). Desse modo, a simples formação de grupos diferenciados na sociedade não é suficiente, por si só, para a caracterização do pluralismo, pois a autenticidade democrática de sua manifestação reside na possibilidade do dissenso, isto é, ― a condição reservada àqueles que não fazem parte do bloco‖ (BOBBIO, 1995, p. 27). 1.2 Pluralismo, crise e reforma tecnocrática do Estado Ao tratar da reforma do Estado brasileiro, particularmente quanto à participação que foi concedida às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), durante os governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, Horta (2011, p. 181) observa a construção de um amplo espaço para o setor público não estatal nas sociedades contemporâneas, atribuindo esse fenômeno ao ― reconhecimento da esfera pública habermasiana‖. Citando a obra O jardim e a praça, de Nelson Nogueira Saldanha, e com arguto senso crítico, Horta (2011, p. 177) salienta que tais espaços ― talvez se referissem às feiras livres, realizadas no espaço coletivo, mas sem qualquer controle do Estado (e, claro, gerando apropriação privada de bens e recursos: lucro)‖. No mesmo sentido, Bobbio (1990, p. 20) chamava a atenção para o risco de, ao tentar romper o domínio avassalador do poder público, cair-se na selvageria do poder privado, na irracional privatização do público. O movimento de dispersão dos centros decisórios, em que a política estatal cede lugar a organizações sociais e econômicas, tornou-se notório. No interior dessas entidades, assim como em muitos dos setores da administração pública, na consecução das suas atividades, têm preponderado objetivos meramente poiéticos (burotecnocráticos) sobre os éticos — apesar de serem estes, na concepção de Joaquim Carlos Salgado, a justificativa e a legitimidade para a atuação do Estado em face do contínuo esforço de superação dialética no embate entre a liberdade e o poder (cf. SALGADO, 1998, p. 13-4). O poder econômico e racionalidade econômica tomam o espaço do debate político, lugar inarredável da pluralidade. 237 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Sem ambiente propriamente político, mas apenas técnico-econômico, não se pode falar de pluralismo, pois frente às equações deterministas de mercado, pouco há que se debater e escolher, ou pelo menos assim se procura tratar a questão, no âmbito de instituições como os Bancos Centrais. De certa maneira, o avanço do pluralismo no Estado Contemporâneo é paradoxal. Pode ser expresso nesses dois movimentos: o do surgimento do espaço público não-estatal, traduzido nas idéias de terceiro setor e sociedade civil organizada, e o da apropriação do Estado pelo Poder Econômico. Questões que, em paralelo, apontariam para uma Crise do Estado, a qual, em verdade, é antes uma Crise da Sociedade Civil. 1.3 Algumas reflexões sobre os paradoxos do pluralismo nas Políticas Públicas No vasto oceano de grupos intermediários entre o Estado e o indivíduo, é preciso refletir sobre algo que, embora se apresente como novo no cenário brasileiro, não é tão inédito assim: a criação artificial de corpos sociais, pelo próprio Estado, com base em políticas públicas (veiculadas sob a forma de leis) para induzir e/ou estabelecer padrões de comportamento na sociedade sob a justificativa de atingir determinados estágios de progresso civilizacional — ancorados na promoção da igualdade. Porém, tanto na formulação dessas políticas quanto na sua efetivação, ignora-se a importância de uma leitura atenta dos valores, das tradições e da cultura presentes na sociedade. Exemplo cristalino disso é a recente introdução, no Brasil, do modelo de ações afirmativas norte-americanas para o ingresso no ensino superior com base em critérios raciais, visando garantir a igualdade de oportunidades. Ora, é sabido que a identidade da nação brasileira foi construída a partir da mestiçagem, que borra as fronteiras das diferenciações fenotípicas, mostrando-se, portanto, avessa a forçosos enquadramentos raciais. Nada obstante, ― em nome do multiculturalismo, o governo de Fernando Henrique Cardoso ensaiou dividir os cidadãos em ‗brancos‘ e ‗negros‘, e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva patrocinou a introdução das primeiras leis raciais da história brasileira‖ (MAGNOLI, 2009, p. 16). Apresentamos essa questão apenas como exemplo de como pode o próprio Estado assumir, em razão das técnicas que separam Governo de Governados, posições que são contrárias ao próprio sentimento social e coletivo; e que não necessariamente estarão erradas, por conta disso. No que toca às cotas raciais, enquanto tal política inspira demandas em seus prováveis beneficiários, alimenta o ressentimento naqueles que se sentem prejudicados por 238 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I ela. Conforme demonstram alguns estudos, isso pode resultar, senão em violência, na sofisticação de mecanismos velados de definição de territórios e exclusão mútua. Quanto à melhoria global da educação, os efeitos serão pífios. As pessoas, em sua maioria e independente da cor da pele, continuarão sem acesso a um ensino de boa qualidade e, desse modo, suas oportunidades de ascensão social não serão ampliadas. Veja-se: aqui a opção foi por uma solução aparentemente pluralista, mas que na verdade se baseia no tecnicismo econômico, traduzido na percepção da diferença descomunal de custos, entre as duas soluções vislumbradas: a primeira, evidente e clara, a de se tratar verdadeiramente como prioridade a melhoria real da educação pública básica e fundamental, alternativa extremamente dispendiosa; a segunda, evidentemente alternativa à primeira, a de corrigir a distorção do sistema educacional por meio de cotas, ignorando-se a raiz do problema, que é a má qualidade do serviço público de educação básica e fundamental prestada pelo Estado. Isso revela que o discurso do pluralismo por vezes pode encobrir o real critério de decidir, que de plural possui quase nada (cf. COELHO; PEDRA, 2010). De forma análoga, as entidades sindicais no Brasil padecem com os efeitos colaterais do artificialismo. É sabido que nos EUA e na Europa realmente houve uma conquista de direitos trabalhistas: ocorreram lutas, por vezes com violência e derramamento de sangue, que culminaram na formação de seus respectivos modelos sindicais. Já no caso do Brasil, o governo do presidente Getúlio Vargas simplesmente decidiu implantar no país um regime sindicalista com base nos delineamentos da Carta Del Lavoro, do Partido Fascista Italiano — de Benito Mussolini. Com isso, foram prematuramente sufocadas as tensões sociais entre patrões e empregados, que começavam a estabelecer-se em um país que tinha abolido a escravidão há pouco tempo (cf. DELGADO, 2012, p. 112). Os sindicatos brasileiros, engessados pelo modelo sindical institucionalizado pelo Estado e com direitos trabalhistas como uma espécie de favor pessoal do governante, até hoje possuem baixo poder de barganha em face dos empregadores. Também não se mostram interessados em motivar uma maior participação dos seus representados, o que denota um nítido déficit de democracia. As cláusulas do contrato de trabalho praticamente se resumem ao que está garantido em lei, notadamente na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), confirmando a forte normatização estatal na seara trabalhista (cf. DELGADO, 2012, p. 112). Como política pública, o modelo de tutela trabalhista que possuímos possui várias distorções. Distorções que são da lógica sindical e da lógica da tutela dos direitos trabalhistas. Do ponto de vista de um pluralismo, novamente se revela paradoxal essa área do constitucionalismo brasileiro. Seja porque há baixíssima atuação sindical no Brasil que não 239 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I seja meramente corporativista, fisiologista e oportunista. Seja porque, no âmbito da tutela, a conciliação trabalhista se transformou em verdadeiro lugar de transação de interesses, também tomada por critérios econômicos como substitutos de critérios jurídicos. Nosso já vetusto modelo sindical e o regime recém-criado de cotas raciais são dois exemplos de intervenções estatais que se mostram paradoxalmente não pluralistas, se pensados nos contextos das práticas reais de nossa sociedade. O primeiro antecipou-se à ocorrência de grandes conflitos sociais, mas sob o influxo de um projeto de desenvolvimento de cunho populista. O segundo revela-se como medida paliativa, que não satisfaz a demanda universal pelo acesso à educação de qualidade em todas as fases do ensino — indispensável ao pleno exercício da cidadania. Essas políticas confirmam que a face ética do Estado, em que os diretos fundamentais da pessoa são levados a sério, encontra-se, muitas vezes, eclipsada pela poiética, em que os direitos fundamentais ficam apenas no discurso justificador da ação governamental motivada por critérios técnico-econômicos (cf. SALGADO, 1998, p. 09-10). Resta, pois, demasiado clara a obstinação dos governantes em angariar dividendos políticos com o mínimo de esforço, desprezando, a médio e longo prazo, o bem-estar social e os resultados de suas políticas para toda a sociedade, conforme ressai da análise a seguir: É comum, apesar de absurdo, na política brasileira atual se condicionar os critérios de decisão acerca do desenvolvimento de políticas públicas à questão eleitoreira. De modo que o bem-estar social gerado pela política pública não seja o critério maior de seu funcionamento, mas sim o resultado eleitoral que ela pode oferecer. (COELHO; ARAÚJO, 2011, p. 11). Toda a constelação de grupos sociais situados e co-implicados nas complexas sociedades contemporâneas, entrelaça uma ampla e variada gama de direitos e demandas, por vezes paralelas, por vezes, complementares, por vezes antitéticas. É nesse contexto investigativo que serão analisadas, adiante, as condições e desafios para tutela jurisdicional dos interesses coletivos, que emergem entre as veredas do pluralismo social contemporâneo — estejam elas relacionadas a movimentos espontâneos da sociedade ou à atuação do Estado por meio de políticas públicas. 2. Superação do reducionismo coletivista e tutela de interesses coletivos e difusos Ao refletir sobre a tutela de interesses coletivos, Souza Filho (1999, p. 312) considerou magistral o romance de Manuel Scorza, intitulado Garabombo, o invisível. Além de narrar a luta do povo para fazer valer os títulos concedidos pelo imperador no altiplano 240 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I peruano, o autor do referido romance demonstra que esses direitos não eram reconhecidos justamente pelo fato de serem coletivos (cf. SOUZA FILHO, 1999, p. 312). Cada vez que Garabombo, pacificamente, reivindicava direitos da comunidade a que pertencia, era subitamente tomado por uma estranha doença que o deixava invisível. De nada adiantava ingressar nas repartições públicas ou tentar falar com as autoridades: não era visto nem ouvido. Conquanto essa estranha condição facilitasse ao protagonista obter papéis (documentos), as autoridades não os reconheciam, já que o portador não podia ser visto (cf. SOUZA FILHO, 1999, p. 312). A arte literária ilustra, de modo contundente, a existência de uma multiplicidade de sujeitos (no romance citado, aqueles que fazem parte da comunidade do altiplano peruano) com identidade de demandas (o reconhecimento dos títulos concedidos pelo imperador sobre as terras que, tradicionalmente, eram ocupadas pelos membros da comunidade). Em vista dessa categoria de dado empírico (sociológico) que inspirou o referido romance, embora sob a perspectiva de uma dogmática jurídica construída sobre as bases do positivismo legalista e marcada pelo protagonismo do sujeito de direito individual, foram criados no Brasil procedimentos que pudessem dar uma resposta à necessidade de tutela jurisdicional de interesses coletivos que, não raro, costumam ser violados ou simplesmente ignorados, tanto pelas autoridades estatais quanto por indivíduos, ou mesmo pelos mais variados grupos sociais que se fazem presentes e atuantes na sociedade. Daí o surgimento da ação civil pública como um destacado instrumento jurídicoprocessual no Brasil. Em vista do amplo leque de pretensões que podem ser veiculadas por meio dela, à época da sua criação esperava-se tornar visível o grito mudo de direitos solenemente ignorados. Isso não significa, todavia, que tenha menor importância o processo objetivo de controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos, bem como de um específico controle de políticas públicas — que começa a ser pensado a partir do reconhecimento de um dever de prestação de contas pelos agentes públicos, que não se limite à análise formal do gasto público, mas que alcance capacidade de avaliação material da eficiência do gasto e as ações públicas, frente aos direitos fundamentais visados – princípio do acountability (cf. PEREIRA, 2011, p. 176). A tutela coletiva promovida por meio da ação civil pública, como instrumento jurídico-processual, supõe um contexto fático de lesão ou ameaça a direito. Já o processo objetivo de controle de constitucionalidade tem por finalidade declarar a invalidade ou confirmar a validade, abstratamente, de uma norma infraconstitucional tendo por parâmetro a 241 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I própria Constituição, seja ela tomada na totalidade de suas normas ou restrita a seus preceitos fundamentais (cf. BARROSO, 2011, p. 323). O controle de políticas públicas, por sua vez, relaciona-se à pretensão de correção da discricionariedade administrativa com base no sentido ético-deontológico das normas constitucionais, conforme se depreende da seguinte observação: [...] Se no ato administrativo discricionário é certo que o administrador está livre de uma aderência absoluta à lei, nem por isso seu poder de escolha pode desconsiderar o conteúdo principiológico da Constituição. Portanto, o ato administrativo escapa de controle de legalidade, porém permanece indispensável que ele seja controlado em sua constitucionalidade. (STRECK, 2011, p. 41). Evidentemente, isso não impede que, no bojo da própria ação coletiva, seja arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, situação que caracteriza o controle incidental de constitucionalidade (cf. BARROSO, 2011, p. 323). Na verdade, a ação civil pública foi projetada como veículo processual para a dedução de pretensões coletivas relacionadas a direitos fundamentais, seja diretamente ou por meio de discussões travadas na interpretação de atos normativos infraconstitucionais, consoante o reconhecimento do papel substancial do pluralismo social para formação da vontade política na estrutura republicana da sociedade brasileira (art. 1º, V, da CF/1988). Sendo assim, a pluralidade de sujeitos (determinável ou difusa) atingida pelos efeitos do processo coletivo suscita candentes discussões que desafiam a dogmática jurídica tradicional, fundada no protagonismo do sujeito de direito individual. Daí a necessidade de uma séria reflexão sobre as condições que legitimam o manejo da ação civil pública, em atenção à concretização da garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988). Revelase, por outro lado, a integralidade do papel constitucional de instrumentos de tutela coletiva como a ação civil pública, não como instrumento de satisfação egoístico (nesse sentido, corporativo) do interesse particular de determinada coletividade, mas como instrumento de ponderação efetivamente pluralista dos interesses das coletividades e das individualidades em jogo, frente à pretensão de uma determinada coletividade. Assim sendo, antes de funcionar apenas como elemento de satisfação egoística das pretensões jurídicas de uma dada coletividade, as ações coletivas devem funcionar como ambiente discursivo de controle de constitucionalidade das atividades e das políticas públicas relacionadas às pretensões ajuizadas, visando à co-implicação plurilateralmente otimizada dos direitos envolvidos na situação conflituosa. As ações constitucionais coletivas devem ser mais que o mecanismo autômato de confirmação do direito público subjetivo de uma dada coletividade, o lugar institucional 242 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I discursivo privilegiado de debate em concreto acerca do sentido constitucional adequado de satisfação desses direitos, frente ao macro-projeto de justiça social constitucionalmente delineado. Para além do coletivismo e do corporativismo, as ações constitucionais coletivas precisam assumir um desenho superador da modernidade reducionista, capaz de propiciar uma ótica de abordagem realmente pluralista e não-reducionista das complexidades situacionais nelas tratadas. 3. Elementos para uma crítica do modus operandi tradicional das ações coletivas Nas ações coletivas, o ― bem da vida‖ almejado com o provimento jurisdicional não é de interesse específico daquele que maneja o instrumento jurídico-processual. A forte conexão existente nas ações privadas entre interesse de agir e legitimidade processual não tem lugar na tutela coletiva, não apenas nas hipóteses de interesses difusos — cuja individuação dos interessados é extremamente difícil ou até mesmo impossível, a exemplo do que ocorre com o meio ambiente (cf. MANCUSO, 1999, p. 46). Quanto à posição do legitimado para o manejo das ações coletivas em relação ao interesse objeto de tutela jurisdicional, guardadas as devidas ressalvas no que toca às diferenças entre os sistemas de direito romano-germânico e anglo-americano na concepção de instrumentos de tutela coletiva, quem comparece em juízo buscando a satisfação de interesses coletivos, assim deve fazê-lo à maneira do ideological plaintiff (queixoso ficto) das class actions (ações de classe) norte-americanas (cf. MANCUSO, 1999, p. 46). É cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, ― ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei‖, nos termos do art. 6º do Código de Processo Civil (CPC). Isso significa que é preciso ter um substrato legal mínimo para a identificação de legitimados à defesa de interesses coletivos em juízo, mesmo porque os efeitos da decisão judicial poderão recair sobre diversas pessoas que não participaram da formação e do desenvolvimento da relação jurídico-processual. Aquilo que é encarado como legitimação extraordinária nas ações individuais de cunho privado é a nota característica do processo coletivo, a ponto de ser considerada como ordinária no caso das associações (cf. MANCUSO, 1999, p. 115-116). Daí a necessidade de uma tutela diferenciada, que reclama a construção de uma nova dogmática jurídica, já que a tradicional está assentada no sujeito de direito individual (cf. MORAIS, 1996, p. 114). Conforme a redação original do art. 1º da Lei nº 4.717/1965, a ação popular, atualmente prevista no art. 5º, LXXIII, da CF/1988, permitiu que qualquer cidadão pudesse 243 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos a bens e direitos que integrem o acervo patrimonial de entidades estatais, isto é, para coibir danos a bens e direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico. Em verdade, tratava-se de um procedimento que viabilizava a colaboração do bom samaritano, o cidadão movido por alto nível de consciência cívica e republicana, no zelo por bens de titularidade subjetiva do Estado. Bens públicos de uso comum do povo (rios, praças, mares, etc.), conforme definidos no art. 99 do Código Civil de 2002 (CC/2002), de utilidade imediata para a coletividade, nem sempre podiam ser tutelados judicialmente por meio desse instrumento. Com a inclusão, pela Lei nº 6.513/1977, dos bens de valor turístico na concepção de patrimônio público da ação popular, foi possível divisar nesse procedimento uma tutela cujo interesse estivesse menos vinculado ao Estado, conferindo-lhe o status de ― embrião‖ das ações coletivas em terra brasilis. Evidentemente, a ditadura militar no Brasil, imposta com o Golpe de 1964, não conseguiu paralisar as transformações sociais e econômicas no país. As múltiplas demandas da sociedade brasileira apelavam para a redemocratização como alternativa de solução de vários problemas: o pluralismo social, subjacente à estrutura autoritária de governo, não podia mais ser ignorado. Era necessário criar procedimentos judiciais para a defesa de interesses coletivos que não estavam associados, necessariamente, a bens cuja titularidade pertencia a entidades do Estado (cf. MORAIS, 1996, p. 176). Anunciando o reconhecimento do pluralismo social contemporâneo, como valor e base para a participação política num Estado de Direito que se refundaria sob o regime de governo democrático (preâmbulo e art. 1º da CF/1988), a ação civil pública foi concebida com a intenção de dar resposta à necessidade de defesa dos interesses que se desvelam em utilidades mais imediatas (diretas) para a coletividade (cf. MANCUSO, 1999, p. 50-1), como o meio ambiente, as relações de consumo, infrações à ordem econômica e urbanística. Razão pela qual foram genericamente contemplados os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 1º da Lei nº 7.347/1985), independentemente da sua titularidade subjetiva. Imprescindível destacar que, diante da amplitude do objeto da ação civil pública, o Poder Executivo resolveu ― [...] impedir o cabimento de tutela coletiva de interesses transindividuais em matérias que se poderiam voltar contra o próprio governo‖ (MAZZILLI, 2008, p. 717), fazendo incluir, pela Medida Provisória (MP) nº 2.180-35/2001, um parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 7.347/1985, para proibir a veiculação de ― pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou 244 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados‖, ao arrepio da garantia constitucional de acesso coletivo à justiça. Isso sem mencionar a polêmica cláusula geral do inciso IV do art. 1º desse diploma legal, que abria as possibilidades para a defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo, vetada pelo então Presidente da República, José Sarney, mas posteriormente acrescentada pela Lei nº 8.078/1990, que regulamentou o Direito do Consumidor. Com essas considerações, verifica-se que o grande salto democrático foi legitimar as associações da sociedade civil a manejar a ação civil pública, pois todos os outros colegitimados são órgãos do Estado (art. 5º da Lei nº 7.347/1985), a saber: o Ministério Público, as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e as entidades pertencentes à administração indireta (autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista). As associações devem estar constituídas há pelo menos 01 (um) ano nos termos da lei civil e as suas finalidades institucionais devem guardar pertinência com o objeto de tutela coletiva (art. 5º, V, ― a‖ e ― b‖). Entretanto, ― o requisito de pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido‖ (art. 5º, § 4º). Com a Lei nº 11.448/2007, a Defensoria Pública foi incluída entre os legitimados. O Ministério Público, não sendo o autor da ação, obrigatoriamente deverá atuar como fiscal da lei, sob pena de nulidade do processo (art. 5º, § 1º). E mais: dada a prevalência do interesse coletivo, na hipótese de desistência infundada ou abandono da ação pela associação que a propôs, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a sua titularidade ativa, conforme a redação dada pela Lei nº 8.078/1990 ao § 3º do referido art. 5º. Quanto ao Ministério Público, é interessante observar que, embora com objeto ainda restrito, sua legitimidade contou com um antecedente legal, previsto no art. 14, § 1º, da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que lhe conferia a possibilidade de propor ação de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente. A despeito do avanço legislativo no que toca à previsão dos legitimados para a defesa de interesses coletivos em juízo, remanescem obscuras muitas questões, que auxiliam na colocação da ordem de problemas a que está sujeito o manejo da ação civil pública, entre elas: a) como avaliar o manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, para que o requisito de préconstituição da associação possa ser afastado pelo juiz? b) nos casos de direitos individuais homogêneos (divisíveis porque individuais, mas de origem comum e, portanto, coletivos por 245 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I contingência), se não há associação que possa defendê-los judicialmente, como fazer uma correta análise da relevância social na legitimação do Ministério Público? c) em que medida a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos não limita a autonomia pessoal do indivíduo, prejudicando o livre desenvolvimento de sua personalidade, em detrimento da própria dignidade humana? d) como garantir que o indivíduo não seja submetido a ditames arbitrários de alguns membros de instituições legitimadas como o Ministério Público, nem fique refém da inércia ou disfunção de entidades públicas, associações e sindicatos? e) de que modo os possíveis efeitos da decisão judicial na tutela de interesses coletivos devem ser levados em conta na legitimação? f) sobre quais bases é possível conciliar o acesso coletivo à justiça com o devido processo legal e a segurança jurídica? g) e de que maneira as ações coletivas podem ser pensadas como instrumento de democratização social e não de massificação social? Todos esses questionamentos deixam claro que o problema da defesa de interesses coletivos não se restringe à verificação da existência de substrato legal para a identificação dos legitimados, nem apenas ao que está abstratamente disposto na lei como objeto da ação civil pública. Reside, fundamentalmente, na interpretação normativa das possibilidades de reconhecimento dos interesses apresentados em juízo, ou seja, diz respeito à hermenêutica constitucional dessa questão e à definição de uma metodologia jurisdicional básica para o debate não-reducionista das pretensões coletivas em juízo, capaz de apresentar critérios para a correção das decisões em matéria coletiva, que vão muito além da mera tutela do direito subjetivo imediatamente pleiteado. 3.1 As insuficiências do moralismo jusnaturalista e do formalismo positivista como referências hermenêuticas e metodológicas das ações coletivas Não se pode negar ao positivismo o mérito de denunciar o caráter dogmático, absoluto e arbitrário do jusnaturalismo. Um fundamento de validade material absoluto para o direito só se sustentaria em sociedades dotadas de extrema homogeneidade moral, ― em que as crenças, costumes e visões de mundo são partilhados de forma razoavelmente objetiva‖ (GOMES, 2008, p. 295). Após a Revolução Francesa, com a crescente diferenciação social, esse modelo perdeu força até esgotar-se, dando lugar ao legalismo do século XIX e, mais tarde, ao positivismo relativista do século XX (cf. GOMES, 2008, p. 295). Se o positivismo apresentava como vantagem a pretensa ausência da imposição das visões de mundo de uns sobre as de outros, reconhecendo a existência de um marcado 246 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I pluralismo social, mostrava-se, por outro lado, destituído da complexidade necessária ao tratamento desses exponenciais graus de diferenciação social, realizando o caminho do reducionismo legalista abstrativo. Completamente destituído de um critério para julgar a legitimidade do conteúdo (matéria) do direito, senão pela capacidade de reduzir as situações reais da sociedade às fórmulas abstratas da lei, o positivismo novecentista legou ao legalismo jurídico brasileiro uma visão de redução silogística às hipóteses legais. Nessa esteira, guardando coerência com as suas premissas, não se lhe afigurava outra opção senão a mera validade formal do direito (cf. GOMES, 2008, p. 296). Streck (2011, p. 31-2) esclarece que o positivismo expressa-se em dois momentos básicos: a) a fase do positivismo exegético, que reduz o problema da interpretação do direito à conexão lógica dos signos que compõem os enunciados dos códigos, traduzido pelo velho bordão: ― o juiz é boca que pronuncia as leis‖, considerada por ele já superada; b) a fase do positivismo normativista que, a despeito de pretender dar solução à interpretação do direito sob o prisma do inter-relacionamento estritamente lógico-formal das normas jurídicas, com a metáfora da ― moldura da norma‖ de Hans Kelsen, desloca o problema do aspecto sintático para o semântico, lançando no imaginário dos juristas e demais operadores do direito a ideia de discricionariedade ou decisionismo do intérprete. Essa indeterminação reconhecida pelo positivismo normativista é o que Hebert Hart denominou textura (ou tessitura) aberta na aplicação do direito: O fundamento do Direito se dá, para Hart, por meio de uma ‗teoria do reconhecimento‖, que tem a vantagem de não reduzir a validade ao ponto de vista externo do ‗ter obrigação de‘, mas incorpora um ponto interno da concordância histórico-social do participante de uma comunidade jurídica que sente ‗ser obrigado a‘. A norma é de fato um padrão de comportamento. Mas a validade ainda está restrita ao sistema auto-referente. E nesse sentido a tessitura aberta do Direito é limitada pela forma. (REPOLÊS, 2008, p. 326). As teorias de Hart e de Kelsen não solucionam o problema da concreção do direito, limitando-se a dizer que, na escolha entre várias possibilidades de adequação, o juiz pode lançar mão de um critério que não seria propriamente jurídico. Circunstância que trai a pretensão positivista de depurar o direito da moral (cf. GOMES, 2008, p. 300-1). As ações constitucionais de tutela de direitos coletivos surgiram no Brasil no contexto desse modelo positivista-legalista, entreposto da postura exegética e normativista, Cabe superar tal lógica de utilização das ações coletivas, posto que não é capaz de traduzir-se em critérios de decidir na complexa ponderabilidade dos bens em jogo nas situações de tutela de direitos coletivos. 247 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 3.2 O esforço do procedimentalismo pós-positivista para funcionar como critério de decidir nas questões envolvendo pretensões coletivas Segundo Repolês (2008, p. 326), Ronald Dworkin critica a regra de reconhecimento de Hart, propondo ir além do mero ato de procura do direito nas decisões passadas. Seria necessário, pois, fazer uma reflexão sobre o processo de interpretação, a partir de uma compreensão do passado, selecionando e reconstruindo as tradições, de modo que visões, opiniões, convicções morais e políticas distintas possam compor uma história institucional coerente e contínua, à maneira de uma novela escrita por vários autores. A defesa positivista do poder discricionário do juiz também se tornou objeto de contestação das teorias contemporâneas que propõem critérios de argumentação e fundamentação discursiva no direito, posicionando-se pela ideia de que a correção da decisão judicial (a validade do direito) não estaria assentada em um critério moral absoluto, nem apenas na legalidade conforme o ordenamento jurídico, mas no procedimento de sua produção (cf. GOMES, 2008, p. 301-2). Um dos grandes expoentes dessa corrente foi Robert Alexy, que, fortemente influenciado pela Teoria Consensual da Verdade de Jünger Habermas, manifestou-se a favor de uma teoria procedimental da argumentação jurídica já no primeiro manuscrito de sua Teoria da Argumentação Jurídica, buscando superar o problema da relativa indeterminação do direito no momento da sua aplicação (cf. GOMES, 2008, p. 305-6). Com base em decisões do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, Alexy formulou a sua tese de ponderação de princípios: uma operação para a interpretação/aplicação do direito que teria o condão de superar o problema da indeterminação legado pelo positivismo normativo. Em linhas gerais, os princípios seriam uma categoria de normas dotadas de plasticidade, ao contrário da ordinária rigidez das regras, o que permitiria a sua realização em diversos graus, dependendo das relações de precedência que as colisões entre eles podem ensejar, deduzidas a partir das circunstâncias do caso concreto em análise: Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. (ALEXY, 2011, p. 90). No entanto, esse autor reconhece que a operacionalização proposta em sua teoria encontra limitações significativamente crescentes na ponderação que envolve as colisões de mais de dois princípios simultaneamente (cf. ALEXY, 2011, p. 118), situação que, conforme apontado alhures, costuma ocorrer quando interesses coletivos são postos em juízo. 248 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I À medida que se promove um alargamento na senda para o acesso coletivo à justiça, também aumenta o número de pessoas afetadas pela decisão judicial (mesmo que não tenham figurado de forma expressa na relação jurídico-processual, até mesmo por inviabilidade prática de notificação de todos os interessados no litígio), o que enseja uma colisão com a garantia ao devido processo legal e com o princípio da segurança jurídica. Em casos assim, o esquema de solução para colisões binárias de princípios em face das circunstâncias do caso concreto — alicerçado nos critérios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito — mostra-se falho na fundamentação da escolha de medidas que permitam otimizar a satisfação dos princípios colidentes. Em outras palavras: quanto maior o número de princípios em colisão simultânea, mais difícil é encontrar uma medida que, além do atendimento ao princípio prevalecente na fundamentação da decisão sobre o caso concreto, permita que a satisfação de todos os demais princípios seja afetada da forma menos gravosa possível. Cumpre destacar que Habermas deduziu severas críticas à leitura que Alexy realizou acerca do modelo construtivo do direito de Dworkin. Para aquele teórico do procedimentalismo, a interpretação e a aplicação das normas jurídicas deveria ― deixar-se reger por uma lógica deôntica binária (princípio da adequabilidade das normas à unicidade e irrepetibilidade da situação concreta de aplicação), e não por uma axiologia gradual e multipolar (princípio da ponderação ou do equilíbrio de valores)‖. (STRECK, 2011, p. 83-4). Tal questão se desdobra nas questões das ações constitucionais e em especial nas ações civis públicas, já que, em regra, essas diferenças entre a Teoria Ponderativa do Direito, de Alexy, e da Teoria Integrativa do Direito, de Dworkin, são confundidas e mal compreendidas por aqueles que manuseiam tal instrumento. Em geral, nessas ações busca-se a tutela de certos bens ou interesses, frente a outros bens ou interesses constitucionalmente reconhecidos, mas se busca argumentar e ponderar a relação entre esses bens sem qualquer critério de correção. 3.3 A proposta da hermenêutica filosófico-constitucional Conforme demonstrado nos dois últimos tópicos, o positivismo revelou-se incapaz de sanar a crise do jusnaturalismo, legando à posteridade um problema de ordem semântica na interpretação/aplicação do direito. Mesmo expoentes do procedimentalismo pós-positivista (Habermas e Alexy) não se entendem sobre a matéria, o que deixa clara a existência de uma verdadeira disputa de paradigmas no direito. 249 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A hermenêutica filosófico-constitucional, por sua vez, surge como resposta aos dilemas colocados nas sociedades pluralistas, no sentido de ― realizar um padrão normativo que defina o jogo da convivência política e possibilite, ao mesmo tempo, o controle sobre o arbítrio e a legitimidade das opções de sua própria realização‖ (PEREIRA, 2001, p. 1-2). A sua referência teórica é a Hermenêutica Filosófica de Hans-Georg Gadamer, que fez uso de várias categorias encontradas nos trabalhos sobre Fenomenologia da Existência de Martin Heidegger, segundo o qual ― a compreensão deixa de ser uma propriedade para se tornar um modo de existência, um elemento constitutivo do Dasein (do ser-aí), algo, portanto, anterior e mais profundo do que qualquer preocupação com a ‗atividade interpretativa‘ tal qual concebida até então‖ (PEREIRA, 2001, p. 17). Com isso, Gadamer questiona o principal dogma do iluminismo: a verdade como produto do método, que deriva da cisão sujeito-objeto cartesiana. Critica-se, assim, a busca de razões metodológicas na validação do conhecimento, frisando-se que o desvelar da verdade [...] sempre depende da situação hermenêutica (horizonte histórico) em que se encontra o sujeito que se põe a compreender; depende sempre de um constante diálogo com a tradição que se faz presente na plêiade de pré-compreensões que formam, ontologicamente, a compreensão individual. (PEREIRA, 2001, p. 18) Daí, falar-se no giro hermenêutico filosófico: a libertação da absolutização do método, da sombra iluminista sobre a estrutura da compreensão — que, em vez de esclarecer, oculta a tradição e a história em sua busca míope pela verdade: [...] para garantir a verdade, não basta o gênero de certeza, que o uso dos métodos científicos proporciona. Isso vale especialmente para as ciências do espírito, mas não significa, de modo algum, uma diminuição de sua cientificidade, mas, antes, a legitimação da pretensão de um significado humano especial, que elas vêm reivindicando desde antigamente. O fato de que, em seu conhecimento, opere também o ser próprio daquele que conhece, designa certamente o limite do método, mas não o da ciência. O que a ferramenta do ‗método‘ não alcança tem de ser conseguido e pode realmente sê-lo através de uma disciplina do perguntar e do investigar, que garante a verdade. (GADAMER, 1997, p. 709). Gadamer toma como ponto de partida da compreensão o horizonte histórico, categoria situada no ― conjunto de experiências trazidas na História que forma indissociavelmente nosso raio de visão e pré-moldam nossas interações intelectivas com os fenômenos que se nos postam à frente‖, resgatando a ideia de pré-compreensão (pré-juízo, pré-conceito) heideggeriana (PEREIRA, 2001, p. 27-8). Esse filósofo reconhece uma ― interação entre o mundo daquilo que se conhece (horizonte de experiência no qual foi produzido) e o mundo daquele que se propõe a conhecer (horizonte de experiência no qual se situa o observador)‖, resultando a compreensão dessa fusão de horizontes, denominada círculo hermenêutico (PEREIRA, 2001, p. 35-6). 250 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I As construções hermenêuticas de Gadamer repercutem explosivamente sobre as teorias procedimentalistas, fazendo com que teóricos alinhados a essa corrente, como Habermas, além de refletir sobre as suas teorias, também levantassem críticas à teoria gadameriana, entre as quais: a) dar azo ao subjetivismo e ao relativismo, já que despreza a importância do método; b) render-se ao conservadorismo, uma vez que importa na cega submissão à tradição (cf. PEREIRA, 2001, p. 54). Ao procurar respostas a essas críticas, Rodolfo Viana Pereira ressaltou que [...] a Hermenêutica nunca foi contra o conceito e a relevância do método, mas a uma apropriação teórica específica sobre ele que achava possível aceder metodologicamente à verdade absoluta e universal. É [...] plenamente possível a convivência com uma determinada metodologia científica, desde que não se perca de vista o caráter situado de toda compreensão e, também, da própria instrumentalidade do método que leva à provisoriedade de qualquer descoberta e nunca a resultados objetiva e eternamente válidos. (PEREIRA, 2001, p. 62) Após as críticas quanto ao peso da tradição, Gadamer passou a enfatizar aspectos de sua teoria colocavam à prova, constantemente, as pré-compreensões do intérprete: [...] para fugir da afirmação de que sua teoria daria azo a uma submissão cega à força da autoridade e da tradição, que não seria capaz de distinguir entre preconceitos legítimos e preconceitos ilegítimos, nem seria competente para ultrapassar condições de comunicação ideologicamente perturbadas, passa igualmente a ressaltar as propriedades críticas presentes na própria Hermenêutica, as quais podem ser representadas pelas ideias de antecipação do todo, distância temporal, diálogo, situação de aplicação e retórica; [...]. (PEREIRA, 2001, p. 63, grifo no original). Conforme o que foi exposto, há muitas semelhanças entre a postura da hermenêutica filosófica de Gadamer e a Teoria Integral do Direito de Dworkin. Vale salientar, porém, que esse segundo autor parte de uma perspectiva centrada no indivíduo, tanto que, para ele, ― princípios são apenas aquelas normas que podem ser utilizadas como razões para direitos individuais‖ (ALEXY, 2011, p. 116), algo que precisa ser ajustado à intersubjetividade própria à ideia de pluralismo social. Ainda sobre essa questão, Alexy salienta a conveniência de um conceito amplo de princípio, que também se refira a interesses coletivos, exigindo ― a criação ou a manutenção de situações que satisfaçam – na maior medida possível, diante das possibilidades jurídicas e fáticas – critérios que vão além da validade ou da satisfação de direitos individuais‖. (cf. ALEXY, 2011, p. 115-6). Para a hermenêutica filosófica constitucional, os princípios constitucionais são de substancial importância. Como estruturas deontológicas de conformação do direito que encerram valores construídos coletivamente, possibilitam um ajuste fino no controle da atuação do intérprete, que, no esforço de superar as suas pré-compreensões, pode alcançar 251 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I uma resposta/decisão correta, situada em dado contexto histórico e cultural. Daí a necessidade de conscientização da plurivocidade semântica dos direitos fundamentais, que expressa, de um lado, uma abertura para a compreensão plural no ambiente democrático e, de outro, mostra-se suscetível à manipulação voltada para concretizar leituras unilaterais de seu significado, portanto, autoritárias (cf. COELHO; PEDRA, 2010, p. 16). 3.4 Elementos para a construção de uma dogmática pluralista das ações constitucionais de tutela de direitos coletivos Na esteira de uma hermenêutica filosófica constitucional que não prescinde de métodos, mas cumpre o papel de pô-los à prova pelo resgate da maiêutica grega, a defesa de interesses coletivos em juízo enseja a descoberta de elementos que podem dar sustentação a uma dogmática pluralista, própria a um ambiente realmente democrático. Não se deve confundir dogmatismo, isto é, uma postura dogmática em relação a algo, com o termo dogmática jurídica. É bem verdade que o dogmatismo pode invadir o mundo jurídico, a exemplo de certas expressões do jusnaturalismo, que pretendiam [...] atingir o direito em si ou as ‗verdades universais da juridicidade‘, mediante o emprego de processos racionais, a partir de certas evidências, modelando-se conceitualmente tipos ideais de institutos jurídicos a que a experiência concreta deveria corresponder para ter legitimidade ou licitude. (REALE, 1999, p. 161). Mesmo assim, a dogmática jurídica refere-se à manifestação da Ciência do Direito no esforço de estudo e sistematização das normas jurídicas vigentes, que são aceitas como ponto de partida para a definição do direito positivo. É essa a lição de Miguel Reale: A Dogmática Jurídica deve, em suma, ser compreendida como o momento culminante da Jurisprudência, ou seja, da Ciência do Direito na plenitude de sua existência, como horizonte de sua objetividade, e o horizonte não se põe jamais como limite definitivo, mas é linha móvel a projetar-se sempre à frente do observador em marcha. (REALE, 1992, p. 145). As complexas questões levantadas na investigação do manejo da ação civil pública, como a relevância do interesse social e a preservação da autonomia individual, ou a colisão da garantia de acesso à justiça com o devido processo legal e a segurança jurídica, conduzem a um mergulho na problematicidade dos conflitos — que implicam em estudos de casos, constituindo uma dimensão empírica que é necessária para fecundar análises sólidas na construção de uma dogmática pluralista. Desafio considerável, haja vista que: No Brasil, com raríssimas exceções, nunca houve uma tradição, entre os trabalhos acadêmicos, de utilizar a jurisprudência como material de trabalho. Quando muito, algumas decisões são citadas como forma de argumento de autoridade, mas 252 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I dificilmente se vê em trabalhos acadêmicos uma pesquisa extensiva na jurisprudência de determinado tribunal. (SILVA, 2010, p. 32). À guisa de conclusão do presente trabalho, mas não como fecho da pesquisa que lhe é subjacente, passa-se às considerações finais sobre os problemas aqui destacados. Considerações Finais: em busca da eficiência e da efetividade dos instrumentos de tutela de interesses coletivos O pluralismo social contemporâneo aparece no cenário da sociedade pós-moderna como um fenômeno complexo, com nuances que envolvem a afirmação e a luta pelos mais variados direitos humanos, com destaque, consectariamente, para os interesses coletivos. Existe, no entanto, uma certa regularidade entre os muitos pluralismos: costumam ser arredios ao Estado totalizante e incompatíveis com o individualismo atomizante. Mesmo assim, ao lado do surgimento espontâneo de grupos intermediários entre o Estado e a sociedade, há aqueles que são formados por meio de políticas públicas, notadamente pela atuação estatal na promoção da igualdade — nem sempre comprometida com um sentido ético-deontológico, voltado para o bem comum, mas encobrindo a verdadeira razão de decidir no discurso de justificação das ações governamentais motivadas por critérios técnico-econômicos. A reiterada desconsideração dos interesses coletivos (por entidades estatais, pelos indivíduos ou por grupos sociais presentes e atuantes na sociedade) deu ensejo a preocupações no sentido de criar procedimentos para a defesa de interesses coletivos em juízo, no afã de satisfazer as esperanças do século XX, que avançam titubeantes para o terceiro milênio. A conquista de visibilidade dos direitos coletivos e a sua afirmação no contexto social dependem, não raro, da atuação jurisdicional. Nesse passo, a ação civil pública e os demais intrumentos juridicionais de tutela de direitos coletivos e difusos podem ser pensados como institutos direcionados constitucionalmente para o reconhecimento do pluralismo social pela Constituição Federal de 1988, como valor e princípio do Estado de Direito, refundado sob o regime democrático. Nesse sentido, a ação civil pública deve ser tomada como um locus discursivo para o controle de constitucionalidade das atividades e das políticas públicas relacionadas às pretensões veiculadas por meio dela. Utilizá-la de forma caprichosa, voltada apenas para a satisfação de interesses egoísticos de determinado grupo social, importa no desvirtuamento das possibilidades de realização do seu potencial para a superação da modernidade reducionista, em detrimento do macro-projeto de justiça social delineado na Carta Política de 253 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 1988 e do reconhecimento da dignidade humana — como expressão do livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo e da necessidade de respeitar a sua autonomia para decidir sobre questões que lhe afetam diretamente, algo que se opõe à massificação social. Embora o objeto da ação civil pública contemple, efetivamente, interesses diretos da coletividade, indicando os legitimados para manejá-la, a previsão legal é apenas o ponto de partida na questão da legitimação. O cerne da discussão diz respeito às possibilidades de interpretação normativa, cabendo à hermenêutica filosófica constitucional um papel crucial de reflexão sobre os critérios de correção da fundamentação de decisões, em observância à satisfação real do ônus argumentativo e à garantia constitucional de acesso coletivo à justiça. A análise das condições do manejo da ação civil pública exige estudos de casos concretos, a partir dos quais a carga significacional de conceitos jurídicos vagos, como relevância/interesse social, pode ser apreendida com maior precisão. Tal exercício hermenêutico filosófico, radicado na faticidade dos conflitos, ainda pode ser capaz de revelar elementos para a construção de uma dogmática pluralista: não se trata da busca de bases genético-nomativas para a criação de standards procedimentais rígidos, mas da sistematização de critérios no sentido de satisfazer a pretensão de correção das decisões judiciais na seara da tutela coletiva, que demandam constante atualização ante a dinamicidade dos fatos sociais. O ambiente de complexidade dos interesses coletivos exige uma leitura mais aprofundada e crítica do esquema proposto por Alexy para a solução das colisões entre princípios, que está alicerçado no entrelaçamento esquemático entre possibilidades fáticas e jurídicas no intuito de otimizar a satisfação dos princípios na maior medida possível. Conquanto não se deva desconsiderar a importância desse método, devem ser identificadas as suas insuficiências diante da multiplicidade de sujeitos afetados nas ações coletivas, particularmente, havendo a incidência simultânea de vários direitos fundamentais e princípios constitucionais sobre determinada questão, das dificuldades na seleção de medidas para satisfazer a aplicação do princípio que prevalece no caso concreto de modo a afetar todos os demais da maneira menos gravosa possível. Justamente aí se destaca o papel da hermenêutica constitucional que, ao resgatar a maiêutica grega, permite pôr à prova os esquemas lógico-relacionais das teorias da argumentação jurídica de base procedimentalista, atuando como filtro na busca pela decisão/resposta correta para cada caso concreto. A conscientização da plurivocidade semântica dos direitos fundamentais, que enseja uma perene abertura para a compreensão plural do conteúdo dos princípios no ambiente democrático, exige do intérprete um esforço para superar as suas pré-compreensões 254 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I e não ceder às manipulações voltadas à concretização de leituras unilaterais dos significados desses direitos em determinado contexto histórico-cultural. Dirigindo essa ordem de considerações à análise de casos concretos, vislumbra-se uma discussão profícua e madura sobre a efetividade dos instrumentos jurídico-processuais de tutela coletiva no Brasil. A partir de uma efetiva contextualização de conceitos jurídicos vagos, como o de interesse/relevância social na avaliação da legitimação de uma associação ou mesmo do Ministério Público na defesa de interesses coletivos, seus contornos podem ficar cada vez mais precisos, revelando uma carga significacional afinada com o conteúdo dos direitos fundamentais, deslocando esses conceitos do plano meramente retórico e formal de cumprimento do dever de fundamentar as decisões judiciais para o plano material de fruição e vivência prática de direitos sob o prisma constitucional. Para além de simplesmente conter a explosão de litigiosidade no plano das demandas individuais no Brasil, é preciso compreender o lugar das ações constitucionais de tutela de interesses coletivos a partir de critérios que permitam conjugar o acesso coletivo à justiça com o devido processo legal e a segurança jurídica, bem como com a singularidade de cada pessoa e cidadão, exigida pelo princípio da dignidade. Com isso, tem-se a possibilidade de pensar nas ações coletivas, a exemplo da ação civil pública, como instrumentos de democratização social e não como mero expediente para diminuir o número de processos que tramitam no Judiciário em nome de uma ótica solipsista de celeridade na prestação jurisdicional — solução burotecnocrática, que pretere os interesses dos jurisdicionados em face dos interesses particulares daqueles que estão envolvidos na máquina do Judiciário, do Ministério Público ou mesmo de associações e sindicatos ávidos por deter maior controle sobre os destinos dos seus representados, produzindo estatísticas que não refletem a efetividade na tutela jurisdicional de direitos fundamentais. Desse modo, as particularidades das situações concretas levadas à apreciação judicial não podem ser ignoradas num arranjo constitucional de tutela coletiva, sob pena de aniquilar-se a efetividade das ações coletivas, transfigurando-as em instrumento de massificação social, com a imposição coercitiva de padrões de comportamento que guardam pouca ou nenhuma ressonância com os valores, a tradição e a cultura da sociedade. É preciso, pois, avaliar até que ponto a legitimação equivocada para o manejo de ações coletivas pode tornar-se decisiva na tomada de decisões estranhas ao conteúdo dos direitos fundamentais. Reversamente, os possíveis efeitos de determinada decisão passam a ser considerados no problema da legitimação do manejo da ação civil pública, cabendo investigar por quais modos isso ocorre (ou pode ocorrer) e como avaliar esse fenômeno. 255 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Vale repisar: a interpretação normativa das possibilidades de reconhecimento dos interesses postos sob a apreciação judicial envolve o delineamento de uma metodologia jurisdicional dotada de critérios para a correção das decisões em matéria coletiva, que extrapolam a simples tutela do direito subjetivo imediatamente pleiteado. O estudo analítico de casos concretos, haja vista o complexo inter-relacionamento que as variáveis da tutela coletiva de direitos enseja, pode resultar numa sólida avaliação da eficiência e efetividade da tutela jurisdicional de interesses coletivos no Brasil, levando em consideração não apenas critérios quantitativos, tal como hoje em dia vem sendo feito pelos órgãos de administração judiciária, mas sobretudo uma crítica qualitativa acerca de como as ações constitucionais coletivas vem sendo manejadas enquanto instrumentos de eficácia constitucional. Avaliar a eficiência de um instrumento de efetividade de direitos é fazer uma crítica de duplo grau, somente possível quando se rompe as barreiras distanciadoras do direito material e do direito processual, passando-se a pensar o Direito como um todo, enquanto instrumento de desdobramento e de efetividade dos Direitos Fundamentais da Pessoa Humana. Referências Bibliográficas ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011. BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. BAUMAN, Zigmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. ______. As ideologias em crise. Tradução João Ferreira. Revisão Técnica Gilson César Cardoso. 4ª ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1995. COELHO, Saulo de Oliveira Pinto; PEDRA, Caio Benevides. Plurivocidade Semântica dos Direitos Humanos e Crítica Democrática: entre discursos e ideologias. Anais do VI Encontro da Associação Nacional de Direitos Humanos - Pesquisa e Pós-Graduação, Brasília, 2010. Disponível em:<http://www.sistemasmart.com.br/andhep2010/arquivos/29_8_2010_22_46_53.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2012. COELHO, Saulo de Oliveira Pinto; ARAÚJO, André Fabiano Guimarães de. A sustentabilidade como princípio constitucional sistêmico e sua relevância na efetivação interdisciplinar da ordem constitucional econômica e social: para além do ambientalismo e do desenvolvimentismo, 2011, p. 05. Disponível na internet no seguinte endereço eletrônico: 256 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I <http://www.seer.ufu.br/index.php/revistafadir/article/view/18499/9916>. Acesso em 19 jan. 2013. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. São Paulo: LTr, 2011. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Tradução Flávio Paulo Meurer. Petrópolis/RJ: Vozes, 1997. GOMES, Alexandre Travessoni. Fundamentação do direito e argumentação jurídica: a proposta de Alexy. In: COELHO, Nuno Manuel Morgadinho; MELLO, Cleyson de Moraes (Orgs.). O fundamento do Direito: estudos em homenagem ao professor Sebastião Trogo. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2008. GOZZI, Gustavo. Estado Contemporâneo. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora UNB, 1998, p. 409-13. HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011. LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na sociedade de risco. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución: aportación a la socilogía política. 1º ed. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2010. MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de sangue: história do pensamento racial. 1ª ed. São Paulo: Contexto: 2009. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores (Lei nº 7.347/1985 e legislação complementar). 6ª ed. Ver. E atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 21ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. MORAIS, José Luís Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: o Estado e o Direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. PENNA, Carlos Gabaglia. O estado do planeta: sociedade de consumo e degradação ambiental. Rio de Janeiro: Record, 1999. PEREIRA, Rodolfo Vianna. Hermenêutica filosófica e constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. ______. Estado democrático de direito. In: TRAVESSONI, Alexandre (Org.). Dicionário de teoria e filosofia do direito. São Paulo: LTr, 2011. REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992. 257 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I ______. Pluralismo e liberdade. São Paulo: Saraiva, 1963. ______. Filosofia do Direito. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo. Ronald Dworkin e o fundamento do Direito. In: COELHO, Nuno Manuel Morgadinho; MELLO, Cleyson de Moraes (Orgs.). O fundamento do Direito: estudos em homenagem ao professor Sebastião Trogo. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2008. SALGADO, Joaquim Carlos. O Estado Ético e o Estado Poiético. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, v. 27, nº 02, abr./jun., 1998. SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Os direitos invisíveis. In: PAOLI, Maria Célia; OLIVEIRA, Francisco de (Org.). Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global. Petrópolis: Vozes, 1999. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. UNITED NATIONS. World Commission on Environment and Development. Our common future, 1987, p. 41, tradução nossa. Disponível via internet no endereço eletrônico: <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>. Acesso em 31 dez. 2012. 258 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I MANDADO DE INJUNÇÃO: releitura do instrumento integrativo mandamental diante da evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal WRIT OF INJUNCTION: rereading the instrument integrative writ front of evolution of jurisprudence of the Supreme Court Ana Luiza Rocha de Melo Santos 1 Henrique Rocha Penido 2 RESUMO O presente artigo analisará um instituto constitucional trazido pela Constituição Federal de 1988. Trata-se do Mandado de Injunção, esculpido no inciso LXXI do art. 5º, que se caracteriza como uma ação de natureza mandamental destinada a integrar a regra estatuidora do direito, liberdade ou prerrogativa, ressentida em sua eficácia pela ausência de norma que lhe viesse a assegurar o vigor pleno. Este instituto sempre foi objeto de grandes divergências doutrinárias e vítima de entendimento jurisprudencial que até bem pouco tempo atrás inviabilizava sua eficácia ao ser equiparado com a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Dessa forma, pretende-se demonstrar que o novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal não compromete o princípio da separação de poderes, uma vez que não há criação de norma jurídica geral, mas apenas individual, específica, para atender ao caso concreto. Além disso, será definido o real significado, natureza e alcance do Mandado de Injunção, sua distinção com a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e a fundamental importância do instituto para a garantia da efetivação dos princípios democráticos presentes no atual Estado Democrático de Direito. 1 Advogada. Especialista em Direito Processual pela Universidade do Sul de Santa Catariana. Mestranda vinculada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade de Itaúna/MG. Pesquisadora vinculada ao grupo Governança Global e Direitos Humanos, liderado pela pesquisadora Dra. Susana Camargo Vieira, registrado no CNPQ e certificado pela Universidade de Itaúna. Pesquisadora vinculada ao grupo Cidade e Alteridade: Convivência multicultural e justiça urbana, liderado pela pesquisadora Dra. Miracy Barbosa de Sousa Gustin, registrado no CNPQ e certificado pela Universidade Federal de Minas Gerais. 2 Advogado. Mestrando vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade de Itaúna/MG. Pesquisador vinculado ao grupo Governança Global e Direitos Humanos, liderado pela pesquisadora Dra. Susana Camargo Vieira, registrado no CNPQ e certificado pela Universidade de Itaúna. 259 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I PALAVRAS-CHAVE Mandado de Injunção; Interpretação; Evolução jurisprudencial. ABSTRACT This article will examine an institute constitutional brought by the Federal Constitution of 1988. The Writ of Injunction, carved in item LXXI of art. 5, which is characterized as an act of nature writ designed to integrate the rule of law or prerogative. This institute has always been the object of major doctrinal differences and victim of jurisprudential understanding that until very recently did not allow its effectiveness to be compared with the Direct Action of Unconstitutionality by omission. Thus, we intend to demonstrate that the new position adopted by the Supreme Court does not compromise the principle of separation of powers, since there is no general legal norm creation, but only individual, specifically, to meet the case. Moreover, it will be defined the real meaning, nature and scope of the Writ of Injunction, its distinction from the Direct Action of Unconstitutionality by omission and the fundamental importance of the institute to guarantee the realization of democratic principles present in the current democratic state. KEYWORDS Writ of Injunction; Interpretation; Evolution jurisprudential. INTRODUÇÃO A Constituição Federal de 1988 traz consigo uma clara preocupação do constituinte originário com o problema das omissões legislativas. A Constituição retrata no §1º do artigo 5º a “aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais”. Ocorre que para assegurar uma maior efetividade das normas constitucionais foram instituídos dois remédios distintos para combater a omissão legislativa: o Mandado de Injunção e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXXI prevê o Mandado de Injunção como o remédio adequado para proteger o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, assim 260 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I como as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando ameaçados por uma omissão legislativa3. O remédio constitucional referido, portanto, presta-se a suprir a falta de normas regulamentadoras. Certo é que muitas normas constitucionais têm eficácia limitada, não produzindo efeitos até que o Poder Competente edite complemento tratando do tema. Se a omissão legislativa, contudo, ameaçar direitos e liberdades constitucionais ou prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, aquele que se sentir prejudicado pode recorrer ao Judiciário. Desde a promulgação da Constituição Federal, o Supremo vinha entendendo o Mandado de Injunção como o meio pelo qual se reconhece tão somente a mora do Legislativo. Ao Judiciário caberia tão somente dar ciência desta mora para que o regulamento necessário fosse editado. Ocorre que diante do modelo constitucional adotado pela Constituição Federal de 1988, Estado Democrático de Direito, a atividade do poder público foi vinculada de modo que sua atuação deve voltar-se não apenas para a tutela, mas para verdadeira realização da dignidade da pessoa humana. Assim sendo, o Poder Judiciário ao julgar o Mandado de Injunção acaba por atuar como legislador atípico, não produzindo norma jurídica em sentido estrito, mas integrando seu sentido e completando suas inúmeras lacunas, o que faz aproximar o direito abstratamente considerado da realidade social. 1. AS QUESTÕES ACERCA DO TEMA DA OMISSÃO LEGISLATIVA A Teoria Constitucional convive de perto com o problema da eficácia das normas de uma Constituição ante a omissão legislativa em sua relação com a exigibilidade judicial dos direitos subjetivos constitucionais. Este tema tem desafiado, através dos anos, a doutrina e a jurisprudência. Sua amplitude e a variedade de questões – jurídicas e políticas – respondem pela variedade de ângulos sob os quais tem sido tratado, não só aqui no Brasil como em outros países. 3 Constituição Federal: Artigo 5º, LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 261 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Segundo Hans Kelsen4 a Constituição ocupa o vértice mais alto do ordenamento jurídico, emanando dela as demais normas que devem guardar inteira obediência ao texto constitucional. Assim, com o escopo de garantir a Constituição foram criados mecanismos destinados a impedir a permanência de normas jurídicas contrárias ao seu texto ou ao seu espírito. A Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988 introduziu no sistema jurídico o controle de inconstitucionalidade por omissão. O art. 103, § 2º, estabelece que “declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dado ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias”. Também usando o combate à omissão inconstitucional, o inciso LXXI, do artigo 5º da Constituição Federal prescreve: “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. A inconstitucionalidade debatida no Mandado por Injunção é uma inconstitucionalidade negativa, resultante da inércia do Poder Público que deixa de praticar ato exigido pela Constituição. O suprimento da omissão inconstitucional exige o desenvolvimento de técnicas jurídico-políticas superadoras dos tradicionais modelos de controle aceitos pelas democracias representativas, e, simultaneamente, a criação de técnicas estritamente jurídicas. A finalidade desse controle é clara: “tornar efetiva a norma constitucional”5. Portanto, o controle visa a realizar na sua plenitude a Constituição, isto é, dotar de eficácia plena toda norma constitucional. Pode-se perceber que o controle da inconstitucionalidade por omissão é uma manifestação avançada e democrática do controle de constitucionalidade. Entretanto, do modo como se apresenta no texto constitucional, sofre limitações que podem transformá-lo num mecanismo quase inócuo. E para combater essa inconstitucionalidade por omissão, os dois importantes institutos que foram criados pelo Constituinte originário, não podem ser confundidos. Volney Zamenhof de Oliveira Silva6 citando o Professor José Joaquim Gomes Canotilho, na sua obra 4 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. 8ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 5 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 6 SILVA, Volney Zamenhof de Oliveira. Lineamentos do Mandado de Injunção. São Paulo: RT, 1993. 262 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Direito Constitucional, denomina a inconstitucionalidade por omissão como “silêncio legislativo” e, ao tecer alguns comentários à matéria diz: As omissões legislativas inconstitucionais derivam do não cumprimento de imposição constitucional legiferantes em sentido estrito, ou seja, do não cumprimento de normas que, de forma permanente e concreta, vinculam o legislador à adoção de medidas legislativas concretizadoras da constitucionalização. (SILVA, 1993, p. 60) Já o Mandado de Injunção visa socorrer direito subjetivo concreto do particular prejudicado, em seu exercício, pela ausência de norma regulamentadora (não de outras medidas, não normativas ou materiais). Ao contrário da ação direta de inconstitucionalidade por omissão o Mandado de Injunção não visa à defesa objetiva do ordenamento jurídico. Segundo Pedro Lenza7, em relação a esses dois remédios para combater a “síndrome de inefetividade” das normas constitucionais de eficácia limitada, o Supremo Tribunal Federal tende a consolidar o entendimento de que a ação direta por inconstitucionalidade seria o instrumento para fazer um apelo ao legislador, constituindo-o em mora, enquanto o Mandado por Injunção, por seu turno, “seria o importante instrumento de concretização dos direitos fundamentais, como vem sendo percebido na jurisprudência do STF e, assim, dando um exato sentido ao art. 5º, § 1.º, que fala em aplicação imediata”. Nesse sentido: “EMENTA: Mandado de injunção. Natureza. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5.º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. Mandado de injunção. Decisão. Balizas. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. Aposentadoria. Trabalho em condições especiais. Prejuízo à saúde do servidor. Inexistência de lei complementar. Artigo 40, § 4.º, da Constituição Federal. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral — artigo 57, § 1.º, da Lei n. 8.213/91” (MI 758, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1º.07.2008, Plenário, DJE de 26.09.2008). Para J. J. Calmon de Passos8, nesse mesmo sentido, “o Mandado de Injunção não é remédio certificador de direito, sim de atuação de um direito já certificado. Seu objeto é 7 LENZA, Pedro. O mandado de injunção enquanto ação constitucional de natureza mandamental - a consolidação da posição concretista. Disponível em: http://pedrolenza.blogspot.com.br/2011/05/o-mandadode-injuncao-enquanto-acao.html. Acesso em 06 set. 2012. 8 PASSOS, J. J. Calmon de. Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção e Habeas Data: constituição e processo. Rio de Janeiro: Forense, 1989. 263 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I exclusivamente definir a norma regulamentadora do preceito constitucional aplicável ao caso concreto”. Dessa forma, os dois institutos criados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 para realizar o controle de constitucionalidade por omissão, não podem ser confundidos uma vez que apresentam características e aplicabilidade diversas, entretanto, assemelham-se por ambos lutar contra a inércia do Poder Público que desobedece aos preceitos constitucionais. 2. O MANDADO DE INJUNÇÃO O Jurista Hely Lopes Meirelles9 conceitua Mandado de Injunção como: “O meio constitucionalmente posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. O jurista José Afonso da Silva10 o define como “um remédio ou ação constitucional posto à disposição de quem se considere titular de qualquer daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas inviáveis por falta de norma regulamentadora exigida ou suposta pela Constituição”. Doutro norte o Ministro Moreira Alves11 conceituou o writ como “uma ação conferida ao cidadão titular de um direito, garantia ou prerrogativa cujo exercício esteja inviabilizado pela falta de norma regulamentadora, a qual tem necessariamente como sujeito passivo uma pessoa jurídica de direito público (Poder ou órgão omisso)”. É extremamente amplo o alcance do Mandado de Injunção, sendo que esta ação constitucional representa a ruptura dos modelos constitucionais ineficientes ou parcialmente ineficientes, vez que se entrega ao indivíduo a possibilidade de reivindicar o respeito à regra originadora ou assecuratória de direito seu, para cujo exercício requer-se norma em que a superveniência incorreu. 9 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 17ª ed. Atualizada por Arnoldo Wald. São Paulo: Malheiros, 1996. 10 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 450. 11 Brasil. Supremo Tribunal Federal. MI 107 – DF. 264 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O peso extraordinário desse remédio constitucional inserido no sistema constitucional brasileiro repousa na circunstância de que, através dele, não se manda que alguém faça ou deixe de fazer algo, mas faz-se pela própria ação e manda-se que se acate a regra constitucional e assegure-se o direito, a liberdade ou a prerrogativa. A ação de Mandado de Injunção realiza per si a integração do direito, liberdade ou prerrogativa constitucional ao fato sobre o qual deve ele se fazer valer, sem que se aguarde a norma que realizaria, se tivesse sido positivada, oportuna e celeremente, o elo entre o preceito constitucional e o exercício aspirado do direito, liberdade ou prerrogativa estatuída. O que se busca, pois, no Mandado de Injunção é que o Poder Judiciário integre a regra jurídica constitutiva ou assecuratória do direito ou prerrogativa enfocada na hipótese concreta com os elementos de que carece para que possa ter inteira aplicação e com os meios que lhe faltam para que possa ser plenamente efetivada nos termos constitucionalmente previstos e que persistem como lacunas por balda de norma prevista e que não adveio. Como ensina José Afonso da Silva12, a finalidade precípua do writ é “conferir imediata aplicabilidade à norma constitucional portadora daqueles direitos e prerrogativas, inerte em virtude de ausência de regulamentação”. Marcelo Figueiredo13 faz a seguinte leitura do artigo 5º, LXXI, da Constituição Federal de 1988: “O Poder Judiciário concederá ordem de injunção toda vez que, em razão de falta de norma jurídica, direito ou liberdade constitucional não possa ser fruído, exercido, aproveitado pelo impetrante”. Conclui-se ser mais acertada a posição defendida por Alexandre de Moraes ao dizer que as omissões que dão margem ao Mandado de Injunção são relativas às normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio institutivo e de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. Assim os requisitos para a existência da ação de Mandado de Injunção se caracterizam pela falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, ou seja, a omissão do Poder Público, e pela inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Como tal, entende-se por norma regulamentadora aquela de qualquer grau hierárquico, podendo ter a natureza de lei complementar, ordinária, regulamento, resolução, 12 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 451. 13 FIGUEIREDO, Marcelo. O mandado de injunção e a inconstitucionalidade por omissão. São Paulo: RT, 1991. p. 31. 265 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I portaria, decisões administrativas normativas, desde que sua ausência inviabilize um direito previsto constitucionalmente. Exige-se somente que tal norma tenha caráter de norma geral. Sobre os requisitos tem-se a manifestação do Supremo Tribunal Federal14 no sentido de que: A estrutura constitucional do mandado de injunção impõe, como um dos pressupostos essenciais de sua admissibilidade, a ausência de norma regulamentadora. Essa situação de lacuna técnica – que se traduz na existência de um nexo causal entre vacuum júris e a impossibilidade do exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania – constitui requisito que condiciona a própria impetrabilidade desse novo remédio instituído pela Constituição de 1988. Desta feita, o mandado de injunção, previsto no artigo 5º, inciso LXXI da Constituição do Brasil de 1988, é um dos remédios constitucionais e, segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma ação constitucional a ser utilizada em um caso concreto, individual ou coletivamente, com a finalidade principal do Poder Judiciário dar ciência ao Poder Legislativo ou Executivo sobre a ausência de norma regulamentadora que torne viável o exercício dos direitos e garantias constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 3. A NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE OS EFEITOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO Insculpido no Estado Democrático de Direito, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais inseridas na Constituição Federal, de acordo com o art. 5.º, § 1.º, da CF/88, têm aplicação imediata. O termo “aplicação”, não se confunde com “aplicabilidade”, segundo a teoria de José Afonso da Silva que classifica as normas de eficácia plena e contida como tendo aplicabilidade direta e imediata, e as de eficácia limitada possuidoras de aplicabilidade mediata ou indireta. Ter aplicação imediata, segundo definição de José Afonso da Silva, significa que as normas constitucionais são: “dotadas de todos os meios e elementos necessários à sua pronta incidência aos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas regulam. A regra é que as 14 Brasil. Supremo Tribunal Federal. MI 81-6-DF, publicado no DJU, de 25.05.90, acórdão relatado pelo Min. Celso de Mello. 266 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I normas definidoras de direitos e garantias individuais sejam de aplicabilidade imediata. Mas aquelas definidoras de direitos sociais, culturais e econômicos nem sempre o são, porque não raro dependem de providências ulteriores que lhes completem a eficácia e possibilitem sua aplicação” 15. Desta feita, “por regra, as normas que consubstanciam os direitos fundamentais democráticos e individuais são de aplicabilidade imediata, enquanto as que definem os direitos sociais tendem a sê-lo também na Constituição vigente, mas algumas, especialmente as que mencionam uma lei integradora, de eficácia limitada e aplicabilidade indireta” 16. E continua José Afonso da Silva a explicar que: “em primeiro lugar, significa que elas são aplicáveis até onde possam, até onde as instituições ofereçam condições para seu atendimento. Em segundo lugar, significa que o Poder Judiciário, sendo invocado a propósito de uma situação concreta nelas garantida, não pode deixar de aplicá-las, conferindo ao interessado o direito reclamado, segundo as instituições existentes”17. Com relação à eficácia dos julgamentos do Mandado de Injunção, uma questão que muito certamente provocou a recalcitrância do Pretório Excelso em dar a devida interpretação ao writ diz respeito à tripartição dos poderes, esculpida no art. 2º da Constituição Federal de 1988. Durante anos pairou sobre o Supremo Tribunal Federal a ideia de que o Judiciário estaria usurpando função que é própria do Legislativo ao manifestar-se efetivamente sobre o Mandado de Injunção. Entretanto, outra não foi a vontade do Constituinte senão a de que o Judiciário, por meio da equidade, que é a marca registrada do Mandado de Injunção, solucionasse o caso concreto criando a norma. O esquema inicial rígido, pelo qual uma dada função corresponderia a um único órgão, foi substituído por outro onde cada poder, de certa forma, exercita as três funções jurídicas do Estado: uma com caráter dominante e as outras duas de maneira excepcional ou em caráter meramente subsidiário daquele. Assim, constata-se que os órgãos estatais não exercem simplesmente as funções próprias, mas desempenham também funções denominadas atípicas, ou próprias de outros órgãos. Com relação ao Mandado de Injunção, “não vislumbramos nenhum óbice em atipicamente, o Poder Constituinte Originário conceder atribuições ao Poder Judiciário para, 15 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição, Malheiros, 6ª ed., p. 408. Idem. p. 409. 17 Idem. p. 409. 16 267 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I supletivamente, no caso concreto, criar a norma regulamentadora individual e possibilitar a fruição do direito por parte do interessado18”. Por outro lado, desde a promulgação da Constituição de 1988, instalou-se uma grande discussão em torno da amplitude desta nova ação constitucional. A importância desse debate extrapola os círculos acadêmicos e forenses e sua peculiar erudição. Ao se discutir o Mandado de Injunção está-se levantando a questão do papel do Poder Judiciário no bem estar e efetivação dos direitos fundamentais quando se mostrar omisso o Estado. Consoante brilhante definição da Ministra Cármen Lúcia19, no julgamento de vários Mandados de Injunção “o mandado de injunção é ação constitucional de natureza mandamental, destinada a integrar a regra constitucional ressentida, em sua eficácia, pela ausência de norma que assegure a ela o vigor pleno”. Sendo o mandado de injunção ação constitucional de natureza mandamental, ao julgá-lo o Supremo Tribunal tem a obrigação de proferir suas decisões no sentido de dar maior alcance e efetivação aos direitos fundamentais até então inexistentes por omissão normativa. Segundo Pedro Lenza20, “qualquer outro entendimento geraria o mais nefasto sentimento de frustração e desprestígio aos direitos fundamentais, reduzindo a importante conquista do MI a um nada”. Ocorre que não é pacífica, nem entre a doutrina ou jurisprudência, a natureza do Mandado de Injunção e a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Percebe-se na evolução jurisprudencial do Pretório Excelso, que se confunde também com a evolução doutrinária, o surgimento de algumas correntes que foram se formando acerca de qual seria a atividade desempenhada pelo Poder Judiciário nesse writ. O Professor Marcelo Novelino21 expõe com clareza a controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca do assunto, indicando as quatro correntes existentes: a) Posição concretista geral: a ausência de norma regulamentadora autoriza o suprimento da omissão pelo Poder Judiciário com efeito erga omnes, por meio da elaboração de norma geral. Esse entendimento não possui grande aceitação doutrinária por conflitar com o princípio da separação dos poderes (“legislador positivo”). Se nem a Ação Direta de 18 MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. Mandado de Injunção – Um Instrumento de Efetividade da Constituição. São Paulo: Atlas, 1999. p 122. 19 Brasil. Supremo Tribunal Federal: MI 828/DF, MI 841/DF, MI 850/DF, MI 857/DF, MI 879/DF, MI 905/DF, MI 927/DF, MI 938/DF, MI 962/DF, MI 998/DF. 20 LENZA, Pedro. O mandado de injunção enquanto ação constitucional de natureza mandamental - a consolidação da posição concretista. Disponível em: http://pedrolenza.blogspot.com.br/2011/05/o-mandadode-injuncao-enquanto-acao.html. Acesso em 06 set. 2012. 21 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Método, 2008. 268 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Inconstitucionalidade por Omissão, instrumento de controle abstrato, possui esta eficácia, não faria sentido que o Mandado de Injunção, instrumento de controle concreto, pudesse produzila. No entanto, em decisões recentes acerca do direito de greve dos servidores públicos, esta foi a corrente adotada pela maioria dos Ministros do STF, como se poderá ver adiante no voto do Min. Gilmar Mendes. b) Posição concretista individual: o Judiciário deve criar a norma para o caso específico, tendo a decisão efeito inter partes. Havendo a ausência de norma regulamentadora o próprio tribunal irá suprir a lacuna e implementar a eficácia da norma. É a posição adotada pela maioria da doutrina pátria, como é o caso do professor Novelino e também por alguns Ministros do STF, como é o caso do Min. Marco Aurélio. c) Posição não concretista: o Poder Judiciário deve apenas reconhecer formalmente a inércia e comunicar a omissão ao órgão competente para elaboração da norma regulamentadora. Todavia, isso não significa que o Mandado de Injunção não produza qualquer efeito de ordem prática, uma vez que, fixada a mora do poder competente, poderá o impetrante ajuizar uma ação de reparação patrimonial para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da omissão. Ao adotar este posicionamento, o que se fez durante vários anos, o STF confere ao Mandado de Injunção o mesmo efeito da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, não admitindo, por conseguinte, o cabimento de medida liminar. d) Posição concretista intermediária: o Poder Judiciário deve, em um primeiro momento, comunicar a omissão ao órgão competente para a elaboração da norma regulamentadora, fixando um prazo para supri-la. Expirado o prazo, caso a inércia permaneça, o impetrante poderá exercer o direito conforme as condições fixadas na decisão. A posição até então dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era a não concretista, sendo inúmeros os julgados no sentido de que o efeito das decisões em sede do Mandado de Injunção era tão-só declarar a mora do Poder Público para que tome as providências cabíveis, como se pode observar pela leitura do julgado abaixo: O novo ‘writ’ constitucional, consagrado pelo art. 5º, LXXI, da Carta Magna, não se destina a constituir direito novo, nem a ensejar ao Poder Judiciário o anômalo desempenho de funções normativas que lhe são institucionalmente estranhas. O Mandado de Injunção não é o sucedâneo constitucional das funções políticojurídicas atribuídas aos órgãos estatais inadimplentes. A própria excepcionalidade desse novo instrumento jurídico ‘impõe’ ao Judiciário o dever de estrita observância do princípio constitucional da divisão funcional do poder. Reconhecido o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional – único destinatário do comando para satisfazer, no caso, a prestação legislativa reclamada – e considerando que, embora previamente cientificado no MI n. 283, rel. Min. Sepúlveda Pertence, absteve-se de 269 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I adimplir a obrigação que lhe foi constitucionalmente imposta, tornando-se prescindível nova comunicação à instituição parlamentar, assegurando-se aos impetrantes, desde logo, a possibilidade de ajuizarem, imediatamente, a ação de reparação de natureza econômica instituída em seu favor pelo preceito transitório22. O acórdão paradigmático dessa posição é o proferido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do Mandado de Injunção nº 107 – DF, que por ora transcrevemos sua ementa: EMENTA: MI. ESTABILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ART. 24, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE LEGITIMAÇÃO PARA AGIR – Esta Corte, recentemente, ao julgar o MI 188, decidiu por unanimidade que só tem ‘legitimatio ad causam’ em se tratando de mandado de injunção, quem pertença a categoria a que a Constituição Federal haja outorgado abstratamente um direito, cujo exercício esteja obstado por omissão com mora na regulamentação daquele. – Em se tratando, como se trata, de servidores públicos militares, não lhes concedeu a Constituição Federal direito a estabilidade, cujo exercício dependa de regulamentação desse direito, mas, ao contrário, determinou que a lei disponha sobre a estabilidade dos servidores públicos militares, estabelecendo quais os requisitos que estes devem preencher para que adquiram tal direito. – Precedente do STF: MI 235. Mandado de Injunção não conhecido23. Decidindo dessa forma, o Supremo Tribunal Federal mostra que adotou efeitos idênticos aos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, tornando inócuo, impraticável e inaplicável o Mandado de Injunção. Mais acertado foi o entendimento do Min. Marco Aurélio24, que salientou, in verbis: “... a meu ver, deve viabilizar o exercício, em si, do direito, porque senão de Mandado de Injunção não se tratará, nem, tampouco, de sentença harmônica com esse instituto, mas de uma sentença pertinente à ação direta de inconstitucionalidade por omissão...”. Com isso, no MI 232-1 vieram os primeiros avanços. O writ tratou da isenção de contribuições para a seguridade social, garantida às entidades beneficentes, pelo § 7º do art. 195 da Constituição Federal de 1988, desde que atendidas as “exigências estabelecidas em lei”. Sucede que o art. 59 do ADCT fixou o prazo máximo de seis meses para que o Executivo apresentasse os projetos de lei, e mais seis meses para que o Congresso os apreciasse. Como de hábito, os prazos não foram respeitados, e o Supremo Tribunal Federal avançou decidindo no sentido de, não apenas declarar a mora do Congresso Nacional, como até então acontecia, mas fixar-lhe um novo prazo (de seis meses) e fazê-lo com um provimento cominatório: 22 Brasil. Supremo Tribunal Federal. MI 284 – DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 26/06/1992. Brasil. Supremo Tribunal Federal. MI 107/DF; Rel. Min. Moreira Alves. DJU 02/08/91. 24 Brasil. Supremo Tribunal Federal. MI 232. Rel. Min. Moreira Alves – DJ 27/03/92. 23 270 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I “vencido o prazo sem que essa obrigação se cumpra, passará o requerente a gozar da imunidade pleiteada”. Entende o Ministro Moreira Alves25, in verbis: “... Peço vênia para entender que o Mandado de Injunção tem desfecho concreto, não implica simplesmente uma vitória de pirro para o impetrante. O Mandado de Injunção deve viabilizar o exercício de direito previsto na Carta...”. Atualmente, esta é a posição que vem recebendo maior aceitação no âmbito doutrinário ao reconhecer que é tarefa do Poder Judiciário criar, para o caso levado a sua apreciação, norma individual com validade e eficácia inter partes. Apesar disso, algumas críticas também vêm sendo opostas com relação a esta posição, residindo na circunstância de que a regulamentação somente para o caso concreto possivelmente implicaria em risco ao princípio da isonomia e, também, ser de difícil compatibilização com a função desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, foi nesse sentido que o Supremo passou a discutir o verdadeiro papel do Poder Judiciário na concretização dos direitos previstos nas normas de eficácia limitada à luz dos princípios da Separação dos Poderes, da supremacia da Constituição, e da máxima efetividade e força normativa das normas constitucionais. E, felizmente, parece que o Supremo Tribunal Federal tem caminhado no sentido de dar concretude aos direitos constitucionais previstos ao concluir o julgamento de três Mandados de Injunção – MI 670, MI 708 e MI 712, adotando a posição concretista geral para garantir o exercício do direito de greve dos servidores públicos. Imprescindível que se transcreva aqui excertos do brilhante voto do Min. Celso de Mello dado no MI 712-PA que traduz muito bem toda essa evolução pela qual passou o instituto do Mandado de Injunção: Decorridos quase 19 (dezenove) anos da promulgação da vigente Carta Política, ainda não se registrou - no que concerne à norma inscrita no art. 37, VII, da Constituição - a necessária intervenção concretizadora do Congresso Nacional, que se absteve de editar, até o presente momento, o ato legislativo essencial ao desenvolvimento da plena eficácia jurídica do preceito constitucional em questão, não obstante esta Suprema Corte, em 19/05/1994 (há quase 13 anos, portanto), ao julgar o MI 20/DF, de que fui Relator, houvesse reconhecido o estado de mora (inconstitucional) do Poder Legislativo da União, que ainda subsiste, porque não editada, até agora, a lei disciplinadora do exercício do direito de greve no serviço público. Registra-se, portanto, quase decorrido o período de uma geração, clara situação positivadora de omissão abusiva no adimplemento da prestação legislativa imposta, pela Constituição da República, ao Congresso Nacional. 25 Brasil. Supremo Tribunal Federal. MI 232. Rel. Min. Moreira Alves – DJ 27/03/92. 271 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Na realidade, o retardamento abusivo na regulamentação legislativa do texto constitucional qualifica-se - presente o contexto temporal em causa - como requisito autorizador do ajuizamento da ação de mandado de injunção, pois, sem que se configurasse esse estado de mora legislativa – caracterizado pela superação excessiva de prazo razoável -, não haveria como reconhecer-se ocorrente, na espécie, o próprio interesse de agir em sede injuncional, como esta Suprema Corte tem advertido (RTJ 158/375, Rel. p/ o acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE) em sucessivas decisões: "MANDADO DE INJUNÇÃO. (...). PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DO MANDADO DE INJUNÇÃO (RTJ 131/963 – RTJ 186/20-21). DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO/DEVER ESTATAL DE LEGISLAR (RTJ 183/818819). NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA (RTJ 180/442). CRITÉRIO DE CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE INÉRCIA LEGIFERANTE: SUPERAÇÃO EXCESSIVA DE PRAZO RAZOÁVEL (RTJ 158/375). (...)." (MI 715/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, "in" Informativo/STF nº 378, de 2005) O caso em exame, como precedentemente acentuado, revela – considerada a superação irrazoável do lapso temporal já decorrido – um retardamento abusivo do dever estatal de legislar sobre a espécie ora em análise. Essa omissão inconstitucional do Poder Legislativo, derivada do inaceitável inadimplemento do seu dever de emanar regramentos normativos - encargo jurídico que foi imposto ao Congresso Nacional pela própria Constituição da República - encontra, neste "writ" injuncional, um poderoso fator de neutralização da inércia legiferante e da abstenção normatizadora do Estado. O mandado de injunção, desse modo, deve traduzir significativa reação jurisdicional, fundada e autorizada pelo texto da Carta Política que, nesse "writ" processual, forjou o instrumento destinado a impedir o desprestígio da própria Constituição, consideradas as graves conseqüências que decorrem do desrespeito ao texto da Lei Fundamental, seja por ação do Estado, seja, como no caso, por omissão - e prolongada inércia - do Poder Público. Não obstante atribuísse, ao mandado de injunção, desde o meu ingresso neste Supremo Tribunal, a relevantíssima função instrumental de superar, concretamente, os efeitos lesivos decorrentes da inércia estatal - posição que expressamente assumi, nesta Suprema Corte, no MI 164/SP, de que fui Relator (DJU de 24/10/89) -, devo reconhecer que a jurisprudência firmada na matéria pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal orientou-se, de modo claramente restritivo, em sentido diverso. A jurisprudência que se formou no Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do MI 107/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES (RTJ 133/11), fixou-se no sentido de proclamar que a finalidade, a ser alcançada pela via do mandado de injunção, resume-se à mera declaração, pelo Poder Judiciário, da ocorrência de omissão inconstitucional, a ser meramente comunicada ao órgão estatal inadimplente, para que este promova a integração normativa do dispositivo constitucional invocado como fundamento do direito titularizado pelo impetrante do "writ". Esse entendimento restritivo não mais pode prevalecer, sob pena de se esterilizar a importantíssima função político-jurídica para a qual foi concebido, pelo constituinte, o mandado de injunção, que deve ser visto e qualificado como instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas, em sua eficácia, pela inaceitável omissão do Congresso Nacional, impedindo-se, desse modo, que se degrade a Constituição à inadmissível condição subalterna de um estatuto subordinado à vontade ordinária do legislador comum. (...) Por tais razões, Senhora Presidente, peço vênia para acompanhar os doutos votos dos eminentes Ministros EROS GRAU (MI 712/PA) e GILMAR MENDES (MI 670/ES), em ordem a viabilizar, desde logo, nos termos e com as ressalvas e temperamentos preconizados por Suas Excelências, o exercício, pelos servidores públicos civis, do direito de greve, até que seja colmatada, pelo Congresso Nacional, 272 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I a lacuna normativa decorrente da inconstitucional falta de edição da lei especial a que se refere o inciso VII do art. 37 da Constituição da República26. Esse novo posicionamento do STF se deve principalmente ao fato de que entre os anos de 2000 e 2006 oito Ministros da Suprema Corte se aposentaram, sendo substituídos por novos Ministros, com pensamentos, posicionamentos e princípios diversos dos seus antecessores. Percebe-se, portanto, a nítida preocupação dos membros atuais da Corte em não permitir que os dispositivos constitucionais se degradem a ponto de deixar sua eficácia subalterna à vontade do legislador ordinário. A orientação no sentido de que houve violação da separação dos poderes não merece respaldo. Ora, os ministros do STF estão diante de duas opções: ou permitem que o Legislativo e a União continuem a não regulamentar a Constituição mesmo depois de vinte anos de sua promulgação, ou passam a dar aplicabilidade a um instituto previsto na própria Constituição, mas que não foi regulamentado. CONSIDERAÇÕES FINAIS A Constituição Federal de 1988 sendo dirigente e aberta, contendo, portanto, grande número de normas destituídas de aplicabilidade imediata e direta, preocupa-se em estabelecer mecanismos para a resolução da questão da inconstitucionalidade por omissão. Para combater a omissão inconstitucional, no âmbito das técnicas estritamente jurídicas, o Texto Constitucional introduziu duas importantíssimas inovações de natureza processual no ordenamento jurídico brasileiro: a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, prevista no § 2º do art. 103, e, a Ação de Mandado de Injunção, encartada no inciso LXXI do art. 5º. Estes dispositivos devem ser interpretados à luz do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. O Mandado de Injunção é instrumento de defesa de direito subjetivo, de legitimação ativa ampla e aberta. Todo e qualquer indivíduo, desde que faça jus ao direito que embasa a pretensão, é parte legítima para impetrar o Mandado de Injunção. Por outro lado, o mesmo só pode ser impetrado contra pessoa jurídica de direito público, quando esta for a competente para expedição da norma faltante. O objetivo do writ é a satisfação de direito ou liberdade obstada pela falta de norma regulamentadora. Por isto, a decisão reconhecendo a pretensão 26 Brasil. Supremo Tribunal Federal. MI 712-PA. Relator: Min. Eros Grau. 273 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I realiza concretamente em favor do impetrante o direito, liberdade ou prerrogativa, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o seu exercício. Apesar de contrariar a maior parte da doutrina pátria, o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pela guarda da Constituição, acabou por assumir durante anos a fio posição que assimilava os dois instrumentos, inutilizando, na prática, o novo instituto constitucional de defesa de direitos subjetivos – o Mandado de Injunção. No entanto, no decorrer dos últimos anos parece que o entendimento está mudando, passando o mesmo a dar a real e verdadeira aplicabilidade ao instrumento da forma como foi criado pela Constituição. No entanto, em que pese os grandes avanços verificados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se pode esquecer que ainda existem resistências à aceitação do instituto do Mandado de Injunção como remédio para a viabilização judicial do exercício de direitos subjetivos obstados pela ausência de norma regulamentadora em todo e qualquer caso. Contudo, persistirá sempre o anseio de que os avanços continuem aparecendo e que se tornem, realmente, o posicionamento dominante e consistente na Corte Suprema e em todo o Poder Judiciário do país. E que a normatividade e efetividade da Constituição Federal de 1988 sejam garantidas para que os direitos humanos possam, verdadeiramente, ser assegurados de forma concreta para todos. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRASIL, Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Sítio eletrônico: http://www.stf.gov.br/portal/jurisprudencia. Diversos julgados. FIGUEIREDO, Marcelo. O mandado de injunção e a inconstitucionalidade por omissão. São Paulo: RT, 1991. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 11ª ed. São Paulo: Método, 2007. LENZA, Pedro. O mandado de injunção enquanto ação constitucional de natureza mandamental - a consolidação da posição concretista. Disponível em: 274 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I http://pedrolenza.blogspot.com.br/2011/05/o-mandado-de-injuncao-enquanto-acao.html. Acesso em 06 set. 2012. MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. Mandado de Injunção – Um Instrumento de Efetividade da Constituição. São Paulo: Atlas, 1999. MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 17ª ed. Atualizada por Arnoldo Wald. São Paulo: Malheiros, 1996. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Método, 2008. PASSOS, J. J. Calmon de. Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção e Habeas Data: constituição e processo. Rio de Janeiro: Forense, 1989. ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. O Mandado de Injunção na ordem constitucional brasileira. Revista Análise e Conjuntura, Belo Horizonte: v. 3, n. 3, p. 12-19, set./out. 1988. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000. SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. Malheiros. 6ª ed. São Paulo: Malheiros. SILVA, Volney Zamenhof de Oliveira. Lineamentos do Mandado de Injunção. São Paulo: RT, 1993. 275 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I MANIFESTANTES CONTRA OS DESSUJEITADOS: CONSTRANGIMENTOS A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NORMALIZADORES DO PRÓPRIO ESTADO. UNBOUND PROTESTERS: THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION AGAINST THE REGULATORY CONSTRAINTS OF THE STATE ITSELF. RESUMO: O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que manifestações favoráveis à descriminalização ou legalização do uso de qualquer substância entorpecente em eventos públicos não configuram apologia de crime (ADPF 187), nem instigação ao uso indevido de drogas (ADI 4274). O fato da maioria da população brasileira se manifestar contrária à legalização do uso da maconha revela a potência normalizadora (disciplinar/biopolítica) da sociedade contemporânea, e demonstra que o direito e norma nem sempre estão imbricados no plano das práticas. No plano dos direitos fundamentais, o direito pode emancipar o sujeito dos constrangimentos normalizadores do próprio Estado. A reflexão sobre o desenvolvimento da democracia constitucional demonstra que a tensão entre constitucionalismo e democracia que se desenvolve no Estado Democrático de Direito brasileiro não decorre tanto do atual estágio democrático, mas do incremento na proteção dos direitos fundamentais que se desenvolve na função contramajoritária da jurisdição constitucional. PALAVRAS-CHAVE: LIBERDADE. NORMALIZAÇÃO. DIREITO. ESTADO. ABSTRACT: The Supremo Tribunal Federal (STF) has declared that demonstrations in favor of the decriminalization or legalization of any narcotic substance use at public events constitute neither condoning crime (ADPF 187), nor incitement to drug abuse (ADI 4274). The fact that points most of the Brazilian population to be against the legalization of marijuana shows the normalizing (disciplinary/biopolical) power of the contemporary society, and demonstrates that the law and norm are not always imbricated in terms of practices. In terms of fundamental rights, the law can emancipate the subject from normalizing constraints of the state itself. The reflection on the development of constitutional democracy demonstrates that the tension between constitutionalism and democracy which is developed in a democratic state does not follow as much the Brazilian current democratic stage, but the increase in the fundamental rights protection developed in the function against majority of the constitutional jurisdiction. 276 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I KEY WORDS: FREEDOM. NORMALIZATION. LAW. STATE. “Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja a vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Me embriagar até que alguém me esqueça.” (Chico Buarque e Gilberto Gil) Luciano Machado de Souza INTRODUÇÃO Analisando “O Poder entre o Direito e a “Norma”: Foucault e Deleuze na Teoria do Estado”, Ricardo Marcelo Fonseca sustenta que a melhor leitura do legado foucaultiano não revela incompatibilidade entre o direito (o poder do Estado) e as normas (disciplinas e biopoder): “Assim, entre ‘norma’ e direito não há incompatibilidade, mas sim diferença e, eventualmente, até mesmo implicação” (2004, p. 276). Nesse sentido, destaca a explicação da relação que Marcio Alves da Fonseca faz dos mundos “normativo” e “jurídico” na obra de Foucault, cuja contraposição do “plano conceitual” (que possibilita demarcação das estratégias de normalização diante da lei) não se revela no “plano das práticas” (no qual ambos atuam de modo imbricado). Mas, adverte: Aceitamos as ponderações desse autor – lastreadas num competente e completo trabalho que incluiu até mesmo todos os cursos inéditos de Foucault no Collège de France – apenas com um necessário esclarecimento: como dito logo a seguir, nem sempre (embora frequentemente) o direito e a norma atuam imbricados no plano das práticas. Existem circunstâncias em que o direito atua independentemente da norma (como existem circunstâncias em que a norma atua independentemente do direito). Por exemplo, o Direito do Trabalho, eventualmente, ao estabelecer limites à ‘subordinação jurídica’ do patrão, pode assumir um caráter de sujeição dos trabalhadores, como o Direito Constitucional, ao estabelecer normas e princípios que envolvem direitos fundamentais, pode também cumprir uma função de emancipação diante de constrangimentos normalizadores levados a efeito pelo próprio Estado. (FONSECA, 2004, p. 277, nota de rodapé nº 48). Mestre e Doutorando em Direito do Estado pela UFPR (Orientador: Prof. Dr. Fabricio Ricardo de Limas Tomio). Professor na Faculdade de Ciências Sociais de Cascavel (UNIVEL) e na Escola da Magistratura do Paraná (EMAP) - Núcleo de Cascavel. Promotor de Justiça em Cascavel-PR. 277 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Essa potência emancipatória atribuída ao plano constitucional revela um ângulo do poder do Estado (o direito) que pode garantir autonomia (liberdade) ao “sujeito real, de carne e osso” (FONSECA, 2004, p. 280) tão “disciplinado”, “controlado” ou “normalizado” na sociedade contemporânea, conforme já anunciavam Foucault, Deleuze e também Agamben. Aceitar a provocação de Agamben sobre a contemporaneidade1 implica enxergar nas sombras da complexa articulação das estruturas totalizadoras a possibilidade do Estado-Juiz exercer o poder para proteger o “sujeito real” das formas de controle e sujeição à qual está submetido, aproveitando-se das próprias ferramentas do paradigma dominante. Sair da inércia, e pensar o poder para além do Estado – conforme instiga Fonseca (2004, p. 280) –, impõe que o jurista contemporâneo perceba os escuros dentro das luzes ofuscantes do próprio tempo, como instrumento de rompimento e (concomitantemente) ligação da própria época (AGAMBEM, 2009, p. 61). Ou, como sugere Boaventura de Sousa Santos, implica “des-pensar” o direito em ambiente de “desconstrução total, mas não niilista, e uma reconstrução descontínua, mas não arbitrária” (SANTOS, 2009, p. 186); liberto da indolência e compromissado com a experiência2, o jurista pode contribuir para a emergência da subjetividade “capaz de explorar, e de querer explorar, as possibilidades emancipatórias da transição paradigmática”: Tal é a subjectividade emergente: por um lado, tem de se conhecer a si mesma e ao mundo através do conhecimento-emancipação, recorrendo a uma retórica dialógica e a uma lógica emancipatória; por outro lado, tem de ser capaz de conceber e desejar alternativas sociais assentes na transformação das relações de poder em relações de autoridade partilhada e na transformação das ordens jurídicas despóticas em ordens jurídicas democráticas. Em suma, há que se inventar uma subjectividade constituída pelo topos de um conhecimento prudente para uma vida decente. (SANTOS, p. 345). 1 Ei-la “Isso significa que o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do presente, nele aprende a resoluta luz; é também aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de “citá-la” segundo uma necessidade que não provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não pode responder. É como se aquela invisível luz, que é o escuro do presente, projetasse a sua sombra sobre o passado, e este, tocado por esse facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora.” (AGAMBEN, 2009, p. 72). 2 Nas palavras do autor: “Neste volume, a razão criticada é uma razão cuja indolência ocorre por duas vias aparentemente contraditórias: a razão inerme perante a necessidade que só ela pode imaginar como lhe sendo exterior; a razão displicente que não sente necessidade de se exercitar por se imaginar incondicionalmente livre e, portanto, livre da necessidade de provar a sua liberdade. Bloqueada pela impotência auto-inflingida e pela displicência, a experiência da razão indolente é uma experiência limitada, tão limitada quanto a experiência do mundo que procura fundar. É por isso que a crítica da razão indolente é também uma denúncia do desperdício da experiência. Numa fase de transição paradigmática, os limites da experiência fundada na razão indolente são particularmente grandes, sendo correspondentemente maior o desperdício da experiência. É que a experiência limitada ao paradigma dominante não pode deixar de ser uma experiência limitada deste último.” (SANTOS, 2009, p. 42) 278 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Vislumbrando que a complexa ruptura-ligadora ou desconstrução-reconstrutiva não dispensa liberdade de manifestação/expressão e reunião, este trabalho objetiva demonstrar que, na proteção desses direitos fundamentais, a jurisdição constitucional só pode ser emancipatória, sem qualquer função “normalizadora”. O desenvolvimento da democracia constitucional, sob as lentes de Pietro Costa, permitirá colocar os julgamentos da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 187 (ADPF 187) e da ação direta de inconstitucionalidade nº 4274 (ADI 4274) como paradigmas para um constitucionalismo capaz de desobstruir os canais de manifestação afetados pelo poder regulamentador do Estado. 1 DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, OU ESTADO DEMOCRÁTICO- CONSTITUCIONAL: UMA LEITURA DE PIETRO COSTA. Conrado Hübner Mendes (2008, p. 3) define a Constituição do liberalismo como “um texto normativo” destinado à proteção da autonomia individual das “ingerências externas”, no qual não podem faltar a separação de poderes e o elenco dos direitos individuais que conformam a cidadania. A junção desses requisitos com o sufrágio universal e o sistema representativo viabiliza a democracia constitucional, na qual o Parlamento é responsável pela elaboração das leis (segundo vontade da maioria) que marca o Estado de Direito. Tal atividade parlamentar, contudo, está sujeita ao controle de constitucionalidade confiado ao Poder Judiciário, que alimenta o debate sobre a “última palavra” nas controvérsias estruturais do sistema político. Destacando as dificuldades da teoria jurídica no enfrentamento do desconforto institucional causado pela limitação da potência da maioria, reconhece necessidade de enfrentamento do tema pela teoria política: Controle jurisdicional de constitucionalidade e supremacia da Constituição (ou proteção dos direitos fundamentais) passaram a ser vistos como interdependentes, faces de uma mesma moeda. Essa foi a operação conceitual mais bem-sucedida da teoria constitucional contemporânea. Em síntese, pode-se ordenar logicamente esse conhecido argumento nos seguintes passos: a catarse democrática não poderia colocar direitos fundamentais em risco; a rigidez constitucional é justificada como um anteparo que arrefece os ânimos do legislador e garante a estabilidade e a justiça substantiva da própria democracia; assim, tais direitos ficam imunes ao capricho da maioria. (MENDES, p. 13). Para Pietro Costa (2010, p. 241 et seq.), o problema da relação entre “democracia política” e “Estado constitucional” (disjunção de “democracia constitucional”) remete ao 279 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I clima histórico do segundo pós-guerra, no qual o colapso dos regimes totalitários permitiu a emergência de um “novo constitucionalismo”, com uma democracia compromissada com os direitos fundamentais que devem ser tutelados pelo “Estado democrático-constitucional”, que não pode descurar da soberania popular (demos). Questionando-se sobre o sentido e a densidade das tensões que caracterizavam as relações entre os componentes originários da expressão “democracia constitucional”, Costa aponta tradições histórico-culturais que permitiram a formulação do conceito. Nessa empreitada, destaca que a palavra “democracia” percorre a cultura ocidental desde a Grécia antiga, mas o sentido positivo que lhe foi atribuído planetariamente é recente, posto que por muito tempo era atrelado ao regime desequilibrado no qual muitos (pobres) predominavam sobre poucos (ricos) e que superou o governo “misto” que combinava a supremacia de “poucos” com a exigência de “muitos”, ao qual se creditava o controle da massa anárquica e irracional (multitudo bestialis) insubmissa a vínculos e ordem (plebs). Atribuindo a Marsilio di Padova a leitura alternativa da Política (Aristóteles) que possibilitou afirmar a superioridade dos “muitos” e a lei como emanação do legislador (povo inteiro), destaca que o povo daquele tempo (de Marsilio) não significava a soma de iguais que os modernos associaram à democracia, mas “uma entidade coletiva internamente diferenciada e estruturada”. Depois, a democracia dos modernos pressupunha o protagonismo do sujeito que alcança e compromete toda a cultura político-jurídica dos seis-setecentos. O nascedouro da democracia moderna não é a forma de governo, mas o próprio processo de fundação da ordem política, desde uma antropologia individualística (do sujeito!). “A ideia de autogoverno de um povo composto de indivíduos livres e iguais” é o traço característico da democracia moderna, teorizado por Rousseau no processo de fundação da ordem política. Tal soberania é plena e incondicionada: “o soberano, pelo simples fato de ser, é sempre tudo aquilo que deve ser”. Porém, o indivíduo não menos que o soberano e os direitos civis (antes naturais) ganham a “exigibilidade” da qual eram desprovidos. A onipotência do povo soberano e o pertencimento do singular ao corpo político torna cada indivíduo, ao mesmo tempo, súdito e cidadão3. 3 Fioravanti (2009, p. 62, tradução nossa) destaca a diferença de concepção da soberania nos arranjos americano e europeu-continental: “Há um ponto de vista a partir do qual é possível reassumir toda matéria até aqui examinada e que é comum a dois aspectos considerados da supremacia da constituição e da cidadania. Trata-se do princípio de soberania que é, certamente, representado como o princípio do modelo constitucional europeucontinental. É o princípio que impõe uma concessão monística da vontade popular, sempre igual a si mesma. É este o mesmo princípio que impede de levar em consideração aquilo que se refere à cidadania, a hipótese da coexistência constitucionalmente regulada, de uma pluralidade de membros. Do modelo constitucional da 280 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Os direitos entraram na modernidade através do paradigma jusnaturalista de Hugo Grotius: um conjunto de prerrogativas ligadas à esfera essencial e intangível (o proprium) de cada indivíduo (vida, liberdade, honra). Locke tratou desse property como direito e liberdade de autoconservação, de apropriação das coisas externas pelo trabalho, de transformação do mundo e multiplicação de bens. Essa “liberdade-propriedade” lockeana serve como expressão jurídica da subjetividade e, concomitantemente, como base da ordem social e condição de legitimidade do esquema político-jurídico: “legítimo enquanto respeitoso dos direitos naturais de liberdade-propriedade, e funcional à sua tutela e ao seu respeito”. A common law, como ordem normativa contínua e imemoriável que prevalecia sobre a vontade do rei, era outro instrumento protetivo dos direitos desde a fundação do constitucionalismo inglês pelo Lord Coke. Liberdade e propriedade como prerrogativas essenciais e irrenunciáveis do indivíduo e, ao mesmo tempo, como base da ordem racional, era a expressão de direitos da cultura jusnaturalista que encontra a revolução francesa, inaugurada simbolicamente com uma “Declaração de direitos” (ato de reconhecimento e declaração dos direitos que a própria natureza atribuiu aos homens) que estrutura basicamente a nova ordem (a partir da liberdade e da propriedade). Democracia e direitos se cruzaram na modernidade: o poder constituinte torna o povo (soma de sujeitos juridicamente iguais) titular da soberania e os direitos naturais fundamentaram a nova ordem; poder constituinte, constituição e direitos fundamentais (denominados “civis”) se relacionavam em estreita complementaridade: “a sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinadas, não tem Constituição” (Declaração de direitos de 1789). Só seria Constituição o documento que estruturasse a ordem ao redor dos direitos fundamentais dos sujeitos. Essa circunstância permitia afirmar relação de continuidade entre o constitucionalismo do fim do século XVIII e aquele da segunda metade do século XX, remontando às revoluções americana e francesa a síntese do Estado “democrático-constitucional”. O quadro revolucionário se complica quando se considera a forte tensão que decorria da coexistência (contraditória) dos “absolutos” soberania do povo e direitos fundamentais dos sujeitos, e se agrava com a entrada em cena dos direitos políticos (liberdade-participação) que rompem com a tradicional dependência da liberdade-propriedade. As divergentes experiência americana, pela falta do princípio de soberania peculiar no modelo europeu-continental, essa mesma hipótese da coexistência torna-se praticável no plano da cidadania, assim como, pelo mesmo motivo, pelo plano da constituição como norma jurídica, torna-se possível a supremacia da constituição, justamente porque o povo não é sempre soberano, mas é, às vezes, e só às vezes, gerador da constituição e às vezes, ao contrário, com bastante frequência, e de uma forma diferente, simplesmente gerador da concepção política, e de legisladores de tempos em tempos legitimados, mas sempre no interior da constituição já dada.” 281 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I interpretações das igualdades políticas já indicavam as dificuldades de conciliação “democrática” da soberania popular com os direitos fundamentais – ambos absolutos! A derivação despótica da revolução francesa (o jacobinismo) demonstrou a força e o perigo do poder no confronto com os direitos individuais, destacando contrastes entre os direitos civis (que fundavam a ordem político social) e o poder necessário para manutenção da ordem (tendente ao despotismo e à prevaricação). Defender os direitos do poder significava defender a liberdade e a igualdade, ideais revolucionários representativos de civilidade. A igualdade, porém, devia ficar precisamente limitada: “coincide com a igual capacidade de se tornar titular de direitos e não deve ter relação com o nivelamento das diferenças políticas e econômico-sociais”. Só a igualdade “jurídica” era compatível com a liberdade. Se, contudo, a igualdade servisse para atribuição de direitos políticos para todos os sujeitos, a compatibilidade com a liberdade-propriedade vira problema: a igualdade do direito de voto colocaria não proprietários no parlamento, possíveis destruidores da liberdade-propriedade “da qual dependem os destinos progressivos da civilidade moderna”. “A democracia, enquanto forma de igualdade política dos sujeitos, é incompatível com a liberdade”; a igualdade radical inviabiliza a estabilidade e legitimidade da ordem centrada na liberdade e propriedade. Não basta que o poder seja “popular” para ser “bom”, posto que a maioria pode se tornar tirânica afetando direitos fundamentais dos indivíduos. A democracia que impõe igualdade indiscriminada, dando poder aos privados de “qualidade” (propriedade), ameaça os direitos fundamentais e subverte os direitos; o poder do demos é tirania da maioria! No plano jurídico, a herança do common law possibilitou aos estadunidenses confiarem ao Poder Judiciário a tutela dos direitos fundamentais, sem ofensa do princípio da soberania popular. Na Europa continental, porém foi o desenvolvimento do “Estado de direito” que enfrentou a tensão, afetado pela centralidade do Estado-nação e da soberania que encontrava na lei a expressão mais elevada4. Também pelo declínio da doutrina jusnaturalista, devido à emergência do positivismo jurídico, do historicismo e da sociologia, que contribuiu 4 Novamente, oportuno o contraponto de Fioravanti (2009, p. 55, tradução nossa): “No fundo, esta é a maior diferença em relação à Revolução Francesa. Quando, nesta última, de acordo com uma lógica hobbesiana, classicamente monística, há apenas uma vontade popular, que funda indistintamente a autoridade da lei e da constituição de tal modo que a relação normativa entre uma e outra resulta como uma problemática porque se coloca entre duas fontes dignas, no caso americano o modelo tem uma estruturação dualística, porque o sujeito povo tem duas vontades distintas: de um lado a constituinte, que funda a supremacia da constituição e do outro lado a política mais contingente, que algumas vezes determina um único legislador como expressão de uma única maioria. Tem uma marca do Federalist neste senso, aquele no qual se convida a não confiar no legislador, que imagina ser o povo em si. É evidente que no ‘modelo’ que estamos nos ocupando, nenhum poder pode render-se a tais fantasias, uma vez que o povo em si, como citado anteriormente, só pode existir pelos meios da constituição: a sua soberania se identifica com a supremacia da constituição. Outra coisa, menor e subordinada é a vontade do povo constituída de um parlamento e de uma maioria.” 282 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I para o enfraquecimento dos direitos no sistema político-jurídico; os direitos não figuravam como resultado de uma ordem extra ou metaestatal, mas gravitavam na órbita do Estado. Desde as formulações de autolimitação do Estado (Jhering e Jellinek), o controle jurisdicional possibilitou a tutela das prerrogativas dos sujeitos, interpondo-se entre o poder absoluto do soberano e as pretensões individuais; a norma (direito objetivo) vinculava o soberano que ficava sujeito à verificação jurisdicional (imparcial) de defesa dos sujeitos contra o arbítrio. O arranjo, contudo, não permitia a plena superação da tensão inicial, posto que o Estado poderia se desvincular da autolimitação e, também, suspender arbitrariamente o direito produzido internamente. Outro problema é que só a função administrativa estatal restava submetida ao direito, e não o Estado como totalidade e síntese de poderes - especialmente a legislação (expressão absoluta da soberania). Esse paradigma estatalista foi abalado pela demonstração kelseniana de que o Estado não era ente real (“não era”), mas um aparelho normativo (plano do dever ser): “Estado e direito coincidem”. A ideia de lei como expressão da soberania ficava superada pela gradualidade organizacional das normas, dotadas de mesma natureza e grau de generalidade. Essa concepção dinâmica do ordenamento permitia a visualização das normas “individuais” que “aplicam” a lei, que não está mais no vértice do sistema: mas a norma constitucional, uma norma superior. O controle jurisdicional de conformidade da lei com a constituição (controle de constitucionalidade) restava viabilizado. No Estado de direito constitucional, a lei como expressão da soberania parlamentar ficava sujeita ao controle do órgão judiciário, e as maiorias parlamentares perdiam a periculosidade potencial. O primado da lei sobre o poder e a possibilidade de se confiar o controle da atividade legislativa a um órgão judiciário afastavam a degeneração tirânica. Proteção de minorias era o significado de democracia para Kelsen, que introduziu a qualificação da maioria (quórum) para provimentos ameaçadores das minorias ou dos direitos fundamentais e previu a instituição de corte constitucional para controle da atividade legislativa (inclusive). A exclusão da possibilidade de reconhecimento de direitos (jusnaturalistas) que não estivessem no ordenamento e a possibilidade da maioria qualificada exigida poder alterar a constituição livremente recolocaram a tensão entre democracia e direitos num patamar mais elevado. Por isso Kaufmann já sugeria a imposição de limites substantivos (não apenas formais) às assembleias parlamentares, inspirado na “objetividade” de Hariou, que via nos direitos complexidade institucional suficiente de conter e condicionar o poder estatal, tão radicalizado e subversivo do princípio majoritário e do paradigma da democracia na Alemanha e na Itália dos 1930. A terrível força do poder, a fragilidade do indivíduo e a inadequação das 283 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I salvaguardas que decorriam daqueles sistemas orientaram a elaboração das cartas constitucionais europeias após a queda dos regimes totalitários na segunda metade do século passado. Contra o aniquilamento totalitário da autonomia individual, a cultura jurídica convicta da interdependência da democracia e dos direitos centrava o ordenamento na pessoa, atribuindo a todos os cidadãos iguais direitos (civis, políticos e sociais) para completa realização humana. Esse papel estratégico revelava alternativa ao totalitarismo e resistência contra involuções despóticas. O afastamento dos direitos da órbita estatal, que não tinha ocorrido nos oitocentos, impunha o “renascimento” do direito natural como “neojusnaturalismo” ou “jusnaturalismo em sentido amplo” capazes de afirmar o nexo imediato entre a pessoa e os direitos: o caráter originário dos direitos, a dependência do Estado e a proposição como critério de legitimidade. Superado o formalismo kelseniano, o constitucionalismo voltou a enfrentar o problema dos princípios e dos direitos fundamentais: reivindicar caráter meta ou transestatal ou torná-los imodificáveis? Posicionados sobre “fundamentos infundados”, os princípios e direitos fundamentais do neoconstitucionalismo novecentista escapavam da contraposição entre jusnaturalismo e juspositivismo, como estruturas que fundam e dão sentido à ordem jurídico-positiva, desenvolvendo função dinâmica que imprime movimento ao sistema (não apenas fechamento!); desenvolvem-se como direitos positivos previstos constitucionalmente, introduzindo de dentro do ordenamento tensão entre “aquilo que é e aquilo que (ainda) não é mas deveria ser”, como denúncia da ordem existente e promessa de ordem futura diferente. Em resistência ao princípio majoritário, também regra constitutiva dos novos ordenamentos, Costa cita as cláusulas imutáveis da constituição italiana como proteção do poder constituinte originário às regras essenciais subtraídas da ação do revisor que, limitado material e formalmente, não está legitimado a subverter os elementos caracterizadores do ambiente sociojurídico ao qual pertencem. Dessa forma, o constitucionalismo resguarda os princípios e direitos fundamentais do decisionismo do poder que, embora legitimado para a revisão, fica afastado do âmbito do “não decidível” (Ferrajoli). Juridicamente incontrolável, o poder constituinte que concentra absoluta liberdade criativa e destrutiva (demos), inclusive para agir (revolucionariamente) contra a ordem constitucional existente, a tensão entre democracia e constitucionalismo se recoloca como dilema fundamental. Vislumbrando que o princípio majoritário do radicalismo “voluntarista” (do povo rousseauniano!) não ameaçava a liberdade e os direitos fundamentais nos novecentos, como temia Hayek, Costa sustenta que tal situação não ocorreu no constitucionalismo do pósguerra porque a imagem de “democracia rousseauniana” não resistiu às críticas análises 284 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I empíricas, realísticas e livres de ideologia que se seguiram. Para Kelsen, a autodeterminação do povo era ilusória porque a decisão não emanava do “todos” ou dos “muitos”, mas dos “poucos” membros das “elites”; a lógica elitista que caracterizava o sistema político continuou com os partidos (novas organizações de massa) que mudaram o quadro da representação nos oitocentos: “o mecanismo democrático-representativo é, assim, apenas uma simulação litigante: não dá voz ao povo soberano”. Para Schumpeter, a visão realista da democracia impede a “vontade do povo” de ser o “motor efetivo” do processo político porque, embora se legitime adequadamente na possibilidade de cada indivíduo poder decidir, não é o poder do demos: “é uma arena onde se desenvolve uma (regulamentada) competição entre líderes rivais, que não tanto exprimem a "vontade do povo", quanto a "constroem", induzemna, com técnicas não muito diversas daquelas, empregadas pelos publicitários, influenciando profundamente as inclinações dos eleitores. A concorrência entre políticos parece, em certa medida, semelhante à “concorrência entre empresários empenhados a disputar uma ou outra categoria de consumidores". Não há um interesse geral capaz de exprimir a vontade geral rousseauniana; não há uma entidade coletiva coesa e unitária, mas uma constelação de grupos sociais. Nessa linha schumpeteriana, Robert Dahl teoriza sobre o caráter plural da democracia, na qual “o poder é difuso e fragmentado entre uma pluralidade de grupos que influenciam de maneiras diversas o processo decisional complexivo”; essa interação de grupos e forças possibilita que o conflito de interesses em competição determine a distribuição do poder e o funcionamento do sistema político. “A democracia não é o poder de um demos unitário: é a interação entre grupos e poderes diversos, é uma poliarquia”, permitindo um círculo virtuoso do poder com a liberdade, e viabilizando o governo das minorias. É com esse paradigma “pluralístico” de democracia que o constitucionalismo do segundo pós-guerra (no plano histórico-cultural) sintoniza. O produto dessa competição regulada de múltiplas forças livremente interagentes é a “constituição material”, na qual se formalizam os princípios e direitos fundamentais. A democracia deixa de ser ameaça à ordem constitucional que, por outro lado, não aprisiona a vontade popular que pode construir a própria ordem a cada geração: “Na síntese do Estado democrático-constitucional, a democracia reconduz ao pluralismo dos grupos e das forças políticas e inclui uma série de dispositivos que favorecem a seleção e o recâmbio da classe política.” (2009, p. 271). Porém, a ideia do demos que se resolve nos sujeitos, feitos centro de gravitação do ordenamento que lhes confere múltiplos direitos fundamentais interrelacionados, não é totalmente superada, justamente porque entre os direitos garantidos estão aqueles políticos, 285 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I garantes de participação. A dimensão consensual e participativa, portanto, não pode negligenciar tais símbolos legitimadores. Essa democracia mutifacetada e plural, instrumento de seleção e recâmbio da classe política, espaço da participação política dos sujeitos, parece se fundir com o constitucionalismo, dando conta da tensão entre poder e direito. Porém, e no plano interno de cada ordenamento, a superioridade dos grupos mais fortes e organizados da ordem poliárquica afeta a igualdade de participação. Afastado o problema do plano externo (arena transnacional), renova-se a incumbência dos órgãos jurisdicionais guardarem “o direito e os direitos”. A ideia do juiz imparcial e objetivo que defende a ordem dos abusos do príncipe já não resiste à tradição hermenêutica, e reclama enfrentamento da questão da legitimação. Se o caráter valorativo e político da atividade de interpretação-aplicação do direito transforma o juiz em protagonista de diretrizes políticas (polices) cada vez mais fortes e amplas e, não há como subtraí-lo da lógica democrática (participação e consenso) sem prejuízo da arguição de ilegitimidade e da afetação da própria democracia. Por outro lado, o sistema representativo (último bastião da lógica democrática) também se ressente de problemas. A representação se credita do valor participativo que lhe é atribuído tradicionalmente ou sofre com o desgaste provocado pelos meios de comunicação de massa na autonomia decisional dos sujeitos, ou com o caráter autorrefencial do sistema político? Se o problema da legitimação dos órgãos judiciais e a qualidade da participação não forem relevantes, a tensão entre poder e direitos, entre constitucionalismo e democracia restou resolvida. Mas, também é possível dizer que a democracia “parece ter renunciado ao sonho” de reconduzir o mundo à medida dos sujeitos que continua declarando a centralidade. Refletindo sobre o poder de “errar por último” concedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo constituinte de 1988, mas sem “idealizar” o Parlamento ou insistir na perspectiva purista da democracia representativa que tem o legislador como encarnação da “soberania popular” ou da “vontade do povo”, Conrado Mendes também questiona o ideal democrático, incitando o debate jurídico e institucional: A democracia, ao tentar proteger-se de si mesma por meio de rígidos nós constitucionais, corre o risco de deixar de sê-la no que tem de mais ambicioso e instigante: a realização do ideal de participação política plena e igualitária. Não há provas de que a sua busca seja imprudente ou indesejável. O argumento normativo não o fez. O argumento histórico é insatisfatório. (MENDES, 2008, p.195). Não obstante as críticas ao sistema, vislumbra-se que a jurisdição constitucional 286 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I contemporânea já demonstrou que pode servir a democracia, sem necessariamente servir à maioria. A desobstrução do espaço público para as manifestações populares valoriza a função contramajoritária do STF em favor da minoria (parte do soberano!), dessujeita vozes constrangidas e emancipa a res publica. 2 ADPF 187 e ADI 4274: “É PROIBIDO PROIBIR”! Refletir sobre a possibilidade de a jurisdição constitucional proteger um “sujeito de direito” que seja, concomitantemente, um “sujeito real” dos instrumentos de controle e sujeição do próprio Estado é uma forma de garantir liberdade para o indivíduo participar do desenvolvimento de alternativas para a dominação em ambiente político com canais discursivos desobstruídos, quiçá motivado pela insurreição dos “saberes sujeitados” ou “saber das pessoas” dos quais falava Foucault (1999, p. 11-12). Para tanto, vislumbra-se didático utilizar a história de um sujeito “de carne e osso” que poderia estar em qualquer lugar do Brasil na última metade de século. O exercício se beneficiará com a radicalização da condição de um tipo muito propenso à atuação do direito e das “normas”, dos dispositivos “disciplinares” ou “de controle”. Imagine-se um “sujeito fictício” (mas de carne e osso!) nascido em 13 de dezembro de 1968, sem pai registrado, cuja mãe era neta de escravos, militante feminista e cuja renda lhe garantia a classificação de “classe baixa”. Estudante e aprendiz numa fábrica (graças à “Guarda Mirim”), e confuso quanto à própria orientação sexual, no dia 16 de abril de 1984 experimentou maconha na Praça da Sé (em São Paulo), e encontrou alento para angústias que tanto lhe afligiam; no dia seguinte, os temores já eram outros: e se lhe descobrissem o avô, a mãe, o bedel, o professor, o diretor, o coordenador, o gerente, o padre, a polícia, o promotor ou o juiz? O que poderia acontecer: a expulsão de casa, da escola; a perda do emprego; a excomunhão; o internamento em hospício, ou no reformatório? O que seria pior? Para o curitibano Austregésilo Carrano (o “Austry”), piores foram os hospitais psiquiátricos nos quais ficou internado depois que o pai descobriu que usava maconha. O relato das sessões de eletrochoques, torturas e ingestão forçada de medicamentos nos manicômios possibilita tomar o “Canto dos maditos” (2004) como uma “escrita de si” da qual falava Foucault (2004, p. 144 et seq.), posto que o autor se apresenta como sujeito discursivo ao assumir diferentes “posições-sujeito”. As “sanções normalizadoras” do dispositivo disciplinar (o hospício!) conseguiram transformar um adolescente (17 anos) “rebelde” em um transtornado mental que, no limite do desespero, ateou fogo à própria cela e conseguiu que os 287 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I pais lhe retirassem daquela condição; voltou para casa tão dócil que já não conseguia mais nem se vestir, mas ainda sofreu com a ação braço armado do Estado (a polícia). Mais tarde, “Austry” representou os usuários nas discussões da reforma psiquiátrica brasileira, que culminou com a regulamentação da política antimanicomial5. Afortunadamente, o “sujeito fictício” nunca foi descoberto e seu maior problema era o risco que enfrentava para comprar a maconha que consumia com regularidade. Contratado pela fábrica onde era aprendiz, sempre contribuiu para o sustento da mãe e do avô, sendo respeitado na comunidade onde vivia e na igreja que frequentava; sem problemas com a homossexualidade que, contudo, não ostentava, obteve titulação superior em mais de uma área e se envolveu com movimentos de promoção das minorias – às quais bem conhecia! A reflexão sobre a própria condição de marginalizado foi aguçada pelo filme “Bicho de Sete Cabeças” que, baseado no “Canto dos Malditos” de Austry, colocou-lhe em contato com a “vida nua” que poderia ter vivido, e que tantos vivem – principalmente nos hospitais e nas cadeias. Motivado pela própria experiência, engajou-se na luta pela descriminalização do consumo da maconha e encontrou os constrangimentos que ainda não tinha vivido radialmente. Familiares, amigos, “irmãos” de fé, colegas de trabalho, desconhecidos e o “braço forte” do Estado tentaram lhe enquadrar: seus raps foram “demonizados”; apresentações foram proibidas; perdeu a conta das vezes que foi submetido às autoridades policiais e judiciárias com acusação de apologia de crime (artigo 287, do Código Penal). A última delas ocorreu no dia 03 de junho de 2011, depois que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal acolheu recurso do Ministério Público e proibiu a realização da denominada “Marcha da Maconha”6, motivando manifestação pelo julgamento de ações propostas pela Procuradoria-Geral da República em favor da liberdade de expressão. Acabou preso na Praça dos Três Poderes. Em suma: não tinha liberdade para dizer que a maconha não lhe destruíra da forma que testemunhava a potência destrutiva das bebidas alcoólicas; não tinha liberdade para dizer que pode haver solução melhor que a ofertada pelo sistema de saúde e segurança pública. Sem entrar no mérito do debate sobre a descriminalização do consumo de drogas, a construção até aqui desenvolvida permite demonstrar a amplitude da implicação, a supraposição entre “norma” e direito da qual falava Ricardo Marcelo Fonseca: 5 Regulada pela Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001. Dois ângulos do episódio podem ser conferidos nas seguintes manchetes: “Justiça do DF barra a Marcha da Maconha em Brasília” (JUSTIÇA..., 2011); “MPDFT consegue o cancelamento da Marcha da Maconha” (BRASIL, 2011a). 6 288 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A norma (seja o poder disciplinar seja o biopoder) pode funcionar sem o recurso do direito; o direito também pode funcionar sem que ele seja necessariamente normalizador; mas o direito pode funcionar (e de fato funciona em diversas vezes) articuladamente com uma nítida função de “normalização”. Não necessariamente, mas muito freqüentemente, o direito, como modo de exercício de poder está implicado com a disciplina ou com o biopoder. São como círculos que se superpõem parcialmente (contendo uma área de interseção comum), mas que ao mesmo tempo mantêm uma área não invadida pelo outro. (FONSECA, 2004, p. 277). Essa área “exclusiva” do direito, que pode ser mais “normalizadora” do que a “sociedade disciplinar” ou “de controle”, também pode ser libertadora do sujeito: quando garante direitos fundamentais! Não porque tenha força para neutralizar o “poder além do Estado”, mas porque reduz a dominação estatal em favor do espaço político, ambiente de lutas apropriado para o debate sobre “novos direitos” dessubjetivantes, a partir dos quais o Estado poderá impor aos outros “círculos” o respeito aos valores mais caros da sociedade – tanto que transformados em “normas de Direito”! Demonstra a potência da função emancipatória do Direito Constitucional as decisões reclamadas pelos manifestantes favoráveis à descriminalização da maconha, conforme se demonstrará. Os casos ganham importância para a Teoria do Estado quando se verifica que uma mesma instituição atua em vias opostas, revelando a riqueza do arranjo institucional construído pelo constituinte brasileiro ao incumbir o Ministério Público de defender a ordem jurídica e promover privativamente a ação penal pública, sem descurar da defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigos 127 e 129, inciso I, da Constituição Federal). Nessas condições, enquanto Promotores (dos Estados-membros) e Procuradores da República denunciavam defensores da descriminalização do uso da maconha por apologia de crime7, e pediam a proibição das denominadas “Marcha da Maconha” 8, sujeitando os casos concretos ao controle difuso de constitucionalidade, a Vice-procuradora-geral da República Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira (no exercício da Procuradoria-geral) ajuizou (em 21 de julho de 2009) arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 187) postulando que o STF declarasse que o artigo 287, do Código Penal, deveria ser interpretado conforme a Constituição, excluindo qualquer possibilidade subsunção típica de condutas favoráveis à legalização das drogas ou qualquer substância entorpecente específica, inclusive 7 Artigo 287, do Código Penal: Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime: Pena detenção, de três a seis meses, ou multa. (BRASIL, 1940). 8 Houve proibição judicial dessas manifestações em várias cidades brasileiras, conforme noticiou a imprensa: “Justiça proíbe Marcha da Maconha em 9 capitais brasileiras” (JUSTIÇA..., 2008). 289 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I daquelas praticadas em manifestações e eventos públicos. Para os mesmos fins, e no mesmo dia, ajuizou ação declaratória de inconstitucionalidade (ADI 4274) questionando o artigo 33, parágrafo 2º, da Lei nº 11.343/069. Viabilizando decisões erga omnes na via concentrada, a utilização de ações diversas com o mesmo objetivo decorre do fato dos dispositivos do Código Penal não comportarem sindicância direta de constitucionalidade, posto que anterior à Constituição. No dia 15 de junho de 2011 (duas semanas depois da prisão do “sujeito fictício”), o Pleno do STF julgou procedente o pedido da ADPF 187 “para dar, ao artigo 287 do Código Penal, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição, ‘de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos’, tudo nos termos do voto do Relator” (BRASIL, 2011a). Conduzindo a unanimidade, o Ministro Celso de Melo destacou dois precedentes (HC 4.781/BA, Rel. Min. Edmundo Lins; e ADI 1.969/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) que refletiam “o compromisso desta Suprema Corte com a preservação da integridade das liberdades fundamentais que amparam as pessoas contra o arbítrio do Estado”, afirmando que a liberdade de reunião e o direito à livre manifestação do pensamento também reclamavam a proteção contramajoritária da jurisdição constitucional em favor das minorias. Demonstrando vinculação instrumental entre a liberdade de reunião e o direito de petição, ressaltou que a “Marcha da Maconha” e propostas de legalização do uso de drogas eram expressões concretas do exercício legítimo das liberdades fundamentais de reunião, de petição e de manifestação do pensamento – “um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos”. Destacam-se os seguintes trechos do voto: A praça pública, desse modo, desde que respeitado o direito de reunião, passa a ser o espaço, por excelência, do debate, da persuasão racional, do discurso argumentativo, da transmissão de idéias, da veiculação de opiniões, enfim, a praça ocupada pelo povo converte-se naquele espaço mágico em que as liberdades fluem sem indevidas restrições governamentais.[...] As idéias, Senhor Presidente, podem ser fecundas, libertadoras, subversivas ou transformadoras, provocando mudanças, superando imobilismos e rompendo paradigmas até então estabelecidos nas formações sociais. É por isso que se impõe construir espaços de liberdade, em tudo compatíveis com o sentido democrático que anima nossas instituições políticas, jurídicas e sociais, para que o pensamento não seja reprimido e, o que se mostra fundamental, para que as idéias possam florescer, sem indevidas restrições, em um ambiente de plena tolerância, que, longe de 9 Ei-lo: “Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.” (BRASIL, 2006). 290 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I sufocar opiniões divergentes, legitime a instauração do dissenso e viabilize, pelo conteúdo argumentativo do discurso fundado em convicções divergentes, a concretização de um dos valores essenciais à configuração do Estado democrático de direito: o respeito ao pluralismo político. A livre circulação de idéias, portanto, representa um signo inerente às formações democráticas que convivem com a diversidade, vale dizer, com pensamentos antagônicos que se contrapõem, em permanente movimento dialético, a padrões, convicções e opiniões que exprimem, em dado momento histórico-cultural, o “mainstream”, ou seja, a corrente dominante em determinada sociedade. É por isso que a defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas, longe de significar um ilícito penal, supostamente caracterizador do delito de apologia de fato criminoso, representa, na realidade, a prática legítima do direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião, sendo irrelevante, para efeito da proteção constitucional de tais prerrogativas jurídicas, a maior ou a menor receptividade social da proposta submetida, por seus autores e adeptos, ao exame e consideração da própria coletividade10. (VOTO..., 2011, p. 15; 57-58, grifos do autor) Cinco meses depois, o Pleno do STF voltou a enfrentar o tema e julgou procedente o pedido da ADI 4274 “para dar ao § 2º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 ‘interpretação conforme à Constituição’ e dele excluir qualquer significado que enseje a proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas ou de qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico, ou então viciado, das suas faculdades psico-físicas” (BRASIL, 2012). Depois de intenso debate sobre a amplitude da liberdade de reunião e manifestação/expressão, a decisão foi unânime – com as ressalvas do Ministro Gilmar Mendes11. Do voto condutor do Ministro Ayres Britto destaca10 Menos de mês depois, Ives Gandra criticou a decisão: “Decididamente, com todo o respeito que tenho pelo Pretório Excelso há 54 anos e em especial pelos Ministros da atual Corte, a decisão não foi feliz. Foi "politicamente correta" para agradar ala de intelectuais dos "novos tempos" em que tudo é permitido, principalmente quando agredindo valores. Em palestra que proferi, recentemente, na qual se discutiam outras decisões polêmicas do Tribunal Maior e a desfiguração do princípio da moralidade em todos os níveis de governo, um dos participantes perguntou-me se o Brasil hoje não tinha um Poder Judiciário "politicamente correto", um Poder Executivo "politicamente corrupto" e um Poder Legislativo "politicamente incompetente", tendo sido sua observação, difícil de responder, sido seguida de risos e aplausos. Creio que a marcha da maconha fortalece a opinião dos que pensam como este participante, que me fez lembrar outro episódio provocado por recente artigo que escrevi e que mereceu de Saulo Ramos, ao cuidar da unanimidade do Pretório Excelso nas interpretações "conforme" a Lei Maior, que estas unanimidades são "conforme" Nelson Rodrigues. (MARTINS, 2011, não paginado). 11 Nesse sentido, restou registrado: “Eu gostaria, Presidente, de fazer essas ressalvas, porque, sobretudo diante de passagens que eu ouvi do bem elaborado voto do eminente Relator, pode-se isoladamente depreender que esse direito não comportaria limites de índole material. Esse tipo de interpretação, a meu ver, não é compatível, sobretudo porque numa interpretação sistêmica nós não podemos dissociar a interpretação que fazemos, por exemplo, da liberdade de expressão – aqui é liberdade de imprensa, que é uma de suas manifestações – da própria liberdade de reunião, que, na verdade, em determinada medida, potencializa, funcionaliza a própria ideia de liberdade de expressão; pessoas reunidas expressam uma dada concepção num dado espaço aberto.” (BRASIL, 2012, p. 27). Embora tenha restado esclarecido que o dispositivo veiculava os limites da decisão, destaca-se partes do voto do Ministro Ayres Britto que alimentaram a polêmica: “10. Digo mais: ao fazer uso do fraseado “reunião pacífica”, a Constituição remete o intérprete para o preâmbulo dela própria, Constituição, que faz da “solução pacífica das controvérsias” a base de “uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”. 291 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I se trecho que ressalta o caráter emancipatório do debate público: 13. Com efeito, não se pode confundir a criminalização da conduta com o debate da própria criminalização. Noutras palavras, quem quer que seja pode se reunir para o que quer que seja, nesse plano dos direitos fundamentais, desde que, óbvio, o faça de forma pacífica. Se assim não fosse, as normas penais estariam fadadas à perpetuidade, como bem lembrou o ministro Cezar Peluso, quando da discussão da referida ADPF 187. Perpetuidade incompatível com o dinamismo e a diversidade tanto cultural quanto política (pluralismo) da sociedade democrática em que vivemos. Sociedade em que a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E o fato é que sem pensamento crítico não há descondicionamento mental ou o necessário descarte das pré-compreensões. Pré-Compreensões que muitas vezes desembocam nos preconceitos que tanto anuviam e embrutecem os nossos sentimentos. Pelo que a coletivização do senso crítico ou do direito à crítica de instituições, pessoas e institutos é de ser estimulada como expressão de cidadania e forma de procura da essência ou da verdade das coisas. Quero dizer: só o pensamento crítico é libertador ou emancipatório, por ser eminentemente analítico, e o certo é que, sem análise crítica da realidade, deixa-se de ter compromisso com a verdade objetiva de tudo que acontece dentro do indivíduo e ao seu derredor. Logo: sem o pensamento crítico, ficamos condenados a gravitar na órbita de conceitos extraídos não da realidade, mas impostos a ela, realidade, a ferro e fogo de u'a mente voluntarista, ou sectária, ou supersticiosa, ou obscurantista, ou industriada, ou totalmente impermeável ao novo, quando nãovoluntarista, sectária, supersticiosa, obscurantista, industriada e fechada para o novo, tudo ao mesmo tempo. Sendo inquestionavelmente certo que essa postura críticoemancipatória do espírito é tanto mais tonificada quanto exercitada gregariamente, conjuntamente, enturmadamente. Sem falar que o direito de reunião, assim constitucionalmente exercitado a céu aberto e/ou em praça pública, tonificações dos princípios conteúdos da nossa e de toda democracia que se pretende moderna: o pluralismo e a transparência. O que já significa reconhecer aos espaços públicos baldios o seu clássico vínculo de funcionalidade com a democracia direta, tal como vivenciavam os antigos atenienses na ágora. Donde a conhecida música popular do poeta-cantor Caetano Veloso: “a Praça Castro Alves é do povo como o céu é do avião.” (BRASIL, 2012, p. 9-10, grifos do autor) Longe de enfrentar o mérito do debate, que não cabe na jurisdição constitucional, o STF dessujeitou os manifestantes favoráveis à descriminalização ou legalização do consumo de drogas dos constrangimentos normalizadores que o próprio Estado infligia. As luzes Donde se concluir que a única vedação constitucional, na matéria, direciona-se para uma reunião cuja base de inspiração e termos de convocação revelem propósitos e métodos de violência física, armada ou beligerante. [...] 15. De outra parte, é claro que há condicionantes ao exercício do direito constitucional de reunião. Uma delas é a necessidade de prévia comunicação às autoridades competentes. Tudo com a preocupação de não frustrar o direito de outras pessoas de também se reunirem no mesmo local e horário. Sem embargo, nem mesmo a Constituição de 1967/1969, com seu viés autoritário, trouxe maiores limitações ao direito em causa. Daí a impossibilidade de restrição que não se contenha nas duas situações excepcionais que a presente Constituição Federal prevê: o estado de defesa e o estado de sítio (art. 136, §1º, inciso I, alínea “a” e art. 139, inciso IV).” (BRASIL, 2012, p. 7; 10) 292 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I desses tempos democráticos impunham que se enxergasse nas sombras os sinais de liberdade: Era proibido proibir! CONCLUSÃO Acredita-se que a análise desses dois julgamentos do STF (nos limites deste trabalho) serve para demonstrar que o Direito Constitucional (e a jurisdição constitucional!) pode cumprir a função emancipatória de sujeitados aos constrangimentos normalizadores do próprio Estado, conforme afirmava Ricardo Marcelo Fonseca. Isso não quer dizer que o sujeito fica livre da incidência dos outros círculos de normalização (disciplina e biopoder). Do contrário, fica sujeito às estruturas normalizadoras da própria sociedade, onde pode protagonizar mudanças a partir da própria atitude política. Nesse sentido, a possibilidade de questionar o direito sem constrangimentos normalizadores do próprio Estado, sem afetação da cidadania (dentro do Estado), se apresenta como via de preservação/valorização do ambiente democrático e incentivo à participação, ao tempo que coloca o problema no lugar adequado para o debate e desenvolvimento do pluralismo fundante da república (art. 1º, inciso V, da Constituição Federal) - inclusive para revisão das normas jurídicas! Prova disso que, para além de tantas “Marchas da Maconha” que já ocorreram depois das decisões do STF12, outros movimentos se organizam e agitam o espaço público 13, como se 12 A “Marcha da Maconha” já tem sítio virtual, que alerta: “Coletivo Marcha da Maconha Brasil é um grupo de indivíduos e instituições que trabalham de forma majoritariamente descentralizada, com um núcleo-central que atua na manutenção do site www.marchadamaconha.org e do fórum de discussões a ele anexado. Apesar de existir tal núcleo, todo o trabalho é realizado de forma horizontal e coletiva entre uma rede de colaboradores, no qual os textos, artigos e todo tipo de trabalhos são compartilhados de acordo com as necessidades, disponibilidades e engajamento de cada um. Ainda atendido esses critérios, todos somos apenas membros. Organizadores Locais, Organizadores Nacionais, Apoiadores, Colaboradores, sejam instituições ou indivíduos todos são membros do que atualmente se mantém existindo justamente graças à existência de uma rede de relacionamento entre instituições, profissionais, pesquisadores, ativistas, redutores de danos e membros da sociedade em geral engajados na questão. Mas todos somos membros desse Coletivo. Não temos líderes, coordenadores, caciques, nem presidentes. Muito menos presidentes honorários. [...] O Coletivo Marcha da Maconha Brasil reafirma que suas atividades não têm a intenção de fazer apologia à maconha ou ao seu uso, nem incentivar qualquer tipo de atividade criminosa. As atividades do Coletivo respeitam não só o direito à livre manifestação de idéias e opiniões, mas também os limites legais desse e de outros direitos. Este site tem conteúdo e discussões destinados somente para maiores de 18 anos.” (MARCHA...) 13 A campanha “Lei de drogas – é preciso mudar” continua coletando assinaturas em apoio de uma proposta de projeto de lei que estabelece critérios objetivos para distinção de traficante e usuário, além de apoio às instituições protetivas daqueles que sofrem com o abuso de drogas. (LEI...). Concomitantemente, o “Movimento pela legalização da maconha” (MLM) comemora os avanços no processo legislativo que envolvem a questão: “Certamente temos que comemorar a decisão da comissão de juristas que discute a reforma do Código Penal no Senado de propor a descriminalização do plantio, da compra e do porte de qualquer tipo de droga para uso próprio. É uma vitória que o Estado finalmente reconheça que a questão do uso de drogas deva sair do âmbito da segurança pública para ser objeto das políticas públicas de saúde e educação.” (LEGALIZAÇÃO...) 293 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I espera em Estado Democrático de Direito. Contudo, na oposição está a maioria: 75% da população brasileira, que é contrária à legalização do uso da maconha14. A análise dos casos ainda evidencia a tensão entre os direitos e o poder, entre democracia e constitucionalismo, até por consequência dos problemas já registrados por Pietro Costa (2010, p. 270-274). Não obstante, confirmam a independência entre “norma” e direito nesse plano de direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. Mais do que isso, permitem demonstrar a incompatibilidade que, na prática do Estado Democrático de Direito, garante a voz dos sujeitados contra a pressão normalizadora da sociedade. REFERÊNCIAS AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Tradução Vinicius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009. BRASIL. Decretro-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 14/12/2012. ______. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, 24 ago. 2006. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2006/lei/l11343.htm>. Acesso em: 14/12/2012. ______. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Imprensa. Notícias. Notícias 2011. MPDFT consegue cancelamento da Marcha da Maconha. Brasília, 03 jun 2011a. Disponível em: < http://www.mpdft.gov.br/portal/index.php/imprensa-menu/noticias/notcias2011/3847-mpdft-consegue-cancelamento-da-marcha-da-maconha>. Acesso em: 14/12/2012. _____. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4274-DF. Tribunal Pleno. Acórdão. Requerente: Procuradora-Geral da República. Relator: Min. Ayres Britto. Brasília, 23 nov. 2011. Diário da Justiça eletrônico nº 084, 02 mai. 2012. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1955301530>. Acesso em: 14/12/2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 187-DF. Tribunal Pleno. Decisão de julgamento. Requerente: Procuradora-Geral da República. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, 15 jun. 2011b. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2691505>. Acesso em: 14/12/2012. CARRANO, Austregésilo. Canto dos Malditos. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 14 O Segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (II LENAD) é um estudo populacional sobre os padrões de uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas na população brasileira. Dependência de álcool, tabaco, maconha e cocaína também foram avaliados bem como possíveis fatores de risco e/ou proteção para o desenvolvimento de abuso e/ou dependência. O estudo foi desenvolvido entre novembro de 2011 e abril de 2012 pelo INPAD/UNIAD da UNIFESP com a colaboração da Ipsos. (LARANJEIRA, 2012). 294 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I COSTA, Pietro; FONSECA, Ricardo Marcelo (Coord.). Soberania, representação, democracia: ensaios de história do pensamento jurídico. Tradução Alexander Rodrigues de Castro et al. Curitiba: Juruá, 2010. FIORAVANTI, Maurizio. Costituzionalismo: percorsi della storia e tendenze attuali. Roma/Bari: Laterza, 2009. FONSECA, Ricardo Marcelo. O poder entre o direito e a ‘norma’: Foucault e Deleuze na Teoria do Estado. In: FONSECA, Ricardo Marcelo (org.). Repensando a teoria do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 259-281. FOUCAULT, Michel; MOTTA, Manoel Barros da (Org.). Ditos e Escritos. Tradução Vera Lucia Avellar Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. ______. Em Defesa da Sociedade. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999. JUSTIÇA DO DF BARRA MARCHA DA MACONHA EM BRASÍLIA. Globo.com, 03 jun. 2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2011/06/justica-do-dfbarra-marcha-da-maconha-em-brasilia.html>. Acesso em: 14/12/2012. JUSTIÇA PROÍBE MARCHA DA MACONHA EM 9 CAPITAIS BRASILEIRAS. Globo.com, 03 mai. Brasil. Manifestação. 2008. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL452646-5598,00.html>. Acesso em: 14/12/2012. LARANJEIRA, Ronaldo (org.). II LENAD - Levantamento Nacional de Álcool e Drogas: O uso de Maconha no Brasil. São Paulo: UNIFESP, 2012. Disponível em: <http://www.inpad.org.br/images/stories/LENAD/lenad_maconha-1%20copia.pdf>. Acesso em: 14/12/2012. LEGALIZAÇÃO DA MACONHA. Movimento pela legalização da Maconha (MLM). Disponível em: <http://www.legalizacaodamaconha.org>. Acesso em: 14/12/2012. LEI DE DROGAS: É PRECISO MUDAR. Disponível em: <http://eprecisomudar.com.br>. Acesso em: 14/12/2012. MARCHA DA MACONHA. Disponível em: <http://marchadamaconha.org>. Acesso em: 14/12/2012. MARTINS, Ives Gandra Silva. A marcha da maconha. Jornal Carta Forense, São Paulo: Grupo OESP, jul. 2011. Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-marcha-da-maconha/7288>. Acesso em: 14/12/2012. MENDES, Conrado Hübner. Controle de constitucionalidade e democracia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. Para um nosso senso comum – A ciência, o direito e a política na transição paradigmática. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 295 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I VOTO DO MINISTRO CELSO DE MELLO, Brasília, 15. Jun. 2011. Supremo Tribunal Federal. Imprensa. Notícias: Íntegra do voto do ministro Celso de Mello sobre "marcha da maconha". Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=182091>. Acesso em: 14/12/2012. 296 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO IDEAL DE RAZÃO PÚBLICA: ANÁLISE DO CASO LEI DA FICHA LIMPA À LUZ DA TEORIA DA JUSTIÇA COMO EQUIDADE DE JOHN RAWLS. THE SUPREME COURT AS IDEAL THE PUBLIC REASON: ANALYSIS OF CASE LAW OF CLEAN RECORD LAW UNDER THE BACKGROUD THE THEORY JUST AS FAIRNESS OF JOHN RAWLS. Vinícius Silva Bonfim1 Mariana Oliveira de Sá2 RESUMO Visa o presente artigo mostrar a aplicabilidade do pensamento de John Rawls ao direito brasileiro, especificamente à atuação do Supremo Tribunal Federal na análise da constitucionalidade da Lei Complementar 135/2010, denominada como Lei da Ficha Limpa. Para tanto, foi necessário retornar à primeira obra de Rawls A Theory of Justice (1971) para contextualizar as discussões na contemporaneidade com sua obra Political Liberalism (1993). A partir de então, verificou-se que o Supremo Tribunal Federal pode ser considerado o exemplo de aplicação do ideal de razão pública neste caso específico. Utilizou-se dos conceitos de razão pública e consenso sobreposto para apontar a relação da Suprema Corte com o ideal de razão pública proposto pelo autor. PALAVRAS-CHAVE: Supremo Tribunal Federal; Lei da Ficha Limpa; Ideal de Razão Pública; Consenso Sobreposto ABSTRACT This article aims to show the applicability of the thought of John Rawls to Brazilian law, especially the procedure of the Supreme Court in analisys the constitutionality of Complementary Law 135/2010, “Law of Clean Record”. Therefore, it was necessary to return to first work of Rawls's A Theory of Justice (1971) to contextualize the contemporary discussions with his work Political Liberalism (1993). Thereafter, it was found that the Supreme Court may be considered the application example of the ideal ratio public this particular case. Used the concepts of public reason and overlapping consensus pointing to the relationship of the Supreme Court with the ideal of public reason proposed by the author. KEYWORDS: Supreme Court; the Clean Record Law; Ideal of Reason Public; Overlapping Consensus 1 Mestre e Doutorando em Teoria do Direito pela Puc/Minas. Professor na Faculdade Arquidiocesana de Curvelo e do I.E.S. J. Andrade 2 Aluna do Terceiro Período do Curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. 297 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 1-Introdução Considerado um dos maiores filósofos políticos dos dias atuais, John Rawls é também o principal teórico da democracia liberal. Nascido nos Estados Unidos no ano de 1921 formou-se em filosofia pela universidade de Princeton em 1946. Publicou diversas obras, sendo o marco de seu pensamento A Theory of Justice, 1971 (TJ) (POGE, 2007).3 A noção de equidade norteia sua primeira obra e ao tentar conciliar a ideia de direitos iguais em uma sociedade desigual acaba por constitui uma teoria da justiça que vai contra o pensamento dominante de sua época, o utilitarismo. O autor critica a corrente do utilitarismo e adota uma postura “contratualista”. Formula princípios básicos de justiça acordados entre os indivíduos livres e iguais, racionais e razoáveis como pressuposto de validade de sua teoria como equidade. A obra A Theory of Justice de Rawls marca seu tempo e é divisor de águas no pensamento político liberal. Esta obra será primeiramente exposta neste artigo sob o fundamento de introduzir a discussão da teoria da justiça e apresentar os principais conceitos que o autor propõe para lidar com este desafio. Em seguida, far-se-á investigação da obra Political Liberalism – 1993 (LP). Obra produzida na década de noventa que complementa a TJ e também responde em grande parte os críticos desta. Na obra LP utiliza conceitos novos e que teriam como fundamento enfeixar as primeiras ideias expostas em TJ. Das novidades teóricas apresentadas pelo autor, tem-se a sobreposição do justo frente o bem; a diferença entre filosofia moral e filosofia política; a ideia de racional e razoável dentre outros tantos conceitos. Mas é com o conceito de razão pública, consenso sobreposto e construtivismo político que Rawls inaugura um momento de relevância da política para o liberalismo igualitário na busca de constituir a Justiça como Equidade (Justice as Farness). As sociedades atuais contemporâneas são marcadas pelo pluralismo razoável de doutrinas abrangentes que, muitas vezes, não são conciliáveis entre si, mas que respeitam as próprias diferenças. O pluralismo razoável, como se verá a seguir, aflora na medida em que se 3 Utilizar-se-á a abreviatura TL para fazer menção à obra A Theory of Justice, que em português se chama Uma Teoria da Justiça. Bem como LP para fazer referência à obra Political Liberalism – O Liberalismo Político. 298 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I efetiva um ideal democrático de compartilhamento de valores políticos através de deliberações sobre as questões básicas de justiça e elementos constitucionais fundamentais. A base para que isso ocorra se chama de razão pública. Utilizando a teoria de Rawls, pretende-se neste artigo demonstrar a sua possível aplicabilidade ao direito brasileiro, mais precisamente ao que o autor chama de ideal de razão pública. Para isso, analisar-se-á o julgamento de constitucionalidade da Lei Complementar 135/2010 pelo Supremo Tribunal Federal. Essa lei surge por iniciativa popular e reflete a ideia de consenso sobreposto a partir das doutrinas abrangentes professadas pelos indivíduos desta sociedade. Portanto, verificar-se-á se neste caso específico de controle de constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa (LC 135), se o Supremo Tribunal Federal poderia ser enquadrado no ideal de razão pública trabalhado por Rawls. 2 – Rawls, vida e obra: Uma Teoria da Justiça – 1971. Rawls adota um modelo de justiça voltado para as instituições sociais, considerando que as instituições básicas da sociedade devem, sobretudo, ser justas, e se assim não forem, devem ser “reformuladas ou abolidas”. Sua teoria relaciona-se com a justiça acerca das instituições, não trata do fenômeno na esfera ética de cada individuo, mas afirma que: “Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought” (RAWLS, 1971, p. 03). 4 Rawls elabora a teoria da justiça atualizando o contrato social proposto por Locke, Rousseau e Kant, criando a ideia do contrato hipotético. Este contrato hipotético é uma ferramenta teórica que sob o véu de ignorância possibilita a elaboração dos princípios de justiça. A teoria de Rawls apresenta-se como uma alternativa viável às doutrinas como do utilitarismo e do intuicionismo. Ele afirma que estas são incapazes de propor um sistema 4 Tradução: “A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento” (tradução nossa). 299 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I teórico que proporcione justiça por meio das instituições. Para Rawls elas não possuem um método objetivo capaz de determinar, em caso de dúvida, qual princípio de justiça escolher entre as possibilidades existentes (GARGARELLA, 2008, p. 2). Ao passo que pensando o utilitarismo como uma postura que considera correto um ato quando maximiza a felicidade geral, Rawls tende a rejeitar seu aspecto de concepção ‘teleológica’, defendendo uma concepção segundo a qual uma correção moral de um ato depende das qualidades intrínsecas dessa ação (GARGARELLA, 2008, p. 3). O utilitarismo recorre aos balanços que podem acabar na aceitação de certos sacrifícios de poucos em prol de maiores benefícios de muitos. De acordo com Rawls, o utilitarismo trata as pessoas como utilidade e meio para alcançar um bem maior, um bem utilitário. Quer dizer, as pessoas somente teriam reconhecimento enquanto pessoas se fossem úteis aos demais. O utilitarismo tende a ver a sociedade como um corpo, no qual é possível sacrificar algumas partes em virtude das restantes. Operação que Rawls considera ilegítima, pois desconhece a liberdade e a autonomia das pessoas, considerando a pessoa como portadora passiva de direitos e deveres, não como um fim e si mesmo. Conforme Ricoeur: “Com efeito, o utilitarismo é uma doutrina teleológica, na medida em que define a justiça como a maximização do bem para o maior número de indivíduos” (RICOEUR, 1995, p. 64). Rawls pretende mostrar a insuficiência do pensamento utilitário em um contrato hipotético, considerando que os direitos assegurados pela justiça não estão sujeitos à negociação política ou a cálculo de interesses sociais. “A concepção estreita de pessoa e a natureza agregativa do utilitarismo o tornam insensível às diferenças entre os indivíduos, o que oferece ao direito uma base excessivamente frágil” (VITA, 1992, p. 7). Os indivíduos de uma sociedade, não devem estar sujeitos a um cálculo de interesses, que esteja disposto a colocar em risco os direitos fundamentais dos mesmos em prol de uma maioria. Esta é a proposta do utilitarismo, que considera a sociedade bem ordenada quando as instituições conseguem uma maior satisfação, uma maximização do bem estar, mesmo que seja necessário um sacrifício agora, por uma vantagem depois. Rawls formula sua teoria da justiça como equidade como uma alternativa a essas doutrinas, mostrando que a sociedade bem ordenada deve estar fundada em um sistema de cooperação, onde os indivíduos, de forma imparcial, adotem uma concepção de justiça que se aplique as instituições sociais, respeitando o caráter dos mesmos como seres livres e iguais. 300 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A sociedade é formada por uma associação de pessoas que reconhecem as regras de conduta como obrigatórias, especificando um sistema de cooperação marcado por um conflito e por uma identidade de interesses, exigindo desta forma, uma seleção de princípios de justiça social, definindo uma distribuição apropriada dos benefícios e encargos desta cooperação social. A concepção de justiça é o elo fundamental das associações humanas bem ordenadas, onde todos sabem e aceitam os mesmos princípios de justiça e as instituições sociais básicas satisfazem os destinatários das mesmas. 2.1 - O Contrato Hipotético: “posição original e véu da ignorância” Para desenvolver as ideias de A Theory o Justice, Rawls apresenta alguns mecanismos essenciais para fornecer uma concepção política de justiça para um regime democrático. O autor propõe um contrato hipotético que possui um nível mais alto de abstração do conceito tradicional do contrato social.5 Para Rawls: “The compact of society is replaced by an initial situation that incorporates certain procedural constraints on arguments designed to lead to an original agreement on principles of justice” (RAWLS, 1993, p. 03).6 Esse contrato hipotético é construído sobre princípios equitativos a partir do que ele denomina de posição original (original position). Esta posição original é uma situação puramente hipotética caracterizada para produzir a concepção de justiça. A posição original é uma reflexão utilizada para estabelecer as condições equitativas do acordo entre os indivíduos livres, em um ambiente que haja igualdade de direitos e deveres, de modo que consigam desenvolver suas metas sem serem 5 Rawls é um contratualista e dá vazão às leituras realizadas das obras de Locke, Rousseau e Kant. O contratualismo é uma estrutura teórica que advém das teorias políticas modernas, mais precisamente inicia-se com Thomas Hobbes (1588 - 1679). Utilizada para fundamentar as formas de organização da sociedade e como efetivar as políticas sociais através do Estado. Quando não se mais esperava ter um contratualista no mundo contemporâneo, Rawls dá continuidade à teoria e inova no campo da filosofia política com a ideia do contrato hipotético. 6 Tradução: “O pacto social é substituído por uma situação inicial que incorpora certas restrições de conduta baseada em razões destinadas a conduzir a um acordo inicial sobre os princípios de justiça” (tradução nossa). 301 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I prejudicados pelas condições fáticas, quer dizer, é um acordo celebrado por aqueles que se comprometem com a cooperação social. Este acordo será realizado em determinada condição que poderá gerar a imparcialidade das escolhas bem como a igualdade na participação. Rawls afirma que os cidadãos estarão sob o que denominou de “véu da ignorância” (Veil of Ignorance). Segundo ele, quando as partes estão envolvidas por este mecanismo, elas perdem as referências pessoais, históricas, sociais, econômicas, salutares etc. Ou seja, o véu de ignorância seria o encobrimento da realidade por meio de um artifício teórico que colocaria os cidadãos em um nível de igualdade. Eles não saberiam se estariam em uma sociedade com a inteligência, dinheiro, cor, gênero etc. que possuem de fato. Eles são obrigados a avaliar os princípios unicamente com base nas considerações gerais de possibilidade e no compromisso de que os princípios de justiça escolhidos valerão para eles e também para os seus filhos, para as gerações futuras (RAWLS, 2001). Desta forma, o véu da ignorância impede com que os indivíduos tenham acesso a qualquer informação que possam beneficiá-los em suas escolhas, o que os faz agir de forma imparcial, adotando a alternativa mais viável para toda a sociedade, estabelecendo uma cooperação equitativa para a construção de uma concepção principiológica de justiça. O contrato hipotético é o instrumento de universalização da teoria de Rawls. Certo é que a igualdade de fato na análise dos indivíduos a respeito dos princípios de justiça a serem adotados pela sociedade seria impossível. Em virtude disso é que Rawls cria esse dispositivo da filosofia reflexiva que possibilita aos indivíduos se colocarem em uma mesma posição independentemente de qual cor, sexo, gênero, condição econômica etc. Veja o próprio autor a respeito: In justice as fairness the original position of equality corresponds to the state of nature in the tradition theory of the social contract. This original position is not, of course, thought of as an actual historical state of affairs, much less as a primitive condition of culture. It is understood as a purely hypothetical situation characterized so as to lead to a certain conception of justice. Among the essential features of this situation is that no one knows his place in society, his class position or social status, nor does any know his fortune in the distribution of natural asset and abilities, his intelligence, strength, and the like (RAWLS, 1971, p. 12).7 7 Tradução de Vita: Na justiça como equidade, a situação original de igualdade corresponde ao estado de natureza da teoria tradicional do contrato social. Essa situação original não é, naturalmente, tida como situação histórica real, muito menos como situação primitiva da cultura. É entendida como situação puramente hipotética, assim caracterizada para levar a determinada concepção de justiça. Entre as características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, sua classe ou se status social; e ninguém 302 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Este sistema de imparcialidade, leva ao que Rawls denomina de “Justiça como Equidade”, em que os princípios de justiça imparciais são o resultado de uma escolha de indivíduos livres e iguais, em uma mesma posição de igualdade, denominada de “posição original”. Na posição original os indivíduos são afetados por uma situação particular, pois estão sob o “véu da ignorância”, sendo impossível reconhecer sua sorte, status social, concepção de bem, direcionando para um acordo capaz de considerar imparcialmente os pontos de vista de todos os participantes (KYMLICKA, 2006). Mas todos estão envoltos por este véu, o que os colocam em uma situação hipotética de igualdade, onde os indivíduos têm iguais oportunidades, desenvolvendo seus interesses sem prejudicar a si e ao outro. Para Kymlicka, o contrato hipotético “is a way of embodying a certain conception of equality, and a way of extracting the consequences of that conception for the just regulation of social institutions” (KYMLICKA, 2006, p. 64).8 Mesmo não sabendo a posição na sociedade em que se está, existem certos bens essenciais e indispensáveis para efetivar a concepção de “vida boa” (good life). Rawls denomina-os de bens primários, distinguindo-os em dois tipos: bens primários sociais, como direitos, liberdades, oportunidades, que são distribuídos diretamente pelas instituições sociais; e bens primários naturais, como a inteligência, saúde e talento estes não são distribuídos diretamente pelas instituições sociais. Sob o “véu da ignorância” os indivíduos escolhem intuitivamente os princípios de justiça que lhes proporcionarão um maior acesso aos bens primários. Rawls adota a “regra maximin”, onde realizarão a escolha de um princípio mais atraente entre tantas alternativas. Uma espécie de análise entre as perdas e ganhos, adotando a alternativa cujo pior resultado possível for superior ao pior resultado de todas as outras alternativas (GARGARRELA, 2008, p. 23). Quer dizer que, na posição original, os indivíduos iriam escolher os princípios basilares de justiça para regulamentar a sociedade. Ou seja, sem saber qual futuro lhes espera, os indivíduos escolheriam os dois princípios de justiça que se verá a seguir. Isso ocorreria por que o véu de ignorância impossibilitaria o indivíduo de saber qualquer informação da real situação a qual ele pertence. Como não saberá onde será lançado na sociedade, podendo ser conhece sua sorte na distribuição dos recursos e das habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas do gênero (RAWLS, 2008, p. 15). 8 Veja tradução de Borges: “[...] uma maneira de incorporar certa concepção de igualdade e uma maneira de extrair as consequências dessa concepção para a justa regulamentação das instituições sociais” (KYMLICKA, 2006, p. 80). 303 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I homem ou mulher, sadio ou doentio, negro ou branco e assim por diante, a melhor opção dentre as demais é a escolha dos princípios de justiça. 2.2 - Os Princípios Básicos de Justiça A decisão de escolha dos princípios de justiça deve ocorrer através dos valores morais que compõem a vida de cada um desses indivíduos. Para elaborar uma teoria que respeite todos os projetos de “vida boa” e que possibilite a autonomia do indivíduo, Rawls propõe dois princípios básicos de justiça que deveriam ser escolhidos no ato de deliberação para constituir a sociedade através do contrato hipotético. Os princípios básicos de justiça, acordados e aceitos por todos, devem ser firmados em um Estado Constitucional em que as instituições sociais se comprometam em realizar os mesmos. The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance. This ensure that no one is advantaged or disadvantaged in the choice of principles by the outcome of natural chance or the contingency od social circumstances. Since all are similarly situated and no one is able to design principles to favor his particular condition, the principles of justice are the result of a fair agreement or bargain (RAWLS, 1971, p. 12).9 Para Rawls: Now let us say that a society is well-ordered when it is not only designed to advance the good of its members but when it is also 'effectively regulated by a public conception of justice. That is, it is a society in which (1) everyone accepts and knows that the others accept the same principles of justice, and (2) the basic social institutions generally satisfy and are generally known to satisfy these principles. (RAWLS, 1971, p. 5).10 9 “Os princípios da justiça são escolhidos sob um véu de ignorância. Isso garante que ninguém é favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado do acaso natural ou pela contingência de circunstâncias sociais. Já que todos estão em situação semelhante e ninguém pode propor princípios que favoreçam sua própria situação, os princípios de justiça são resultantes de um acordo ou pacto justo” (tradução nossa). 10 Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública da justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual (1) todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de justiça, e (2) as 304 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Com o dilema de associar os dois valores mais importantes da sociedade, o da liberdade e da igualdade, que muitos consideram inconciliáveis, Rawls elabora sua Teoria da Justiça dando extrema importância tanto à liberdade, característica fundamental da natureza humana, quanto o da igualdade, que é de suma relevância para a convivência política. Desta forma, Rawls enuncia os princípios da justiça da seguinte maneira: First Principle Eache person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. Second Principle Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both: (a) To the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principles, and (b) Attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity. (RAWLS, 1971, p. 302).11 Tendo em vista que os indivíduos se encontram na “posição original”, Rawls constitui o primeiro princípio de justiça que é o das liberdades iguais básicas. Estas liberdades do primeiro princípio não podem ser violadas por vantagens econômicas ou sociais, devendo ser iguais a todos, ninguém podendo receber em troca benefícios maiores do que aqueles que possuíam antes de firmarem o acordo. Rawls considera como liberdades básicas: a liberdade política, ou seja, o direito de votar e ocupar um cargo público; a liberdade de expressão, a liberdade de consciência e de pensamento; a liberdade da pessoa, não podendo em hipótese alguma ser maior ou menor para uns do que para outros. No entanto, Rawls dá maior relevância à liberdade política, visto que “The requirement of the fair value of the political liberties, as well as the use of primary goods” (RAWLS, 2001, p. 149).12 Quer dizer, uma liberdade não pode ser extinta, a não ser por outra liberdade maior. instituições sociais básicas geralmente satisfazem, e geralmente se sabe que satisfazem, esses princípios (tradução nossa). 11 “Primeiro princípio: Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema similar de liberdades para todos. Segundo princípio: as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto (a) se estabeleçam para o máximo benefício possível dos menos favorecidos que seja compatível com as restrições do princípio de poupança justa, como (b) estejam vinculadas a cargos e posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidade” (tradução nossa). 12 “A exigência do valor equitativo das liberdades políticas, bem como o uso dos bens primários” (tradução nossa). 305 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Não obstante, o segundo princípio, conhecido como princípio da diferença, é o que governa a distribuição dos recursos da sociedade. Ele está vinculado à ideia de igualdade da justiça distributiva, que considera justo o que cada qual obtém se forem concedidos aos indivíduos os mesmos benefícios e oportunidades. Este segundo princípio deve ser compreendido dentro de um sistema de justiça, não pode ser resumido a uma simples igualdade de oportunidades, pois existem pessoas que são beneficiadas com maiores talentos ou capacidades, e estas vantagens concedidas pela “loteria natural”, só deverão ser justificadas quando as vantagens dos beneficiados forem utilizadas em beneficio dos menos favorecidos da sociedade. Desta forma, o princípio da diferença, que somente será aplicado caso o primeiro princípio seja efetivado, o que o autor chama de ordem léxica, deve ser interpretado de acordo com a igualdade democrática, como imparcialidade e igualdade de oportunidade. Com base neste princípio é que se terá a distribuição igual de oportunidade para todos. A violação da ideia estrita de igualdade, só será aceitável se servir para incrementar parcelas de recursos aos menos favorecidos e nunca com o intuito de diminuí-las. O caráter igualitário de sua teoria advém do fato dos indivíduos inseridos na “posição inicial” se encontrarem em um sistema de imparcialidade. Rawls pretende igualar os indivíduos em determinadas circunstâncias para que suas escolhas fiquem condicionadas as suas próprias responsabilidades. Ou seja, a pessoa precisa saber que cada opção tem um preço e que o estado liberal, aos moldes como Rawls o elabora, não obstaculizará qualquer projeto de “vida boa”. Mas certo é que Rawls está preocupado que cada indivíduo aceite as consequências de suas escolhas, pois são responsáveis por suas ações, independentemente de qual modelo de vida boa adote. Rawls defende uma postura na qual os indivíduos possam viver de forma autônoma, escolhendo o projeto de vida que consideram mais atraentes. Caberia ao Estado não interferir nestas escolhas, atuando apenas na organização das instituições públicas sociais para que proporcionem a busca por estas formas de vida escolhidas, de modo que possam satisfazer e defender os ideais de cada um. A noção de equidade no pensamento de Rawls deriva das condições sobre as quais os indivíduos escolhem os princípios fundamentais de justiça. A posição de igualdade e imparcialidade, onde a escolha é realizada por indivíduos livres e racionais, é que elege tal 306 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I postulado, desde que os indivíduos estejam dispostos a sacrificar alguns interesses próprios, e que também os demais pactuantes também o façam. 3 - O Liberalismo Político: a resposta aos críticos como aprimoramento da Teoria da Justiça. O objetivo central na obra Political Liberalim é dar vazão ao pensamento que revela a possibilidade de possuir uma base de justificação razoável no que diz respeito às principais questões políticas fundamentais de uma sociedade bem ordenada. Rawls aponta a necessidade de uma revisão de conceitos elementares de A Theory of Justice em virtude de responder a seus críticos bem como para dar continuidade às contribuições surgidas das inúmeras discussões com especialistas da política, direito, filosofia e economia. TJ é destaque no cenário político contemporâneo e rompe com a tradição inglesa predominante da filosofia moral que era o utilitarismo. O LP tem como foco uma filosofia política cujo objeto consiste em saber sobre a possibilidade da existência de uma sociedade livre e justa em condições de profundo conflito entre as doutrinas abrangentes professadas. Para isso o autor faz distinção fundamental entre a filosofia moral e filosofia política, o que não tinha sido feito anteriormente em TJ. Para Rawls o LP não se ocupa dos problemas da filosofia moral a não ser quando ela apoia um regime constitucional. Para o autor: “political philosophy, as understood in political liberalism, consists largely of different political conceptions of right and justice viewed as freestanding” (RAWLS, 1993, p. 374). 13 Para Rawls as doutrinas abrangentes razoáveis, inclusive as religiosas, devem elaborar uma concepção de justiça política em um regime democrático constitucional. Segundo Rawls, A main aim of Political Liberalism (= PL) is to say how the well-ordered society of justice as fairness (set out in A theory of Justice) is to be understood once it is 13 “a filosofia política, tal como compreendida em liberalismo político, consiste em larga medida de variadas concepções políticas do direito e da justiça concebidas como se sustentassem por si próprias” (tradução nossa). 307 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I adjusted to the fact of reasonable pluralism and regulated by a political conception of justice (RAWLS, 1993, p. XXXVi).14 A concepção de justiça política é que deve regular a sociedade e ser também a base das discussões públicas e políticas. Essa concepção é ao mesmo tempo uma concepção normativa e moral que se aplica à estrutura básica da sociedade. Rawls quer elaborar uma concepção política de justiça onde existe uma pluralidade de doutrinas razoáveis. Uma doutrina razoável é um exercício da razão teórica, que organiza e caracteriza os valores reconhecidos, de modo que sejam compatíveis entre si e expressem uma visão de mundo inteligível (RAWLS, 1993). As ideias do racional e do razoável, bem como de doutrinas abrangentes, são de extrema importância para um consenso sobreposto que visa alcançar a resposta do problema central do LP. Para fazer a distinção entre o razoável e o racional, Rawls recorre à distinção de Kant entre imperativo categórico e imperativo hipotético. Segundo o autor: “The rational is, however, a distinct idea from the reasonable and applies to a single, unified agent (either an individual or corporate person) with the powers of judgment and deliberation in seeking ends and interests peculiarly its own (RAWLS, 1993, p. 50). 15 Para Rawls, as pessoas são racionais quando procuram realizar seus fins de forma inteligente, ao passo que são consideradas razoáveis quando em um aspecto fundamental, suponhamos entre iguais, se dispõem a propor princípios e critérios que possam constituir termos equitativos de cooperação (RAWLS, 1993, p. 50). Os cidadãos livres e iguais inseridos em um sistema de cooperação social são considerados razoáveis na medida em que agem de acordo com os termos equitativos da cooperação social, mesmo que em determinados momentos seja necessário sacrificar os próprios interesses, desde que os outros também o façam. E através deste critério de reciprocidade, o exercício do poder político se torna legítimo, pois é possível supor que as razões que oferecemos para justificar nossas ações políticas, são razoavelmente aceitas por outros cidadãos, devendo estar em conformidade com uma Constituição. 14 Tradução: Um objetivo central de LP é dizer como se deve entender a sociedade bem-ordenada da justiça como equanimidade (configurada em Uma Teoria da Justiça) e ser entendida como ajuste ao fato do pluralismo razoável e que tal sociedade seja regulada por uma concepção política da justiça (tradução nossa). 15 Tradução: O racional é, no entanto, uma ideia distinta do razoável e se aplica a um agente único e unificado (seja pessoa física ou jurídica) dotado das faculdades de julgamento e deliberação na busca de realizar fins e interesses que lhes são peculiares (tradução nossa). 308 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Assim, as ideias de razoável e racional, são distintas, mas complementares, pois em uma cooperação equitativa, constituem elementos fundamentais para que seus agentes alcancem uma concepção política de justiça. Neste contexto, a estrutura e o conteúdo de uma concepção política são proporcionados pelo o que Rawls chama de construtivismo político. Rawls afirma que o construtivismo político se limita ao político, definindo-o da seguinte maneira: Political constructivism is a view about the structure and content of a political conception. It says that once, if ever, reflexive equilibrium is attained, the principles of political justice (content) may be represented as the outcome of a certain procedure of construction (RAWLS, 1993, p. 90).16 O construtivismo político se assemelha com o procedimento da posição original trabalhado em A Theroy of Justice. O construtivismo político visa elaboração do conteúdo da concepção política de justiça em que os indivíduos racionais em condições razoáveis escolhem os princípios públicos de justiça que devem regular a estrutura básica da sociedade e as relações políticas entre os cidadãos. Para Rawls, uma das dificuldades do LP é responder à seguinte pergunta: How is it possible for there to exist over time a just and stable society of free and equal citizens who remain profoundly divided by reasonable religious, philosophical, and moral doctrines? (Rawls, 1993, Introduction to the Paperback Edition, p. XXXVII).17 Este problema, segundo o autor, decorre do fato de que nem todas as doutrinas abrangentes razoáveis são doutrinas abrangentes liberais. É preciso averiguar se as mesmas podem ser compatíveis com uma concepção política liberal, aceitando um regime democrático como participantes de um consenso sobreposto, e não como simples modus vivendi.18 O autor considera que a ideia de consenso sobreposto é moral em seu objeto, fazendo com que o mesmo se torne estável na distribuição de doutrinas. Quando Rawls se refere ao pluralismo razoável, quer dizer da característica da cultura de um regime democrático livre (RAWLS, 1993). O pluralismo razoável se forma da 16 Tradução: O construtivismo político é uma visão sobre a estrutura e o conteúdo de uma concepção política. Essa visão sustenta que, uma vez que se alcance o equilíbrio reflexivo, os princípios de justiça política (conteúdo) podem representar como resultado de certo procedimento de construção (estrutura) (tradução nossa). 17 Tradução: Como é possível existir, ao longo do tempo, uma sociedade justa e estável de cidadãos livres e iguais, que permanecem profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e morais razoáveis? (tradução nossa). 18 Rawls afirma que: “ A typical use of the phase “modus vivendi” is to characterize a treaty between two states whose national aims and interests put them at odds (RAWLS, 1993, p. 147) 309 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I diversidade de doutrinas existentes, que mesmo sendo razoáveis entre si, se distinguem em alguns pontos, ou seja, podem chegar a ser inconciliáveis, apesar de serem razoáveis. Para Rawls, a existência de um pluralismo razoável leva à ideia de concepção política e a própria ideia de liberalismo político. As doutrinas abrangentes fazem parte do que Rawls denomina de “cultura de fundo”, uma cultura da vida cotidiana, onde as instituições possuem ideias e princípios que são compartilhados, mesmo que implicitamente. A cultura de fundo é composta pelas igrejas, universidades, associações em regra geral, é o que se chama de sociedade civil. Para o autor, o pluralismo razoável proporciona a ideia de concepção política de justiça em que diversas doutrinas abrangentes escolhem dentre muitos valores, alguns para compartilhar. Segundo o autor, o problema da estabilidade da filosofia política, esta relacionada, dentre outros fatores, à ideia de pluralismo razoável em contraposição a pluralismo simples (RAWLS, 1993). O pluralismo razoável é capaz de lidar com as doutrinas razoáveis e incompatíveis entre si, surgindo em contraposição ao pluralismo simples, que apenas reconhece as concepções opostas de bem. O fato do pluralismo razoável, para o autor, é uma característica fundamental para as sociedades que adotem uma concepção política de justiça. Ao tratar do pluralismo razoável, fator essencial para a reformulação da sociedade bem ordenada apresentada em Teoria da Justiça, Rawls introduz as ideias do consenso sobreposto e razão pública. Quando Rawls se propõe a formular uma concepção política que “se sustente por si própria” e que tem seu ideal político expresso pelo critério de reciprocidade, espera que as doutrinas abrangentes razoáveis possam acolher essa concepção política pelas razões certas, considerando que as mesmas fazem parte de um consenso sobreposto ou também chamado de consenso por sobreposição (overlapping consensus). 3.1 O Consenso Sobreposto e a Razão Pública. 310 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O consenso sobreposto de doutrinas abrangentes razoáveis em uma sociedade bemordenada pode se unificar e tornar-se estável. Rawls elenca três características fundamentais do consenso sobreposto: ser um consenso de doutrinas abrangentes razoáveis, produto da razão humana em condições de liberdade; expressar seu objeto, uma concepção política de justiça, que se sustente por si só, independente de doutrinas religiosas, filosóficas e morais abrangentes; e apresentar estabilidade, mesmo diante das alterações na distribuição de poder entre as doutrinas. Esse consenso abrange todas as doutrinas religiosas, filosóficas e morais que são tanto razoáveis como conflitantes, e que, provavelmente, persistirão ao longo do tempo e conseguirá conquistar um nível considerável de adeptos em um regime constitucional, cujo critério de justiça é uma concepção política. Rawls recorre ao consenso sobreposto como a única forma de fazer com que em meio à diversidade de doutrinas abrangentes existentes, os indivíduos cheguem a um acordo a cerca de determinadas questões. Para o autor, “As for its breadth, it covers the principles and values of a political conception (in this case those of justice as fairness) and it applies to the basic structure as a whole (RAWLS, 1993, p. 149).19 O consenso sobreposto deve ser amplo de modo a alcançar o maior número de doutrinas abrangentes, fazendo com que seja possível estabelecer um ponto em comum através das discussões. Segundo o autor, o objeto de tal consenso é uma concepção política específica de justiça, da qual a justiça como equidade constitui um exemplo padrão. O consenso sobreposto se configura como uma área onde as diferentes concepções dos cidadãos, apresentam um ponto em comum, que passam a guiar, de certa forma, os planos desta sociedade. A base do fundamento do sistema de Rawls depende da existência de um consenso social acerca das questões políticas fundamentais. Esse consenso social seria representado pela ideia do consenso sobreposto. Este consenso depende da redução dos conflitos entre os valores na esfera política, tanto no que diz respeito às questões de igualdade política e de oportunidade, quanto de liberdade e respeito mútuo. Rawls deixa claro que o exercício político é extremamente apropriado quando é exercido por uma Constituição que cidadãos possam aceitar os princípios e ideias aplicáveis à razão humana. Isto é, a formação da 19 Quanto à sua amplitude, abrange os princípios e valores de uma concepção política (no caso, os da justiça como equidade) e aplica-se à estrutura básica como um todo (tradução nossa). 311 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I concepção política que sustenta a si própria, por respeito ao princípio da reciprocidade, deve ser elaborada por razões certas e que possa fazer parte de um consenso sobreposto razoável. Para que as doutrinas abrangentes possam convergir em certos acordos básicos, e que os indivíduos cheguem a aderir a concepção política de justiça mais viável, Rawls recorre ao consenso sobreposto, que segundo ele, surge como a expressão da razão pública compartilhada. Para Rawls a razão pública é aquela razão de um povo democrático. Ela busca alcançar o procedimento, o meio para alcançar decisões justas. Esse procedimento pelo qual a sociedade escolhe sua política, seus planos e prioridades é sua razão. Nem todas as razões são públicas, possuem aquelas que são privadas, como as razões das universidades, das religiões, das organizações em geral da sociedade civil. A razão pública é razão dos cidadãos, é a característica de um povo democrático que tem por objeto o bem público. Para o autor a razão pública é a razão de cidadãos que compartilham uma democracia e o status de igual cidadania, ela é a característica de um povo democrático. Ela é entendida como a expressão política do conceito de autonomia de Kant a partir de uma relação intersubjetiva. Mas cabe ressaltar que essa razão não opera em todos os espaços públicos e sociais. Rawls limita esse discurso a fóruns específicos de deliberação democrática, que são três: a) os discursos dos juízes, especialmente os da suprema corte; b) os discursos dos agentes públicos, especialmente do chefe do executivo e membros do legislativo; c) os discursos de candidatos a cargos públicos e seus administradores de campanha. O liberalismo político aplica o princípio da tolerância à própria filosofia, quando, segundo Rawls, procura alcançar a razão política pública compartilhada pelos cidadãos, de forma independente às doutrinas abrangentes e conflitantes professadas por estes indivíduos. A razão pública não determina nem soluciona nenhuma questão específica de lei ou política pública, mas especifica quais são as razões públicas a serem usadas em decisões do Estado. Quando a ideia de razão pública é criada pelos cidadãos, eles são capazes de proteger as liberdades fundamentais e impedir que as desigualdades sociais e econômicas sejam excessivas. A razão pública não é especificada por uma concepção política em particular, mas seu conteúdo abarca uma gama de concepções políticas razoáveis que muda ao longo do tempo. Para Rawls, a ideia de razão pública propõe um modo de caracterizar a estrutura e o conteúdo das bases fundamentais da sociedade que seja apropriado a deliberações políticas. A 312 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I razão pública se configura como a razão dos cidadãos, que enquanto corpo coletivo exerce o poder político uns sobre os outros ao aprovar leis e emendar sua Constituição, aplicando-se somente a questões que envolvem os elementos constitucionais essenciais e questões de justiça básica (RAWLS, 1993). Para Rawls, os elementos constitucionais abarcam os direitos e liberdades políticas, que podem ser incluídos em uma Constituição escrita, supondo que a mesma possa ser interpretada por uma corte suprema, ao passo que questões de justiça básica, envolvem questões de justiça social, econômica e outras matérias que não são abarcadas por uma Constituição. Rawls considera que o ideal de razão pública se aplica de forma especial ao Judiciário, e, sobretudo, a um tribunal supremo, que realiza o controle jurisdicional da constitucionalidade das leis, fazendo da Suprema Corte, um caso exemplar de razão pública (RAWLS, 1993, p. 213). O conteúdo da razão pública é fornecido por uma concepção política de justiça, que especifica direitos, liberdades e oportunidades fundamentais. Essa concepção é aplicada somente às estruturas básicas da sociedade e suas principais instituições políticas, econômicas e sociais. Dessa forma, o ideal de razão pública e a concepção política de justiça, se relacionam mutuamente. Na justiça como equidade o conteúdo de uma concepção política de justiça são os princípios escolhidos pelas partes para promover os interesses daqueles a quem representam. E em uma sociedade bem ordenada, onde há um sistema equitativo de cooperação entre cidadão razoáveis e racionais, considerados livres e iguais, através um procedimento considerado razoável, as partes selecionam os princípios públicos de justiça para que a estrutura básica da sociedade seja concebida (RAWLS, 1993). Rawls reformula os princípios básicos de justiça da seguinte maneira: a) Each person has na equal claim to a fully adequate scheme of equal basic right and liberties, which scheme is compatible with the same scheme for all; and in this scheme the equal political liberties, and only those liberties, are to be guaranteed their fair value. b) Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to positions and offices open to all under conditions of fair equality 313 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least advantaged members of society. (RAWLS, 1993, p 6).20 Estes princípios regulam as instituições não apenas em relação aos direitos e oportunidades básicas, mas também no que diz respeito às demandas de igualdade, expressando uma variante igualitária de liberalismo, considerando três elementos, que são: a garantia do valor equitativo das liberdades políticas; a igualdade equitativa de oportunidades; e o denominado princípio da diferença, segundo o qual as desigualdades sociais e econômicas associadas a cargos e posições devem ser ajustadas de tal modo que, seja qual for o nível das mesmas, redundem no maior benefício possível para os menos privilegiados da sociedade (RAWLS, 1993, p. 7). A tentativa do autor é mostrar como uma sociedade democrática bem ordenada pode ser concretizada tendo em vista a justiça como equidade. E ainda, por mais que uma sociedade política justa seja possível, desde que os seres humanos estejam aptos a compreender e agir com base em uma concepção política razoável do direito e da justiça, essa teoria fomenta o movimento do equilíbrio reflexivo. Um movimento de auto sustentabilidade, de autopreenchimento, na medida em que exige que os próprios cidadãos sejam criadores e destinatários das normas em uma democracia constitucional. Em virtude desse desenvolvimento de Rawls, tanto em TJ que procura resolver o problema das desigualdades sociais e políticas, quanto em LP que dá continuidade ao trabalho anterior, é que o autor se faz tão interessante para o mundo contemporâneo e também para o direito. 3.2 - A ideia da Razão Pública revisitada 20 a) Cada pessoa tem um direito igual a um sistema plenamente adequado de direitos e liberdades iguais, sistema esse que deve ser compatível com um sistema similar para todos. E, neste sistema, as liberdades políticas, e somente estas liberdades, devem ter seu valor equitativo garantido. b) As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas exigências: em primeiro lugar, devem estar vinculadas a posições e cargos abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades; em segundo lugar, devem se estabelecer para o maior benefício possível dos membros menos privilegiados da sociedade (tradução nossa). 314 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A ideia de razão pública revisitada foi elaborada por Rawls, como uma revisão do conceito de razão pública. Segundo o autor, a ideia de razão pública faz parte de uma concepção de sociedade democrática constitucional bem-ordenada, sendo que a forma e o conteúdo desta razão fazem parte da ideia de democracia como regime marcado pelo pluralismo razoável de doutrinas que são ao mesmo tempo, razoáveis e conflitantes. O autor considera que a ideia de razão pública tem uma estrutura definida por cinco aspectos básicos, sem os quais pode parecer implausível: (1) as questões políticas fundamentais às quais se aplica; (2) as pessoas a quem se aplica (autoridades públicas e candidatos a cargos públicos); (3) seu conteúdo tal como especificado por uma família e concepções políticas razoáveis de justiça; (4) a aplicação dessas concepções em discussões de normas coercitivas que devem ser aprovadas na forma de Direito legítimo para um povo democrático; (5) a verificação pelos cidadãos de que os princípios derivados das tais concepções de justiça satisfazem o critério de reciprocidade (RAWLS, 1993). Rawls considera que a ideia de razão pública se aplica as autoridades públicas e candidatos a cargos públicos, ao sustentarem em suas decisões e discursos, posições políticas fundamentais recorrendo à concepção política de justiça que consideram a mais razoável. No entanto, o autor afirma que o ideal de razão pública também pode ser realizado pelos cidadãos, quando estes se concebem como legisladores e perguntam a si mesmos quais leis sustentadas por quais razões, que satisfazem o critério de reciprocidade, eles pensariam ser mais razoável aprovar (RAWLS, 1993). O conteúdo da razão pública é determinado pelos princípios e valores das concepções políticas liberais de justiça (RAWLS, 1993). Essas concepções políticas devem ser completas, expressando princípios, padrões e ideais junto com diretrizes de investigação, para que os valores por ela explicitados ofereçam uma resposta razoável às questões que envolvem elementos constitucionais essenciais e matérias de justiça básica. Quando essas concepções são aplicadas em discussões referentes à aprovação de normas coercitivas, tendo os envolvidos seguido a ideia de razão pública, a norma legal que expressa a opinião da maioria deve ser considerada lei legítima, mesmo que não se mostre a mais razoável para cada um, mas é politicamente vinculatória para todos. Esta ideia de legitimidade se baseia no critério de reciprocidade, onde aceitamos as razões que oferecemos para justificar as ações políticas, desde que os outros possam razoavelmente aceitá-las. 315 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A ideia de razão pública é uma visão sobre os tipos de razão nas quais os cidadãos devem basear seus argumentos políticos ao apresentar justificações políticas uns aos outros, isso quando apoiam leis e políticas que invocam os poderes coercitivos do Estado quanto a questões políticas fundamentais (RAWLS, 1993). No entanto, nem sempre os cidadãos que sustentam a mesma concepção estão de acordo em relação a questões específicas, mas são consideradas razoáveis se estiverem em conformidade com a ideia de razão pública, supondo que todos os indivíduos possam razoavelmente aceitá-las, o que não significa que o resultado seja verdadeiro ou correto, mas é razoável, o que o torna vinculatório em razão do princípio da maioria. Na razão pública ideias de verdade ou de correção baseadas em doutrinas abrangentes são substituídas por uma ideia do politicamente razoável dirigido aos cidadãos. Segundo Rawls esse passo é necessário para estabelecer uma base de argumentação política que possa ser compartilhada pelos indivíduos como livres e iguais, conferindo a cada pessoa a mesma posição política básica, para que apresentem justificações públicas para seus julgamentos a cerca das questões políticas fundamentais. Rawls enfatiza que é central para o Liberalismo Político que os cidadãos livres e iguais afirmem ao mesmo tempo uma doutrina abrangente e uma concepção política (RAWLS, 1993). Assim, quando o Liberalismo Político trata de um consenso sobreposto razoável de doutrinas abrangentes, ele pretende mostrar que todas essas doutrinas, dão apoio a uma concepção de justiça que serve de base a uma sociedade democrática constitucional, cujos princípios, ideais e padrões satisfazem o critério de reciprocidade (RAWLS, 1993). Desta forma, a razão pública no Liberalismo Político, é uma maneira de argumentar sobre valores políticos compartilhados por cidadãos livres e iguais. E a sociedade democrática bem-ordenada é aquela em que os cidadãos agem com base em doutrinas abrangentes razoáveis, que sustentam concepções políticas razoáveis, que vão especificar os direitos, as liberdades e as oportunidades fundamentais na estrutura básica da sociedade (RAWLS, 1993). 4 – A Lei Complementar 135/2010 - Lei da Ficha Limpa 316 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A Lei Complementar 135/2010, conhecida como “Lei da Ficha Limpa”, surgiu como um Projeto de Lei de Iniciativa Popular, com o objetivo de modificar os critérios de inelegibilidade previstos na Lei Complementar nº. 64, de 18 de maio de 1990, chamada Lei das Inelegibilidades, instituindo outras hipóteses de inelegibilidade voltadas, sobretudo, à proteção da probidade e moralidade administrativas no exercício do mandato eletivo, nos termos do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal. O Projeto de lei recolheu mais de 1,3 milhões de assinaturas em todo país, ganhando repercussão nacional. Desta forma, preencheu os requisitos constantes na Constituição da República de 1988, no que tange a projeto de lei de iniciativa popular: conter, no mínimo, a participação de um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 4 de junho de 2010, passou a ser intitulada como Lei Complementar 135/2010, popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa. Surgiram inúmeras polêmicas em torno da citada lei, sendo proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4. 578, analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 16 de fevereiro de 2012. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4. 578 (ADI 4.578), foi apresentada pela Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL), em março de 2011, com o argumento que a Lei Complementar 135/2010, sofreria de “chapada inconstitucionalidade”. Nesse contexto, a referida lei foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo proferidos os votos de seus respectivos ministros. Fazendo uma análise histórica do princípio da presunção de inocência, o ministro Luiz Fux, entendeu que este princípio deve ser flexibilizado no âmbito do direito eleitoral, considerando improcedente a ADI 4.578, mas ressaltou a desproporcionalidade na fixação do prazo de oito anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena. 317 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Joaquim Barbosa, em seu voto-vista, elencou que a Lei da Ficha Limpa está “em perfeita harmonia com o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal”.21 Para o ministro, as alegações de inconstitucionalidade da Lei Complementar 135 “decorrem de uma interpretação limitada da Constituição”, privilegiando uma minoria de ocupantes de cargos eletivos em detrimento de toda a sociedade, que busca a moralização da política brasileira. Baseando no princípio da presunção de inocência, o ministro Dias Toffoli, votou pela aplicação da lei a fatos ocorridos antes de sua publicação, salientando, porém que o cidadão só poderá ser considerado inelegível quando tiver condenação transitada em julgado. A ministra Cármen Lúcia, também defendeu a constitucionalidade da lei, salientando que a democracia representativa demanda uma representação ética. Assim, afirma não ver na lei, inconstitucionalidade, mas “a pregação e a reafirmação de cada qual dos princípios constitucionais”. Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski optou pela total constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, ressaltando que a norma foi apoiada por mais de 1,5 milhões de assinaturas, sendo apreciada e aprovada pelo Congresso Nacional, na forma prevista na Constituição. Afirmou que a lei conta com o apoio expresso e explícito dos representantes da soberania nacional. Ayres Britto também manifestou seu voto favorável à Lei Complementar 135/2010, apontando que a Lei da Ficha Limpa tem a ambição de “mudar uma cultura de malversação da coisa pública, para implantar no país o que se poderia chamar de qualidade de vida política, pela melhor seleção, pela melhor escolha dos candidatos, candidatos respeitáveis”. O ministro Cezar Peluso, proferiu seu voto ressaltando que a Lei Complementar 135/2010, ao dispor sobre inelegibilidade, não poderia alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, o que em seu entender, configuraria restrição de direitos. No entanto o ministro Gilmar Mendes sustentou que a lei não pode retroagir para alcançar atos e fatos passados, sob pena de violação ao princípio constitucional da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, CR/88). 21 Art. 14, §9°. Lei Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). 318 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Ao votar, o ministro Marco Aurélio se manifestou de forma favorável à constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 135, afirmou que a lei não é desarrazoada, acrescentou que há práticas que merecem “quase que a excomunhão maior”. O ministro Celso de Mello manifestou-se pela inconstitucionalidade da regra da Lei Complementar 135/10, a dizer, a suspensão de direitos políticos sem decisão condenatória transitada em julgado, além de entender que a norma não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores a sua publicação. Não obstante, a ministra Rosa Weber votou pela total constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, afirmando que a norma provém da iniciativa popular, motivo que, para ela, “evidencia o esforço hercúleo da população brasileira em trazer para a seara política uma norma de eminente caráter moralizador”. O foco, em seu entendimento, “é a coletividade, buscando preservar a legitimidade das eleições, a autenticidade da soberania popular e, em última análise, assegurar o processo de concretização do Estado Democrático de Direito”. Afirma ainda que em uma democracia pluralista, todos compõem a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, e diferentes pontos de vista devem ser levados em consideração para se alcançar a melhor interpretação possível do texto constitucional. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria dos votos (7 x 4), pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, definindo ainda, que a mesma poderá ser aplicada alcançando atos e fatos ocorridos antes de sua vigência. Desta forma, o STF, confirmou o consenso emanado da razão pública dos cidadãos, que como afirma Rawls, ao analisar a constitucionalidade de uma norma, uma corte suprema apresenta-se como a expressão da própria razão pública, a razão dos cidadãos. 5 – O Supremo Tribunal Federal constitui o ideal de razão pública no julgamento da Lei da Ficha Limpa? 319 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I De acordo com a Constituição Federal de 1988, uma das competências do Supremo Tribunal Federal é julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Aplicando o caso da Lei da Ficha Limpa à teoria de Rawls, vê-se que a proposta de lei por iniciativa popular pode ser traduzida como uma espécie do que o autor chama de “consenso sobreposto”. Um consenso existente entre as inúmeras doutrinas abrangentes razoáveis professadas pelos indivíduos, que mesmo sendo divergentes, chegam a coincidir em determinadas questões. Para Rawls, este mecanismo é a única forma que permite aos cidadãos racionais e razoáveis a aderirem à concepção pública de justiça. Rawls considera que, Only when there is a reasonable overlapping consensus can political society’s political conception of justice be publicly – though never finally – justified (RAWLS, 1993, 388).22 Apesar de se encontrarem repletos de concepções religiosas, filosóficas e políticas, os indivíduos da sociedade brasileira, chegaram a um consenso para a formulação de uma concepção pública: a necessidade de aperfeiçoar os parâmetros éticos e morais a cerca dos critérios de inelegibilidade dos representantes políticos. Essa concepção foi aderida pelos cidadãos e encaminhada para o Poder Legislativo, a fim de transformá-la em um ato normativo, conhecido e respeitado por todos. Como ressalta Rawls, este consenso sobreposto surge como forma de expressão da razão pública, a razão dos cidadãos, que enquanto corpo coletivo exerce o poder político uns sobre os outros ao aprovar leis e emendar sua Constituição. O exercício do poder político é plenamente apropriado só quando é exercido em conformidade com uma Constituição, cujos elementos essenciais se pode razoavelmente esperar que todos os cidadãos, em suas condições de livres e iguais, endossem à luz de princípios e ideais aceitáveis para sua razão humana comum (RAWLS, 1993). Este é o princípio liberal da legitimidade, cujas características encontramos presentes no caso examinado. A começar pelo fato do exercício do poder político ter sido respaldado pelos dispositivos de nossa Carta Magna, seja em relação à iniciativa popular para elaboração de projeto de lei, bem como para a regulamentação por lei complementar dos requisitos de inelegibilidade para os cargos de representação pública. 22 Tradução: “somente quando há um consenso sobreposto razoável que a concepção política de justiça pode ser publicamente - embora nunca em definitivo – justificada” (tradução nossa). 320 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Assim, os cidadãos racionais e razoáveis, formularam uma legislação para reger os planos da sociedade, de acordo com a concepção política adotada por eles. Este modo como os indivíduos formulam seus planos, tomam suas decisões e definem suas prioridades é tida por Rawls como sua razão pública. Desta forma, a razão pública se aplica as questões públicas de justiça, bem como questões constitucionais fundamentais, além de ser utilizadas pelos cidadãos em seus discursos públicos, levando em conta seu dever de civilidade, ou seja, a capacidade de explicar perante os outros, os valores políticos que levaram a formulação de tal decisão. Rawls ainda considera que o ideal de razão pública se aplica de forma especial ao Judiciário, principalmente a um tribunal supremo, afirmando que: in a constitutional regime whith judicial review, public reason is the reason of its supreme court (RAWLS, 1993, p. 231).23 Afirma ainda que: That the supreme court is the branch of government that serves as the exemplar of public reason (RAWLS, 1993, p. 231).24 Assim, ao analisar a constitucionalidade da Lei 135/2010, o Supremo Tribunal Federal foi um exemplo da aplicação do ideal da razão pública, cujos valores políticos defendidos pela sociedade, forneceram ao tribunal, as bases para a interpretação do dispositivo normativo. É importante destacar que Rawls considera que ao realizarem a interpretação os juízes, que em nosso caso são ministros, devem recorrer aos valores abarcados pela concepção política de justiça. Assim na ADI 4.578, os ministros, recorreram à concepção defendida pelos indivíduos, uma moralização da política, o que levou ao reconhecimento da constitucionalidade da norma, reforçando mais uma vez, a legitimidade da razão dos cidadãos. Para ilustrar, têm-se os argumentos utilizados no voto da ministra Rosa Weber, em que afirma que a norma surgida da iniciativa popular evidencia o esforço da população brasileira em moralizar a política. Ela deixa claro que em uma democracia pluralista, todos os indivíduos são considerados intérpretes da Constituição, ato que mostra que os diversos pontos de vista devem ser acolhidos em busca da melhor interpretação possível do texto constitucional. 23 Em um regime constitucional em que há um controle jurisdicional da constitucionalidade das leis ou “revisão judicial”, a razão pública é a razão de seu tribunal supremo (tradução nossa). 24 A Suprema Corte é o ramo de poder do Estado que serve de caso exemplar de razão pública (tradução nossa). 321 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Desta forma, ao afirmar os valores da concepção política defendidas pelos indivíduos na formulação da Lei da Ficha Limpa, o Supremo Tribunal Federal confirma a ideia de razão pública. Segundo Rawls, esta ideia de razão pública explicita no nível mais profundo os valores morais e políticos que devem determinar a relação de um governo democrático constitucional com seus cidadãos e a relação destes entre si. Esta ideia é compreendida por Rawls, como parte de uma concepção de sociedade democrática bem ordenada. Destacando, ainda, que a ideia de razão pública é diferente do ideal de razão pública. O ideal de razão pública, segundo Rawls, é realizado ou satisfeito sempre que juízes, legisladores, chefes do Poder Executivo e outras autoridades públicas, agem com base na ideia de razão pública, pautam-se por tal ideia e explicam a outros cidadãos suas razões para sustentar posições políticas fundamentais recorrendo à concepção política de justiça que consideram a mais razoável. Assim além de confirmar a ideia de razão pública, o Supremo Tribunal Federal sustentou o ideal de razão pública agindo com base naquela, explicando através dos votos de seus ministros, as razões pelas quais sustentaram as posições políticas que consideraram mais razoáveis. Rawls considera que quando as autoridades públicas e os cidadãos se mostram dispostos a honrar o dever de civilidade, seguindo o ideal de razão pública, ajudam a promover o tipo de sociedade que o ideal exemplifica. Uma sociedade guiada por princípios e valores políticos que constituem uma concepção política razoável de justiça. Esta ideia de razão pública defendida por Rawls é tida por ele como uma visão sobre os tipos de razão nas quais os cidadãos devem basear seus argumentos políticos ao apresentar justificações políticas uns aos outros quando apoiam leis e políticas que invocam os poderes coercitivos do Estado quanto a questões políticas fundamentais (RAWLS, 1993). Rawls afirma que a ideia de razão pública origina-se de uma concepção de cidadania democrática em uma democracia constitucional, apontando que essa relação política fundamental da cidadania, apresenta duas características: é uma relação de cidadãos com a estrutura básica da sociedade; e é uma relação de indivíduos livres e iguais, que exercem o poder político último como corpo coletivo (RAWLS, 1993). Assim, os cidadãos participam da razão pública ao 322 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I deliberarem de acordo com a concepção política de justiça que expressa os valores políticos que consideram razoáveis e que os outros indivíduos também possam aceitar como razoáveis. Desta forma, quando questões constitucionais essenciais e questões básicas de justiça estão em discussão, as autoridades públicas, bem como os cidadãos razoáveis, agem seguindo a razão pública. No caso em análise, ao proporem o projeto de lei os cidadãos agiram com base na razão pública, cumprindo com seu dever de civilidade, adotando a concepção que consideraram como a mais razoável, que ao ser aprovada pelo Congresso Nacional, se tornou politicamente vinculatória para todos. Não obstante, a Suprema Corte, ao apreciar a referida legislação, também agiu com base na razão pública, que de acordo com Rawls, ao analisar a constitucionalidade de uma norma, o tribunal superior se configura como uma forma especial da aplicação do ideal de razão pública. E fundamentando suas decisões nas concepções que consideraram mais razoáveis, os ministros confirmaram a doutrina professada pelos cidadãos, expressada pela ideia de razão pública dos mesmos. Rawls ainda aponta que o conteúdo da razão pública é determinado pelos princípios e valores da família das concepções políticas liberais de justiça, e participar da razão pública é recorrer a uma dessas concepções políticas ao debater questões políticas fundamentais (RAWLS, 1993). Rawls considera que o compromisso dos cidadãos democráticos com a razão pública é fortalecido pelas razões certas (RAWLS, 1993). Assim, quando as autoridades públicas e os cidadãos se tornam conscientes deste compromisso, apresentam maior disposição em honrar o dever de civilidade. Certo é que o fato de seguirem o ideal de razão pública ajuda a promover o tipo de sociedade que este ideal exemplifica (RAWLS, 1993). No pensamento de Rawls a razão pública vê a posição do cidadão com seu dever de civilidade, como análoga a do juiz, com seu dever de decidir casos judiciais (RAWLS, 1993). Assim, do mesmo modo que os juízes recorrem a fontes legais e outras fontes relevantes para decidir os casos, os indivíduos devem argumentar recorrendo à razão pública, levando em conta o critério de reciprocidade, sempre que o que estiver em jogo, forem elementos constitucionais essenciais e questões básicas de justiça. Deste modo, do ponto de vista da razão pública, os cidadãos devem tomar suas decisões com base na ordenação de valores políticos que consideram mais razoáveis. 323 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Ao apresentar o projeto da Lei da Ficha Limpa os indivíduos apresentaram um consenso dos valores políticos tidos por eles como os mais razoáveis, recorrendo à razão pública para argumentar sobre sua validade, ao passo que na análise da constitucionalidade o Supremo Tribunal Federal, além de recorrer às fontes legais, recorreu aos valores políticos emanados pela sociedade através de um consenso sobreposto, que surgiu como expressão da razão pública compartilhada. Depreende-se assim, que a Suprema Corte, foi um exemplo da razão pública, decidindo um caso concreto com base no ideal de razão pública professado pelas doutrinas abrangentes razoáveis, expresso no consenso sobreposto defendido pelos cidadãos da sociedade brasileira, justificado com base nos valores políticos razoáveis, emanados por uma ideia de razão pública. 6 – Conclusão A partir do pensamento de Rawls, percebe-se que a atuação do Supremo Tribunal Federal na apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.578, que trata da Lei Complementar 135/2010, configura-se como um exemplo da expressão do ideal de razão pública. Este ideal é aplicado ao discurso dos ministros da Corte, que ao proferirem seus pareceres, fundamentam-no na concepção considerada mais razoável. Concepção esta dada pelos valores e princípios políticos compartilhados na sociedade e expressos pela própria razão pública. A razão pública se configura com a razão dos cidadãos, que ao formularem seus planos, definirem suas prioridades e exercitar o poder político, o fazem com base em uma concepção política razoável do direito e da justiça, que surge de um consenso sobreposto das doutrinas abrangentes constitutivas da sociedade democrática. 324 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Essas doutrinas, mesmo sendo irreconciliáveis, são razoáveis e formam o pluralismo razoável, característica essencial de um regime constitucional democrático, que apresenta as bases da sociedade bem-ordenada regulada por uma concepção política de justiça. Esta concepção política advinda da razão pública dos cidadãos forneceu os valores políticos para a análise da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da lei em questão. Assim, a concepção política emanada da razão dos cidadãos e confirmada pelo ideal de razão pública expresso pela Suprema Corte, confirma as ideias defendidas pelos cidadãos buscando uma moralização da política, e passará a guiar a estrutura da sociedade democrática brasileira, de forma politicamente vinculatória para todos. Desta forma, ao declarar a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, o Supremo Tribunal Federal se enquadra ao ideal de razão pública, confirmando a necessidade de aplicação do princípio da moralidade aos casos de elegibilidade. Ato que reforça a legitimidade da razão dos cidadãos para formularem os planos e princípios que regulam a estrutura básica de uma sociedade democrática bem-ordenada. Referências: AUDARD, Catherine. John Rawls. Bibliothèque nationale du Québec. 2007 CALVET DE MAGALHÃES, Maria Thereza. A idéia de Liberalismo Político em John Rawls: uma concepção poítica de justiça. In: OLIVEIRA, Mafredo; ALVES AGUIAR, Odilon; SAHD, Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva (organizadores). Filosofia Política contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. DANIELS, Norman (Ed.) Reading Rawls. Critical Studies on Rawls’ ‘A Theory of Justice’. Stanford California: Stanford University Press, 1989. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 421 p. GARGARRELA, Roberto. As Teorias da Justiça depois de Rawls. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 325 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I HERRERO, F. Javier. O Ethos Atual e a Ética. Síntese - Rev. de Filosofia. V. 31 N. 100 (2004): 149-161 KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea (trad.). São Paulo: Martins Fontes, 2006. POGGE, Thomas. John Rawls: His Life and Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press, 2007. RAWLS, Justiça e Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 1998. RAWLS, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 2005. 1993 RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971. RAWLS, John. Justice as Fairness: a restatement. Harvard College. Edited by Eric Kelly. 2001. RICOEUR, Paul. O justo: ou a essência da justiça. Ed. Instituto Piaget. Tradução de Vasco Casimiro. Lisboa. 1995. OLIVEIRA, Nythamar. Rawls, Ed. Zahar 1º edição 2003. 76.p. VITA, Alvaro de. O liberalismo igualitário : sociedade democrática e justiça internacional / Álvaro de Vita. – São Paulo : WMF Martins Fontes, 2008b. 326 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I LIBERDADE DE EXPRESSÃO E HATE SPEECHES: AS INFLUÊNCIAS DA JURISPRUDÊNCIA DOS VALORES E AS CONSEQUÊNCIAS DA PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS NO JULGAMENTO DO CASO ELLWANGER1 FREEDOM OF EXPRESSION AND HATE SPEECHES: THE INFLUENCES OF THE JURISPRUDENCE OF VALUES AND THE CONSEQUENCES OF BALANCING PRINCIPLES IN THE CASE ELLWANGER RESUMO: Este trabalho pretende analisar a prevalência tardia da Jurisprudência dos Valores e a ausência de uma teoria da decisão no Supremo Tribunal Federal, tendo como paradigma o caso do HC 82.424-2/RS. Parte-se do pressuposto de que a liberdade de expressão e comunicação é direito fundamental assegurado pela Constituição brasileira e está intimamente ligada à consolidação da democracia constitucional. Neste sentido, os contributos de Ronald Dworkin são utilizados para demonstrar, através de paralelo com a realidade da liberdade de expressão nos Estados Unidos da América, a imprescindibilidade da livre expressão e comunicação de ideias para que o indivíduo se torne agente moral responsável no regime de democracia constitucional. Contudo, de acordo com a Constituição brasileira, com a legislação e com os tratados internacionais assinados pelo Brasil, essa liberdade não protege os discursos de incitamento ao ódio. O Supremo Tribunal Federal, ao ignorar tal realidade legislativa, preferiu aceitar a ideia de que a Constituição é uma ordem concreta de valores por ele ponderáveis, o que ocasionou forte discrepância nas decisões dos ministros e demonstrou que, através da ponderação de valores, há uma fragilização da democracia e da proteção dos direitos fundamentais. Este panorama revela a necessidade de se construir uma teoria da decisão judicial, capaz de impedir juízos irracionais e decisionismos judiciais. PALAVRAS-CHAVE: Liberdade de expressão e comunicação; hate speeches; democracia constitucional; teoria da decisão. ABSTRACT: This paper aims to analyse the prevalence of the Jurisprudence of Values and the absence of a decision theory in the Supremo Tribunal Federal (Brazilian Supreme Court), using the case Ellwanger as an example. The author assumes that the freedom of expression and communication is a human right guaranteed by the Brazilian Constitution, which is deeply related to the consolidation of constitutional democracy. In this sense, the contributions of Ronald Dworkin are used to establish a parallel between the reality of the freedom of expression in the USA and argues that free speech and communication of ideas are essential to the development of citizens as responsible moral agents in a constitutional democracy. However, according to the Brazilian Constitution, statutes and treaties accessioned by Brazil, the freedom of expression doesn’t protect hate speeches. The Supremo Tribunal Federal, by ignoring this legal background, has preferred to accept the idea that the Constitution is a concrete order of values, resulting in incompatible decisions and shown the impossibility of 1 Autores: Clarissa Tassinari – Bacharel em Direito (Universidade do Rio dos Sinos/UNISINOS). Mestre em Direito (UNISINOS). Doutoranda em Direito (UNISINOS). Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5065376917812503 Elias Jacob de Menezes Neto – Bacharel em Direito (Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN). Mestre em Direito (Universidade do Vale do Rio dos Sinos/UNISINOS). Doutorando em Direito (UNISINOS). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9152955193794784 Endereço de correspondência: Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Programa de Pós-Graduação em Direito. Avenida Unisinos, 950 - 93022-000 - São Leopoldo, RS – Brasil. 327 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I protecting human rights and the democracy with the balancing formula. This panorama shows the need to elaborate a judicial decision theory able to prevent irrational court orders and decisionisms. KEYWORDS: Freedom of expression and communication; hate speeches; constitutional democracy; decision theory. INTRODUÇÃO A liberdade de expressão e comunicação percorreu longo trajeto histórico para adquirir a força que tem hoje nos textos constitucionais. 3 Ela está presente de maneira ampla na Constituição Federal brasileira de 1988 e aparece como liberdade de pensamento (art. 5º, IV); como liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura (art. 5º, IX); como direito de acesso à informação (art. 5º, XIV); como direito à livre manifestação de pensamento, liberdade de informação jornalística e vedação de censura política e ideológica (art. 220 e parágrafos). No decorrer do presente trabalho, será analisado o conceito de liberdade de expressão e comunicação, especialmente sob a ótica da doutrina jurídica dos direitos fundamentais e do Estado democrático de direito. Utilizando-se do que foi teoricamente desenvolvido por Ronald Dworkin (1978, 2005), será feito um pequeno recorte, para demonstrar o pensamento corrente nos Estados Unidos da América sobre o tema, com as peculiaridades daquele país, ressaltando, a partir desta leitura, a imprescindibilidade da livre expressão e comunicação de ideias para que o indivíduo se torne agente moral responsável no regime de democracia constitucional. Nesta abordagem, que relaciona democracia e liberdade de expressão, e no interior de uma sociedade plural e multifacetada como a brasileira, diversas questões, muitas vezes polêmicas, são colocadas para debate. Uma delas, relacionada à hipotética proteção dos discursos de ódio – hate speeches – pela liberdade de expressão, ficou famosa através do julgamento do HC 82.424-2/RS, denominado caso Ellwanger, que tratava sobre a possibilidade de caracterização da produção editoração de livros antissemitas como racismo para fins da imprescritibilidade atribuídos pela Constituição brasileira. Na realidade, a discussão, apesar de importante, foi desnecessária naquele caso, pois o “hard case” era extremamente simples: bastava manter a imprescritibilidade prevista pela Carta Magna para a prática de racismo, sendo sem maior relevância a alegação trazida pela defesa de que os judeus não são uma “raça” e que, assim, o paciente não teria cometido racismo. 3 A título de exemplo, pode-se observar também a liberdade de expressão e comunicação na constituições espanhola de 1978 (artigo 20.1, a, b, c, d); italiana de 1947 (artigo 21) e portuguesa de 1976 (artigos 37.1 e 37.2). 328 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Apesar do resultado constitucionalmente adequado – tendo em vista que o habeas corpus foi julgado improcedente –, em face da argumentação produzida no julgamento, ficou patente o problema da ausência de uma teoria da decisão, como a proposta por Lenio Streck (2011a, 2011b). Através de uma adoção tardia e descontextualizada da Jurisprudência dos Valores e da teoria da argumentação, nos moldes colocados por Robert Alexy (1993, 2010), os ministros do Supremo Tribunal Federal buscaram compreender a situação como uma colisão entre os valores da liberdade de expressão e comunicação e a dignidade humana que só poderia ser solucionada, de maneira objetiva e justificável, pelo raciocínio de ponderação de valores. O problema é que, sob o argumento da utilização da mesma “técnica de interpretação”, os ministros chegaram a resultados completamente opostos. Isso porque a própria ponderação – fundamental ao método da teoria da argumentação – depende, antes, de uma escolha dos valores que serão sopesados, o que, ao fim, revela, por um lado, a artificialidade desse raciocínio, uma vez que a própria escolha dos valores a ponderar ocorre antes de qualquer tipo de metodologia para resolver o caso, no sentido de que já antecipa a resposta antes mesmo do exercício da ponderação. Por outro lado, essa escolha antecipada de valores é justamente a manifestação de discricionariedades e arbitrariedades, questão que este artigo pretende enfrentar. Nesse sentido, o presente trabalho demonstrará os problemas que acarretam a utilização da “ponderação valores”, na medida em que revela um juízo discricionário. O enfrentamento de discricionariedades (e, por consequência, de arbitrariedades) pode ser feito através da afirmação da necessidade de uma teoria da decisão, que exija do julgador a responsabilidade por uma resposta constitucionalmente adequada, passando longe do decisionismo judicial. Assim como a democracia, que não pode ser o resultado das vontades e escolhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a concretização dos direitos fundamentais – ou, em outras palavras, sua proteção – não pode depender nem ser confundida com relativizações e ponderações. 2 − A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO E A DEMOCRACIA O debate sobre a liberdade de expressão e comunicação deveria ser irrelevante, ou melhor, a proteção a esse direito fundamental deveria ser tão óbvio que as discussões não fossem mais necessárias. Pelo menos essa era a esperança de John Stuart Mill, no segundo 329 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I capítulo, denominado “Of the liberty of thought and discussion”, do seu clássico “On Liberty”.4 Para ele, É de se esperar que já não seja mais necessária qualquer defesa da ‘liberdade de imprensa’, uma das garantias contra a governos tirânicos ou corruptos. Atualmente, podemos supor que não seja necessário nenhum argumento contra leis que permitam ao legislativo ou executivo, sem interesse popular, prescrever opiniões às pessoas e determinar quais doutrinas ou argumentos elas não podem ouvir. Este aspecto da questão, além disso, tem sido tão reforçada por escritores anteriores que não é necessário insistir nesse assunto (2006, p. 18)5. No entanto, o tema ainda é extremamente rico, apesar do enfoque diverso àquele dado pelo autor britânico. Uma das referências obrigatórias para a liberdade de expressão é a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América. Parte integrante da Bill of Rights (1791), tinha como objetivo proteger constitucionalmente as liberdades civis, em especial religiosa, de expressão e de reunião, através da proibição de elaboração de leis que violassem esses direitos fundamentais. Em seu texto lê-se que o congresso não deverá aprovar legislação que, dentre outros, proíba o livre exercício da religião ou restrinja a liberdade de expressão ou imprensa6. A liberdade de expressão e comunicação “[...] constitui uma das características das atuais sociedades democráticas [...] é considerada inclusive como termômetro do regime democrático” (FARIAS, 2000, p. 159). No mesmo sentido é a afirmação feita por Noam Chomsky e Edward Herman (2003, p. 492) de que “a luta pela liberdade de expressão [...] está no cerne de toda uma gama de liberdades e direitos”. Coloca-se, no entanto, a seguinte questão: sendo um direito fundamental tão precioso para a doutrina, estará sendo tratado com o mesmo apreço pelos juristas durante a aplicação em casos? A resposta é iluminada, em parte, pelo professor de filosofia do direito da Universidade de Oxford, Joseph Raz (1991, p. 303), para quem a liberdade de expressão é um quebra-cabeças liberal. Afinal, os liberais estão todos convictos de que ela é de vital importância, mas o motivo para merecer essa importância é um mistério. A fonte do 4 Para Ronald Dworkin (1978, p. 259), a obra de Stuart Mill foi, no decorrer da história, mais útil aos conservadores do que aos liberais, pois serviu de alvo fácil para os críticos do liberalismo. 5 No original: “The time, it is to be hoped, is gone by when any defence would be necessary of the 'liberty of the press' one of the securities against corrupt or tyrannical government. No argument, we may suppose, can now be needed, against permitting a legislature or an executive, not identified in interest with the people, to prescribe opinions to them, and determine what doctrines or what arguments they shall be allowed to hear. This aspect of the question, besides, has been so often and so triumphantly enforced by preceding writers, that it needs not be specially insisted on in this place.” 6 No original: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances” 330 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I problema, diz Raz, é simples: enquanto a liberdade de expressão de uma pessoa tem alta prioridade e é protegida – ou, na moralidade política, é tida como merecedora de proteção – em um nível muito maior do que o interesse dessa pessoa em ter um emprego ou não correr o risco de sofrer um acidente ao dirigir em vias públicas, é evidente que a maioria das pessoas valorizarão estes interesses (e tantos outros que não possuem proteção legal especial) muito mais que sua livre expressão. Raz conclui afirmando que não há muita dúvida de que a maioria das pessoas estejam certas ao não valorizar tanto sua liberdade de expressão. No mesmo sentido, mas já dando pistas do momento em que a liberdade de expressão e comunicação adquire importância social, é a afirmação de David van Mill (2009), para quem o assunto é um dos mais debatidos nas sociedades liberais, pois, se não é muito valorizada pela sociedade, não encontra-se problemas em limitá-lo. Tais problemas só surgem quando as liberdades já foram restringidas. Já Giacomo Sani afirma que a dificuldade que a liberdade de expressão e comunicação tem para encontrar o consenso entre o público diz respeito à sua natureza de princípio (concebido pelo autor como como genérico e abstrato). Segundo ele, pesquisas feitas nos Estados Unidos demonstraram que a aceitação da liberdade de expressão não encontra consenso entre o público e que é provável que as diferenças de Consenso a nível da enunciação dos princípios e da sua aplicação a situações particulares sejam devidas ao fato de que os princípios são expressos de forma bastante genérica e abstrata, prestando se a interpretações diversas, ao passo que, em sua aplicação, eles são inseridos, por assim dizer, nas situações e experiências particulares dos protagonistas, aí incluídas as divergências táticas derivadas da oposição das forças políticas (1998, p. 241). Para que seja possível a mudança desse cenário, é necessário o reconhecimento e o desenvolvimento da liberdade de expressão e comunicação como direito fundamental, indispensável à proteção da dignidade e ao pleno desenvolvimento humano. A comissão MacBride da Unesco subdividiu a liberdade de expressão e comunicação em três direitos: 1) o direito de saber, ou seja, de procurar e receber livremente as informações (não falseadas ou deturpadas) sempre que desejar, especialmente quando forem pertinentes à vida individual e coletiva do homem; 2) o direito do indivíduo comunicar aos outros a verdade (naquilo que entende por verdade) sem sofrer intimidação nem ser impedido de ter acesso aos meios de comunicação; 3) o direito de discutir, ou seja, de influir (e sofrer influência) nas decisões que o afetem. Edilsom Farias (2004, p. 64-74) defende a natureza dual da liberdade de expressão. Para ele, ela possui duas perspectivas: uma, de natureza subjetiva, considera a liberdade de 331 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I expressão indispensável para a proteção da dignidade humana e para o livre desenvolvimento do homem; outra, de natureza objetiva, diz respeito ao grau de diversidade dos pontos de vista expressos na sociedade e da sua pertinência com assuntos de interesse público. A perspectiva subjetiva da liberdade de expressão e comunicação é aquela voltada para o indivíduo e tem suas fontes em John Milton (1608-1674) e em John Stuart Mill (18061873). Para ambos, a verdade − que teria natureza objetiva − só poderia ser alcançada através da livre discussão de ideias, mesmo que erradas, pois estas seriam naturalmente rechaçadas e ajudariam a encontrar a verdade. Atualmente, um dos defensores da liberdade de expressão e comunicação na perspectiva subjetiva é o norte-americano Ronald Dworkin. Na sua conhecida obra “Taking Rights Seriously” (1978), Dworkin estabelece limites ao direito da coletividade interferir na liberdade de expressão e comunicação do indivíduo, pois, como todos os direitos fundamentais, a liberdade de expressão e comunicação deve ser “levada a sério”. A perspectiva objetiva da liberdade de expressão e comunicação é aquela voltada para a sociedade. Nesse sentido, deve atuar como instrumento para a pluralidade de expressão e debate de ideias e, consequentemente, como suporte da democracia deliberativa. Foi nessa perspectiva que se deu a primeira emenda da Constituição norte-americana, já mencionada anteriormente. Para James Madison, só seria possível existir liberdade de expressão e comunicação quando houvesse a possibilidade de coexistência entre diversos pontos de vista relacionados aos assuntos de interesse público. O direito fundamental em questão cumpriria, assim, uma dupla função na democracia: uma função informativa pela qual o livre fluxo de informações possibilita o melhor conhecimento e a melhor avaliação dos assuntos de relevância pública. Destarte, estariam os cidadãos mais preparados para tomar decisões adequadas ao regime democrático. A outra função é a crítica, pela qual a liberdade de expressão e comunicação assegura aos cidadãos a faculdade de criticar o poder político, as instituições estabelecidas e os agentes públicos (FARIAS, 2004). Para Alexander Meiklejohn (1948, p. 46), seria inevitável a ligação entre liberdade de expressão e comunicação com a democracia, pois, para que esta funcione, é necessário que os eleitores sejam livremente informados, sem restrições à livre circulação de pensamentos e informações. Meiklejohn está inserido, no entanto, no modelo que Luigi Ferrajoli (2008, p. 25) denomina de “democracia mayoritaria o plebiscitaria”. Apesar desse modelo ser diverso daquele que será trabalhado neste artigo, o pluralismo político almejado pela liberdade de expressão e comunicação é fundamental para o normal funcionamento tanto da democracia majoritária quanto da democracia constitucional. 332 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 3 – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E HATE SPEECHES 3.1 A pergunta de Dworkin: por que a expressão deve ser livre? Why Must Speech be Free? Esse questionamento feito por Ronald Dworkin (2005) será respondido por ele mesmo. Segundo o norte-americano, uma das grandes decisões sobre a liberdade de expressão da Suprema Corte dos Estados Unidos ocorreu no ano de 1964 em New York Times v. Sullivan. Nela foi garantida a liberdade de expressão para que jornalistas publicassem notícias sobre funcionários do governo. Questiona, inclusive, se o famoso caso Watergate teria ocorrido se essa decisão não tivesse sido tomada (DWORKIN, 2005, p. 195196). Segundo Dworkin, a liberdade de expressão é um conceito muito abstrato na Constituição norte-americana. Ela não pode ser aplicada em casos concretos a menos que lhe seja atribuída certa finalidade ou propósito. Afinal, não se trata simplesmente de tentar decifrar o que pensavam os responsáveis por esse trecho da primeira emenda. É necessário, sobretudo, buscar uma fundamentação política para a liberdade de expressão que seja capaz de adequar-se aos precedentes da Suprema Corte e que também “[…] ofereça um argumento convincente sobre os motivos que temos para dar à liberdade de expressão um lugar tão especial e privilegiado entre as nossas liberdades” (DWORKIN, 2005, p. 195-199).7 Por muito tempo, foi adotado naquele país o entendimento de William Blackstone, que afirmavava que o governo não poderia impedir os cidadãos de publicarem o que eles quisessem, mas estaria livre para punir, após o evento, caso expressassem opiniões ofensivas ou perigosas (DWORKIN, 2005, p. 196-197). Não parece ser esse sentido o adotado pelos juizes que, a título de exemplo, proibiram a “marcha da maconha” no Brasil, pois, sem adentrar no mérito do problema que seria definir o que é “ofensivo e perigoso”, o que ocorria antes da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 187/DF era o verdadeiro “previous restraint” criticado até mesmo por Blackstone – cuja posição é similar a de John Milton e dos federalistas − com uma visão extremamente limitada da liberdade de expressão e comunicação (DWORKIN, 2005, p. 197). O posicionamento de Blackstone permaneceu pacífico até o voto do juiz Learned Hand no caso Masses Publishing Co. v. Patten (1917). A partir daí foi desenvolvida nos 7 No original: “[...] provides a compelling reason why we should grant freedom of speech such a special and privileged place among our liberties.” 333 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Estados Unidos a visão sobre a liberdade de expressão e comunicação que afirmava que a Constituição obriga os cidadãos ao experimento das opiniões, baseando-se na presunção de que o melhor teste para a verdade é o poder de determinada ideia ser aceita na “competição do mercado de ideias” (DWORKIN, 2005, p. 198). Os estudiosos e advogados dos Estados Unidos propuseram, durante a história, diversas fundamentações para a liberdade de expressão e comunicação. A maioria delas, no entanto, pode ser enquadrada em dois grupos principais que não são mutuamente excludentes e que não pressupõem a liberdade de expressão absoluta O primeiro grupo trata a liberdade de expressão como importante do ponto de vista instrumental, ou seja, não se fundamentam no fato de que as pessoas possuem um direito moral para se expressar livremente (DWORKIN, 2005, p. 200)8, mas porque permitir que expressem suas ideias sem óbices pode resultar em resultados positivos no resto da sociedade. É o clássico caso da afirmação − como as de John Milton e John Stuart Mill demonstradas anteriormente − de que a liberdade de expressão e comunicação é importante por permitir a descoberta da verdade e eliminar o erro ou de produzir boas leis. Para essa corrente, aquela liberdade seria parte de uma estratégia, uma aposta coletiva de que a livre expressão e divulgação de ideias traz, no geral, maior quantidade de resultados positivos do que negativos. O segundo grupo de fundamentações, denominado constitutivo, trata a liberdade de expressão como possuidora de um valor per se. Sua virtude não estaria apenas nas consequências positivas para o pluralismo de ideias, mas, também, porque considera como essencial e caracterizadora de uma sociedade política justa que o governo trate todos os cidadãos como pessoas adultas, como agentes morais responsáveis. Justifica-se pelo fato de que pessoas moralmente responsáveis são capazes de formar sua própria opinião sobre o que é bom ou mau nas suas vidas e na política, ou o que é verdadeiro ou falso em assuntos como justiça. O governo, então, insulta os cidadãos e nega-lhes responsabilidade moral quando estabelece que eles não são capazes de analisar opiniões diversas e que podem ser persuadidos a adotarem posturas perigosas ou ofensivas. Assim, “somente somos capazes de manter nossa dignidade como indivíduos quando insistimos que ninguém −nenhum poder estatal e nenhuma maioria− tem o direito de esconder certa opinião de nós com o fundamento de que não somos capazes de ouvi-la e considerá-la” (DWORKIN, 2005, p. 200)9. 8 No original: “[...] a moral right to say what they wish [...]” No original: “We retain our dignity, as individuals, only by insisting that no one − no official and no majority − has de right to withhold an opinion from us on the ground that we are not fit to hear and consider it.” 9 334 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Para algumas pessoas, a responsabilidade moral possui outro aspecto mais ativo: a responsabilidade não apenas de formar convicções próprias, mas de expressá-las para outros por desejar que a verdade seja conhecida, a justiça seja feita e o bem-estar seja garantido. O governo frustra e nega esse aspecto da personalidade moral quando impede determinadas pessoas de exercer a livre comunicação de ideias com o fundamento de que suas convicções desqualificam-nas como cidadãos de poucas virtudes (DWORKIN, 2005, p. 200). Violadora desse aspecto da responsabilidade moral foi a decisão da 11a câmara criminal do TJ/SP, trazida na página 4 da petição inicial da ADPF 187/DF de autoria do Ministério Público Federal. Segundo a decisão: A ninguém é dado ignorar consequência imediata de uma chamada popular com o título de ‘MARCHA DA MACONHA’; produto proscrito, por certo não aplaudirá o que já é sancionado, dando oportunidade a especulações de poucas virtudes, ainda que aparentemente sob o manto das liberdades democráticas, com consequências somente negativas e irremediáveis. Levando-se em conta que o governo exerce domínio político sobre as pessoas e demanda obediência delas, não pode negá-las nenhum desses aspectos da responsabilidade moral. Caso o faça, perde uma das bases sólidas da sua própria legitimidade. A proibição pelo governo da expressão de determinada atitude ou preferência social é tão reprovável quanto a censura explícita do discurso. Os cidadãos têm tanto o direito de contribuir na formação moral quanto de participar na vida política. Apesar de ter sido afirmado anteriormente que os grupos instrumental e substancial não são mutuamente excludentes e até compartilham elementos comum, fica fácil perceber a maior fragilidade e limitação do primeiro. Frágil, porque, em determinadas circunstâncias10, seus objetivos acabam restringindo, ao invés de proteger, a liberdade de expressão e comunicação; limitada, porque sua fundamentação está centrada somente na proteção do discurso político. Na realidade, uma justificativa exclusivamente instrumental da liberdade de expressão e comunicação é perigosa, pois, além de aberta à tirania das maiorias, não explica por que não se deve permitir que mesmo a maioria dos membros de uma sociedade sejam capazes de impor censuras (DWORKIN, 2005, p. 201-202). Essa é a natureza contramajoritária de uma democracia constitucional. Em outro texto bastante ácido, Dworkin afirma que “em uma democracia, ninguém, seja poderoso ou impotente, tem o direito de não se sentir insultado ou ofendido” (2006, p. 44).11 Mas, pergunta-se, se toda a expressão deve 10 Os detalhes de quais são essas circunstâncias estão em DWORKIN, 2005, p. 202 e seguintes. No original: “[...] in a democracy no one, however powerful or impotent, can have a right not to be insulted or offended.” 11 335 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I ser livre, quais os motivos para a proibição dos discursos de ódio – hate speeches – na democracia constitucional ou, para fins do presente artigo, no HC 82.424-2/RS? 3.2 Hate speeches Os discursos de incitamento ao ódio12 – hate speeches– são representações simbólicas que expressam ódio, desprezo ou desrespeito a outra pessoa ou grupo. O uso de expressões pejorativas para grupos étnicos é um claro exemplo. De maneira mais ampla, é possível incluir até mesmo os pontos de vista que sejam extremamente ofensivos aos outros, que podemos exemplificar com afirmações sobre a suposta inferioridade da mulher em relação ao homem. Michel Rosenfeld (2001) define os hate speeches como aqueles discursos elaborados com a finalidade de promover o ódio e que são fundamentados em diferenças de raça, religião, etnia ou nacionalidade. Trata-se de uma restrição à liberdade de expressão cuja regulamentação foi fenômeno posterior à segunda grande guerra mundial e nasceu pela ligação nítida entre a propaganda racista da Alemanha nazista e o holocausto. Obviamente, os hate speeches da atualidade são bem mais sutis que no passado. Por exemplo, os antissemitas podem tentar “[...] negar o holocausto ou minimizá-lo considerando os atuais debates entre historiadores. Ou, podem atacar o sionismo para ofuscar as fronteiras entre o que pode ser considerado debate genuíno sobre ideologia política e o que é puro e simples antissemitismo” (ROSENFELD, 2001, p. 6)13. Seu tratamento varia igualmente entre os países. Ilustrativamente, negar que a existência do holocausto tenha ocorrido é considerado crime no Canadá – e em mais onze países da Europa –, ao passo que, nos Estados Unidos, essa conduta é protegida pela liberdade de expressão da primeira emenda (LEWIS, 2009, po. 2127)14. No entanto, em 1952, no caso Beauharnais v. Illinois, a Suprema Corte americana decidiu manter legislação do Illinois que criminalizava a publicação de material com conteúdo discriminatório contra determinados 12 Jeremy Waldron (2009, p. 1599-1600) prefere utilizar a expressão group libel ao invés de hate speech, por considerar que o discurso – speech – só pode ocorrer através da fala, meio incapaz de violar direitos fundamentais, especialmente se comparados com a publicação de material escrito. Também considera que o ódio – hate – sugere emoções, não atitudes, daquele que promove os atos e que, como pensamentos, não devem ser punidos. Tal distinção parece, na realidade, irrelevante para o fim que se destina. 13 No original: “Holocaust denial or minimizing under the guise of weighing in on an on going historians’ debate. Or, they may attack Zionism in order to blur the boundaries between what might qualify as a genuine debate concerning political ideology and what is pure and simple anti-Semitism.” 14 A abreviatura “po.” servirá, no presente artigo, para referenciar obras digitais que não trabalham com páginas, mas com “posições”. 336 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I grupos sociais e Joseph Beauharnais havia sido condenado sob essa lei por distribuir panfletos convocando a população branca de Chicago para lutar contra a invasão dos negros. Cass Sunstein afirma que os hate speeches com fundamento étnico ou racial são proibidos em diversas democracias com, aparentemente, poucos efeitos negativos à liberdade de expressão. Para ele, “[...] parece um pouco confuso ou mesmo arrogante insistir, como fazem muitos, que qualquer esforço regulatório na expressão nessas áreas coloque realmente em perigo o tipo de liberdade que é pré-requisito para o governo democrático [...]” (1995, p. 15)15. A distinção entre crimes de ódio e discursos de ódio adotada pela Suprema Corte americana, ao colocar aqueles como condutas não protegidas por não possuírem intenção comunicativa, deixa de lado alguns casos em que os crimes têm a “communicative intention or effect” (1995, p. 193), o que resulta em uma proteção da liberdade de expressão que, no Brasil, pode ser considerada excessiva. A aceitação de hate speeches por parte do Estado mina a igualdade daqueles que são alvos desses discursos ofensivos e viola direitos fundamentais dos cidadãos. Sob essa perspectiva, o Brasil, através do decreto 592/92, inseriu no ordenamento nacional o pacto internacional sobre direitos civis e políticos de 1966. Os artigos 19.3, 20.2 e 26, apesar de garantirem a liberdade de expressão, asseguram a proibição de qualquer apologia ao ódio que constitua discriminação, hostilidade ou violência e aplica essas restrições à liberdade de expressão. A legislação brasileira, democraticamente elaborada, além de atribuir caráter criminoso à prática, indução ou incitação de determinados discursos preconceituosos, prescreve pena mais grave quando ocorre veiculação através de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. Tal medida legislativa está de acordo com o ditame da dignidade humana presente no art. 5o inciso XLII da Constituição brasileira que, ciosa do ódio e do sangue que maculou a história do país, tornou esses crimes imprescritíveis. 4 A TARDIA APLIAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOS VALORES E O CASO ELLWANGER 4.1 A Jurisprudência dos Valores (Wertungsjurisprudenz) 15 No original: “[…] it may seem a bit puzzling or even cavalier to insist, as many do, that any regulatory efforts in these areas will really endanger the kind […]” 337 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A experiência germânica, apesar de baseada em um direito cujo paradigma é a lei, vivenciou, após a Segunda Guerra Mundial, a prevalência da Jurisprudência dos Valores, que serviu para diminuir a tensão criada pela outorga de uma carta constitucional pelos aliados, sem a ampla participação do povo alemão. A solução encontrada pelo Tribunal Constitucional alemão – Bundesverfassungsgericht – foi o “retorno” ao direito natural como forma de superar, através de elementos extrajurídicos, uma situação em que predominava o pensamento positivista-legalista. O recurso aos elementos decisórios fora do estrito legalismo permitiu a “abertura” do direito alemão aos valores, possibilitando a resolução das questões que a subsunção e a lógica não eram capazes de lidar. Nessa perspectiva de busca por alternativas metodológicas que rompessem com o modelo anterior, a Jurisprudência dos Valores foi construída como avanço em relação à Jurisprudência de Interesses a partir do ideal de separação entre direito e subsunção (LARENZ, 1997, p. 163). A aplicação da lei por subsunção “[...] requer, como já se apontou, em muitos, se não na maioria, dos casos, que a norma à qual a situação de facto deva ser subsumida seja previamente interpretada, isto é, que seja estabelecido o seu sentido preciso e determinante” (LARENZ, 1997, p. 165) e, por isso, deveria ser fundamentada em uma ordem de valores coletivamente aceita dentro de um grupo social, de forma que fosse admissível que o juiz “[...] quando a norma carece de interpretação, forme em primeiro lugar o seu convencimento do que seria aqui a decisão ‘justa’ [...] e só então [...] passe a procurar fundamentar na lei o resultado previamente obtido” (LARENZ, 1997, p. 168). Deste modo, a justiça da decisão seria determinada pelo “sentimento jurídico”, cuja impossibilidade de aferição é confessada pelo próprio Karl Larenz, para quem “[...] a própria questão do que seja o conteúdo de tal sentimento, o que é que é verdadeiramente ‘sentido’, é desde logo polémica” (1997, p. 169). Sendo a decisão judicial amparada em juízos de valor ou na ponderação de bens e interesses, os teóricos que seguem essa corrente se questionam sobre a existência de critérios orientadores da valoração e da ponderação ou se, ao contrário, elas dependem somente dos “valores do juiz” e da sua opinião. Quais os limites da decisão de natureza objetiva e em que medida o juiz “escolhe” ao invés de decidir? A resposta de Zippelius, aceita por Larenz (1997, p. 173), é de que a “bússola das valorações” dos agentes com poder decisório é o ethos jurídico dominante nas concepções de justiça de uma comunidade, não como soma de todas as concepções, mas como unidade resultante de uma suposta consciência múltipla de um grupo social. Apesar de parecer impossível determinar o hipotético conteúdo de uma consciência coletiva, os defensores dessa teoria acreditam que ele pode ser encontrado na 338 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I forma de direitos fundamentais inscritos nas constituições, em outras normas jurídicas, em proposições jurídicas fundamentais da atividade jurisprudencial e administrativa, nos costumes e instituições da vida social e, por fim, num “[..] ‘uso tradicional’, mas apenas ‘quando constitui expressão da concepção valorativa dominante’” (LARENZ, 1997, p. 173). Essas “fontes valorativas” parecem, na realidade, opostas aos direitos fundamentais da atualidade, pois, ao valorizar um suposto “sentimento coletivo”, ignoram as minorias, que têm proteção especial nas cartas constitucionais como a brasileira. Ainda assim, o ethos jurídico dominante não é capaz de dar respostas unívocas para muitas questões, conforme reconhecem os próprios teóricos. Os “valores”, além de possuírem lacunas, sofrem constante mutação e são facilmente manipuláveis. Nessas situações, o único recurso possível ao juiz é decidir conforme suas ideias pessoais de justiça e com ponderações de adequação aos fins. O importante, ressalta Larenz, é destacar que [...] a noção de que os ‘valores’, enquanto conteúdos de consciência, não são idênticos aos actos em que são vivenciados, que os ‘valores’ são assim partilháveis e susceptíveis de complementação mediante processos de pensamento e, acrescentamos nós, comunicáveis mediante analogia de acções susceptíveis de comparação ou outras situações. Ainda aqui se trata não de actos de valoração, que enquanto tais ocorrem uma vez só, não são repetíveis, e assim não são transmissíveis, mas de conteúdos, as valorações (1997, p. 174-175). A Jurisprudência dos Valores é bastante criticada, afinal, o uso de critérios extralegais permite a reformulação do sistema jurídico por aqueles que não são legitimados para tal, o que, em uma democracia, é de vital importância. Para Habermas (1997, p. 320), a Jurisprudência dos Valores levanta o problema da legitimidade, pois implica na concretização de normas alheias ao direito democraticamente elaborado e transforma o tribunal constitucional em legislador concorrente e autoritário. Afinal, caso ocorra colisão de princípios, “[...] todas as razões podem assumir o caráter de argumentos de colocação de objetivos, o que faz ruir a viga mestre introduzida no discurso jurídico pela compreensão deontológica de normas e princípios do direito” (HABERMAS, 1997, p. 321). Quando um tribunal adota a Jurisprudência dos Valores como base das suas decisões, como diz Habermas, aumenta o risco de juízos irracionais, pois “[...] valores têm que ser inseridos, caso a caso, numa ordem transitiva de valores. E, uma vez que não há medidas racionais para isso, a avaliação realiza-se de modo arbitrário ou irrefletido” (HABERMAS, 1997, p. 321). Apesar das críticas de Habermas e de outros autores à Jurisprudência dos Valores, o Tribunal Constitucional Alemão continuou a atuar de modo a convalidar tal tese, aumentando o papel do Judiciário. 339 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I No Brasil, houve uma incorporação desta “estratégia metodológica”. O problema é que, nas palavras de Lenio Streck, os juristas brasileiros não perceberam as diferenças históricas que separam a realidade alemã da brasileira, pois, aqui, nem mesmo a legalidade burguesa é respeitada, ou seja, a “[...] grande luta tem sido a de estabelecer as condições para o fortalecimento de um espaço democrático de edificação da legalidade, plasmado no texto constitucional” (2011b, p. 48). Apesar disso, o Judiciário brasileiro passou a conceber a a Constituição como uma ordem concreta de valores, importando equivocadamente, a teoria da argumentação proposta por Robert Alexy, sendo com base nessa proposta, aceitável ponderar direitos fundamentais. O resultado é o ocorrido no caso Ellwanger. 4.2 O caso Ellwanger Em 12 de setembro de 2002, os advogados de Siegfried Ellwanger Castan impetraram no Supremo Tribunal Federal o habeas corpus 82.424. O julgamento, iniciado em 12 de dezembro de 2002, levou 279 dias para acabar e resultou em acordão de 488 páginas. A história do caso começou quando, em 14 de novembro de 1991, a juíza da 8a vara criminal de Porto Alegre/RS recebeu a denúncia que acusava Ellwanger de crime de racismo (art. 5o, XLII da Constituição Federal e art. 20, da lei 7.716/89, na redação dada pela Lei 8.081/90) pelo fato de escrever, editar e publicar livros com conteúdo antissemita. O acusado foi absolvido de todas as acusações em primeira instância, razão pelo qual foi interposto recurso à 3a câmara criminal do Tribunal de Justiça/RS. Os desembargadores reformaram a decisão monocrática e condenaram Ellwanger ao cumprimento de dois anos de reclusão. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do acórdão na tentativa de desconstituir a imprescritibilidade do ato pelo qual Ellwanger havia sido condenado. Denegado o remédio constitucional pelo STJ, a defesa recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O debate na corte constitucional girou em torno de dois pontos: os limites de significado da palavra “racismo” e a suposta colisão, solucionável através da ponderação, de dois direitos fundamentais: liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana. Apesar da decisão constitucionalmente adequada denegando o HC, os votos, vencedores e vencidos, demonstram a fragilidade dos debates, baseados em argumentos de política ou nos juízos de 340 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I ponderação de valores. Essa fragilidade16, como será visto, demonstra a ausência de uma teoria da decisão, que exija uma resposta constitucionalmente adequada, e deixa os direitos fundamentais nas mãos do “relativismo ponderativo [...], porta aberta à discricionariedade” (STRECK, 2011b, p. 50). Parte dos debates ocorreram na seara da suposta (i)legitimidade histórica do trabalho de Ellwanger, fato que pouco contribuiu para a decisão, pois ele havia escrito apenas um dos livros que compunham a denúncia. Segundo o ministro Marco Aurélio, Ellwanger somente escreveu e difundiu sua versão da história através de “[...] uma pesquisa cientifica, com os elementos peculiares, tais como método, objeto, hipótese, justificativa teórica, fotografias, documentos das mais diversas ordens, citações” (BRASIL, 2004, p. 883). No mesmo sentido, o ministro Carlos Ayres Britto, além de ter realizado “crítica literária” sobre a qualidade estilística da obra do paciente, afirma que ele “esforçou-se por transitar no puro domínio das ideias e se valeu de farto material de pesquisa [...]” (BRASIL, 2004, p. 863). Na mesma linha, outros membros passaram a debater a precisão historiográfica das obras publicadas pela editora do paciente. Tal fato, além de irrelevante para o caso, é perigoso, pois, de certa maneira, coloca o judiciário como “legitimador” das verdades históricas. Assim, é imprescindível questionar a validade dos argumentos utilizados na decisão do caso. A maioria da corte entendeu ter ocorrido colisão entre os “valores” da liberdade de expressão e da dignidade da pessoa humana e, para solucionar o suposto problema, buscaram o raciocínio da ponderação proporcional desses valores, pois “cabe ao intérprete harmonizar os bens jurídicos em oposição, como forma de garantir o verdadeiro significado da norma e a conformação simétrica da Constituição [...]” (BRASIL, 2004, p. 584). O problema é que “[...] a solução da controvérsia era na verdade constrangedoramente simples” (STRECK, 2011b, p. 599), pois ela “[...] não deveria ter sido compreendida como uma colisão entre valores, em que se julga se a liberdade de expressão é melhor ou pior do que, ou para, a promoção da dignidade humana [...]” (CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p. 119), mas apenas como a prática de um fato criminoso que deve ser punido pelo direito. Nesse sentido alertou o ministro Moreira Alves [...] no presente habeas corpus, não se está discutindo se a condenação viola a liberdade de pensamento, mas, sim e apenas, a questão de imprescritibilidade sob a alegação de que, no caso, não houve crime de racismo. Por isso, após a observação do Ministro Pertence, salientei que só 16 Como um dos argumentos para conceder o habeas corpus, o Ministro Marco Aurélio utilizou o fato de que as obras não iriam causar uma revolução nazista no Brasil porque “[...] o brasileiro médio não tem sequer o hábito de ler” (BRASIL, 2004, p. 888) 341 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I por concessão de ofício se poderia chegar à inexistência de crime de discriminação por atos de incitamento em face da referida liberdade (BRASIL, 2004, p. 610). A conduta em questão ou é ilegal ou legal, não sendo possível falar em atitudes ilícitas “ponderadas” como lícitas ou vice-versa. Preciso, então, o questionamento feito por Marcelo Cattoni de Oliveira: “[...] como é que uma conduta pode ser considerada, ao mesmo tempo, como lícita (o exercício de um direito à liberdade de expressão) e como ilícita (crime de racismo, que viola a dignidade humana), sem quebrar o caráter deontológico, normativo, do Direito?” (2007, p. 118). O fato de votos divergentes utilizarem a mesma “técnica” demonstra um pouco do problema. A ponderação, da maneira utilizada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, foi capaz de justificar resultados totalmente contrários. Como exemplo, os votos dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello: este, pela denegação; aquele, pela concessão. Segundo o ministro Marco Aurélio, [...] estamos diante de um problema de eficácia de direitos fundamentais e da melhor prática da ponderação dos valores, o que, por óbvio, forca este Tribunal, guardião da Constituição, a enfrentar a questão da forma como se espera de uma Suprema Corte. Refiro-me ao intricado problema da colisão entre os princípios da liberdade de expressão e da proteção à dignidade do povo judeu. Há de definir-se se a melhor ponderação dos valores em jogo conduz à limitação da liberdade de expressão pela alegada prática de um discurso preconceituoso atentatório à dignidade de uma comunidade de pessoas ou se, ao contrário, deve prevalecer tal liberdade. Essa é a verdadeira questão constitucional que o caso revela (BRASIL, 2004, p. 869870). O ministro utiliza Robert Alexy para justificar que as colisões de direitos fundamentais só podem ser superadas através da restrição de um – ou ambos – os “lados” da balança e que o “[...] o choque de princípios encontra solução na dimensão do valor, a partir do critério da ‘ponderação’, que possibilita um meio termo entre a vinculação e a flexibilidade dos direitos” (BRASIL, 2004, p. 885). Assim, afirma que uma “atitude de ponderação dos valores em jogo” é um mecanismo de resolução do conflito de direitos fundamentais válido e amplamente utilizado pelas cortes constitucionais no mundo e conclui que [...] aplicando o princípio da proporcionalidade na hipótese de colisão da liberdade de manifestação do paciente e da dignididade do povo judeu, acredito que a condenação efetuada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – por sinal, a reformar a sentença do Juízo – não foi o meio mais adequado, necessário e razoável (BRASIL, 2004, p. 901). 342 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Já o ministro Celso de Mello, que votou pela denegação do habeas corpus, entende que a colisão de princípios constitucionais deve ser realizada através de [..] critérios que lhe permitam ponderar e avaliar, ‘hic et nunc’, em função de determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta, qual deva ser o direito a preponderar no caso, considerada a situação de conflito ocorrente, desde que, no entanto, a utilização do método da ponderação de bens e interesses não importe em esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos fundamentais [...] (BRASIL, 2004, p. 631). Assim, no caso de liberdades aparentemente em conflito, dever-se-ia equacionar a colisão através do método da ponderação de bens e valores que, nas palavras de Habermas (1997, p. 315, 321), é um discurso frouxo, capaz de transformar o tribunal constitucional em uma instancia autoritária e sem legitimidade. 5 A NECESSIDADE DE UMA TEORIA DA DECISÃO Apesar de ter finalizado com um resultado adequado, o Supremo Tribunal Federal demonstrou como a postura adotada pelos seus ministros coloca em risco a garantia consistente dos direitos fundamentais, pois, além de resumi-los ao simples e perigoso cálculo de custo/benefício, transforma aquele tribunal em um poder legislativo de “segundo grau” que controla, fora da sua função jurisdicional, “[...] as escolhas políticas legislativas e executivas, assim como as concepções de vida digna dos cidadãos, à luz do que seus onze Ministros considerem ser o melhor – e não o constitucionalmente adequado – para a sociedade brasileira” (CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p. 120). Dessa forma, é possível constatar os perigos trazidos pela irracionalidade na importação e mixagem da teoria da argumentação e da Jurisprudência dos Valores pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O entendimento por eles adotado pressupõe ser possível a aplicação gradual de normas por confundir princípios com valores e, nas palavras de Lenio Streck, essa utilização do “relativismo ponderativo”, além de obscurecer a importância da tradição como guia da interpretação, viabiliza a discricionariedade. Assim, o ‘pendor da balança’ em pretensos conflitos de direitos pode acabar por reconhecer direito onde direito não há, como na edição de obras evidentemente racistas. Tanto não há liberdade de expressão na veiculação de ideias racistas em livros que, desde a Lei n. 9.459/97, a discriminação ou preconceito ‘cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza’ configura, na verdade, a forma qualificada do delito do art. 20 da Lei n. 7.716/89. Onde o direito brasileiro vê um crime mais grave – porque evidentemente atentatório a um dos principais objetivos 343 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I da República e à própria dignidade humana como direito fundamental –, um misto de relativismo axiológico e ponderação principiológica pode até mesmo enxergar um fato atípico (2011b, p. 600). A noção equivocada de que a Constituição é uma ordem concreta de valores foi inadequadamente adaptada à teoria da colisão de princípios, “[...] sendo raro encontrar constitucionalistas que não se rendam à distinção estrutural regra-princípio e à ponderação [...]” (STRECK, 2011b, p. 49). Nesse sentido, o julgamento do caso Ellwanger demonstra que os ministros fizeram uma indevida “mixagem teórica” (STRECK, 2011b) entre a teoria da argumentação e a Jurisprudência dos Valores e resolveram a ponderação diretamente no caso, escolhendo qual princípio – liberdade de expressão ou dignidade humana – pesaria mais, fato que contraria completamente o proposto por Robert Alexy (1993). Transformou-se, assim, a regra da ponderação em princípio, num “[...] enunciado performático, uma espécie de álibi teórico capaz de fundamentar os posicionamentos mais diversos [...]” (STRECK, 2011b, p. 50). Essa transformação ocorre, também, em decorrência do fenômeno que Lenio Streck (2011a, 2011b) chama de pamprincipiologismo, fenômeno derivado da prática pela qual, com o alegado intuito de aplicar os princípios constitucionais, juristas acabam multiplicando descontroladamente e “encontrando” diversos princípios inexistentes na Constituição. A decisão, na metáfora do jogo de Herbert Hart (1994, p. 142), deixa de ser fundamentada nas regras constitucionais, pois os intérpretes passam a criar as próprias regras. Parafraseando o autor britânico, essa situação pode até ser interessante, mas aí seria necessário trocar o juiz por um oráculo; a lei por uma “inspiração”; a legalidade pela discricionariedade; decisão por escolha, enfim, essa situação poderia ser quase tudo, menos um Estado democrático de direito. Nas situações em que o caso está na “zona de penumbra”, as teorias proceduralargumentativas tentam substituir a discricionariedade do intérprete pela – igualmente discricionária, como já demonstrado acima – ponderação. Em caso de colisão de princípios, regras de aritmética e lógica, bem como a atribuição a priori de pesos aos princípios, permitem a certeza dos resultados para Alexy (STRECK, 2011b). A insuficiência dessas teorias argumentativas fica mais evidente ainda na distinção entre processos de justificação interna, em que a subsunção é suficiente para resolver os easy cases e alguns hard cases, e a justificativa externa, em que os valores aparecem como elementos com capacidade corretiva externos ao direito positivo. A alternativa, proposta por Lenio Streck (2011a, 2011b), é fruto da combinação entre a filosofia hermenêutica de Martin Heidegger, a hermenêutica filosófica de Hans-Georg 344 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Gadamer e a teoria integratia de Ronald Dworkin. Essa proposta antirrelativista de hermenêutica funda-se no que Streck chama de “[...] dupla ruptura paradigmática: a revolução do constitucionalismo, que institucionaliza um elevado grau de autonomia do direito e a revolução copernicana provocada pelo giro-linguístico-ontológico” (2011b, p. 588). Para ele, os sentidos da Constituição não estão nem na essência das coisas (como nas posturas essencialistas presas ao paradigma da metafísica clássica) nem na subjetividade do intérprete (como querem as posturas voluntaristas atreladas à filosofia da consciência) e não existem valores a serem descobertos pelos intérpretes, como queriam os ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 82.424-2/RS. Na democracia constitucional, o Supremo Tribunal Federal, apesar da importância que passou a ter, não pode se tornar um “poder constituinte permanente” e ignorar os próprios ditames da Constituição. Nem o ativismo judicial, que resulta em discricionariedade e arbitrariedades, nem o conservadorismo na atuação do judiciário são compatíveis com o Estado democrático de direito, pois este exige o adequado controle hermenêutico a ser realizado pela doutrina e, com certo otimismo17, pela opinião pública (STRECK, 2011b). Uma teoria da decisão deve respeitar a autonomia do direito democraticamente produzido. Como elaborada por Lenio Streck, ela deve estar fundamentada em quatro elementos centrais: a) um novo modo de compreender o fenômeno jurídico, seja através da desmistificação dos conceitos jurídicos como enunciados com conteúdos determinados a priori, seja a partir da diferença entre texto e norma18 ; b) a reponsabilidade política dos juízes, inspirada no pensamento de Dworkin, no sentido de que os juízes, ao tomarem suas decisões, devem sentir-se politicamente constrangidos pela comunidade de princípios que constitui a sociedade; c) o dever de fundamentação, que se desdobra na diferença entre decisão e escolha19; d) a exigência de respostas constitucionalmente adequadas, ganhando 17 Apesar do autor fazer menção à opinião pública como controladora das decisões do Supremo Tribunal Federal, o otimismo dessa postura não é repetido quando coloca, ainda que de maneira tangencial, a formação viciada de uma opinião pública alimentada pelos meios de comunicação de massas (BOLZAN DE MORAIS; STRECK, 2011a, p. 191-199) e (STRECK, 2011a, p. 35-38). 18 A diferença entre texto e norma vai na linha do que foi elaborado por Friedrich Müller: “‘Concretização’ da norma não significa tornar ‘mais concreta’ uma norma jurídica geral, que já estaria no texto legal. A concretização é, realisticamente considerada, a construção da norma jurídica no caso concreto. A norma jurídica não existe, como vimos, ante casum, mas só se constrói in casu.” (MÜLLER, 2007, pp. 45-52, grifos do autor) 19 Na palavras de Streck, “A escolha ou eleição de algo é um ato de opção que se desenvolve sempre que estamos diante de duas ou mais possibilidades, sem que isso comprometa algo maior do que o simples ato presentificado em uma dada circunstância. [...] A escolha é sempre parcial. Há no direito uma palavra técnica para se referir à escolha: discricionariedade e, quiçá (ou na maioria das vezes), arbitrariedade. [...] Ora, a decisão se dá, não a partir de uma escolha, mas, sim, a partir do 345 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I espaço o papel dos princípios como fechamento interpretativo e o respeito à história institucional do direito para a superação das posturas solipsistas, fundadas na vontade do sujeito. No julgamento do caso Ellwanger, os direitos constitucionais liberdade de expressão e dignidade humana foram utilizados como argumentos de política, manejados como álibis teóricos20 para obtenção de respostas de acordo com os valores de cada ministro, como se a Constituição fosse aquilo que os ministros do Supremo Tribunal Federal querem que ela seja, ignorando o pacto democrático firmado nela.. Os direitos fundamentais não podem ser reduzidos ao que aqueles ministros pensam que eles sejam, sob o risco de esvaziar o núcleo do Estado democrático de direito. Por isso, é fundamental a análise da decisão judicial à luz de uma proposta que demonstre as insuficiências e os problemas da Jurisprudência dos Valores e da importação equivocada da ponderação de Alexy, em favor de respostas constitucionalmente adequadas e da refutação de ponderações e relativizações dos direitos fundamentais. 6 – QUESTÕES ABERTAS Como foi visto, a liberdade de expressão e comunicação é direito fundamental na democracia constitucional. Sua importância vem sendo demonstrada tanto no direito interno, especialmente na Constituição brasileira de 1988, quanto no direito internacional, com ênfase na declaração universal dos direitos humanos. A mesma importância tem o pluralismo político, pois somente através da livre circulação de ideias é possível falar em possibilidades do diálogo democrático. Nesse sentido, procurou-se utilizar Ronald Dworkin para sustentar que a liberdade de expressão, numa postura constitutiva, coloca o cidadão como agente moral responsável pelos rumos da política. Assim, o Estado não pode impossibilitar que as minorias discutam temas polêmicos e desqualificar essas pessoas como se fossem de poucas virtudes. comprometimento com algo que se antecipa. No caso da decisão jurídica, esse algo que se antecipa é a compreensão daquilo que a comunidade política constrói como direito (ressalta-se, por relevante, que essa construção não é a soma de diversas partes, mas, sim, um todo que se apresenta como a melhor interpretação – mais adequada – do direito)”. (STRECK, 2012. p. 105-106). 20 Para uma leitura sobre a problemática da utilização dos princípio, ler a obra de Rafael Tomaz de Oliveira, que faz um debate da questão sob os aportes da nova crítica do direito, com imbricação na filosofia hermenêutica e na hermenêutica filosófica, proposta por Lenio Streck. Ver: TOMAZ DE OLIVEIRA, Rafael. Decisão judicial e o conceito de princípio. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 346 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Um desses temas polêmicos, pelo menos aparentemente, é a (in)existência de compatibilidade entre a liberdade de expressão e comunicação e os hate speeches. Pelo que foi visto, não restam dúvidas de que esse tipo de discurso não está protegido pela liberdade de expressão, sendo, inclusive, constitucionalmente reprovado com o adicional de imprescritibilidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o caso Ellwanger, não atentou para o fato de que a liberdade de expressão não pode servir para apoiar discursos de ódio, conforme explicitado na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional e nos tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil. Apesar disso, travou longo debate sobre a possibilidade de colisão de valores, demonstrando a recepção tardia, descontextualizada e problemática da, muito criticada até mesmo na Alemanha, Jurisprudência dos Valores e da teoria da argumentação nos moldes colocados por Robert Alexy. Apesar do resultado constitucionalmente adequado de improcedência do pedido, restou nítido o problema da adoção desses vieses teóricos pelos ministros do Supremo Tribunal, que buscaram compreender o caso Ellwanger, exemplo privilegiado do problema da ausência de uma teoria da decisão constitucionalmente adequada, como uma colisão entre valores que só poderia ser solucionada de maneira objetiva e justificável pelo raciocínio de ponderação de valores. Ainda que fundamentados na mesma técnica, os resultados foram os mais diversos possíveis, inclusive chegando ao absurdo de atipicidade penal, o que demonstra a impossibilidade de ponderar valores. Por fim, tentou-se demonstrar a importância de uma teoria da decisão, na matriz teórica trabalhada por Lenio Streck, para evitar discricionariedade e arbitrariedades. Ao demonstrar que decidir não equivale a escolher, o autor protege a democracia, a legitimidade do poder judiciário e os direitos fundamentais que, ao invés de ponderados, devem ser concretizados. REFERÊNCIAS ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais, Balanceamento e Racionalidade. Trad. Menelick de Carvalo Netto. Ratio Juris, Oxford, v. 16, n. 2, p. 131-140, junho 2003. ISSN 1467-9337. _____. The Dual Nature of Law. Ratio Juris, Oxford, v. 23, n. 2, p. 167-182, June 2010. ISSN 1467-9337. 347 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I ______. Teoria de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1993. 397p. BOLZAN DE MORAIS, José L.; STRECK, Lenio L. Ciência política e teoria do estado. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 211p. BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 82.424-2 Rio Grande do Sul. Habeascorpus. Publicação de livros: anti-semisismo. Racismo. Crime imprescritível. Conceituação. Abrangência constitucional. Liberdade de expressão. Limites. Ordem denegada. Siegried Ellwanger e Superior Tribunal de Justiça. Relator: Min. Moreira Alveso. Decisão: 17 set. 2003. DJ 19 mar. 2004. CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo. Direito, política e filosofia: contribuições para uma teoria discursiva da constituição democrática no marco do patriotismo constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 176p. CHOMSKY, Noam. HERMAN, Edward. S. Contendo a democracia. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Record, 2003. 516p. DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978. 371p. ______. The Right to Ridicule. New York Review of Books, New York, v. 53, n. 5, p. 44-44, 23 mar. 2006. ISSN 00287504. Acesso através do portal de periódicos CAPES. ______. Why Must Speech Be Free? In: ______. Freedom's Law: The moral reading of the American Constitution. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 195-213. FARIAS, Edilsom. Colisão de Direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade de expressão e informação. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000. 208p. ______. Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 304p. FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez et al. Madrid: Trotta, 2008. 373p. 348 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio B. Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. 1. 354p. HART, Herbert Lionel Adolphus. The concept of law. 2. ed. Oxford: Clarendon Press, 1994. 315p. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 727p. LEWIS, Anthony. Freedom for the thought that we hate: a biography of the First Amendment. Kindle Edition. New York: Basic Books, 2009. 3867po. MEIKLEJOHN, Alexander. Free speech and its relation to self-government. New York: Harper & Brothers Publishers, 1948. 107 p. Disponível em <http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/UW.MeikFreeSp>. Acesso em: 16 jan 2012. MILL, John. S. On Liberty. State College: Pennsylvania State University, 2006. 119 p. ISBN 1449518141. Disponível em: http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/jsmill/JS-Mill-OnLiberty.pdf. Acesso em: 16 jan. 2012. MÜLLER, Friedrich. Teoria da Interpretação dos Direitos Humanos Nacionais e Internacionais – especialmente na ótica da teoria estruturante do direito. In: CLÈVE, Clémerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho (Orgs.). Direitos Humanos e Democracia. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 45-52. RAZ, Joseph. Free Expression and Personal Identification. Oxford Journal of Legal Studies, Oxford, v. 11, n. 3, p. 303-324, Summer 1991. ISSN 0143-6503. Acesso através do portal de periódicos CAPES. ROSENFELD, Michel. Hate speech in constitutional jurisprudence. Cardozo Law School, Public Law Research Papers, New York, n. 41, p. 1-63, April 2001. Disponível em: < http://ssrn.com/abstract=265939>. Acesso em: 16 jan. 2012. SANI, Giacomo. Consenso. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Tradução de Carmen C. Varriale et al. 11. ed. Brasília: UnB, 1998. p. 240-242. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011a. 420p. 349 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I _____. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011b. 639p. ______. O que é isto – decido conforme minha consciência? 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. SUNSTEIN, Cass. Democracy and the problem of free speech. Kindle Edition. New York: The Free Press, 1995. 326p. VAN MILL, David. Freedom of Speech. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2009. ISSN 1095-5054. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/freedom-speech>. Acesso em: 16 jan. 2012. WALDRON, Jeremy. Dignity and Defamation: The Visibility of Hate. 2009 Oliver Wendell Holmes Lectures. Harvard Law Review, Harvard, v. 123, n. 7, p. 1596-1657, May 2010. ISSN 0017-811X. 350 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I IDENTIDADE DE GÊNERO: UM CAMINHO ENTRE A VISIBILIDADE E A INVISIBILIDADE GENDER IDENTIFY: THE WAY BETWEEN THE VISIBILITY AND THE INVISIBILITY. Clarindo Epaminondas de Sá Neto. Advogado, especialista em Direito Público, Mestre em Relações Internacionais e Doutorando em Direito. Professor da UNIFACEX e Universidade Potiguar. RESUMO Os conceitos de sexualidade e identidade após a década de 60, passaram a levar em consideração não só as variantes da orientação sexual, mas também as questões de gênero, que de certo modo são mais complexas, pois referem-se a modos de sentir, de estar e de experimentar as noções de masculinidade e de feminilidade. Nesse cenário, travestis e transexuais tem no próprio corpo sua identidade de gênero, o que é considerado pela comunidade transgênera como um estigma que não se pode ocultar, a exemplo da cor da pele para os negros e negras. Sendo assim surge a necessidade de discutir as nuanças do projeto de lei de identidade de gênero apresentado pelo deputado Jean Wyllys, analisando seu real alcance e seu impacto na vida dos destinatários. Palavras-chave: Identidade; gênero; visibilidade; invisibilidade; direitos humanos. ABSTRACT The concepts of sexuality and identity after 60s, began taking into consideration not only the variants of sexual orientation but also gender issues, which are somewhat more complex, because it refers to modes of feeling, being and to experience notions of masculinity and femininity. In this scenario, transvestites and transsexuals have in them bodies yours gender identity, which is considered by the transgender community as a stigma that can not be hidden, like the skin color for black men and women. In this way arises the need to discuss the nuances of the bill of gender identity presented by Mr. Jean Wyllys, analyzing its real scope and its impact on the lives of all recipients. Word-Keys: Identity; gender; visibility; invisibility; human rights. 1. Introdução O Brasil vem experimentando nos anos iniciais do século XXI uma maratona de mudanças culturais, que são reflexo do próprio movimento de internacionalização dos conceitos de direitos humanos e dignidade da pessoa humana. Um dos assuntos que vem ganhando espaço nas rodas de discussões é a temática que direciona a concessão de uma gama 351 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I de prerrogativas à comunidade LGBT, seja através do ativismo judicial 1 dos magistrados brasileiros, seja através de atitudes isoladas perpetradas pelos Estados da Federação no sentido de conferir direito à comunidade sexo-diversa2. Apesar das incansáveis tentativas no sentido de convencer a população brasileira de que a comunidade LGBT é composta por cidadãos de segunda categoria, relegados a gozarem dos direitos deferidos pela parcela da sociedade heterodominante, vê-se que os radicais que são contra o casamento igualitário e a criminalização da homofobia vem perdendo espaço nas rodas de discussão, e isso se dá pelo fato de que a população está, cada vez mais, criando suas próprias conclusões. É sabido que os direitos humanos têm sido um tema recorrente na América Latina desde os primeiros movimentos de redemocratização experimentados pelos países do continente austral. Nesse sentido, tornou-se uma bandeira da democracia a discussão de temas como direitos sociais, direitos econômicos e culturais, os quais são relevantes para a consecução de alguns dos principais direitos individuais fundamentais do ser humano. É nesse novel cenário que se passou a discutir o papel do estado social na vida de todos os cidadãos, sem diferenciá-los de forma injusta e precipitada, sem relegá-los à condição de pseudocidadãos quando da participação ativa e diuturna na vida em sociedade. Mesmo no fim dos anos 80 e durante os anos 90, quando o tema da homossexualidade ainda era um tabu em quase todas as parcelas da sociedade, a comunidade 1 O termo ativismo judicial é uma criação do jurista alemão Peter Härbele, e significa o movimento encabeçado pelos magistrados no sentido de dar efetividade aos direitos e garantias fundamentais, quando o silêncio e a inoperância do poder legislativo é um óbice à consecução dos referidos direitos. Peter Härbele é comumente citado em decisões elaboradas pelo Tribunal Constitucional brasileiro, sobretudo no bojo de processo que discutem temas cuja matéria principal não foi/é disciplinada através de legislação específica, como foi o caso das políticas afirmativas na educação, do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, dos fetos anencefálicos etc. 2 O termo “comunidade sexo-diversa” é usado pelo Deputado Federal Jean Wyllys para designar a comunidade LGBT. Ele também se refere à referida comunidade como a comunidade de invertido, com as respectivas aspas no tocante ao sentido dúbio da palavra. 352 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I acadêmica já desenvolvia estudos acerca de várias temáticas ligadas à população LGBT, no entanto, nos parece evidente que durante anos dois dos seguimentos, os transexuais e travestis, foram esquecidos, seja em razão da visibilidade compulsória de seus corpos, que causam ainda nos dias atuais repulsa por parte daqueles que não os entendem, ou mesmo em razão das cifras ocultas desses seguimentos, as quais somente são lembradas quando conjugadas com outros temas tais como homicídios, a prostituição e o devaneio das casas noturnas. Muitas são as discussões sobre a homossexualidade: suas causas, seus efeitos, a dificuldade enfrentada pelos homossexuais junto à família e os amigos, o bulling etc. No entanto também é importante lembrar que a homossexualidade, muito mais do que representar a preferência sexual e amorosa por outra pessoa de sexo idêntico, representa uma identidade física com a qual algumas pessoas conseguem conviver e que outras não. É justamente o estudo dessa identidade de gênero que objetivamos realizar no presente artigo, sobretudo com a intenção de revelar o real alcance do projeto de lei intitulado “Lei de identidade de gênero”, proposta pelo deputado federal Jean Wyllys já no ano de 2013, bem como com a intenção de dar aos leitores uma oportunidade conhecer essa parcela da sociedade que possui uma estreita relação com a luta diária pela superação dos obstáculos existentes em razão da falta de legislação especifica disciplinando sua condição social. 1. Orientação sexual, opção sexual ou determinismo? Falar de sexualidade, ao contrário do que muitos possam pensar, é falar de política, é falar da formação do próprio Estado. A sexualidade sempre esteve aliada à demarcação das posições de poder durante a formação das sociedades mais primitivas até a formação e perpetuação das sociedade modernas, motivo pelo qual o tema sempre foi tratado como algo intocável, indelével, o que somente foi remediado em meados do século XX com a efetiva criação das teorias feministas. 353 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Foi a sexualidade, nas ideias da cientista política Carole Pateman 3, que influenciou na criação do contrato social nos séculos XVII e XVIII, o que já demonstra que o referido tema ganha contornos de extrema particularidade quando se observa que a própria origem do Estado está ligada a temas relativos à sexualidade. Pois bem, Pateman traduz em seu livro que os teóricos do contrato social contaram apenas metade da história, uma vez que o contrato sexual, que estabelece o patriarcado moderno e a dominação dos homens sobre as mulheres nunca é mencionado. Na verdade, sua descrição do contrato sexual como sendo metade da história anuncia uma face relevante e recalcada dessa questão: os homens que supostamente fizeram o contrato original são brancos, e seu pacto fraterno tem três aspectos, qual sejam, o próprio contrato social, o contrato sexual e o contrato da escravidão, que legitima o domínio dos brancos sobre os negros. Nesse sentido, a pele branca, a heterossexualidade e a condição de homem foram os adjetivos necessários para o estabelecimento das relações de poder durante a história mundial, já que o contrato então criado sempre deu origem a direitos políticos sob a forma de relações de dominação e subordinação, como bem exemplificam a escravidão e a posição social da mulher até os dias atuais4. Com efeito, a partir de recentes mudanças no campo das ciências sociais e humanas, sobremaneira em razão do movimento feminista e mais tarde pelo próprio movimento homossexual no mundo ocidental, a partir da década de 60, os conceitos de sexualidade e identidade passaram a levar em consideração não só as variantes da orientação sexual, mas também as questões de gênero, que de certo modo são mais complexas pois referem-se a modos de sentir, de estar e até mesmo de experimentar as noções de masculinidade e de feminilidade. É em razão dessa mudança que, por exemplo, passou-se a utilizar a sigla LGBT, 3 Carole Pateman é professora da Universidade de Sydney, na Austrália e através de seu livro O contrato sexual, trouxe uma releitura do contrato social formulado nos séculos XVII e XVIII. 4 Inobstante o desenvolvimento e a participação da mulher no mundo moderno, ainda e comum encontrarmos situações de discriminação, sobre tudo, nas relações familiares e de trabalho. 354 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I em detrimento da antiga GLS, já que mais ampla e coerente, do ponto de vista científico, incluindo na última letra, o “T” de transgêneros (as), os (as) travestis e os (as) transexuais. Para nosso estudo, o “T” da sigla retromencionada será tomado como referência. Os transgêneros, ou as transgêneras como preferem alguns cientistas, segundo o Dr. Enézio de Deus Silva Junior5: (...) são indivíduos que, na sua forma particular de estar e/ou de agir, ultrapassam as fronteiras de gênero esperadas/construídas culturalmente para um e para outro sexo. Assim, são homens, mulheres (e pessoas que até preferem não se identificar, biologicamente, por expressão alguma) que mesclam, nas suas formas plurais de feminilidade e masculinidade, traços, sentimentos, comportamentos e vivências que vão além de questões de gênero como, corriqueiramente, são, no geral, tratadas. (ENÉZIO SILVA JUNIOR, 2011, p. 65) Diante desse conceito, podemos concluir que a expressão “transgêneros” pode englobar os (as) travestis, as (os) transexuais, os drag queens, as drag kings, os (as) crossdressers6 as (os) transformistas e outros (as). As (os) travestis, como uma das denominações de transgêneros, são pessoas que, em regra, aceitam, do ponto de vista psicológico, o seu sexo biológico, incluindo, na maioria dos casos, a própria genitália, e ao longo do desenvolvimento psíquico-social, constroem um imaginário próprio, cuja identificação de gênero se volta mais para o sexo oposto, o que se torna perceptível em sua forma de agir e vestir-se, sobretudo. Os (as) transexuais, ao seu turno, são pessoas que, em regra, desde a infância, sentem-se em completa desconexão 5 Em sua obra Diversidade Sexual e suas nomenclaturas, o autor se preocupa em esclarecer as denominações extraídas da sigla LGBT. Em DIAS, Maria Berenice. Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. 6 Segundo a psicanalista Letícia Lanz: “Antes de mais nada, crossdresser é uma pessoa comum, como outra qualquer. Os termos cross-dresser, travesti ou “transgênero” são usados para descrever um homem que regularmente assume a aparência do gênero feminino a fim de satisfazer uma profunda necessidade pessoal que pode estar ligada aos mais variados tipos de motivação. Usamos o termo “crossdresser”, ou simplesmente CD, para designar travestis que não permanecem montados 24h por dia e tampouco exercem atividades remuneradas na indústria do sexo.” 355 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I psicológica e emocional como o sexo biológico do seu nascimento, pelo fato de identificaremse de modo oposto ao esperado para o seu corpo, do ponto de vista de gênero, inclusive. Segundo Cláudio Picazio (CLAUDIO PICAZIO, 1999, p. 45), “São pessoas que nascem com um determinado sexo biológico, mas se sentem pertencentes ao gênero oposto”. Nesse sentido, sob pena de uma vida eivada de sofrimentos buscam os meios para uma redesignação do corpo ao seu sexo psicológico, sendo a transexualidade, em verdade, não uma orientação de desejo, mas uma não identificação com o corpo biológico. Esclarecidos esses conceitos iniciais, é importante que se diga que para a moderna psicologia, a homossexualidade, assim como a hétero e a bissexualidade, não se trata de uma simples opção, mas de uma das possíveis orientações afetivas humanas. Daí por que podemos constatar que essas três formas de expressão do desejo humano sempre existiram, mas que em razão da época e dos locais foram escondidas pelos laços de inúmeros casamentos infelizes, que até certo momento eram indissolúveis, perpetuando a infelicidade conjugal. Como dito em linhas anteriores, hoje, a homossexualidade, em quaisquer de suas manifestações, é um tema que já é tratado de forma mais pacífica, se compararmos com as possibilidades experimentadas no século passado7, e em razão disso é que a expressão íntima de todos aqueles que se sentem atraídos pelo sexo idêntico já encontra novos ares de normalidade social. Retornando ao tema, de fato, muito mais do que nas tentativas de explicação e de visualização dessa manifestação do desejo homossexual no corpo (teses genéticas, hormonais etc.), na influência do meio ou no contato puramente sexual, ela se apresenta como uma clara movimentação dos desejos e sentimentos, daí por que de a livre orientação afetivo-sexual ser, constitucional e internacionalmente, tutelada. A sexualidade, desde Freud, com sua revelação sobre a existência do inconsciente, vem ganhando dimensões científicas mais amplas, sobretudo a partir do início do século 7 Leia-se: a dizimação de homossexuais na Alemanha nazista e os episódios de ódio experimentados pelos homossexuais. 356 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I passado. Desse modo, a relevância do estudo de Freud reside em ter ele encaminhado, de forma progressiva, os estudiosos e cientistas a vislumbrarem o conjunto de fenômenos de ordem sexual e afetiva, na seara essencial do desejo, o que influenciou nos avanços do direito, no sentido de tutelar a livre orientação sexual das pessoas, e no campo da psicologia, em apresentar a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade como naturais nuanças da estrutura afetiva dos sujeitos desejantes. Portanto, não se trata de determinismo, nem de livre opção e sim de condição humana. Tudo isso para dizermos que são inadequadas as expressões como opção sexual, escolha sexual, transtorno, perversão e inversão, quando se fala da população transgênera, ainda muito utilizadas em manuais e livros. Basta imaginar que os heterossexuais também não tiveram a oportunidade de “escolherem” sentirem-se atraídos pelo sexo oposto: do mesmo modo ocorre com os homossexuais e bissexuais. Segundo Michel Foucault8 (...) na verdade, o problema é o seguinte: como se explica que, em uma sociedade como a nossa, a sexualidade não seja, simplesmente aquilo que permita a reprodução da espécie, da família e dos indivíduos? Não seja, simplesmente, alguma coisa que dê prazer e gozo? (MICHEL FOUCALUT, 1997, p. 229), Feitas essas considerações sobre os conceitos narrados, passemos ao próximo ponto. 2. O discurso da verdade Michel Foucault foi um sociólogo francês que dentre tantos temas escreveu sobre a história da sexualidade. Ainda na década de 80, dentro das discussões extraídas dentro do Collège de France, em sua disciplina História dos Sistemas de Pensamento, proferiu palestra para sua numerosíssima plateia sobre o discurso da verdade. Segundo Foucault, somente pode dizer a verdade aquele que a conhece, aquele que a vivencia, aquele que pratica a parresía. Parresía, portanto, “seria o dizer tudo, desde que esse tudo esteja indexado a uma verdade” (FOULCALT, 2011, p. 11). 8 Em seu livro “A história da Sexualidade”. 357 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Verdade e mentira, são bastante significativas para a população LGBT. Pertencer a essa sopa de letras que ora denomina, ora exclui é, sobremaneira, transitar ao longo da vida entre a visibilidade e invisibilidade. Ocorre que para os gays e lésbicas ser/estar visível quase sempre significa assumir-se publicamente, vale dizer, passar pela vergonha e chegar ao orgulho de sua própria orientação sexual; ser/estar invisível tão simplesmente representa continuar no armário da vida, não expondo sua forma de amar, de desejar sexualmente alguém do mesmo gênero. Para os transgêneros (travestis e transexuais) a visibilidade ganha outro contorno: ela é compulsória a certa altura de suas vidas, pois que, ao contrário da orientação sexual, que de diversos modos pode ser ocultada pela mentira, omissão ou mesmo pelo próprio armário, a identidade de gênero é tida pelas pessoas 'trans' como um estigma que não se pode ocultar, como a cor da pele para os negros e negras. Transexuais e travestis, como dito, não têm como manterem-se escondidos (as) a partir de uma certa idade, ao contrário dos gays e lésbicas, dos quais não é raro colher que morrerão nos armários se não encontrarem motivos para sair e se mostrar. É por isso que quase a totalidade de homens e mulheres que vivem sua identidade de gênero como lhes manda sua consciência são expulsas de casa, ridicularizadas nas escolas, dentro da família, e por vezes expulsas do bairro e até da cidade em que vivem. Leia-se, para as pessoas 'trans' a visibilidade é obrigatória já que sua identidade sexual está tatuada em seus corpos como um estigma que não se pode ocultar sob qualquer disfarce que se proponha a tanto. Em razão disso o preconceito e a violência que sofrem são maiores, por isso dispensamos nossos estudos ao presente tema. Ocorre que transexuais e travestis também transitam pela invisibilidade. Como lhes disse em outras linhas, pouco se escreve ou se discute acerca da população trangênera, e isso é o resultado de um sistema preconceituoso que liga a ideia do travestimos e da transexualidade à doença, pervertismo e à prostituição. Assim, boa parte da sociedade faz de conta que eles não existem e que são pessoas destinadas para todo sempre a ficarem à margem da sociedade, por não se encaixarem ao padrão aceitável. Pergunto-lhes, é comum vermos travestis e transexuais em festas de graduação? Respondo-lhes, não. Muitos e muitas abandonaram a escola e os estudos por causa do bullying. Em verdade transgêneros são invisíveis nas universidades, já que poucos conseguem ingressar, são invisíveis na grande maioria dos 358 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I empregos, já que a sociedade parece insistir que, no caso das travestis, a prostituição seja o emprego natural delas, como se isso não fosse o produto da discriminação que sofrem, impedindo-lhes o acesso a outro tipo de profissão. No entanto, de todas as invisibilidades a que as pessoas 'trans' estão fadadas, talvez a invisibilidade legal parece ser aquela que dá o ponto de partida para as demais, até porque se você não existe/é invisível para a lei, como reclamar nos demais casos? A discussão sobre a invisibilidade legal dos (as) transgêneros (as) repousa, sobretudo, no tema de suas identidades legal e social. A lei de registros públicos do Brasil, datada de 1973, prevê que o prenome é definitivo, admitindo sua mudança em casos excepcionais, cujas situações foram eleitas em razão da época em que a lei foi promulgada. Em razão disso, há pessoas que vivem sua vida real com um nome, mas que carregam consigo um instrumento de identificação legal, leia-se, uma carteira de identidade, na qual consta outro nome. É esse nome que aparece em seus outros documentos, na conta de luz, nos diplomas por ventura conseguidos, na lista de eleitores, enfim, em todos os lugares, todavia, trata-se de um nome que evidentemente é de outro, é daquele ser que habita os papeis, mas que ninguém o conhece no mundo real, no mundo da interação social cotidiana. É importante que se diga que, em razão da falta de uma legislação específica para o tema, há pessoas que não existem nos registros públicos e algumas que só existem nos registros públicos e em alguns documentos. Umas e outras batem de frente diariamente em diversas situações que criam constrangimento, negação de direitos fundamentais e uma constante e desnecessária humilhação. A República Argentina, mais uma vez posicionando-se à frente de outros países da América Latina, apoiando-se em exigências da comunidade LGBT nacional, publicou no ano de 2012 a Lei de Identidade de Gênero, justamente para corrigir o empasse gerado a partir de situações como acima narrado. Trata-se de uma lei multifacetada que corrobora ideias de proteção da pessoa humana, respeitando-se os direitos individuais, os direitos das crianças e adolescentes, objetivando a igualdade entre todos os seus cidadãos, iniciando naquele país, o processo de reparação histórica e democrática com toda a população 'trans' cujos direitos mais 359 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I elementares, como o direito à identidade e à saúde integral vinham sendo sistematicamente vulnerados. A ideia de proteção de tais direitos, já descritos por inúmeros instrumentos internacionais dos quais, inclusive, somos signatários, alcança também os estrangeiros que possuam o documento nacional de identificação argentino e que comprovem que a mudança de seu prenome em razão de sua identidade de gênero é proibido ou dificultado em seu país de nascimento. Vale dizer, os estrangeiros podem, assim como os nacionais, procederem com a correspondente alteração de seu registro nacional sem qualquer procedimento judicial, doloroso e dificultoso como soa ser qualquer procedimento que intente promover a entrega efetiva de um direito cuja legislação silencie. Seguindo o exemplo da Argentina, o que falta no Brasil é uma lei que dê uma solução definitiva à confusão existente entre o nome social e o nome legal. Nesse sentido, e na tentativa de acabar com a omissão legislativa, o deputado federal Jean Wyllys protocolou projeto de lei intitulado “Lei da Identidade de Gênero”, projeto esse que seguindo a tradição argentina mostra-se ligado à temática da preservação e da promoção dos direitos humanos, garantindo a todos e todas o direito ao reconhecimento de sua identidade de gênero por parte do Estado. Analisando com cautela o projeto apresentado, observa-se que o deputado foi bastante incisivo na tentativa de promover uma reformulação da imagem e no papel social desempenhado pela comunidade transgênera. Colhe-se da proposta que toda pessoa terá o direito de ver reconhecida sua identidade de gênero, e como consequência, de ser tratada de acordo com essa identidade, bastando, para tanto, comparecer ao Cartório onde foi registrada, sem necessidade de qualquer trâmite judicial, e solicitar a retificação dos seus dados, emitindo-se uma nova certidão de nascimento em que constem seu nome e seu gênero (os da vida real). 360 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Sem olvidar a segurança jurídica que se espera dos registros públicos, o projeto de lei não descuidou em prevê a continuidade jurídica da pessoa, através do número do CPF e do RG9, os quais deverão ser alterados, observando-se o sigilo no trâmite. Levando-se em consideração a doutrina da proteção integral da criança e seu interesse superior, o projeto prevê que somente os maiores de idade poderão requerer a retificação registral do sexo e a mudança do prenome e da imagem, no entanto, caso menores de 18 anos queiram realizar o trâmite administrativo, deverão fazê-lo através de seus representantes legais. Caso seja negado ou não seja possível dar o referido consentimento de algum dos representantes da criança e do adolescente, ele poderá recorrer a assistência da Defensoria Pública para autorização judicial, observando-se os princípios da proteção integral e interesse superior da criança. Como dito anteriormente, o projeto de lei apresentado pelo deputado Jean é espelhado no texto final da Lei de Identidade de Gênero Argentina, a qual teve aprovação absoluta de todos os membros do Senado (55 votos), em um rápido debate de apenas três horas. Tal norma é apontada pelos profissionais das ciências humanas e sociais como sendo o mais alto nível de proteção de direitos individuais já experimentado por um país da América Latina, ganhando maior relevância perante a comunidade internacional pelo fato de ter sido aprovada em um país de tradição eminentemente católica e que possui, assim como acontece no Brasil nos últimos anos, um desvairado aumento das congregações evangélicas (protestantes) que lutam de forma diuturna para barrar qualquer forma de concessão de direitos fundamentais à comunidade LGBT, como se os seus direitos estivessem por um fio. O discurso que levou à aprovação da lei de Identidade de Gênero naquele país perpassou matérias de ordem jurídica e ética, passando a ter como principal fundamento, a discussão antropológica sobre a própria dificuldade de ser um humano. Levanta-se essa consideração, tendo em vista que foi através desse discurso e de alguns outros também 9 Esse inclusive é um dos argumentos levantados por aqueles que são contra a aprovação do projeto de lei, argumento esse que desde logo mostra-se afastado, vez que na própria Argentina a segurança jurídica dos registros públicos foi mantida, já que não se altera números nem sequência de dados, mas tão somente o prenome. 361 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I importantes, que os deputados propositores do projeto de lei em referência obtiveram o apoio maciço da segunda casa legislativa da República Argentina, no sentido de ver-se aprovada a lei mencionada, argumento que pode ao menos ser levado em consideração pelos defensores desse projeto de lei, em terras tupiniquins. A antropologia ensina que o humano supõe uma série diferencial de atributos em relação ao não humano. Quando um grupo de indivíduos reclama direitos dos quais depende que sua vida seja viável, para obtê-los deve enquadrar-se dentro de tais atributos, é dizer, das normas que regulam o exercício da humanidade. Com efeito, a humanidade esconde em si uma possibilidade e uma armadilha: implica um conjunto de direitos, mas que não serão para todos e todas. O fato de estabelecer algo humano diferente ao não humano, marca a distinção de quem pertence e quem não, e suas respectivas gradações sociais e históricas. Os critérios segundo os quais se concebe a humanidade de um sujeito tem variado ao largo da história e tem sido aplicados de modo desigual a diferentes categorias sociais. Essa é nossa conclusão. Assim, é uma questão de justiça que aquelas vidas às quais não se lhes reconhecem direitos – em nome de uma regulação que estabelece o que é humanamente possível e o funda como natural – lutem por um mundo com normas que “permitam às pessoas respirar, desejar, amar e viver” (JUDITH BUTLER, 2000, p. 23). Anote-se que as pessoas identificadas como transgêneros (as), demandam hoje de uma lei de igualdade para ascender ao pleno gozo de sua identidade de gênero, como um passo crucial para o reconhecimento da plena cidadania, sua, de seus filhos e de suas famílias, de forma que o debate a ser instaurado no Brasil nos próximos meses deve, sobretudo, na mira do exemplo em comento, ser permeado por pelo menos uma consideração preliminar. Esse direito, – o de viver sua identidade de gênero de forma plena - não supõe que a mudança de um prenome seja a única e exclusiva forma de inclusão social a ser destinada à comunidade transgênera, nem que a aprovação dessa lei vá pôr em risco as organizações familiares em favor das quais os discursos de ódio são levantados, senão que pretende – meramente – corrigir anos de exclusão e humilhação pelo desconexo existente entre a 362 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I identidade civil e o identificado, assim como transferir a ideia de visibilidade transgênera como algo que faça parte do indivíduo de forma fática e de forma jurídica. Nesse aspecto, registre-se que “a luta por novos direitos deve ser constantemente resgatada como uma luta política em que a resignação de direitos é só estratégica, isto é, que por si mesma não implica democratização” (JUAN MARCOS VAGGIONE, 2008, p. 21). 3. Considerações finais Como dito no início do presente trabalho, o objetivo principal dessa pesquisa era discutir alguns aspectos que se sobressaem do projeto de lei apresentado pelo deputado Jean Wyllys à Câmara dos Deputados, intitulado Lei de Identidade de Gênero. As nuances desse projeto de lei que, a olhos pessimistas, já nasceria fadado ao insucesso, tornam-se argumentos de grandeza humanística quando se analisa qual é o seu principal escopo. É nesse sentido que inaugura-se no Brasil um novo passeio em torno da promoção dos direitos das minorias, as quais também fazem parte e merecem ser tutelados pela democracia brasileira. O Brasil deixa de lado discussões relativas à criminalização da homofobia, para se debruçar sobre algo que terá maiores proporções sociais efetivas, vale dizer, preocupa-se em entregar nas mãos daqueles que precisam a parcela correta de sua cidadania negada pelo Estado e pela sociedade. A identidade sexual é um dos aspectos mais importantes da identidade pessoal, pois está presente em todas as manifestações da personalidade do sujeito. O direito à identidade, que se define como sendo o direito a ser você e não outro, foi crescendo com caracteres autônomos, dentro dos direitos personalíssimos10. Num primeiro momento se pensava que a identidade sexual somente abarcava o direito ao nome, mas com o transcorrer com tempo foram agregando-se outros componentes que apontam cada um a uma parte da personalidade: a imagem, a filiação, o sexo, o estado civil, entre outros. Longe de constituir um numeros 10 Os direitos da personalidade não estão totalmente positivados no Código Civil brasileiro, podendo ser encontrados em legislações internacionais das quais o Brasil tornou-se parte, assim como na Constituição e em leis esparsas. 363 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I clausus, estes componentes estão em continua evolução, e em razão da efetiva proteção à personalidade humana é que o Estado não pode se furtar à sua preservação. Os padecimentos das pessoas 'trans' são múltiplos eis que elas são descriminadas em todos os âmbitos. Não sofrem somente discriminação social, mas também são vítimas de maus tratos, violações e agressões, e inclusive de homicídios. Como resultado desses prejuízos e da discriminação que os privam de fontes de trabalho, tais pessoas se encontram praticamente condenadas a condições de marginalização, que se agravam nos numerosos casos de pertencimento aos setores mais desfavorecidos da população, com consequências nefastas para sua qualidade de vida e sua saúde, registrando altas taxas de mortalidade, o que já foi devidamente provado em estudos apresentados pela comunidade científica brasileira e internacional. Como vemos, a questão tem múltiplos aspectos a considerar e mostra a necessidade de investigação, desenho e promoção de políticas públicas transversais que abarquem todos os âmbitos, educativos, da saúde, da justiça, do trabalho e emprego, etc., para garantir os direitos humanos das pessoas 'trans'. Acredita-se, e aqui finalizamos, que a retificação registral do sexo e a mudança do nome em todos os documentos de identidade e a criação de uma secretaria nacional de identidade de gênero que se ocupe especificamente do tema, são os primeiros passos de vital importância para começar a reverter esta realidade de discriminação e violação constante dos direitos humanos por razão de identidade de gênero. Somos e esperamos tê-los convencido da necessidade de aprovação do projeto de lei discutido. 4. Referências ARGENTINA. Expediente número 75/11. Buenos Aires: Congreso Argentino, 2012. Disponível em: http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php? origen=CD&tipo=PL&numexp=75/11&nro_comision=&tConsulta=4 2012. Acesso em: 7 jul. 2012. 364 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: Garamond, 2006. ______. O que é transexualidade. São Paulo: Brasiliense, 2008. ______. Politizar o abjeto: dos femininos aos feminismos. In: MEDRADO, Benedito; GALINDO, Wedna (Org.). Psicologia social e seus movimentos: 30 anos de ABRAPSO. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2011. p. 357-371. ______. Identidade de gênero: entre a gambiarra e o direito pleno. Carta Potiguar, 21 set. 2012. Disponível em: http://www.cartapotiguar.com.br/2012/05/29/identidade-de-genero entre-agambiarra-e-o-direito-pleno. Acesso em: 7 jul. 2012. BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo. In: LOURO, Guacira. (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 151-172. DAVI, E., BRUNS, M., SANTOS, C. “Na batalha”: história de vida e corporalidade travesti. Revista Cronos, on line, 11, nov. 2012. Disponível em: <http://www.periodicos.ufrn.br/index.php/cronos/article/view/2154>. Acesso em: 21 Jan. 2013. DE JESUS, J., ALVES, H. Feminismo transgênero e movimentos de mulheres transexuais. Revista Cronos, on line, 11, nov. 2012. Disponível em: <http://www.periodicos.ufrn.br/index.php/cronos/article/view/2150>. Acesso em: 31 Dez. 2012. FACCHINI, Regina. Sopa de Letrinhas? movimento homossexual e produção de identidades coletivas nos anos 90. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. FOUCALT, Michel. História da sexualidade. A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1997. Vol. 1. _________. A coragem da verdade: o governo de si e dos outros: curso no Collège de France (1983-1984. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. KULICK, Don. Travesti: prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008. NERY, João W. Viagem solitária. Rio de Janeiro: Leya, 2011. PATEMAN, Carole. O contrato sexual. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1993. PERES, William. Travestis: subjetividades em construção permanente. In: UZIEL, Ana Paula; RIOS, Luis Felipe; PARKER, Richard (Org.). Construções da sexualidade: gênero, identidade e comportamento em tempos de AIDS. Rio de Janeiro: Pallas, 2004. p. 115-128. 365 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I ______. Travestis: corpos nômades, sexualidades múltiplas e direitos políticos. In: SOUZA, F.; SABATINE, T. (Org.). Michel Foucault: sexualidade, corpo e direito. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. p. 69-104. PICAZIO, Claudio. Sexo secreto: temas polêmicos da sexualidade. São Paulo: Edições GLS, 1999. SILVA, Carmen; CAMURÇA, Silvia. Feminismo e movimentos de mulheres. Recife: Edições SOS Corpo, 2010. SILVA, Hélio. Travesti: entre o espelho e a rua. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. SILVA JUNIOR, Enézio de Deus. Diversidade Sexual e suas nomenclaturas. In.: Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. Org.: Maria Berenice Dias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. VAGGIONI, Juan Marcos. Las familias más allá de la heteronormatividad. In.: Cristina Motta y Macarena Sáez (comps.). La mirada de los jueces. Sexualidades diversas en la jurisprudencia Latinoamericana. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 366 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I EDUCAÇÃO: DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMO FATOR ÉTICO PARA A CONQUISTA DE UMA VIDA DIGNA EDUCATION: FUNDAMENTAL RIGHT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS AS ETHICAL FACTOR FOR THE ACHIEVEMENT OF A DIGNIFIED LIFE Melissa Zani Gimenez* Edinilson Donisete Machado** RESUMO O presente artigo tratará a respeito da educação como fator digno e necessário em uma sociedade que o homem convive com seu semelhante não por escolha, mas por imposição vital. Falar em educação é falar sobre sobrevivência humana, principalmente na relação social com seu próximo. O principal princípio que constitui a educação como fator ético e social, é fazer com que o outro a qual convivo coletivamente tenha uma vida digna tanto quanto a minha. As obrigações éticas da convivência humana devem pautar-se em direitos e deveres que qualquer cidadão deve realizar com seu semelhante principalmente ao ofertar a educação na obtenção do bem comum. A atitude ética deve ser uma atitude de amor para com a humanidade, onde cada pessoa que vive em sociedade seja responsável para que os demais consigam usufruir das mesmas oportunidades e direitos que ele próprio, para que todos consigam alcançar a felicidade. Desta forma, educar a criança e adolescente para uma vida sadia em sociedade é praticar a ética da responsabilidade humana, ofertando para essas pessoas em desenvolvimento a superação das desigualdades sociais. Um sistema político social que aceita as desigualdades, as misérias, a falta de oportunidades e a exclusão social, trata-se de um sistema antiético que deve ser superado. PALAVRAS-CHAVE: Educação; Ética; Convivência Humana; Criança e Adolescente. ABSTRACT This article treats about education as a worthy and necessary factor in a society that man coexists with his fellow man not by choice, but by imposing vital. Talk on education is talking about human survival, mainly in social relationship with your next. The main principle that constitutes the ethical factor and social education, is to get the other which I live collectively have a dignified life as much as my own. The ethical obligations of human coexistence should * Advogada, professora, Mestranda no Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito do UNIVEM, Pós Graduada na Rede de Ensino Luís Flávio Gomes. Dedica-se à pesquisa acadêmica relativa ao tema da Criança e Adolescente no Grupo de Pesquisa CoDip - Constitucionalização do Direito Processual, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, grupo sob a liderança dos Prof. Dr. Nelson Finotti Silva e Prof. Dr. Luís Henrique Barbante Franzé e também pertence ao grupo de estudo: GEP-Grupo de Estudos, Pesquisas, Integração e Práticas Interativas- Professores- Lafayette Pozzoli e Clarissa Chagas Sanches Monassa. Endereço eletrônico: <melgimenez@hotmail>. **Professor do Programa de Mestrado e Graduação do Centro Universitário Eurípides de Marília- UNIVEM e Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Pesquisador CNPQ. Grupo Gramática dos Direitos Fundamentais. 367 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I be guided in rights and duties that every citizen should perform with his fellow man especially to offer education in the attainment of the common good. The ethical attitude should be an attitude of love for humanity, where each person who lives in society is responsible for others can enjoy the same opportunities and rights as himself, so that everyone can achieve happiness. In this way, to educate the child and teenager to a healthy life in society is to practice the ethics of human responsibility, offering for developing these people to overcome social inequalities. A social political system that accepts the inequalities, the miseries, the lack of opportunities and social exclusion, it is an unethical system that must be overcome. KEYWORDS: Education; Ethics; Human Coexistence; Child and adolescent. INTRODUÇÃO A educação da criança e adolescente é um processo que busca não só o a efetivação de um direito social, mas, acima de tudo um direito fundamental previsto na Carta Magna1 para a formação ética desses pequenos cidadãos. Ofertar a educação ética ao infante e ao jovem dentro dos bancos escolares é assegurar uma vida adulta digna a nossos semelhantes. Para que o ser humano possa viver de forma harmônica em sua sociedade, deve tomar certas atitudes éticas, na busca do bem estar de toda a coletividade. Acreditar que por meio da união dos povos podemos construir uma nova sociedade e fazer da utopia uma realidade que exige o comprometimento e atitudes a certos direitos fundamentais somente assim podemos acreditar na transformação social. Não só no Brasil, mas, em todo o mundo, tem se falado muito em atitudes éticas na intenção de proteção de seu próximo e na busca da paz social e da felicidade. A ética é vista como um conjunto de ações e princípios que todo ser humano deve praticar diante da vida cotidiana, sempre visando o amor ao seu semelhante. Neste entendimento realizar a educação da criança e adolescente, para que estes consigam serem cidadãos, de grande valia para a sociedade, é praticar uma conduta humana ética, principalmente por estas pessoas estarem em seu pleno desenvolvimento de sua moral ética. A escola, desta forma, deve ser vista como um ambiente adequado para a aplicação da ética, como meio de ajuda ao seu semelhante, na intenção de ofertar às crianças e 1 Artigo 6º da Constituição Federal-São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Cf. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 18 de fev. de 2013). 368 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I adolescentes mecanismos éticos para que os mesmos possam viver de forma digna em uma sociedade superando desta forma as desigualdades sociais. O ambiente escolar deve ser utilizado como meio responsável para o ensino de atitudes éticas ao infante e adolescente para que saibam viver em sociedade de modo sadio, diminuindo desta forma o quadro lastimável de jovens infratores que cresce a cada dia não só em nosso país. De acordo com Franco Montoro2, as pessoas não são sombras, são realidades concretas e vivas. Desta forma surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que haja respeito à dignidade humana em todos os lugares e tempos, e que para isso a ética deve ser efetivada como instrumento de ajuda ao próximo, deve ser aplicada como um dos movimentos mais importantes da época contemporânea. A Declaração marca a aplicação da ética para a busca de um mundo mais humano. O artigo 26º da Declaração3 traz expresso a educação como atitude ética, formadora de personalidades: ARTIGO 26.º A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Somente por meio da educação ofertada pelos adultos, família, escola e Estado para com o infante e jovem, é que esses seres humanos em pleno desenvolvimento de sua moral ética, conseguirão crescer e tornarem-se cidadãos de grande valia para a sociedade em que vivem. 1 ÉTICA: CONCEITOS E FINALIDADES Com brilhantes palavras dissertou MONTORO: “Quiseram construir um mundo sem ética. E a ilusão se transformou em desespero.”. Inevitavelmente a conduta ética para vivermos em sociedade é de extrema valia mesmo porque a humanidade é uma comunidade e não o eu. Devemos pensar em nosso semelhante e ofertarmos condições de vidas melhores principalmente quando estamos tratando de pessoas que por si só não conseguem se desenvolver: a criança e o adolescente. 2 MONTORO, André Franco. Retorno à ética na virada do milênio. In: MARCÍLIO, Maria Luiza.; RAMOS, Ernesto Lopes. Ética na virada do milênio “busca do sentido da vida”. 2. ed. São Paulo: LTR, 1999, p. 17. 3 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: < http://www.bahai.org.br/direitos/Decla_Univer_Dir_Hum.htm> Acesso em 23 de out de 2012. 369 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A escola neste diapasão encontra-se como um importante instrumento para o desenvolvimento ético das novas gerações, na perspectiva da aplicação dos ensinamentos do Estatuto da Criança e Adolescente como medida de prevenção de atos infracionais. Por vezes a palavra ética e moral são vistas como sinônimos são palavras analisadas como princípios e valores de conduta. Tradicionalmente ética é admitida como um estudo ou uma reflexão, científica ou filosófica, e eventualmente até teológica, sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Pode ser entendido o comportamento ético como regras de condutas e pode até mesmo ser um tipo de atitudes individuais ou coletivas que visem um fim social. A palavra ética adveio do termo grego ethikos, que significa carácter. O estudo da ética está relacionado com o estudo da moral que constrói afirmações do que é bom, do que é mau em uma sociedade, das ações e decisões tomadas perante uma coletividade. Nesse entendimento encontra-se MARCHIONNI4, que ressalta que ética significa: A Ética é a arte que torna bom aquilo que é feito (operatum) e que o faz (operantem). É a arte do Bom. Ciência do Bom. A Ética é uma arte, hábito (ethos), esforço repetido até alcançar a excelência no agir. O artista torna-se virtuoso após muito exercício. A Ética torna bom aquilo que é feito. Ela é ideia e prática do Bom, princípios e ações. O prisioneiro da caverna de Platão, que foi liberto da escuridão, após “muito esforço” chega a fixar o Sol, a contemplar o Bom, que o impulsiona a ações boas, a voltar à caverna para libertar os outros. A Ética torna bom, também o homem que faz ações boas. Assim, realizando ações boas, a pessoa realiza a si mesma como pessoa boa, cuja presença faz bem aos circunstantes, à semelhança do grãozinho de mostarda da parábola evangélica, o qual é a menor entre as sementes, mas cresce e se torna arbusto, e entre suas folhas os pássaros do céu aninham-se gorjeando. Ser ético é tomar determinadas atitudes que visem a ajudar nosso semelhante, a praticar condutas que façam com que todos, em especial o infante e o adolescente, consigam conquistar uma vida humana digna. Na verdade, um dos mais eficazes e fundamentais instrumentos para a construção dessa dignidade é exatamente através da educação. Somente através de uma educação séria e com um corpo docente capacitado é que conseguiremos formar e transformar estes pequenos cidadãos em pessoas éticas. E a maneira mais eficaz de conseguirmos desenvolver esta postura ética nas pessoas em pleno desenvolvimento de sua capacidade, como o infante e jovem, é aplicando os ensinamentos do Estatuto da Criança e Adolescente no dia a dia das salas de aula. Formar cidadãos éticos é a postura mais ética que o ser adulto pode praticar. Para ARISTÓTELES “[...] a ética faz parte da ciência política, tem por objetivo determinar qual é 4 MARCHIONNI, Antonio. A ética e seus fundamentos. In: ÉTICA na virada do milênio: Busca do sentido da vida. Maria Luiza Marcílio; Ernesto Lopes Ramos (coord.). ed. 2º. São Paulo: LTR, 1999, p. 35. 370 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I o bem comum supremo para as criaturas humanas, a felicidade, e a finalidade da vida humana é fruir desta felicidade, alcançando a contemplação5.” A ética entre os homens para o presente filósofo é encontrada por meio da felicidade não somente a subjetiva, mas a de seus amigos, familiares e de toda a sociedade. E razão maior não se encontra da necessária transmissão de uma educação ao infante e adolescente pautada em oportunidades para também encontrarem suas felicidades e de suas famílias. A educação além de ser um direito assegurado a todos, é um dever do Estado e da família, conforme consta no artigo 2056 da Carta Magna para o pleno desenvolvimento das potencialidades morais e intelectuais e acima de tudo a preparação do exercício da cidadania para a classe infanto-juvenil. SANTO AGOSTINHO o conceito de ética advém do amor a Deus, que se desdobrará no amor a si próprio e a seu próximo. Nestas palavras expunha: “Quanto ao meu conceito de virtude, no que se refere à reta conduta, a virtude é a caridade, com a qual se ama aquilo que deve ser amado7.”. Na atual conjuntura social, em virtude das injustas condições de vida impostas a uma minoria da humanidade que sobrevive a mercê da própria sorte, e em decorrência do capitalismo onde é mais interessante o ter do que o dar, a caridade e o amor ao próximo para uma maioria tornaram-se palavras insignificantes. Sendo assim, a ética como expressão de enxergar o outro e de respeitá-lo como ser humano por vezes passa despercebida. Hodiernamente cada vez mais se verifica o distanciamento entre a pessoa e seu meio social, ainda mais na era digital em que as pessoas se escondem por de trás das telas de computadores, vivem isolados de suas realidades, afastando-se cada dia mais do convívio social. Neste diapasão a melhor maneira de colocarmos em prática condutas éticas é por meio dos bancos escolares, onde os educadores terão a oportunidade de transmitir os conhecimentos necessários de uma verdadeira eticidade social, principalmente para aqueles que se encontram em formação para exercê-la. 5 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Trad. de Mário da Gama Kury. ed. 3º. Brasília, Ed Universidade de Brasília, c 1985, 1999, p. 11. 6 Art. 205 da Constituição Federal. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Cf. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 18 de fev. de 2013). 7 PUC-RIO. Santo Agostinho e a Política. Disponível em: <http://www2.dbd.pucrio.br/pergamum/tesesabertas/0114208_03_cap_02.pdf>. Acesso em 16 de set de 2012. 371 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Com eterno brilhantismo discorreu FREIRE8 ao explicar a conduta ética como fato indissociável para a vida social veja: Quando, porém falo de ética universal do ser humano estou falando da ética enquanto marca da natureza humana, enquanto algo absolutamente indispensável à convivência humana. Ao fazê-lo estou advertido das possíveis críticas que, infiéis a meu pensamento, me apontarão como ingênuo e idealista. Na verdade, falo da ética universal do ser humano da mesma forma como falo de sua vocação ontológica para o Ser Mais, como falo de sua natureza constituindo-se social e historicamente não como um a priori da história. E continua em sábias palavras: [...] mais que um ser no mundo, o ser humano se tornou um presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra presença como um “não eu” se reconhece como si própria. Presença que se pensa de si mesma, que se sabe presença, que intervém que transforma, que fala do que faz mas também do que sonha, que constata, que compara, avalia, valora, que decide, que rompe. E é no domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade. A ética se torna inevitável e sua transgressão possível é um desvalor, jamais uma virtude. Uma das maiores virtudes do ser humano é a sujeição de ofertas e ajudas a seu próximo. Ao ser implantado os ensinamentos do Estatuto da Criança e Adolescente às pessoas em desenvolvimento será realizada a necessária educação de valores éticos para que os mesmos saibam respeitar o seu semelhante e transferir atitudes éticas para as pessoas de seu convívio social. Jamais podemos exigir posturas sociais éticas de quem ao menos sabe, ou tem uma tenra noção do que significa ser ético perante a sociedade em que se desenvolve. A carência de uma educação ética pautada no respeito ao próximo é o caminho para a formação de uma sociedade desumana e fadada ao insucesso. E mais ainda, nos tornaríamos antiéticos se nos mantivermos calados diante das exigências sociais, perante milhares de crianças e jovens que se encontram nas escolas e perdermos a possibilidade, brilhante possibilidade de transmitir por meio dos educadores conhecimentos e valores éticos encontrados no ordenamento estatutário. 8 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p. 19-20. 372 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I E dando continuação aos pensamentos de FREIRE9: “Reconhecer que a história é tempo de possibilidades e não de determinismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, é problemático e não inexorável.”. A possibilidade de alterar este lastimável quadro de infante e jovem infrator por meio dos ensinamentos estatutários nas salas de aula, trata-se de uma realidade certa e não de uma esperança vã. E ao falar sobre a ética social e na de ausência de unidade do corpo social para ajuda de seu próximo, encontra-se POZZOLI10: Desta compreensão entende-se que os grandes problemas da humanidade de hoje, mesmo sem rejeitar a grande contribuição que a ciência e a tecnologia podem dar para superar as condições de miséria e deficiências dos diferentes gêneros, só podem ser resolvidos através da reconstrução da comunhão humana em todos os níveis. [...] Hoje, a exigência ética fundamental consiste em recuperar a possibilidade de reconstruir relacionamentos de comunhão entre pessoas e comunidades. Pretende resolver o problema da paz e da felicidade das pessoas querendo reduzir a sociedade à pessoa, além de ser um erro grave porque a felicidade humana não é alcançável fora da comunhão com os outros, significa reduzir, irremediavelmente, à pessoa humana à dimensão terrestre, fechando-a em relação à sua dimensão transcendente, dimensão verdadeira que não pode ser satisfeita no plano material. Atitudes éticas é a raiz mais sólida para uma verdadeira transformação social. E a porta de entrada para alcançarmos essa mudança de paradigmas é transferindo conhecimentos éticos no dia a dia escolar. A lei de nº 11.525/2007 encontra-se em vigor há seis anos e falta de atitudes éticas a mesma ainda é uma utopia nos bancos escolares. Não podemos ficar de braços cruzados acreditando que o problema social: infante e jovem infrator irá ter fim somente pela insólita criação normativa. Devemos sim acreditar e lutar para que a implantação do presente ordenamento legal, seja uma realidade que venha a ser trabalhado com meninas e meninos por meio das forças sociais. Inevitavelmente, esta será a atitude ética mais aplaudida perante a sociedade brasileira. 9 Idem, p. 20. POZZOLI, Lafayette; CASO, Giovani. Ética Social: a exigência ética hoje. In: Ética: na virada do milênio “busca do sentido da vida”. Coleção Instituto Jacques Maritain. Maria Luiza Marcílio; Ernesto Lopes Ramos (coord.). ed. 2. São Paulo: LTR, 1999, p. 216. 10 373 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I 2 EDUCAÇÃO ESCOLAR E SUA IMPORTÂNCIA SOCIAL O infante é um ser que precisa de orientação e informação para se desenvolver. Esses conhecimentos são adquiridos na escola, e ela, juntamente com os pais, deve despertar nos alunos a curiosidade e a capacidade para entender o mundo que os cerca, e de ensiná-los os conceitos empregados pela sociedade. Como diz FREIRE11: “educar é substantivamente formar.” Somente por meio da educação ofertada nas escolas com os conteúdos da legislação estatutária, é que conseguiremos formar e desenvolver a moral e a ética da classe infanto-juvenil e transformar o infante e o jovem em cidadãos saudáveis perante a sociedade em que vivem. E um dos maiores pesquisadores na área da educação ofertada à criança em desenvolvimento, PIAGET12 afirma que: A educação como direito de todos, portanto não se limita em assegurar a possibilidade da leitura, da escrita e do cálculo. A rigor, deve garantir a todos o pleno desenvolvimento de suas funções mentais e aquisição dos conhecimentos, bem como dos valores morais que correspondem ao exercício dessas funções, até a adaptação à vida social atual. Sendo a criança e o adolescente seres ativos diante da realidade que os cercam e à educação que recebem na escola devem receber conteúdos, atitudes, regras e valores éticos para que possam construir suas personalidades e serem integrantes ativos e transformadores sociais. A construção de prédios, o aumento de vagas para efetivação de professores, a melhoria dos salários dos docentes, a assistência aos educandos, podem gerar resultados bem menores dos que inicialmente esperados, se a educação principalmente do ensino fundamental, ciclo formado por uma clientela em pleno desenvolvimento de sua capacidade moral e ética, for ofertada por meio de uma proposta educativa que vise a inserir os conteúdos do Estatuto da Criança e Adolescente como matéria específica do dia a dia escolar. A instituição escolar deve ser utilizada como verdadeira rede formadora de cidadãos, que cientes de seus deveres e direitos sociais darão origem a um modelo societário exemplar rico em atitudes éticas e cidadãs. 11 FREIRE, P. Op. Cit., p. 34-35. PIAGET, Jean. Para onde vai à educação? Tradução de Ivete Braga. Rio de Janeiro: José Olympio editora, 1973, p. 40. 12 374 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A educação pode ser resumida como a própria razão para uma existência humana digna. Trata-se a educação de um indispensável instrumento para que o homem viva e se realize como verdadeiro ser humano. Em pensamento certeiro BARRETO13, desvendou a essência que dá origem a triste exclusão social sofrida por aqueles que são as maiores vítimas do egoísmo humano: Excluem-se da escola os que não conseguem aprender, excluem-se do mercado de trabalho os que não têm capacidade técnica porque antes não aprenderam a ler, escrever e contar e excluem-se, finalmente, do exercício da cidadania esses mesmos cidadãos, porque não conhecem os valores morais e políticos que fundam a vida de uma sociedade livre, democrática e participativa. Pela ausência de oportunidades educativas, por não terem conhecimento de seus direitos e deveres, das atitudes éticas que devem ter respeito, a criança e jovem não conseguem se interagir com seu meio social. Sem ter chances de receber uma educação, principalmente dos ensinamentos do Estatuto da Criança e Adolescente por meio dos ensinamentos escolares, esses seres humanos em formação de suas capacidades morais tornam-se privados do direito de sonhar e de se preparar para a vida, para o trabalho e para o exercício da cidadania. Também preocupados com a educação ofertada à criança e adolescente o representante do Ministério Público do Rio Grande do Sul14 em artigo publicado no próprio site do Órgão Ministerial, dissertou que: Além de a educação ser garantidora da sobrevivência e da saúde da espécie, é responsável pelo padrão de existência que chamamos de civilização, propiciando ao homem a ciência, a arte, a auto-realização, a fé, a ordem, o desenvolvimento, a prosperidade e a cultura. Os seres humanos dependem da educação para viver. A educação é instrumento básico para a sobrevivência humana e sua evolução, constituindo um dos maiores dons e deveres da humanidade, sendo que na escola professores e alunos realizam um processo de troca de conhecimento fundamental para o desenvolvimento humano. [...] O mundo tem sede de ideal e de valores, cabendo à educação a nobre tarefa de despertar em todos esta elevação do pensamento e do espírito, para uma espécie de superação de si mesmo, fomentando a esperança da humanidade. A preocupação despendida à educação de valores e princípios para o público infantojuvenil está disseminada por todos os operadores de assuntos relacionados à infância e a 13 BARRETO, Vicente. Educação e Violência: reflexões preliminares. In: Drogas e Cidadania: repressão ou redução. ZALUAR, Alba (org). São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 59. 14 BRASIL. Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutrina. Disponível em: http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id122.htm. Acesso em: 21 de fev. de 2013. 375 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I juventude e a conclusão que chegam é que a educação é o alimento para o infante e adolescente conseguirem conquistar seu direito de cidadania. Efetivar os ementários da legislação estatutária nos quadros curriculares do ensino fundamental e educar esses pequenos cidadãos é questão de justiça. Diante de um Estado Democrático de Direito a qual nos deparamos a verdadeira efetivação da lei nos bancos escolares, é a maneira mais concreta de transferir seus valores e efetivar uns dos mais necessários direitos fundamentais que é o direito à educação. 3 LEGISLAÇÕES INTERNACIONAIS QUE ENFATIZAM O DIREITO EDUCACIONAL O direito à educação como um direito fundamental à existência humana teve forte consagração em tratados, princípios e acordos internacionais principalmente o Pós Segunda Guerra Mundial que veio estabelecer tal instituto como fonte inevitável da própria dignidade humana. O primeiro documento internacional a inserir em seu bojo o direito à educação como fonte inseparável do próprio desenvolvimento humano foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 194815, representando uma norma comum a todos os povos e nações. O Brasil a assinou na mesma data, e sobre a educação ela dispõe em seu art. XXVI, que: 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. No mesmo ano, a educação também foi reconhecida como direito inerente à própria sobrevivência humana na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada 15 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php Acesso em 23 fev. 2013. em: http://www.onu- 376 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I pela Resolução XXX, da IX Conferência Internacional Americana, realizada em abril de 1948, na Cidade de Bogotá, que dispõe em seu art. XII16, que: Toda pessoa tem direito à educação, que deve inspirar-se nos princípios de liberdade, moralidade e solidariedade humana. Tem, outrossim, direito a que, por meio dessa educação, lhe seja proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna, para melhorar o seu nível de vida e para poder ser útil à sociedade.O direito à educação compreende o de igualdade de oportunidade em todos os casos, de acordo com os dons naturais, os méritos e o desejo de aproveitar os recursos que possam proporcionar a coletividade e o Estado.Toda pessoa tem o direito de que lhe seja ministrada gratuitamente pelo menos, a instrução primária. No ano de 1959 a Declaração dos Direitos da Criança17, adotada pela Assembleia das Nações Unidas de 20 de novembro editou em seu princípio 7º a respeito da educação, foi o primeiro documento a ser elaborado de forma específica para o público infanto-juvenil, teve várias ratificações dentre elas a do Brasil, e expressa que: A criança tem direito à educação, que deve ser gratuita e obrigatória, pelo menos nos graus elementares. Deve ser-lhe ministrada uma educação que promova a sua cultura e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver as suas aptidões mentais, o seu sentido de responsabilidade moral e social e tornar-se um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança deve ser o princípio diretivo de quem tem a responsabilidade da sua educação e orientação, responsabilidade essa que cabe, em primeiro lugar, aos seus pais. A criança deve ter plena oportunidade para brincar e para se dedicar a atividades recreativas, que devem ser orientados para os mesmos objetivos da educação; a sociedade e as autoridades públicas deverão esforçar-se por promover o gozo destes direitos. Na data do dia 9 de novembro a 12 de dezembro de 1962 em sua 12.ª sessão, realizada na cidade de Paris na França os integrantes da UNESCO18 (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) preocupados com a discriminação sofrida por milhares de pessoas que estavam distante dos bancos escolares, reuniram-se na esperança de colocarem fim a este trágico quadro sofrido por uma minoria diante do descaso humano. A Organização das Nações Unidas trata-se de uma agência que luta contra o analfabetismo no 16 ONU. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitoshumanos/declar_dir_dev_homem.pdf. Acesso em: 23 de fev. de 2013. 17 Idem. Disponível em: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dcdeclaracao-dc.html. Acesso em 23 de fev. de 2013. 18 UNESCO. Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino. Disponível em: http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unesco/. Acesso em: 23 de fev. de 2013. 377 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I mundo, tendo em vista que é por meio de uma educação rica em valores e princípios que iremos encontrar a paz no mundo. Dentre os representantes da UNESCO está o Brasil, Estado- parte que luta com mais de cem países para por fim à falta de oportunidades de educação a todos que dela tenham direito. Foram convocadas pessoas imparciais e conhecedoras do assunto para elaborar o documento referente à Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino. Tal instrumento de grande importância foi elaborado para todo o público que não tinha oportunidade de estudar pela sórdida discriminação que reinava entre os povos. No artigo I o presente documento descreveu que os atos discriminatórios são: Artigo I - Para os fins da presente Convenção, o termo "discriminação" abarca qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência que, por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, condição econômica ou nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a igualdade de tratamento em matéria de ensino, e, principalmente: a) privar qualquer pessoa ou grupo de pessoas do acesso aos diversos tipos ou graus de ensino; b) limitar a nível inferior à educação de qualquer pessoa ou grupo; c) sob reserva do disposto no artigo 2 da presente Convenção, instituir ou manter sistemas ou estabelecimentos de ensino separados para pessoas ou grupos de pessoas; ou d) de impor a qualquer pessoa ou grupo de pessoas condições incompatíveis com a dignidade do homem. E o artigo V da presente Declaração aborda a necessidade da educação moral das pessoas em desenvolvimento para que saibam viver de forma pacífica perante sua nação, dando ênfase assim a paz social: Artigo V- Os Estados Partes na presente Convenção convêm em que: a) a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao fortalecimento do respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais e que deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações. Todos os grupos raciais ou religiosos, assim como o desenvolvimento das atividades nas Nações Unidas para a manutenção da paz; b) deve ser respeitada a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais: 1. °) de escolher para seus filhos estabelecimentos de ensino que não sejam mantidos pelos poderes públicos, mas que obedeçam às normas mínimas que possam ser prescritas ou aprovadas pelas autoridades competentes; e 2.°) de assegurar, conforme as modalidades de aplicações próprias da legislação de cada Estado, a educação religiosa e moral dos filhos, de acordo com suas próprias convicções, outrossim, nenhuma pessoa ou nenhum grupo poderão ser obrigados a receber instrução religiosa incompatível com suas convicções; 378 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais19, documento ratificado pelo Brasil na data do dia 24 de janeiro de 199220, adotado pela Resolução nº 2.200A, da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1966. É documento planejado com o objetivo de tornar juridicamente importantes os dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre eles o compromisso com a educação, determinando a responsabilização internacional dos estados signatários por eventual violação dos direitos estipulados. Em seu artigo 13, dispõe que: Artigo 13 - 1. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. E ainda: e) Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente. O Pacto de San José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana dos Direitos Humanos, assinado em 22 de novembro de 1969, na cidade de San José, na Costa Rica, e ratificado pelo Brasil em setembro de 1992, também traz expresso o direito à educação como direito fundamental inerente e imprescindível ao desenvolvimento humano. Senão vejamos: Artigo 13- Direito à educação 1. Toda pessoa tem direito à educação. 2. Os Estados Partes neste Protocolo convêm em que a educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. Convêm, também, em que a educação deve capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista, conseguir uma subsistência digna, favorecer a compreensão, a tolerância e a 19 ONU. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm. Acesso em 23 de fev. De 2013. 20 Idem. 379 em: COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades em prol da manutenção da paz. E ainda consta no presente Pacto de San Jose da Costa Rica o direito ofertado a qualquer cidadão para impetrar petição ao órgão internacional, caso o estado signatário não esteja cumprindo com os valores e princípios pertinentes na Convenção: Artigo 19- Meios de proteção 6. Caso os direitos estabelecidos na alínea a do artigo 8, e no artigo 13, forem violados por ação imputável diretamente a um Estado Parte deste Protocolo, essa situação poderia dar lugar, mediante participação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, quando cabível, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, à aplicação do sistema de petições individuais regulado pelos artigos 44 a 51 e 61 a 69 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A educação trata-se de um direito inerente à própria vida da pessoa. Sendo assim, representa parte inerente à moral e ética do ser humano denunciar a falta de efetivação de um direito fundamental da criança e adolescente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como é no caso à educação, caso o Estado responsável em ofertá-la se torne omisso depois de esgotados todos os recursos necessários para a sua implantação perante aquele país signatário. O artigo 4421 do Pacto de San José permite que qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidades não governamentais legalmente reconhecidas em um ou mais Estados-membros da Organização apresentem à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação da Convenção por um Estado-Parte. Cabe ressaltar que cabe a Defensoria Pública, como órgão que garante com grande excelência a defesa dos necessitados, representar e postular às ações perante diante dos órgãos internacionais. Se não bastasse, sobre o assunto educação apresenta a Convenção sobre os Direitos da Criança22, adotada pela Resolução XLIV da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 20 de novembro de 1989, e também ratificada em 24 de setembro de 1990 pela pátria brasileira, é o documento internacional mais importante para o público infanto-juvenil, em seu conteúdo sedimenta a Doutrina da Proteção Integral além do postulado normativo do superior interesse da criança. Em seu preâmbulo e em seu artigo 28, dispõe que: 21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pacto de San José da Costa Rica sobre direitos humanos completa 40 anos. Disponível em:< http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116380>. Acesso em 25 de fev. de 2013. 22 UNESCO. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm. Acesso em: 25 de fev. de 2013. 380 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Preâmbulo Considerando que a criança deve estar plenamente preparada para uma vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo com os ideais proclamados na Carta das Nações Unidas, especialmente com espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade; Artigo 28 1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e, a fim de que ela possa exercer progressivamente e em igualdade de condições esse direito, deverão especialmente: d) tornar a informação e a orientação educacionais e profissionais disponíveis e accessíveis a todas as crianças; O grande desafio encontrado nestas legislações é de criar um grupo pensante que possa transformar a história de uma nação. A educação como direito de todos não deve encontrar obstáculos mesmo porque é por meio de uma educação rica em atitudes éticas e cidadãs é que conseguiremos formar um futuro humano de responsabilidades e respeito por nosso semelhante. Além destas legislações supracitadas, há também a imediata necessidade da aplicação dos ementários da lei de nº 11.5235/2007 nas escolas, onde o corpo docente conseguirá transmitir informações do Estatuto da Criança e Adolescente e tornar as mesmas fontes educativas de respeito ao próximo, de concretização de cidadania. A sua não aplicabilidade e efetividade nos bancos escolares é uma ofensa ao Estado Democrático de Direito. Mais um documento de extrema valia a respeito da educação é A Declaração Mundial de Educação para Todos23, adotada na Conferência de Jomtien, na Tailândia, e a Declaração de Salamanca, adotada em 1994 pela UNESCO, onde enfatizou a necessidade real da educação para todos para a garantia de uma sociedade mais sadia, responsável não só pelo seu próximo, mas também por seu meio ambiente, senão vejamos: Preâmbulo Entendendo que a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional; Sabendo que a educação, embora não seja condição suficiente, é de importância fundamental para o progresso pessoal e social; Reconhecendo que o conhecimento tradicional e o patrimônio cultural têm utilidade e valor próprios, assim como a capacidade de definir e promover o desenvolvimento; Admitindo que, em termos gerais, a educação que hoje é ministrada apresenta graves deficiências, que se faz necessário torná-la mais relevante e melhorar sua qualidade, e que ela deve estar universalmente disponível; 23 UNESCO. Declaração Mundial de Educação para Todos. Disponível http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf. Acesso em 25 de fev. de 2013. em: 381 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I E também no mesmo documento está expresso a necessidade de uma educação rica em eticidade e atitudes morais para o futuro de um país: ARTIGO124. SATISFAZER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM 3. Outro objetivo, não menos fundamental, do desenvolvimento da educação é o enriquecimento dos valores culturais e morais comuns. É nesses valores que os indivíduos e a sociedade encontram sua identidade e sua dignidade. Diante do rico arcabouço legislativo em que se depara a educação tanto na área internacional como nacional, resta-nos como operadores do direito e da educação, impulsionar a aplicação e efetivação das leis garantidoras de direito no sentido de promover e salvaguardar os direitos não somente individuais mas, sociais, garantindo a dignidade principalmente das pessoas em desenvolvimento. 4 LEGISLAÇÕES NACIONAIS VIGENTES QUE ENFATIZAM O DIREITO EDUCACIONAL Podemos observar que mesmo estando amparados de ordenamentos jurídicos de ponta, como a nossa respeitável Constituição da República de 1988, como o Estatuto da Criança e Adolescente25 e tantas outras legislações até mesmo alienígenas, por vezes o infante e o jovem passam despercebidos frente ao descaso que essas pessoas em desenvolvimento sofrem perante a sociedade que vivem principalmente ao tratar de assunto de extrema relevância para o desenvolvimento da sociedade como é a educação. No atual contexto constitucional, há o dever de que todos se ajudem a partir do que se estará promovendo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Torna-se claro assim, a compreensão do dever imprescindível da sociedade de lutar pela proteção dos direitos fundamentais referentes à educação de crianças e adolescentes que indiscutivelmente é um direito vital. Na história brasileira a primeira vez que enfatizou princípios e valores a respeito da educação ofertada à criança e adolescente foi na Constituição Federal de 1988, ao estabelecer prioridade integral e absoluta como dever da família, da sociedade e do Estado. A educação ganhou uma seção própria na Carta Maior, estando presente nos artigos 205 a 21426. Por vezes as Constituições anteriores à Carta Magna de 1988 também fizeram referências à educação, porém, não de forma expressa ao infante e ao jovem. 24 Idem. BRASIL. Congresso Nacional. Legislação. Disponível <http://www2.planalto.gov.br/presidencia/legislacao>. Acesso em: 22 jun. 2012. 26 BRASIL. Congresso Nacional. Legislação. Disponível <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 22 de janeiro de 2013. 25 em: em 382 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Em se falando das garantias ofertadas às crianças e adolescentes a ordem constitucional é nítida e exara em seu artigo 22727 que: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Os direitos fundamentais dos pequenos cidadãos estão amparados na Carta Maior e o desrespeito a tais ensinamentos legais é um afronta ao nosso Estado de Direito e ao desenvolvimento da criança e adolescente que necessitam da ajuda dos adultos para a garantia e proteção de seus direitos humanos fundamentais. Dentre os direitos assegurados na Constituição da República, está o direito à educação do infante e adolescente, no sentido de efetivar o pleno desenvolvimento da pessoa humana, preparando esses adultos em miniatura para a cidadania e qualificação para o trabalho, artigo 53 do Estatuto da Criança e Adolescente28. Estão presentes nos artigos 227, 228 e 22929 da Carta Maior as reivindicações sociais referentes ao infante e adolescente, conferindo-se a este grupo etário a condição de cidadão. Posteriormente à promulgação da Constituição de 1988, por meio da pressão realizada pela sociedade civil em comunhão com organismos internacionais, deu-se origem à lei 8069, de 13 de junho de 1990, que faz referência ao Estatuto da Criança e Adolescente30. A publicação do citado diploma estatutário em 1990 representou um avanço frente à cidadania e estrutura jurídica brasileira, ao garantir os direitos à liberdade, dignidade e respeito às crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e Adolescente considera esta população, como sujeitos de direitos e merecedores de especiais cuidados e proteção prioritária frente à sociedade que vivem. Por fim, surge o dever do Estado, com competências distribuídas segundo as normas constitucionais e infraconstitucionais. Primeiro, relacionada, ao auxílio e fomento relativo ao cumprimento dos deveres da família e da sociedade. Segundo, com a responsabilidade de implementar políticas públicas voltadas diretamente à proteção à criança e adolescente, 27 Idem. LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da Criança e do Adolescente. 4. ed. São Paulo: Rideel, 2010, p.70. 29 BRASIL. Planalto. Legislação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 29 de jan. de 2013. 30 CASTRO, Dagmar Silva Pinto de. ECA como princípio ordenador para o enfrentamento da violência nas escolas. In: Uma nova aquarela: Desenhando políticas públicas integradas para o enfrentamento da violência escolar em São Bernardo do Campo. Dagmar Silva Pinto de castro; Cristiane Gandolfi; Roberto Joaquim de Oliveira (Orgs.). São Paulo: UMESP, 2010, p. 12. 28 383 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I orientando-se pelas regras de distribuição de competências previstas em todo o ordenamento jurídico. E no ano de 2007, através do projeto de lei da senadora Patrícia Saboya, foi publicada a lei de nº 11.525/200731 que traz em seu conteúdo a obrigatoriedade dos entes municipais e estaduais aplicarem os ensinamentos do Estatuto da Criança e Adolescente nas escolas de ensino fundamental entre as matérias curriculares. O citado diploma normativo vem com a necessidade de ofertar aos pequenos cidadãos uma educação fértil pautada de valores e princípios que acabe pelo menos de forma parcial com a magnitude do problema infante e jovem infrator. O Estatuto da Criança e Adolescente e a lei de nº 11.525/2007 não dizem respeito somente à implantação de novos direitos e deveres, mas, também a um novo horizonte a seguir, gestado a partir de experiências já vividas. A educação torna-se assim símbolo de desenvolvimento não só da pessoa física do educando como de toda a humanidade que será beneficiada com a participação de cidadãos éticos para formar a sociedade brasileira. Quando se fala em aplicar os ementários legais da legislação de nº 11.525/2007 quer dizer preparar estes pequenos adultos para a cidadania, para que possam estar preparados para o trabalho, não se limitando à educação somente à leitura e escrita de textos e a cálculos, senão vejamos: Não é apenas, dar informações sobre os cargos eletivos a serem disputados e sobre candidatos a ocupá-los, mas também informar e despertar a consciência sobre o valor da pessoa humana, suas características essenciais, sua necessidade de convivência e obrigação de respeitar a dignidade de todos os seres humanos, independentemente de sua condição social ou de atributos pessoais32. Desta forma, a obrigação de educar os adultos em miniatura por meio dos ensinamentos da legislação estatutária nas escolas é um instrumento fundamental para que a criança e adolescente possam se realizar como ser humano. 31 A lei de nº 11.525/2007 assim dispõe: Art. 1 o O art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5o: O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. ” (NR). BRASIL. Congresso Nacional. Legislação. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11525.htm>. Acesso em: 14 de dez de 2012. 32 DALLARI, Dalmo de Abreu. Um breve histórico dos direitos fundamentais. In: Educação, Cidadania e direitos Humanos. José Sergio Carvalho (Org.). Rio de Janeiro: Vozes, 2004, p. 42. 384 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I É dever do Estado, como agente garantidor da paz social e responsável pela produção de legislações de extrema valia para a sociedade brasileira além de ser signatários de inúmeras legislações internacionais com enfoque à educação da criança e adolescente, que retire este abismo existente entre tais legislações e suas reais efetivações. Fazer valer os ensinamentos socioeducativos nos bancos escolares é concretizar o cuidado, à atenção com o outro, que nada mais se trata de um cidadão que merece a atenção e o afeto fraternal do adulto para se desenvolver. Entrou em vigor a lei 12.685/201233, que faz referência ao dia 21 de novembro como data especial destinada ao compromisso à educação da criança e adolescente. De mais um ordenamento legal que proteja à educação de crianças e adolescentes este país não precisa, pois, de ementários legais que fazem referência a ela já está abarrotado, necessita bem mais de comprometimento e plena efetivação das legislações que já se encontram em vigor. Espera-se que esta lei venha a ser em um futuro não muito distante comemorada como símbolo de emancipação social obtida pelo infante e jovem. Fazer valer os fins sociais do presente ordenamento legal é fazer valer a verdadeira justiça atendendo a seus valores morais, sociais, éticos e fraternos. 5 O AMOR AO PRÓXIMO- BASE FRATERNAL- E A APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.525/2007 Para efetiva implantação da lei nº 11.525/2007 haverá a necessidade de uma união fraterna por parte da família, sociedade e Estado envolvendo a contribuição de defensores públicos, promotores de justiça, magistrados, profissionais que atuam na área da Infância e Juventude para que o ordenamento jurídico seja implantado de forma concreta em nossa sociedade. A atitude de um professor pode ser fraterna em sua função pedagógica, quando transmite os ensinamentos estatutários em sala de aula e faz com que os educandos construam suas personalidades baseadas em atitudes éticas e morais perante a sociedade que vivem. Os defensores públicos e promotores praticam condutas éticas ao perceberem a falta de efetividade de uma norma federal legal e constitucional e entram com recursos cíveis necessárias para a obtenção e implantação dos ementários legais. O juiz pratica condutas éticas quando defere as ações interpostas pelos defensores e promotores e além de tudo ao 33 BRASIL. Lei nº 12.685/2012, de 21de novembro de 2012. Estabelece o Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação. Diário Oficial da união, Ano CXLIX , nº 139, Brasília - DF, quintafeira, 19 de julho de 2012. Disponível em: http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=19/07/2012. Acesso em 25 de fev. de 2013. 385 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I julgar a ação impõem multas aos municípios que estão descumprindo tal ordenamento legal, como exemplo a lei de nº 11.535/2007. A consciência humana e o dever profissional devem caminhar juntos, como pode um servidor deixar de exigir a efetivação de uma lei e mais deixar de defender quem mais precisa ser defendido e quem não é capaz de se defender por si próprio: a criança e o adolescente? O princípio da fraternidade utilizada no direito e nos bancos escolares é semente de amor ao próximo e de transformação social tendo em vista que os pequeninos ao receberem os ensinamentos do Estatuto da Criança e Adolescente nas escolas, conseguirão se desenvolver com conteúdos sadios compostos de valores éticos e fraternos para transmitirem a seus descendentes e para toda a coletividade. O problema infante e adolescente infratores deve ser cortado pela raiz. Somente por meio da educação construída com bases concretas de atitudes fraternas e morais a esses seres humanos em pleno desenvolvimento de sua moral e ética é que conseguiremos colocar fim a este ciclo de crianças e adolescentes infratores que em muito aborrece a sociedade brasileira. Em magnífico pensamento expressou-se VERONESE34 ao dizer que: Seria de fato uma ilusão pensar que a estrutura econômico-políticosocial de determinada sociedade se alteraria automaticamente e ter-seia, consequentemente, uma democracia tangenciada pela participação de todos, indivíduos e grupos, com a simples edição de novas leis, sem um compromisso real com a sua eficácia, para além de sua vigência. Mesmo com ordenamentos jurídicos de ponta, a questão se torna mais complexa, mesmo diante das exigências sociais, pois a implantação da norma jurídica na realidade social ainda é vista como uma utopia. E VERONESE diante das lacunas legais afirma que: Teme-se que o Poder Judiciário- á medida que julgue procedente a grande maioria dos casos de conflitos envolvendo indivíduos ou coletividades inteiras que interpõem ações civis públicas, em razão da inadimplência do Estado no cumprimento de suas políticas sociaisesteja adentrando em um campo que não lhe pertence, pois são questões que tradicionalmente se entende estarem a cargo dos outros dois poderes, o Executivo e o Legislativo. É questão de justiça social a plena efetivação dos ordenamentos legais na sociedade, mesmo porque o direito é feito para ser aplicado na realidade social, caso contrário à lei se 34 PETRY, Josiane Rose Petry. Direito e Fraternidade: a necessária construção de um novo paradigma na academia. In: Fraternidade como categoria jurídica. Luiz A. A. Pierre, Maria do Rosário F. Cerqueira, Munir Cury, Vanessa R. Fulan (Orgs.). São Paulo: Editora Cidade Nova, 2013, p. 38. 386 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I torna um simples escrito no papel sem validade alguma. É questão de direito o magistrado, representante do Poder Judiciário, agir e praticar condutas nas lacunas deixadas pelo Poder Legislativo. Somente por meio de condutas fraternais e éticas dos aplicadores do direito é que conseguiremos alcançar os valores e regras elencados em um ordenamento legal. O Direito deve, dessa forma, deixar valer a sua grande essência de transformação social, de submeter à sua construção legislativa à realidade social. Se as leis nascem distantes da realidade social tornam-se desprovidas de valor e acabam por se considerar um corpo sem vida. E é com essa tarefa de fazer valer os valores e princípios presentes em um ordenamento legal é que os operadores do direito e também os professores devem se comprometer. Como grande exemplo de conduta ética, FREIRE35, educador que recebeu o título de patrono as educação brasileira36, ao acreditar nas transformações sociais relatou: No momento em que os seres humanos, intervindo no suporte, foram criando o mundo, inventando a linguagem com que passaram a dar nome às coisas que faziam com a ação sobre o mundo, na medida em que foram habilitando a inteligir o mundo e criaram por consequência a necessária comunicabilidade do inteligido, já não foi possível existir a não ser disponível à tensão radical e profunda entre o bem e o mal, entre a dignidade e a indignidade, entre a decência e o despudor, entre a boniteza e a feiura do mundo. Quer dizer, já não foi possível existir sem assumir o direito e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política. E tudo isso nos traz de novo a imperiosidade da prática formadora, de natureza eminentemente ética. E tudo isso nos traz de novo à radicalidade da esperança. Sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é possível intervir para melhorá-las. Desta forma, diante da falta de aplicabilidade da lei de nº 11.525/2007 que traz em seu bojo a necessária aplicação dos ensinamentos do Estatuto da Criança e Adolescente nas escolas de ensino fundamental, somente por meio de atitudes éticas e fraternas praticadas pelos adultos é que estes pequenos cidadãos poderão vivenciar o verdadeiro sentido de cidadania diante do Estado de Direito em que vivem. Somente pela submissão da norma aos anseios sociais é que a torna eficaz e 37 legítima . 35 FREIRE, P. Op. Cit., p. 51-52. BRASIL. Congresso Nacional. Legislação. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Lei/_leis2012.htm. Acesso em: 25 de fev. de 2013. 37 VERONESE, J. R.P. Op. Cit., p. 41. 36 387 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I É dever do Estado, dos servidores do direito, dos professores, enfim de toda a sociedade lutar para a pela implementação dos direitos previstos à classe infanto-juvenil, fazendo com que o Direito se insira em pleno diálogo com o contexto social para o qual foi criado e deve enraizar. Como as leis são frutos de ações humanas, como os legisladores, estão propensos a equívocos e a lacunas, porém, estas estão abertas a correções. Cabe então aos operadores do direito, diante de tamanha atrocidade, corrigir e preencher o vazio deixado na legislação 11.525/2007, e efetivar assim o verdadeiro sentido fraternal e democrático que deve existir perante o nosso semelhante, ao implantar os ensinamentos do Estatuto da Criança e Adolescente nas matérias curriculares do ensino fundamental. CONSIDERAÇÕES FINAIS A escola sendo considerada uma estrutura idealizada, um organismo social formado por professores, diretores, família, crianças e adolescentes, seres possuidores de valores e de condutas sociais, é o local propício e adequado para reproduzir os ensinamentos éticos humanos para uma vida em coletividade. O grande desafio a ser perseguido é o de colocar fim ou mesmo diminuir o quadro infante e jovens infratores, realidade está que assombra em muito a sociedade brasileira. Pequenos adultos que por vezes, até mesmo pela ausência de condutas éticas a qual poderiam se espelhar, vão para o mundo desumano do crime na esperança de suprir com suas necessidades básicas, ao menos as vitais. Somente por meio da educação ofertada nos bancos escolares dos ensinamentos do ordenamento estatutário conseguiremos educar esses pequenos cidadãos a praticar condutas éticas e saudáveis perante a sociedade que querem se amoldar. A maior conduta ética a ser realizada é aquela despendida ao público infanto-juvenil, pessoas em pleno desenvolvimento de sua moral e ética, que necessitam da colaboração e conduta fraternal dos adultos para a efetivação dos ementários legais de nº 11.525/2007 nas instituições escolares. Fazer valer os ensinamentos do Estatuto da Criança e Adolescente no dia a dia escolar, baseada em condutas fraternais, é a verdadeira ética cidadã. O simples fato de existir um ordenamento legal publicado e elaborado especialmente para crianças e adolescentes não resolve em nada o problema infante e jovem infratores, somente conseguiremos reverter este quadro com a plena efetivação dos ementários legais. 388 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I Os adultos em miniatura ao serem fortalecidos e educados com valores ricos de regras e princípios ético-sociais nas escolas conseguirão tomar outras atitudes perante seus semelhantes. A verdadeira conduta ética a ser realizada por meio dos operadores da área da educação e da área do direito é a que se faz pelo envolvimento e implantação de um processo constitutivo mais fraterno, humano, adequado e transformador da nossa realidade social. Praticar atitudes éticas e fraternas por nosso semelhante, em especial pela criança e adolescente, seres incapazes de por si só de efetivarem seus direitos, é efetivar a verdadeira justiça, mesmo porque o mundo não é formado por si próprio e sim por nós. REFERÊNCIAS ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Trad. de Mário da Gama Kury. ed. 3º. Brasília, Ed Universidade de Brasília, c 1985, 1999. BARRETO, Vicente. Educação e Violência: reflexões preliminares. In: Drogas e Cidadania: repressão ou redução. ZALUAR, Alba (org). São Paulo: Brasiliense, 1994. BRASIL. Congresso Nacional. Legislação. Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/presidencia/legislacao>. Acesso em: 22 jun. 2012. _____. Congresso Nacional. Legislação. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 22 de janeiro de 2013. _____. Planalto. Legislação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 29 de jan. de 2013. _____. Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutrina. Disponível em: http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id122.htm. Acesso em: 21 de fev. de 2013. _____. Supremo Tribunal Federal. Pacto de San José da Costa Rica sobre direitos humanos completa 40 anos. Disponível em:< http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116380>. Acesso em 25 de fev. de 2013. _____. Lei nº 12.685/2012, de 21de novembro de 2012. Estabelece o Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação. Diário Oficial da união, Ano CXLIX, nº 139, Brasília - DF, quinta-feira, 19 de julho de 2012. Disponível em: http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=19/07/2012. Acesso em 25 de fev. de 2013. _____. Congresso Nacional. Legislação. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/_leis2012.htm. Acesso em: 25 de fev. de 2013. 389 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I CASTRO, Dagmar Silva Pinto de. ECA como princípio ordenador para o enfrentamento da violência nas escolas. In: Uma nova aquarela: Desenhando políticas públicas integradas para o enfrentamento da violência escolar em São Bernardo do Campo. Dagmar Silva Pinto de castro; Cristiane Gandolfi; Roberto Joaquim de Oliveira (Orgs.). São Paulo: UMESP, 2010. DALLARI, Dalmo de Abreu. Um breve histórico dos direitos fundamentais. In: Educação, Cidadania e direitos Humanos. José Sergio Carvalho (Org.). Rio de Janeiro: Vozes, 2004. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011. LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da Criança e do Adolescente. 4. ed. São Paulo: Rideel, 2010. MARCHIONNI, Antonio. A ética e seus fundamentos. In: ÉTICA na virada do milênio: Busca do sentido da vida. Maria Luiza Marcílio; Ernesto Lopes Ramos (coord.). ed. 2º. São Paulo: LTR, 1999. MONTORO, André Franco. Retorno à ética na virada do milênio. In: MARCÍLIO, Maria Luiza; RAMOS, Ernesto Lopes. Ética na virada do milênio “busca do sentido da vida”. 2. ed. São Paulo: LTR, 1999. ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: < http://www.bahai.org.br/direitos/Decla_Univer_Dir_Hum.htm> Acesso em 23 de out de 2012. ____. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitoshumanos/declar_dir_dev_homem.pdf. Acesso em: 23 de fev. de 2013. ____. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm. Acesso em 23 de fev. de 2013. PETRY, Josiane Rose Petry. Direito e Fraternidade: a necessária construção de um novo paradigma na academia. In: Fraternidade como categoria jurídica. Luiz A. A. Pierre, Maria do Rosário F. Cerqueira, Munir Cury, Vanessa R. Fulan (Orgs.). São Paulo: Editora Cidade Nova, 2013. PIAGET, Jean. Para onde vai à educação? Tradução de Ivete Braga. Rio de Janeiro: José Olympio editora, 1973. 390 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I POZZOLI, Lafayette. CASO, Giovani. Ética Social: a exigência ética hoje. In: Ética: na virada do milênio “busca do sentido da vida”. Coleção Instituto Jacques Maritain. Maria Luiza Marcílio; Ernesto Lopes Ramos (coord.). ed 2. São Paulo: LTR, 1999. _____. Direito como função promocional da pessoa humana: inclusão da pessoa com deficiência – fraternidade. In: NAHAS, Thereza Christina; PADILHA, Norma Sueli; MACHADO, Edinilson Donizete. Gramática dos Direitos Fundamentais: a Constituição Federal de 1988 - 20 anos depois. Rio de Janeiro: Campus, 2009. _____. GIMENEZ, Melissa Zani. ECA e a Efetivação do direito à prevenção de atos infracionais. In: ECA: Efetividade e Aplicação, análise sob a ótica dos direitos humanos e fundamentais. São Paulo: LTR, 2012. PUC-RIO. Santo Agostinho e a Política. Disponível em: <http://www2.dbd.pucrio.br/pergamum/tesesabertas/0114208_03_cap_02.pdf>. Acesso em 16 de set de 2012. UNESCO. Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino. Disponível em: http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/unesco/. Acesso em: 23 de fev. de 2013. _____. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm. Acesso em: 25 de fev. de 2013. _____. Declaração Mundial de Educação para Todos. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf. Acesso em 25 de fev. de 2013. 391 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I A PORNOGRAFIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL A PARTIR DO VIÉS HERMENÊUTICOJURISDICIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PORNOGRAPHY AND COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN BRAZIL FROM HERMENEUTIC-JUDICIAL BIAS OF FUNDAMENTAL RIGHTS André Viana Custódio1 Felipe da Veiga Dias2 Resumo A pesquisa em tela se dispõe a debater o tema da pornografia e exploração sexual comercial infantil no Brasil, especialmente a partir do enfoque das decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, as quais fundamentam diversas críticas e análises. Em síntese, a base de contestação tem sua centralidade nos fundamentos constitucionais e garantidores de direitos a crianças e adolescentes, bem como a concepção que norteia tal proteção, por meio da fundamentação da teoria da proteção integral, associando-se diretamente ao pensamento hermenêutico hodierno, o qual tem alinhamento com o pensamento constitucional contemporâneo. Diante disso, tem-se o quadro da violência infantil, especificamente em relação à pornografia e exploração sexual comercial, a última contou com decisão da Corte superior nacional em um retrocesso e lesão a ambos os marcos teóricos ora defendidos, sejam os parâmetros de direitos da criança e adolescente ou hermenêutico, sendo que tal decisão resta contrastada também com o recente posicionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual demonstra que a absolvição de uma situação não precisa significar uma violação de direito humanos. A realidade é que a crítica se 1 Pós-Doutor em Direito na Universidade de Sevilla/Espanha, Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006), Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2002). Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, Professor permanente nos Programas de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, Coordenador do Curso de Direito da Faculdade Avantis. Pesquisador do Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente (NEJUSCA/UFSC), Pesquisador do Grupo Políticas Públicas de Inclusão Social (UNISC) e Coordenador do Grupo de Estudos em Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens (GRUPECA/UNISC); Coordenador Executivo do Instituto Ócio Criativo, Fellow da Ashoka Empreendedores Sociais, Consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. Coordenador do projeto de pesquisa “A violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes e as políticas públicas: a imperiosa análise do problema para o estabelecimento de parâmetros de reestruturação do combate às violações aos direitos infanto-juvenis” – [email protected]. 2 Doutorando e Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Especialista em Direitos Fundamentais e Constitucionalização do Direito – PUC/RS. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, Professor da Faculdade Metodista de Santa Maria (FAMES). Santa Maria – RS. Brasil. Integrante dos Grupos de Estudos em Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens do Núcleo de Pesquisa Políticas Públicas de Inclusão Social (GRUPECA/UNISC). Participante do projeto de pesquisa “A violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes e as políticas públicas: a imperiosa análise do problema para o estabelecimento de parâmetros de reestruturação do combate às violações aos direitos infanto-juvenis” (CNPQ). Advogado – [email protected]. 392 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I impõe como dever na consolidação do pensamento juridicamente adequado aos novos rumos, seja da interpretação jurídica ou da proteção infanto-juvenil. Palavras-chave: Direitos de crianças e adolescentes; direitos humanos; pornografia; exploração sexual comercial infantil; hermenêutica. Abstract The search screen is proposed to discuss the issue of pornography and commercial sexual exploitation in Brazil, especially from the viewpoint of the decisions of the Superior Court of Justice and the Court of Justice of Rio Grande do Sul, which diffuse some criticisms and analysis. In summary the basis of contestation has its centrality in the fundamentals and guaranteeing constitutional rights of children and adolescents, as well as guiding the design of such protection, through the foundation of the theory of integral protection, linking directly to today's hermeneutical thinking, the which is aligned with the contemporary constitutional thought. Given this, there is the context of child abuse, specifically in relation to pornography and commercial sexual exploitation, the last one had decision of higher national Court on a reverse and injury to both theoretical frameworks sometimes defended, are the parameters of the child and adolescent or interpretation, and such decision remains also contrasted with the recent placement of the Court of Rio Grande do Sul, which demonstrates that the acquittal of a situation not have to mean a violation of human rights. The reality is that the criticism is imposed as a duty in the consolidation of thought legally appropriate to new directions, whether of legal interpretation or in youth protection. Keywords: Rights of children and adolescents; human rights; pornography; commercial sexual exploitation; hermeneutics. Introdução O presente estudo tem como tema o debate acerca da pornografia e exploração sexual comercial infantil no Brasil, especialmente a partir do enfoque de duas decisões, uma do Superior Tribunal de Justiça e outra do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da qual se difundem diversas críticas e análises. Em linhas gerais a base de contestação tem sua centralidade nos fundamentos constitucionais e garantidores de direitos a crianças e adolescentes, bem como a concepção que norteia tal proteção, por meio da fundamentação da teoria da proteção integral, esta suplantando o modelo menorista que imperou no país e formatou o pensamento jurídico acerca do tema durante muito tempo. A ótica adotada a partir do prisma constitucionalizado do Direito da Criança e do Adolescente alerta para diversos enfoques de revisão, como neste caso a perspectiva judicial, mas poderiam ser avocadas situações referentes às políticas públicas, as quais desempenham importante papel na redução das demandas sociais. Porém, a especificidade do tema gera por consequência a imperiosidade de clarificação sobre os elementos da violência contra crianças 393 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I e adolescentes, para que deste modo a abordagem das violações sexuais tenha um embasamento minimamente qualificado. Deste modo, a proposição em tela visa questionar também o suporte decisório ofertado à posição das Cortes sobre os temas da pornografia e exploração sexual comercial infantil, contrastando, na primeira delas, não somente com as bases a serem defendidas, no sentido da teoria da proteção integral, mas ao mesmo tempo colide com o pensamento hermenêutico, de cunho filosófico, que deveria pautar as decisões por parte dos operadores jurídicos do constitucionalismo contemporâneo. Portanto, a partir destes pontos nevrálgicos, tentar-se-á expor as feridas abertas com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, para consolidação de um sistema verdadeiramente protetor dos direitos de crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, utilizar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como uma perspectiva contraposta, seguindo a linha da higidez constitucional e da interpretação jurídica. 1 Os direitos de crianças e adolescentes no Brasil – do menorismo à teoria da proteção integral O debate dos direitos de crianças e adolescentes foi durante muito tempo em sua história minado por dogmas e pré-concepções míticas culturais, sejam elas de alcunha “protetivas” ou meros preconceitos sociais, fato é que sua perpetuação apenas retardou o processo jurídico-científico de diálogo acerca do tema. Significa que a doutrina menorista fez escola no direito nacional, infestando o pensamento crítico dos juristas desde séculos passados; embora sua implementação oficial tenha sido no ano de 1927 (CUSTÓDIO, VERONESE, 2009, p. 54), seus efeitos se estenderam nas duas direções, tanto ao passado quanto ao futuro. No período da doutrina do direito do menor, a preocupação latente não era com direitos ou a integridade de crianças e adolescentes, mas sim com o “perigo” que representavam aqueles abandonados e delinquentes, ou seja, havia o etiquetamento (pensamento alinhado com o que hoje se conhece como teoria do etiquetamento social Labeling Approach) (SHECAIRA, 2008, p. 267 – 321) dos pequenos criminosos para que estes ficassem segregados e não importunassem a sociedade. Frisa-se que no Brasil, a importação de teorias para sustentar as condutas do Estado era flagrante, seja pela falta de estudos na área infanto-juvenil ou pela pluralidade existente em outros países (comenta diversas escolas tradicionais no estudo da criminalidade juvenil o autor Philippe Robert) 394 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I (ROBERT, 2007), o fato é que pouca importância se ofertava a estes indivíduos, era mais simples “varrê-los para debaixo do tapete”. No entanto, os ventos de mudança começam a soprar a partir de reações internacionais, no sentido de proteção (verdadeira) da infância e da juventude, não mais relegados a posição de seres inferiores (menores), recebendo a guarida de tratados internacionais (LIBERATI, 2006, p. 25 – 26). Este novo pensamento nascente na visão dos direitos humanos não mais permite o tratamento diferenciado a determinadas crianças e adolescentes, rotulando-os de delinquentes, abandonados ou qualquer outra nomenclatura, em outras palavras, adota-se a teoria da proteção integral, em detrimento do menorismo. Isso se refletiu na realidade nacional, compactuando com o período de redemocratização iniciado na década de 1980, mais precisamente na luta de movimentos sociais, aliados a novos panoramas internacionais e a Constituição de 1988, premiou-se a proteção integral de crianças e adolescentes, determinando novos rumos na defesa destes singulares seres humanos (CUSTÓDIO, 2009, p. 105 – 106). Assim, há um divisor teórico profundo no marco constitucional para o direito da criança e do adolescente, que não se reduz apenas ao abandono da expressão menor (CUSTÓDIO, 2009, p. 28), mas o desafio de alcançar a efetivação da teoria da proteção integral inspiradora do conjunto de princípios e regras do Direito da Criança e do Adolescente. Neste sentido, traz grande preocupação a ressalva levantada por Alexandre Morais da Rosa (2005, p. 18) ao indicar que a modificação teórica na base jurídica não foi consolidada na maior parte dos tribunais do país, havendo tão somente uma aplicação de “fachada”, mascarando o menorismo introjetado no âmago tanto de magistrados quanto de diversos operadores do direito, os quais ainda vislumbram no direcionamento moral e coercitivo a resposta às demandas sociais, contrapondo-se ao próprio modelo estatal democrático de direito. A crítica à postura jurídica velada de parcela dos operadores do direito é válida, sob o viés de que somente se evolui com críticas e questionamentos, sendo que neste ensejo o alicerce filosófico-jurídico deve ser acompanhado e não disfarçado. Desta forma, a postura constitucional adotada coaduna com um pensamento orientado pela teoria da proteção integral e vislumbrando a peculiaridade das crianças e adolescentes, conforme asseveram as palavras de Ana Paula Motta Costa (2011, p. 857 – 858): A Constituição Brasileira estabelece, portanto, como sistema máximo de garantias, direitos individuais e sociais, dos quais são titulares todas as crianças e adolescentes, independente de sua situação social, ou mesmo de sua condição pessoal e de sua 395 COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 23 - Direitos Fundamentais e Democracia I conduta. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Estado a efetivação destes direitos, assegurando as condições para o desenvolvimento integral de quem se encontra nesta faixa etária. Portanto, o estágio de desenvolvimento humano do público infanto-juvenil, em razão de suas peculiaridades, justifica um tratamento especial. Ademais, sabe-se que mesmo com o desenvolvimento teórico (adoção da teoria da proteção integral), o Direito da Criança e do Adolescente não é um ramo jurídico avançado porque garante muitos direitos, mas sim porque teve a capacidade de articular o reconhecimento de direitos fundamentais com um sistema de garantias de políticas públicas de proteção, atendimento e justiça que permite controlar os níveis de efetivação de direitos e promover a correção diante da ameaça ou violação de direitos por meio de estratégias de gestão pública. As políticas públicas de atendimento, proteção e justiça para crianças e adolescentes exigem assim a co-participação da família e da comunidade na deliberação e promoção de uma sociedade que seja mais inclusiva e democrática. Essa postura de compartilhamento de responsabilidades p
Download