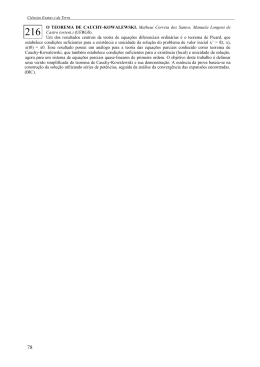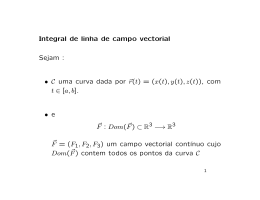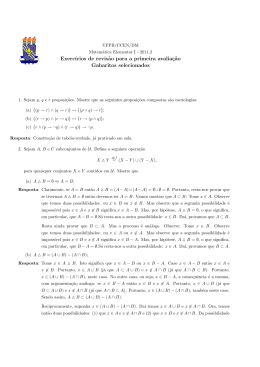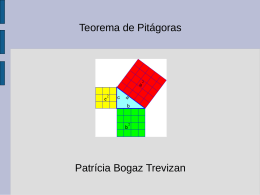Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Câmpus de Aquidauana
Curso de Matemática
Thales Fernando Vilamaior Paiva
O Teorema de Stokes em Variedades
Aquidauana
2011
Thales Fernando Vilamaior Paiva
O Teorema de Stokes em Variedades
Monografia apresentada ao Curso de Matemática
da UFMS, como requisito para a obtenção parcial
do grau de LICENCIADO em Matemática.
Orientador: Elias Tayar Galante
Mestre em Matemática - IMECC
Aquidauana
2011
Thales Fernando Vilamaior Paiva
O Teorema de Stokes em Variedades
Monografia apresentada ao Curso de Matemática
da UFMS, como requisito para a obtenção parcial
do grau de LICENCIADO em Matemática.
Aprovado em 03 de Novembro de 2011
BANCA EXAMINADORA
Elias Tayar Galante
Mestre em Matemática - IMECC
Adriana Wagner
Mestre em Matemática - UEM
Fábio Dadam
Doutor em Matemática - IMECC
À minha famı́lia e amigos,
ofereço.
Resumo
Neste trabalho discutimos o teorema de Stokes, tanto para aplicações em R3 quanto sua
generalização para variedades. Inicialmente, por meio da motivação fı́sica do cálculo do
trabalho, tratamos das integrais de linha e, posteriormente, das integrais de superfı́cie,
provando o teorema de Stokes para aplicações em R2 e R3 . Em seguida apresentamos
alguns requisitos para a generalização do teorema em variedades compactas orientáveis.
Palavras-chaves: Teorema de Stokes, Análise Vetorial, Variedades.
Abstract
In this work we discuss the Stoke’s theorem, for applications in R3 and its generalization
for manifolds. Initially, motivated by the physical calculus of work, we’ll discuss about
line integrals and, after, surface integrals, proofing the Stoke’s theorem for applications
in R2 and R3 . Following, we present some requirements for generalizations of theorem on
compact orientated manifolds.
Keywords: Stoke’s Theorem, Vector Analysis, Manifolds.
Agradecimentos
À Deus, por tudo.
À minha famı́lia, pelo apoio em todos os sentidos.
Aos meus amigos, em especial à “Santı́ssima Trindade”, composta pelos demais vértices Fernando da Silva Batista e Renan Maneli Mezabarba, da qual tenho o
privilégio de fazer parte.
Aos frequentadores da casa da Ismara e da Jéssyca, pela companhia, agradável
conversa e especialmente pelo ótimo café.
Ao orientador e amigo, professor Elias Tayar Galante, desde a escolha do tema
até as muitas sugestões e correções.
Aos professores Adriana Wagner e Fábio Dadam, por se disporem a fazer parte
da banca examinadora.
À professora Irene Magalhães Craveiro, por toda ajuda e incentivo desde o
inı́cio da graduação.
Em especial, à minha noiva, que muito privou-se de minha companhia em prol
do término deste trabalho.
A todos vocês, o meu muito obrigado!
Assim perguntamos, sem parar,
Até um punhado de terra
Cobrir a nossa boca
Mas isso será uma resposta?
Heinrich Heine.
Sumário
1 Integrais de Linha e o Teorema de Stokes
9
1.1
Integrais de linha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
O Teorema de Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3
O Teorema de Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2 Formas
9
31
2.1
Formas Alternadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2
Formas Diferenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3 Integração em Variedades
45
3.1
Variedades Diferenciáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2
Teorema de Stokes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4 Conclusão e Estudos Posteriores
59
5 Apêndice A - Diferenciabilidade
60
6 Apêndice B - Topologia Elementar do Rn
64
Referências Bibliográficas
71
7
Introdução
Apresentamos neste trabalho um tratamento do teorema de Stokes, tanto para
aplicações em superfı́cies do R3 quanto sua generalizações em superfı́cies abstratas de
dimensões arbitrariamente grandes, chamadas variedades.
No capı́tulo 1 começamos introduzindo o conceito de integral de linha, motivado pelo cálculo do trabalho realizado por uma força ao deslocar uma partı́cula no
espaço. E em seguida, apresentamos os teoremas de Green, de Stokes e de Gauss.
Optamos por fazer um tratamento dos teoremas do capı́tulo 1 de forma independente das formas diferenciais, pois julgamos interessante fazê-lo do ponto de vista
do cálculo usual para duas e três variáveis, simplificando alguns resultados e tornando
possı́vel a apresentação dos teoremas sem muitos pré-requisitos.
No capı́tulo 2 iniciamos com uma pequena introdução à algebra das aplicações
multilineares, enfatizando em particular as aplicações alternadas, motivando muitos dos
resultados a respeito das formas diferenciais, que estabelecemos na sessão 2.2. Nomeamos
a sessão 2.1 por Formas Alternadas pelo fato de que consideramos apenas aplicações da
forma T : V ×· · ·×V → R, isto é, com contradomı́nio real. E em particular, tais aplicações
são comumente denominadas formas, na literatura consultada.
O capı́tulo 3 fecha o texto principal, apresentando duas sessões, onde a primeira
é dedicada ao conceito de variedade diferenciável, e a segunda dedicada ao teorema de
Stokes.
Mostramos na sessão 3.3 as considereações necessárias à respeito da integral
de uma k−forma em uma variedade diferenciável, para posteriormente fazer uso na demonstração do teorema de Stokes. Entretanto, a forma em que apresentamos o teorema
restrige-se apenas para o caso em que a variedade considerada é compacta e orientável, o
que facilita sua interpretação e também a demonstração. E um tratamento mais geral a
respeito do teorema para aplicações em variedades não compactas e com singularidades
pode ser encontrado na bibliografia consultada.
O texto consta ainda de dois apêndices, o primeito dedicado à uma pequena
8
revisão sobre diferenciabilidade de funções de várias variáveis, e o segundo sobre topologia
dos espaços euclidianos. O resultado mais importante no apêndide B se dá nas definições
e considerações a respeito dos espaços compactos, pois tais resultados são admitidos no
capı́tulo 3, principalmente quando tratamos das chamadas partições diferenciáveis da
unidade e variedades compactas, usadas na demostração do teorema de Stokes.
Apresentamos ainda ao final deste trabalho (capı́tulo 4) uma breve discussão
dos resultados obtidos e também dos estudos posteriores, motivado pelos resultados estudados na elaboração desta monografia.
9
1 Integrais de Linha e o Teorema de Stokes
Neste primeiro capı́tulo, faremos uma exposição dos mecanismos necessários
para o desenvolvimento, prova e aplicações do teorema de Stokes que, em alguns textos
é chamado de teorema fundamental do cálculo de muitas variáveis, pelo seu caráter de
generalização do teorema fundamental do cálculo (em uma variável).
Focaremos primeiramente na exposição do teorema para aplicações em R2 e R3
e, nos capı́tulos seguintes, iniciaremos a apresentação dos requisitos para sua generalização
em variedades.
Começaremos agora com o estudo das integrais sobre curvas no espaço, tradicionalmente chamadas de integrais de linha, e logo depois faremos o caso especial do
teorema de Stokes em R2 , chamado de teorema de Green e, finalmente, faremos o teorema
de Stokes para R3 . Ao longo deste capı́tulo baseamo-nos principalmente nas referências
[1, 10].
1.1
Integrais de linha
Quando p é uma partı́cula que se move ao longo de um segmento de reta no
espaço, com ponto inicial A e final B, e F é uma força constante, sabemos que o trabalho
realizado por F ao deslocar p ao longo de AB é dado por
W = F · AB,
(1.1)
onde “ · ” denota o produto interno.
Quando p se move ao longo de uma curva C, podemos aproximá-lo por uma
linha poligonal com vértices em C, dividindo o segmento por meio de uma partição regular,
para então usar a equação (1.1) e obter o Trabalho realizado no deslocamento da partı́cula
ao longo de C, e essa será nossa motivação para a definição de integral de linha.
Definição 1.1.1. Uma partição P de um intevalo fechado [a, b] é uma sucessão t0 , · · · , tn ,
onde a = t0 < · · · < tn = b. Neste caso P é dito de ordem n, pois separa [a, b] em
1.1 Integrais de linha
10
n subintervalos. Dizemos ainda que P é regular se para qualquer j = 1, · · · , n − 1,
tj+1 − tj =
b−a
.
n
Sejam,
F : R3 −→ R3
(x, y, z) 7→ F (x, y, z) = (F1 (x, y, z), F2 (x, y, z), F3 (x, y, z))
um campo vetorial1 , e C uma curva em R3 definida por σ(t) = (x(t), y(t), z(t)), t ∈ [a, b].
Dividimos o intervalo I = [a, b] por meio de uma partição regular de ordem n,
a = t0 < · · · < ti < · · · < tn = b,
e obtemos uma linha poligonal de vértices σ(ti ) = (x(ti ), y(ti ), z(ti )), i = 0, · · · , n − 1.
Como, para n grande, ∆ti = ti+1 − ti é pequeno, o deslocamento da partı́cula
de σ(ti ) até σ(ti+1 ) é aproximado pelo vetor ∆Si = σ(ti+1 )−σ(ti ), e F pode ser considerada
constante e igual a F (σ(ti )) no intervalo [ti , ti+1 ]. Supondo que σ seja de classe C 1 em
[a, b], então, pela definição de derivada, temos
σ 0 (ti ) =
σ(ti+1 ) − σ(ti )
∆Si
⇒ σ 0 (ti ) =
⇒ ∆Si ≈ σ 0 (ti )∆(ti ).
ti+1 − ti
∆ti
(1.2)
Portanto, o trabalho realizado para deslocar uma partı́cula de σ(ti ) até σ(ti+1 )
é aproximadamente
F (σ(ti )) · ∆Si ≈ (F (σ(ti )) · σ 0 (ti )) · ∆(ti ).
(1.3)
Assim, o trabalho W realizado pela força F para deslocar uma partı́cula ao
longo de C é
W = lim
n→∞
n−1
X
!
(F (σ(ti )) · σ 0 (ti ))∆ti
.
(1.4)
i=0
Se σ é de classe C 1 em [a, b] e o campo F (x, y, z) é contı́nuo em C, o limite
acima existe e é igual a
W=
Z
b
(F (σ(t)) · σ 0 (t))dt.
(1.5)
a
Façamos então a seguinte definição.
Definição 1.1.2. Consideremos uma curva C em R3 parametrizada por
σ(t) = (x(t), y(t), z(t)), t ∈ [a, b], onde σ é de classe C 1 , e
1
Um campo vetorial trata-se de uma aplicação F : U ⊂ Rn → Rn , que associa a cada n−úpla
(x1 , · · · , xn ) um vetor em Rn .
1.1 Integrais de linha
11
F (x, y, z) = (F1 (x, y, z), F2 (x, y, z), F3 (x, y, z)) um campo vetorial contı́nuo2 definido em
C. Definimos a integral de linha de F ao longo de C por
Z
b
Z
(F (σ(t)) · σ 0 (t))dt.
F · dr =
a
C
Lembrando que F = (F1 (x, y, z), F2 (x, y, z), F3 (x, y, z)) e σ(t) = (x(t), y(t), z(t)),
e usando suas componentes, a equação acima obtém a seguinte forma:
Z
Z b
F1 (σ(t))x0 (t)dt + F2 (σ(t))y 0 (t)dt + F3 (σ(t))z 0 (t)dt,
F · dr =
C
(1.6)
a
que comumente é simplificada para
Z
Z
F · dr =
F1 dx + F2 dy + F3 dz.
C
(1.7)
C
Se a curva C é fechada a integral de linha é denotada por
I
F · dr.
(1.8)
C
Podemos adaptar a definição (1.1.2) para uma integral de linha de função
escalar da seguinte forma.
Sejam f : R3 −→ R uma função real e C uma curva em R3 , definida pela
função
σ : I[a, b] −→ R3
t 7→ σ(t) = (x(t), y(t), z(t)).
Dividimos o intervalo I = [a, b], como feito anteriormente, por meio de uma
partição regular, obtendo uma decomposição de C em curvas Ci definidas em [ti , ti+1 ].
Supondo que σ(t) é de classe C 1 , e denotando por ∆Si o comprimento da curva
Ci , tem-se, pela fórmula do comprimento de arco
Z ti+1
∆Si =
||σ 0 (t)||dt.
(1.9)
ti
Pelo teorema do valor médio para integrais, existe ui ∈ [ti , ti+1 ] tal que ∆Si =
||σ 0 (ui )||(ti+1 − ti ) = ||σ 0 (ui )||∆ti , onde ∆ti = ti+1 − ti .
2
Um campo vetorial F será contı́nuo se cada função coordenada Fi for contı́nua.
1.1 Integrais de linha
12
Quando n é grande, ∆Si é pequeno e f (x, y, z) pode ser considerada constante
em Ci e igual a f (σ(ui )). Obtemos assim a soma de Riemann
n−1
X
f (σ(ui ))||σ 0 (ui )||∆ti .
(1.10)
i=0
Logo, se considerarmos f (x, y, z) constante em C, obtemos
! Z
n−1
b
X
0
lim
f (σ(ui ))||σ (ui )||∆ti =
f (σ(t))||σ 0 (t)||dt.
n→∞
(1.11)
a
i=0
Façamos então a seguinte definição.
Definição 1.1.3. Consideremos uma curva C em R3 parametrizada por
σ(t) = (x(t), y(t), z(t)), t ∈ [a, b], onde σ é de classe C 1 , e f (x, y, z) uma função real
contı́nua em C. Definimos a integral de linha de f ao longo de C por
Z
Z
Z b
f ds =
f (x, y, z)ds =
f (σ(t))||σ 0 (t)||dt.
C
C
a
Observação 1.1.1. Se f (x, y, z) = 1 obtemos simplesmente a fórmula do comprimento da
curva C
Z
Z
b
ds =
C
||σ 0 (t)||dt.
(1.12)
a
Suponha agora que uma partı́cula se mova ao longo de uma curva C, parametrizada por uma função σ(t), e que exista uma parametrização equivalente β(t) de C.
Veremos então a relação entre as integrais
Z
Z
F · dr e
Cσ
F · dr,
(1.13)
Cβ
onde Cσ é a parametrização de C por σ(t) e Cβ e a parametrização de C por β(t).
Definição 1.1.4. Sejam σ(t) (a ≤ t ≤ b) e β(t) (c ≤ t ≤ d) duas parametrizações de classe
C 1 de uma curva C. Dizemos que σ(t) e β(t) são parametrizações equivalentes se existe
uma função h : [c, d] → [a, b], bijetora e de classe C 1 , tal que β(t) = σ(h(t)), c ≤ t ≤ d. Se
h é crescente, dizemos que h preserva a orientação.
Teorema 1.1.1. Sejam σ(t) (a ≤ t ≤ b) e β(t) (c ≤ t ≤ d) parametrizações C 1 por partes
e equivalentes, isto é, existe h dada pela definição anterior. Se h preserva orientação,
então
Z
Z
F · dr =
Cβ
F · dr.
Cσ
1.1 Integrais de linha
13
Se h inverte a orientação, então
Z
Z
F · dr = −
F · dr.
Cβ
Cσ
Demonstração. Se σ(t) e β(t) são equivalentes, então existe h tal que β(t) = σ(h(t)), t ∈
[c, d]. Então
Z
Z
F ·dr =
d
Z
0
d
Z
0
F (β(t))·β (t)dt =
c
Cβ
d
F (σ(h(t)))·σ 0 (h(t))·h0 (t)dt.
F (σ(h(t)))·σ (h(t))dt =
c
c
Fazendo u = h(t) obtemos du = h0 (t)dt, e então
Z
h(d)
Z
F (σ(u)) · σ 0 (u)du.
F · dr =
Cβ
Portanto,
Z
Z
h(d)
b
Z
0
F · dr =
Cβ
h(c)
Z
0
F (σ(u)) · σ (u)du =
F (σ(u)) · σ (u) =
h(c)
a
F · dr,
Cσ
se h preserva a orientação (h é crescente), e
Z
h(d)
Z
0
a
F (σ(u)) · σ (u)du =
h(c)
Z
0
F (σ(u)) · σ (u)du = −
b
F · dr,
Cσ
se h inverte a orientação (h é decrescente).
Observe que o procedimento utilizado foi possı́vel pela forma com que se define
uma parametrização equivalente, isto é, por existir uma bijeção h : [c, d] → [a, b].
Por serem definidas em termos de integrais ordinárias, as integrais de linha
gozam de algumas importantes propriedades das integrais ordinárias, como a linearidade
e a aditividade, como segue:
Linearidade:
Z
Z
(aF + bG) · dr = a
C
Z
F · dr + b
C
G · dr.
(1.14)
C
Aditividade: Se C admite uma decomposição em um número finito de curvas C1 , · · · , Cn
então
Z
F · dr =
C
n Z
X
i=1
F · dr.
(1.15)
Ci
Vimos até agora que a integral de linha depende do caminho, isto é, da curva
C a qual estamos considerando. Passaremos a analisar em quais condições a integral de
1.1 Integrais de linha
14
linha depende apenas dos pontos inicial e final do caminho C. Veremos que isto está
relacionado com as caracterı́sticas do campo vetorial ao qual estamos considerando.
Antes de enunciar o teorema que nos dará uma condição para que a integral de
linha dependa somente dos pontos final e inicial, lembremo-nos do teorema fundamental
do cálculo, pois além de utilizá-lo na próxima demonstração, poderemos observar até certa
semelhança com o teorema em questão.
Teorema 1.1.2. (Teorema Fundamental do Cálculo). Sejam f uma função contı́nua
no intervalo fechado [a, b] e g uma função, com g 0 (x) = f (x) para todo x ∈ [a, b]. Então,
Z b
f (t)dt = g(b) − g(a).
a
Teorema 1.1.3. Seja F um campo vetorial contı́nuo definido num subconjunto aberto
U ⊂ R3 para o qual existe uma função real f tal que ∇f = F em U . Se C é uma curva
em U com pontos inicial e final A e B, respectivamente, parametrizada por uma função
σ(t), C 1 por partes, então
Z
Z
∇f · dr = f (B) − f (A).
F · dr =
C
C
Demonstração. Sejam A = σ(a) e B = σ(b) os pontos inicial e final de C, respectivamente.
Então, como
Z
Z
F · dr =
C
b
∇f (σ(t)) · σ 0 (t)dt
a
basta fazer g(t) = f (σ(t)), a ≤ t ≤ b e obtemos, pela regra da cadeia, que
g 0 (t) = ∇f (σ(t)) · σ 0 (t).
E finalmente, pelo Teorema Fundamental do Cálculo,
Z
Z b
F · dr =
g 0 (t)dt = g(b) − g(a) = f (σ(b)) − f (σ(a)) = f (B) − f (A).
C
a
Definição 1.1.5. O campo vetorial F acima é chamado de campo vetorial conservativo,
ou campo vetorial gradiente, e f é dita uma função potencial 3 .
3
Este nome foi utilizado pela primeira vez pelo matemático George Green, em um trabalho publicado
em 1828.
1.2 O Teorema de Green
1.2
15
O Teorema de Green
O Teorema de Green4 trata-se de um resultado muito importante no estudo
das integrais de linha, pois as relaciona com uma integral dupla sobre a região limitada
pela curva a qual estamos considerando, da seguinte forma:
I
Z Z ∂F2 ∂F1
F1 dx + F2 dy =
−
dxdy.
∂x
∂y
∂D
D
(1.16)
Mas para a validade de (1.16) faz-se necessário supor a veracidade de duas
condições. Primeiro, é necessário que as funções F1 e F2 sejam integráveis. E em segundo lugar, temos condições impostas à natureza da região D e sua fronteira ∂D.
Será necessário que ∂D seja uma curva fechada simples, isto é, se parametrizada por uma função σ definida em um intervalo fechado [a, b], então σ(a) = σ(b). E
ainda, σ(t1 ) 6= σ(t2 ), para todo t1 6= t2 , onde t1 , t2 ∈ (a, b).
Curvas fechadas simples são usualmente chamadas de curvas de Jordan, em
homenagem ao matemáico francês Camille Jordan (1838-1922), um dos pioneiros nos
estudos referentes à curvas fechadas e arcos.[1]
Antes de enunciar o Teorema, façamos as seguintes definições:
Definição 1.2.1. Uma região D do plano xy é chamada de Região de tipo I se existem
ϕ1 e ϕ2 funções, tais que a região pode ser descrita da seguite forma:
D = {(x, y) ∈ R2 : a ≤ x ≤ b e ϕ1 (x) ≤ y ≤ ϕ2 (x)}.
Definição 1.2.2. Uma região D do plano xy é chamada de Região de tipo II se existem
ψ1 e ψ2 funções, tais que a região pode ser descrita da seguinte forma:
D = {(x, y) ∈ R2 : c ≤ y ≤ d e ψ1 (y) ≤ x ≤ ψ2 (y)}.
Definição 1.2.3. Uma região D do plano xy é dita simples se pode ser descrita como
uma região do tipo I e II, simultaneamente.
Definição 1.2.4. Dizemos que a fronteira ∂D, de uma região limitada D está orientada
positivamente se a região D fica à esquerda, ao percorrermos a fronteira ∂D.
Definição 1.2.5. Consideremos um campo vetorial F : U ⊂ R3 → R3 . F é de classe C 1
se todas as derivadas parciais
∂Fi
∂xj
das funções coordenadas de F são contı́nuas no conjunto
aberto U.
4
O teorema leva esse nome em homenagem ao matemático inglês George Green (1793-1841).
1.2 O Teorema de Green
16
Teorema 1.2.1. (Teorema de Green). Seja D uma região fechada e limitada do
plano xy, cuja fronteira ∂D está orientada positivamente e é parametrizada por uma
função C 1 por partes, de modo que ∂D seja percorrida apenas uma vez (∂D será uma
curva de Jordan). Se F (x, y) = (F1 (x, y), F2 (x, y)) é um campo vetorial de classe C 1 num
subconjunto aberto que contém D, então
Z Z I
∂F2 ∂F1
F1 dx + F2 dy =
−
dxdy.
∂x
∂y
∂D
D
Demonstração. Supomos primeiramente que D é uma região simples, isto é, D pode ser
descrita simultaneamente por uma região de tipo I e de tipo II.
Observe que temos válida a seguinte identidade:
Z Z Z Z
Z Z
∂F2 ∂F1
∂F2
∂F1
−
−
dxdy =
dxdy +
dxdy.
∂x
∂y
∂y
D
D ∂x
D
Sendo assim, se D é de tipo I, temos
Z Z
Z b Z ϕ2 (x)
∂F1
∂F1
−
dxdy =
−
dydx =
∂y
∂y
D
a
ϕ1 (x)
b
Z
b
Z
[F1 (x, ϕ1 (x)) − F2 (x, ϕ2 (x))] dx =
=
b
Z
F1 (x, ϕ1 (x))dx −
a
F1 (x, ϕ2 (x))dx =
a
a
I
=
F1 dx
∂D
De forma análoga, supondo agora D de tipo II, obtemos
Z Z
Z d Z ψ2 (y)
∂F2
∂F2
dxdy =
dxdy =
D ∂x
c
ψ1 (y) ∂x
Z
d
=
c
Z
d
Z
F2 (ψ2 (y), y)dy −
[F2 (ψ2 (y), y) − F2 (ψ1 (y), y)] dy =
c
I
=
F2 dy.
d
F2 (ψ1 (y), y)dy =
c
∂D
Portanto,
Z Z D
∂F2 ∂F1
−
∂x
∂y
I
dxdy =
F1 dx + F2 dy.
∂D
Se porém, D não é simples, então D pode ser descrita como uma soma de
S
regiões simples, isto é, D = ni=1 Di , onde cada Di é simples com fronteira ∂Di parametrizada por uma função C 1 por partes, e sendo assim, podemos aplicar o teorema de
Green a cada região simples, obtendo
Z Z n Z Z
n I
X
X
∂F2 ∂F1
∂F2 ∂F1
−
dxdy =
−
dxdy =
F1 dx + F2 dy.
∂x
∂y
∂x
∂y
D
Di
i=1
i=1 ∂Di
1.2 O Teorema de Green
17
Observe que se uma fronteira ∂Di é percorrida duas vezes, isto é, é parte da fronteira
comum a duas regiões, então pelo teorema 1.1.1 será em sentidos opostos, e os resultados
serão anulados, fazendo com que somente as partes que formam a fronteira ∂D sejam
consideradas, o que garante a validade do teorema.
Definição 1.2.6. Um subconjunto aberto U ⊂ R2 é dito um domı́nio se dois pontos
quaisquer de U podem ser ligados por uma poligonal totalmente contida em U.
Definição 1.2.7. Um subconjunto aberto U ⊂ R2 é dito simplesmente conexo se, para
toda curva fechada C em U , a região limitada por C está totalmente contida em U.
Teorema 1.2.2. Se z = f (x, y) é uma função de classe C 2 , então suas derivadas mistas
são iguais, isto é
∂ 2f
∂ 2f
=
.
∂x∂y
∂y∂x
Teorema 1.2.3. Seja F = (F1 , F2 ) um campo vetorial de classe C 1 definido num domı́nio
simplesmente conexo U ⊂ R2 . As seguintes condições são equivalentes.
1.
H
C
F · dr = 0, qualquer que seja a curva fechada C, C 1 por partes, contida em U
2. A integral de linha de F do ponto A até o ponto B independe da curva C 1 por partes,
contida em U que liga A a B.
3. F é um campo vetorial conservativo de alguma função potencial f em U.
4.
∂F2
∂x
=
∂F1
.
∂y
Demonstração. Faremos a demonstração mostrando que (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (4) ⇒ (1).
(1) ⇒ (2). Sejam C1 e C2 dois caminhos C 1 por partes ligando A e B. Denotando por
Ci− o caminho Ci com a orientação contrária, temos que C = C1 ∪ C2− é fechada e C 1 por
partes, e assim, por (1) obtemos
I
Z
0=
F · dr =
C
Z
F · dr −
C1
Z
⇒
F · dr ⇒
C2
Z
F · dr =
C1
F · dr.
C2
(2) ⇒ (3). Provaremos a existência de f tal que
∂f
∂x
= F1 , para F2 segue-se analogamente.
Fixe (x0 , y0 ) ∈ U, e para cada (X, Y ) ∈ U defina
Z (X,Y )
f (X, Y ) =
F1 dx + F2 dy.
(x0 ,y0)
1.2 O Teorema de Green
18
Esta função está bem definida, pois de (2) decorre que a integral independe do caminho
que liga (x0 , y0 ) a (X, Y ).
Tomando agora ∆x → 0 temos
(X+∆x,Y )
Z
f (X + ∆x, Y ) − f (X, Y ) =
Z
(X,Y )
F1 dx + F2 dy −
(x0 ,y0 )
Z
F1 dx + F2 dy =
(x0 ,y0 )
(X+∆x,Y )
F1 dx + F2 dy.
=
(X,Y )
Novamente, esta última integral independe do caminho entre (X, Y ) e (X + ∆x, Y ), e
então podemos tomá-lo como sendo o segmento de reta que liga esses pontos (lembrando
que por hipótese a região é um domı́nio). Assim, como a coordenada y é constante, temos
Z
(X+∆x,Y )
Z
(X+∆x,Y )
F1 dx + F2 dy =
F1 dx.
(X,Y )
(X,Y )
Finalmente, pelo teorema do valor médio para integrais,
Z (X+∆x,Y )
F1 dx = ∆xF1 (x + t∆x, Y ),
(X,Y )
0 ≤ t ≤ 1. Logo,
f (X + ∆x, Y ) − f (X, Y )
1
=
∆x
∆x
Z
(X+∆x,Y )
F1 dx + F2 dy = F1 (X + t∆x, Y ),
(X,Y )
e tomando o limite quando ∆x → 0 obtemos
∂f
(X, Y ) = F1 (X, Y ).
∂x
(3) ⇒ (4). Se F = ∇f em U, então
∂f
∂x
= F1 e
∂f
∂y
= F2 , e ainda como F é de classe C 1
imediatamente f é de classe C 2 . Considerando então suas derivadas parciais de segunda
ordem obtemos
∂2f
∂y∂x
=
∂F1
∂y
e
∂2f
∂x∂y
=
∂F2
.
∂x
Logo,
∂F1
∂F2
=
.
∂y
∂x
(4) ⇒ (1). Basta aplicar o teorema de Green, pois como C é uma curva fechada em U ,
então pelo fato de U ser simplesmente conexo, segue que a região D limitada por C está
totalmente contida em U. Assim,
I
Z Z ∂F2 ∂F1
F1 dx + F2 dy =
−
dxdy = 0.
∂x
∂y
C
D
1.3 O Teorema de Stokes
1.3
19
O Teorema de Stokes
O Teorema de Stokes, que possui esse nome em homenagem ao matemático
irlandês G. G. Stokes (1819-1903), é uma extenção direta do teorema de Green, dado na
seção anterior. Ele relaciona a integral de linha de um campo vetorial F ao longo de
uma curva fechada C no R3 com a integral sobre uma superfı́cie S da qual C é bordo, da
seguinte forma:
Z Z
Z
(rotF · n)ds =
S
F · dr.
(1.17)
∂S
Mas antes de enunciar e provar esse teorema, estudaremos as chamadas integrais de superfı́cie, a fim de compreender os mecanismos necessários para a aplicação e
prova do Teorema de Stokes.
Relembraremos algumas maneiras de descrever uma superfı́cie:
Representação implı́cita: Podemos descrever uma superfı́cie como o conjunto dos
pontos (x, y, z) que satisfazem uma equação da forma F (x, y, z) = 0, por exemplo, a
esfera de raio 1 centrada na origem tem representação implı́cita x2 + y 2 + z 2 − 1 = 0.
Representação explı́cita: Quando temos uma representação implı́cita e é possı́vel
resolver essa equação para uma variável, isto é, z = F (x, y), y = F (x, z) ou x =
F (y, z) obtemos a chamada representação explı́cita da superfı́cie. Usando o exemplo
anterior e resolvendo a equação para z, obtemos as representações explı́citas z =
p
p
1 − x2 − y 2 e z = − 1 − x2 − y 2 .
Representação paramétrica: Consideremos uma função ϕ : D ⊂ R2 → R3 definida
num subconjunto D ⊂ R2 . A imagem de D por ϕ, ϕ(D), é dita uma superfı́cie
parametrizada, e sua representação paramétrica é
ϕ(u, v) = (x, y, z) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) e (u, v) ∈ D.
A função ϕ é de classe C 1 se x(u, v), y(u, v) e z(u, v) são de classe C 1 .
Suponhamos que uma superfı́cie S com representação paramétrica ϕ(u, v) =
(x(u, v), y(u, v), z(u, v)), (u, v) ∈ D, seja diferenciável em (u0 , v0 ) ∈ D. Fixando u = u0 ,
obtemos uma função,
I ⊂ R → R3
v 7→ ϕ(u0 , v)
1.3 O Teorema de Stokes
20
que define uma curva v na superfı́cie. Se o vetor
∂ϕ
∂x
∂y
∂z
(u0 , v0 ) =
(u0 , v0 ), (u0 , v0 ), (u0 , v0 )
∂v
∂v
∂v
∂v
é não nulo, então ele é um vetor tangente a esta curva no ponto ϕ(u0 , v0 ).
Procedendo analogamente, definimos a curva u na superfı́cie, e então, se o
vetor
∂ϕ
(u0 , v0 ) =
∂u
∂x
∂y
∂z
(u0 , v0 ), (u0 , v0 ), (u0 , v0 )
∂u
∂u
∂u
é não nulo, ele é tangente à curva u em ϕ(u0 , v0 ).
Quando N (u0 , v0 ) =
plano gerado pelos vetores
∂ϕ
(u0 , v0 )
∂u
∂ϕ
(u0 , v0 )
∂u
e
×
∂ϕ
(u0 , v0 )
∂v
é não nulo, N (u0 , v0 ) é normal ao
∂ϕ
(u0 , v0 ).
∂v
Definição 1.3.1. (Plano Tangente). Seja S uma supefı́cie parametrizada por
ϕ : D ⊂ R2 → R3 . Suponhamos que
N (u0 , v0 ) =
∂ϕ
(u0 , v0 )
∂u
×
∂ϕ
(u0 , v0 )
∂v
∂ϕ
∂u
e
∂ϕ
∂v
sejam contı́nuas em (u0 , v0 ) ∈ D. Se
é não nulo, dizemos que S é regular em ϕ(u0 , v0 ) ∈ S.
Neste caso, definimos o plano tangente a S em ϕ(u0 , v0 ) = (x0 , y0 , z0 ) como sendo o plano
gerado pelos vetores
∂ϕ
(u0 , v0 )
∂u
e
∂ϕ
(u0 , v0 ),
∂v
cuja equação é dada por
N (u0 , v0 ) · (x − x0 , y − y0 , z − z0 ) = 0
Uma superfı́cie S = ϕ(D) é regular5 se é regular em todos os pontos.
Considere agora uma superfı́cie parametrizada
ϕ : D ⊂ R2 → R3
ϕ(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).
Por simplicidade, e sem perda de generalidade, suponha que D seja um retângulo,
e considere uma partição regular de D de ordem n da seguinte forma:
Para cada i, j ∈ {0, 1 · · · , n − 1}, seja Rij o retângulo de vértices (ui , vj ),
(ui+1 , vj ), (ui , vj+1 ) e (ui+1 , vj+1 ).
Para facilitar a notação, denotamos o vetor
∂ϕ
(ui , vj )
∂v
5
∂ϕ
(ui , vj )
∂u
por ϕvj .
Intuitivamente dizemos que uma superfı́cie regular não possui “bicos”.
por ϕui , e analogamente
1.3 O Teorema de Stokes
21
Seja ∆u = ui+1 − ui e ∆v = vj+1 − vj . Dessa forma os vetores ∆uϕui e ∆vϕvj
são tangentes à superfı́cie em ϕ(ui , vj ) = (xij , yij , zij ), e ainda, esses vetores formam um
paralelogramo Pij situado no plano tangente à superfı́cie em (xij , yij , zij ).
Relembrando que a área de um paralelogramo determinado por dois vetores u
e v é ||u × v||, observe que para n suficientemete grande, a área do paralelogramo Pij se
aproxima da área de ϕ(Rij ).
Portanto, a área da superfı́cie é aproximada por
An =
n−1 X
n−1
X
A(Pij ) =
n−1 X
n−1
X
i=0 j=0
||ϕui × ϕvj ||∆u∆v,
(1.18)
i=0 j=0
Fazendo n → ∞, a sequência An converge para a integral
Z Z ∂ϕ
∂ϕ
(u, v)dudv.
(u, v) ×
∂u
∂v
D
(1.19)
Feito isso, façamos a seguinte definição.
Definição 1.3.2. (Área de Superfı́cie). Seja S uma superfı́cie parametrizada por
ϕ(u, v), (u, v) ∈ D. Definimos a área A(S) de S pela fórmula
Z Z ∂ϕ
∂ϕ
dudv.
(u, v) ×
(u,
v)
A(S) =
∂u
∂v
D
Se S é decomposta por um número finito de superfı́cies, então sua área é dada pela soma
destas áreas, isto é
A(S) =
n
X
A(Si ), onde S =
i=1
n
[
Si .
i=1
Integrais de superfı́cie podem ser tratadas de forma analoga às integrais de
linha, pois possuem uma estreita ligação. Enquanto uma integral de linha trata-se de
uma integral sobre uma curva no espaço, integrais de superfı́cie podem ser interpretadas
como uma integral sobre uma superfı́cie no espaço. Veremos a seguir a definição de integral
de superfı́cie.
Definição 1.3.3. Seja S uma superfı́cie parametrizada por ϕ(u, v), (u, v) ∈ D, e f (x, y, z)
uma função real contı́nua definida em S. Definimos a integral de superfı́cie de f sobre S
por
Z Z
Z Z
Z Z
f ds =
S
f (x, y, z)ds =
S
∂ϕ ∂ϕ ×
f (ϕ(u, v))
dudv.
∂u
∂v
S
1.3 O Teorema de Stokes
22
Quando a superfı́cie S é definida explicitamente por uma equação da forma
z = g(x, y), onde (x, y) ∈ D então, sabendo que
i j
k
∂z
∂z ∂z
×
= 1 0 ∂x
(x, y)
∂x ∂y ∂z
0 1 ∂y
(x, y)
temos
Z Z
s
Z Z
f (x, y, g(x, y)) ·
f ds =
S
1+
S
∂g
∂g
j−
i,
= 1k −
∂y
∂x
2 2
∂g
∂g
(x, y) +
(x, y) dxdy.
∂x
∂y
Logo, se f (x, y, z) = 1 sobre S, a equação acima se reduz a
Z Z
Z Z ∂ϕ
∂ϕ
(u, v) ×
(u, v) dudv,
ds =
∂u
∂v
S
D
(1.20)
(1.21)
que é igual a área de S, e por essa razão o sı́mbolo ds pode ser interpretado como um
RR
elemento de área de superfı́cie, e a integral de superfı́cie
f ds é chamada de integral
S
de f com respeito ao elemento de área ds, estendida sobre a superfı́cie S.[10]
Seja S uma superfı́cie parametrizada, então à esta superfı́cie estão associados
dois campos contı́nuos de vetores unitários n1 e n2 :
n1 (ϕ(u, v)) =
∂ϕ
(u, v)
∂u
∂ϕ
|| ∂u (u, v)
×
×
∂ϕ
(u, v)
∂v
,
∂ϕ
(u, v)||
∂v
n2 (ϕ(u, v)) = −n1 (ϕ(u, v)).
(1.22)
(1.23)
Definição 1.3.4. Seja S uma superfı́cie parametrizada. Dizemos que S está orientada
se fixarmos sobre ela um campo de vetores normais unitários da forma n1 ou n2 .
Definição 1.3.5. Se F : S ⊂ R3 → R3 é um campo vetorial contı́nuo e n um dos campos
n1 ou n2 , denotamos por Fn = F · n a função escalar que a cada ponto de S associa a
componente do campo F na direção do vetor n.
Definição 1.3.6. Seja F um campo vetorial contı́nuo definido numa superfı́cie orientada
S parametrizada por ϕ(u, v), (u, v) ∈ D. Definimos a integral de superfı́cie de F sobre S
por
Z Z
Z Z
F · ds =
S
Z Z
(F · n)ds =
S
Fn ds.
S
Assim, pela definição de integral de superfı́cie de função escalar obtemos, para
o caso em que n = n1 ,
Z Z
ZZ
∂ϕ
∂ϕ
(F · n)ds =
[F (ϕ(u, v)) · n(ϕ(u, v))] (u, v) ×
(u, v) dudv =
∂u
∂v
S
D
1.3 O Teorema de Stokes
ZZ ∂ϕ
∂ϕ
=
F (ϕ(u, v)) ·
(u, v) ×
(u, v) dudv.
∂u
∂v
D
23
Observação 1.3.1. Se considerarmos n = n2 , então apenas mudaremos o sinal da integral
de superfı́cie acima.
Uma importante aplicação da integral de superfı́cie de um campo vetorial é
a interpretação do fluxo, ou taxa de escoamento por uma superfı́cie S, ao qual veremos
brevemente a seguir.
Suponhamos que um campo vetorial contı́nuo F : W ⊂ R3 → R3 represente
um campo de velocidade associado ao escoamento de um fluido em cada ponto da região
W. O fluxo ou taxa de escoamento por unidade de tempo pela superfı́cie S contida em W
é dado pela integral de superfı́cie de F sobre S.
De fato, se S é plana e F é um campo constante, então o volume de um fluido
que passa por S na unidade de tempo é (F · n) · (área de (S)). Portanto o fluxo é dado
por
φ = (F · n) · (área(S)).
(1.24)
Se S é uma superfı́cie não plana contida em W, a decompomos por meio de
curvas coordenadas da forma u = c1 , v = c2 , com c1 constante, e supomos que F é
constante em cada parte Sk de S assim formada. Aproximando S por paralelogramos
tangentes determinados pelos vetores
∂ϕ
∆u
∂u
e
∂ϕ
∆v,
∂v
obtemos que o fluxo por uma parte
Sk de S é aproximadamente
φk ≈ (F (ϕ(uk , vk )) · nk ) · (area(Sk )) ≈
∂ϕ
∂ϕ
≈ F (ϕ(uk , vk )) ·
(uk , vk ) ×
(uk , vk ) ∆u∆v.
∂u
∂v
E quando n → ∞, a sequência das somas
n X
∂ϕ
∂ϕ
F (ϕ(uk , vk )) ·
(uk , vk ) ×
(uk , vk )
∆u∆v
∂u
∂v
k=1
(1.25)
(1.26)
converge para o fluxo total de F pela superfı́cie S. Assim, o fluxo total φ pode ser obtido
pela integral de superfı́cie
Z Z
Z Z
∂ϕ ∂ϕ
F (ϕ(u, v)) ·
×
dudv =
F · ds.
∂u
∂v
S
D
(1.27)
Uma pergunta pertinente no estudo das integrais de superfı́cie é certamente
o comportamento de uma integral quando mudamos a parametrização da superfı́cie em
questão. Para respondermos essa pergunta, consideremos os seguintes resultados.
1.3 O Teorema de Stokes
24
Definição 1.3.7. Sejam ϕ1 (u, v), (u, v) ∈ D1 , e ϕ2 (s, t), (s, t) ∈ D2 , duas parametrizações
de uma superfı́cie orientada S. Dizemos que ϕ1 e ϕ2 são parametrizações equivalentes se
existe uma bijeção de classe C 1
G : D2 ⊂ R2 → D1 ⊂ R2
(s, t) 7→ G(s, t) = (u, v) = (u(s, t), v(s, t)) ,
tal que ϕ1 (G(D2 )) = ϕ2 (D2 ) = S, isto é, ϕ2 (s, t) = ϕ1 (u(s, t), v(s, t)), (s, t) ∈ D2 .
Definição 1.3.8. Considere uma aplicação definida por ϕ(s, t) = (u(s, t), v(s, t)), onde
u e v são funções de um subconjunto aberto U ⊂ R2 em R. Definimos o determinante
Jacobiano da aplicação ϕ por
∂(u, v)
= det
∂(s, t)
∂u
∂s
∂v
∂s
∂u
∂t
∂v
∂t
.
Teorema 1.3.1. Se ϕ1 (u, v) e ϕ2 (s, t) são parametrizaçãoes equivalentes de uma superfı́cie regular orientada então
Nϕ2 = Nϕ1
∂(u, v)
,
∂(s, t)
onde
Nϕ1 =
∂ϕ1 ∂ϕ1
∂ϕ2 ∂ϕ2
×
e Nϕ2 =
×
.
∂u
∂v
∂s
∂t
Demonstração. Se ϕ1 e ϕ2 são parametrizações equivalentes, então existe uma bijeção
dada pela definição (1.3.7) tal que
ϕ2 (s, t) = ϕ1 (u(s, t), v(s, t)).
Então6
∂ϕ2
∂ϕ1 ∂u ∂ϕ1 ∂v
=
+
,
∂s
∂u ∂s
∂v ∂s
∂ϕ2
∂ϕ1 ∂u ∂ϕ1 ∂v
=
+
.
∂t
∂u ∂t
∂v ∂t
Logo
Nϕ2
6
∂ϕ2 ∂ϕ2
∂ϕ1 ∂u ∂ϕ1 ∂v
∂ϕ1 ∂u ∂ϕ1 ∂v
=
×
=
+
×
+
=
∂s
∂t
∂u ∂s
∂v ∂s
∂u ∂t
∂v ∂t
∂ϕ1 ∂u
∂ϕ1 ∂v
∂ϕ1 ∂v
∂ϕ1 ∂u
=
−
=
∂u ∂s
∂v ∂t
∂v ∂s
∂u ∂t
As derivadas parciais foram obtidas usando a regra da cadeia.
1.3 O Teorema de Stokes
∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂ϕ1
∂u ∂v ∂v ∂u
=
−
−
=
∂u ∂v
∂v ∂u
∂s ∂t
∂s ∂t
∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂(u, v)
∂(u, v)
=
×
= Nϕ1
.
∂u
∂v
∂(s, t)
∂(s, t)
25
Teorema 1.3.2. Sejam ϕ1 (u, v), (u, v) ∈ D1 , e ϕ2 (s, t), (s, t) ∈ D2 , parametrizações
equivalentes de uma superfı́cie regular orientada S.
1. Se f é uma função escalar contı́nua definida em S, então
Z Z
Z Z
f ds =
f ds.
ϕ1 (D1 )
ϕ2 (D2 )
2. Se F é um campo vetorial contı́nuo definido em S, então
Z Z
Z Z
(F · n)ds =
(F · n)ds,
ϕ1 (D1 )
ϕ2 (D2 )
se os vetores normais Nϕ1 e Nϕ2 têm o mesmo sentido em cada ponto de S, e
Z Z
Z Z
(F · n)ds = −
(F · n)ds,
ϕ1 (D1 )
ϕ2 (D2 )
se os vetores normais Nϕ1 e Nϕ2 têm sentidos opostos em cada ponto de S.
Demonstração.
1. Pela definição (1.3.3) temos
Z Z
Z Z
∂ϕ1
∂ϕ
1
f ds =
f (ϕ1 (u, v)) (u, v) ×
(u, v) dudv.
∂u
∂v
ϕ1 (D1 )
D1
Como por ϕ1 e ϕ2 são parametrizações equivalentes, então existe uma função G
dada pela definição (1.3.7) tal que
Z Z
∂ϕ1
∂ϕ
1
f (ϕ1 (u, v)) (u, v) ×
(u, v) dudv =
∂u
∂v
D1
Z Z
∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂(u, v) dsdt.
f (ϕ1 (u(s, t), v(s, t))) ×
∂u
∂v ∂(s, t) D2
E finalmente, pelo teorema (1.3.1) obtemos a igualdade
Z Z
Z Z
∂ϕ2
∂ϕ
2
f (ϕ2 (s, t)) (s, t) ×
(s, t) dsdt =
f ds.
∂s
∂t
ϕ2 (D2 )
D2
2. Pela definição (1.3.6) temos
Z Z
Z Z
(F · n)ds =
ϕ1 (D1 )
F (ϕ1 (u, v)) ·
D1
∂ϕ1 ∂ϕ1
×
∂u
∂v
dudv =
1.3 O Teorema de Stokes
Z Z
∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂(u, v) =
F (ϕ1 (u(s, t), v(s, t))) ·
×
dsdt.
∂u
∂v ∂(s, t) D2
26
Portanto, se Nϕ1 e Nϕ2 têm o mesmo sentido, pelo teorema (1.3.1), a integral acima
é igual a
Z Z
F (ϕ2 (S, T )) ·
D2
Z Z
∂ϕ2
∂ϕ2
(s, t) ×
(s, t) dsdt =
(F · n)ds.
∂s
∂t
ϕ2 (D2 )
E se Nϕ1 e Nϕ2 possuem sentidos opostos, então
Z Z
∂ϕ1 ∂ϕ1 ∂(u, v) F (ϕ1 (u(s, t), v(s, t))) ·
×
dsdt =
∂u
∂v ∂(s, t) D2
Z Z
Z Z
∂ϕ2
∂ϕ2
(F · n)ds.
(s, t) ×
(s, t) dsdt = −
=
−F (ϕ2 (s, t)) ·
∂s
∂t
ϕ2 (D2 )
D2
Definição 1.3.9. Considere um campo vetorial F = (F1 , F2 , F3 ) com derivadas parciais
definidas num subconjunto aberto do R3 . Definimos o campo vetorial rotacional de F por
i j k ∂F3 ∂F2 ∂F1 ∂F3 ∂F2 ∂F1
∂ ∂ ∂ rotF = ∇ × F = ∂x ∂y ∂z =
−
,
−
,
−
.
∂y
∂z ∂z
∂x ∂x
∂y
F1 F2 F3 Definição 1.3.10. Seja S uma superfı́cie parametrizada por ϕ(u, v), com (u, v) ∈ D. O
bordo ∂S de S é a curva de S correspondente por ϕ à fronteira de D.
Teorema 1.3.3. (Teorema de Stokes). Sejam S uma superfı́cie orientada, parametrizada por ϕ(u, v), (u, v) ∈ D, onde D é uma região fechada do plano uv, limitada por uma
curva C 1 por partes, e ϕ uma função de classe C 2 num subconjunto aberto de R2 contendo
D. Se F = (F1 , F2 , F3 ) é um campo vetorial de classe C 1 , definido num subconjunto aberto
de R3 que contém S, cujo bordo ∂S está orientado positivamente, então
Z Z
Z
(rotF · n)ds =
F · dr.
S
∂S
Demonstração. Consideremos S parametrizada por ϕ(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),
com (u, v) ∈ D, e ainda orientada com campo de vetore normais
∂ϕ
×
∂u
n = ∂ϕ
×
∂u
∂ϕ
∂v ,
∂ϕ ∂v
onde
∂ϕ ∂ϕ
×
=
∂u
∂v
∂(y, z) ∂(z, x) ∂(x, y)
,
,
∂(u, v) ∂(u, v) ∂(u, v)
.
1.3 O Teorema de Stokes
27
Pela fórmula da integral de superfı́cie temos,
Z Z
(rotF · n)ds =
S
Z Z =
D
∂F3 ∂F2
−
∂y
∂z
∂(y, z)
+
∂(u, v)
∂F1 ∂F3
−
∂z
∂x
∂(z, x)
+
∂(u, v)
∂F2 ∂F1
−
∂x
∂y
∂(x, y)
dudv,
∂(u, v)
E para completar a demontração basta verificar que
Z
Z Z ∂F1 ∂(z, x) ∂F1 ∂(x, y)
F1 dx =
−
dudv,
∂z ∂(u, v)
∂y ∂(u, v)
∂S
D
Z
Z Z
F2 dy =
∂S
D
−∂F2 ∂(y, z) ∂F2 ∂(x, y)
=
+
dudv
∂z ∂(u, v)
∂x ∂(u, v)
e
∂F3 ∂(y, z) ∂F3 ∂(z, x)
−
F3 dz =
dudv,
∂y ∂(u, v)
∂x ∂(u, v)
∂S
Z
pois somando estas três equações obtemos o teorema de Stokes. Provaremos apenas a
primeira identidade, pois as demais são análogas.
Supomos que h(t) = (u(t), v(t)), a ≤ t ≤ b é uma parametrização da fronteira
de D, orientada de modo que ϕ(h(t)) seja uma parametrização do bordo ∂S de S, orientado
positivamente. Assim,
Z
Z b
d
F1 dx =
F1 (ϕ(h(t))) (x(h(t))) dt =
dt
a
∂S
Z b
∂x
∂x
0
0
=
(h(t))u (t) +
(h(t))v (t) dt =
F1 (ϕ(h(t)))
∂u
∂v
a
Z
∂x
∂x
=
F1 (ϕ(u, v))
(u, v)du +
(u, v)dv =
∂u
∂v
∂D
Z
∂x
∂x
=
F1 (ϕ(u, v)) (u, v)du + F1 (ϕ(u, v)) (u, v)dv.
∂u
∂v
∂D
Como ϕ é de classe C 2 , podemos aplicar o teorema de Green a esta última integral,
obtendo
Z
Z Z F1 dx =
∂S
D
∂
∂u
∂x
∂
∂x
F1 (ϕ(u, v))
−
F1 (ϕ(u, v)) (u, v) dudv.
∂v
∂v
∂u
Mas,
∂
∂u
=
∂x
(F1 ◦ ϕ)
∂v
∂
−
∂v
∂x
(F1 ◦ ϕ)
=
∂u
∂
∂x
∂ 2x
∂
∂x
∂ 2x
(F1 ◦ ϕ)
+ (F1 ◦ ϕ)
− (F1 ◦ ϕ)
− (F1 ◦ ϕ)
=
∂u
∂v
∂u∂v ∂
∂u
∂v∂u
1.3 O Teorema de Stokes
28
∂
∂x
∂
∂x
(F1 ◦ ϕ)
−
(F1 ◦ ϕ)
=
∂u
∂v ∂v
∂u
∂F1 ∂x ∂F1 ∂y ∂F1 ∂z ∂x
∂F1 ∂x ∂F1 ∂y ∂F1 ∂z ∂x
+
+
−
+
+
=
∂x ∂u
∂y ∂u
∂z ∂u ∂v
∂x ∂v
∂y ∂v
∂z ∂v ∂u
∂F1 ∂x ∂z ∂x ∂z
∂F1 ∂x ∂y ∂x ∂y
−
+
−
=
−
∂y ∂u ∂v ∂v ∂u
∂z ∂v ∂u ∂u ∂v
−
∂F1 ∂(x, y) ∂F1 ∂(z, x)
+
.
∂y ∂(u, v)
∂z ∂(u, v)
Logo,
Z Z Z
F1 dx =
∂S
D
∂F1 ∂(z, x) ∂F1 ∂(x, y)
−
dudv,
∂z ∂(u, v)
∂y ∂(u, v)
o que garante a validade da primeira identidade. De forma análoga provam-se as outras
duas, concluindo a demonstração.
Observe que se a região S do teorema acima for uma região do plano xy, então
n = (0, 0, 1), e assim obtemos o teorema de Green, isto é,
ZZ ZZ
Z
∂F2 ∂F1
(rotF · n) · dr =
−
F · dr =
dxdy.
∂x
∂y
S
S
∂S
Como vimos, o Teorema de Stokes expressa uma relação entre uma integral de
superfı́cie e uma integral de linha sobre a curva que é o bordo da superfı́cie em questão.
O próximo teorema que iremos apresentar é o Teorema da divergência, ou Teorema de
Gauss, que relaciona uma integral tripla com uma integral de superfı́cie.
Definição 1.3.11. Seja W uma região limitada do R3 , tendo como fronteira uma superfı́cie ∂W. Diremos que ∂W está orientada positivamente se o vetor normal em cada
ponto de ∂W aponta para fora de W.
Definição 1.3.12. Seja F (x, y, z) = (F1 (x, y, z), F2 (x, y, z), F3 (x, y, z)) um campo vetorial de classe C 1 definido num subconjunto do R3 . O divergente de F,denotado por divF.
é definido por
divF (x, y, z) =
∂F2
∂F3
∂F1
(x, y, z) +
(x, y, z) +
(x, y, z).
∂x
∂y
∂z
Teorema 1.3.4. (Teorema de Gauss). Seja W uma região fechada e limitada de R3
cuja fronteira ∂W é uma superfı́cie orientada positivamente. Se F é um campo vetorial
de classe C 1 num subconjunto aberto de R3 que contém W, então
Z Z
Z Z Z
(F · n)ds =
divF dxdydz.
∂W
W
1.3 O Teorema de Stokes
29
Demonstração. Suponhamos que W seja uma região simples.Se F = (F1 , F2 , F3 ), podemos
escrever
Z Z Z
Z Z Z
divF dxdydz =
W
W
E por outro lado,
Z Z
Z Z
(F ·n)ds =
∂W
Z Z Z
Z Z Z
∂F1
∂F2
∂F3
dxdydz+
dxdydz+
dxdydz.
∂x
W ∂y
W ∂z
Z Z
[(F1 , 0, 0) · n] ds+
∂W
Z Z
[(0, F2 , 0) · n] ds+
∂W
[(0, 0, F3 ) · n] ds.
∂W
Portanto, para validar o teorema, basta provarmos as seguintes identidades
Z Z
Z Z Z
∂F1
dxdydz =
[(F1 , 0, 0) · n] ds
∂W
W ∂x
Z Z Z
Z Z
∂F2
dxdydz =
[(0, F2 , 0) · n] ds
W ∂y
∂W
Z Z
Z Z Z
∂F3
dxdydz =
[(0, 0, F3 ) · n] ds.
∂W
W ∂z
contudo, provaremos somente a última, pois as demais são análogas. Para tanto, descrevemos W como uma região do tipo I.
W = (x, y, z) ∈ R3 |f1 (x, y) ≤ z ≤ f2 (x, y) , (x, y ∈ D) .
Essa região é limitada inferiormente por uma superfı́cie S1 de equação z = f1 (x, y), com
(x, y) ∈ D e limitada superiormente por uma superfı́cie S2 de equação z = f2 (x, y), com
(x, y) ∈ D. Possivelmente, essa região também é limitada por uma porção de cilindro
gerada por uma reta paralela ao eixo z ao longo da fronteira de D, que denotaremos por
S3 . Assim,
Z Z Z
W
∂F3
dxdydz =
∂z
Z Z "Z
D
f2 (x,y)
f1 (x,y)
#
∂F3
dz dxdy =
∂z
Z Z
[F3 (x, y, f2 (x, y)) − F3 (x, y, f1 (x, y))]dxdy.
=
D
E ainda
Z Z
[(0, 0, F3 ) · n]ds =
∂W
3 Z Z
X
i=1
[(0, 0, F3 ) · n]ds.
Si
E como, em S3 o campo de vetores normais unitários é paralelo ao plano xy,
então (0, 0, F3 ) · n = 0, o que acarreta
Z Z
[(0, 0, F3 ) · n]ds = 0.
S3
1.3 O Teorema de Stokes
30
Observe agora que em S2 o campo de vetores normais que aponta para fora de
∂f2
∂f2
W é dado por N2 = − ∂x , − ∂y , 1 , já em S1 o campo de vetores normais que aponta
1 ∂f1
para fora de W é dado por N1 = ∂f
,
,
−1
. Portanto,
∂x ∂y
Z Z Z Z
[(0, 0, F3 ) · n]ds =
S2
∂f2 ∂f2
(0, 0, F3 (x, y, f2 (x, y))) · −
,−
, 1 dxdy =
∂x
∂y
D
Z Z
=
F3 (x, y, f2 (x, y))dxdy
D
e ainda
Z Z
Z Z ∂f1 ∂f1
,
, −1 dxdy =
[(0, 0, F3 ) · n]ds =
(0, 0, F3 (x, y, f1 (x, y))) ·
∂x ∂y
S1
D
Z Z
=
−F3 (x, y, f1 (x, y))dxdy.
D
Assim,
Z Z
Z Z
[(0, 0, F3 ) · n]ds =
[F3 (x, y, f2 (x, y)) − F3 (x, y, f1 (x, y))]dxdy,
∂W
D
o que garante a validade da identidade.
Para completar a demonstração, observe que se W não for uma região simples,
S
então podemos decompor W em uma união finita de regiões simples W = ni=1 Wi , e
usando o teorema de Gauss em cada região simples, obtemos
Z Z Z
divF dxdydz =
W
n Z Z
X
(F · n)ds.
∂Wi
i=1
E como os vetores normais exteriores à fronteira comum de duas regiões simples
são opostos, então as integrais de superfı́cie correspondentes são simétricas, e portanto se
cancelam. Assim,
n Z Z
X
i=1
∂Wi
ZZ
(F · n)ds =
(F · n)ds.
∂W
31
2 Formas
2.1
Formas Alternadas
Nesta sessão adaptamos o que é exposto por [11], fazendo uso de alguns resul-
tados obtidos em [5, 6].
Definição 2.1.1. Seja V um R-espaço vetorial, e denote por V k o produto cartesiano
V × · · · × V. Uma função T : V k → R denomina-se multilinear se para cada i, com
1 ≤ i ≤ k, verificam-se
T (v1 , · · · , vi + vi0 , · · · , vk ) = T (v1 , · · · , vi , · · · , vk ) + T (v1 , · · · , vi0 , · · · , vk );
T (v1 , · · · , avi , · · · , vk ) = aT (v1 , · · · , vi , · · · , vk ).
Uma função multilinear T : V k → R denomina-se um k-tensor ou tensor de
ordem k, e o conjunto de todos os tensores de ordem k, que denotaremos por Tk (V ), será
um espaço vetorial definindo as seguintes operações naturais, para S, T ∈ Tk (V )
(S + T )(v1 , · · · , vk ) = S(v1 , · · · , vk ) + T (v1 , · · · , vk );
(aS)(v1 , · · · , vk ) = a · S(v1 , · · · , vk ), para a ∈ R.
Definição 2.1.2. Tomando S ∈ Tk (V ) e T ∈ Tl (V ), definimos o produto tensorial S⊗T ∈
Tk+l (V ) por
S ⊗ T (v1 , · · · , vk , vk+1 , · · · , vk+l ) = S(v1 , · · · , vk ) · T (vk+1 , · · · , vk+l ).
O produto tensorial possui as seguintes propriedades1 :
1. (S1 + S2 ) ⊗ T = S1 ⊗ T + S2 ⊗ T
2. S ⊗ (T1 + T2 ) = S ⊗ T1 + S ⊗ T2
3. (aS) ⊗ T = S ⊗ (aT ) = a(S ⊗ T )
1
Sugerimos a leitura de [5] para as demonstrações.
2.1 Formas Alternadas
32
4. (S ⊗ T ) ⊗ U = S ⊗ (T ⊗ U )
Teorema 2.1.1. Sejam β = {v1 , · · · , vn } uma base de V , e β ∗ = {ϕ1 , · · · , ϕn } sua base
dual, onde ϕi (vj ) = δij . Então o conjunto de todos os produtos tensoriais de k fatores
ϕi1 ⊗ · · · ⊗ ϕik com 1 ≤ i1 , · · · , ik ≤ n
é uma base para Tk (V ), e ainda dim(Tk (V )) = nk .
Demonstração. Primeiramente, observe que
ϕi1 ⊗ · · · ⊗ ϕik (vj1 , · · · , vjk ) = δi1 j1 · · · δik jk .
Agora, se w1 , · · · , wk ∈ V , com wi =
T (w1 , · · · , wk ) =
n
X
Pn
j=1
aij vj , aij ∈ R e T ∈ Tk (V ), então
a1j1 · · · akjk T (vj1 , · · · , vjk ) =
j1 ,··· ,jk =1
Assim T =
Pn
i1 ,··· ,ik =1
n
X
T (vi1 ,··· ,vik )·ϕi1 ⊗· · ·⊗ϕik (w1 , ..., wk ).
i1 ,··· ,ik =1
T (vi1 , · · · , vik ) · ϕi1 ⊗ · · · ⊗ ϕik . E portanto ϕi1 , · · · ϕik geram Tk (V ).
Suponha agora que existam números ai1 ,··· ,ik tais que
n
X
ai1 ,··· ,ik · ϕi1 ⊗ · · · ⊗ ϕik = 0.
i1 ,··· ,ik =1
Aplicando ambos os membros da equação acima a (vj1 , · · · , vjk ) obtemos que aj1 ,··· ,jk = 0.
Portanto ϕi1 ⊗· · ·⊗ϕik são linearmente independentes. Segue também que dim(Tk (V )) =
nk .
Definição 2.1.3. Uma permutação de X é uma bijeção σ : X → X, ou seja, σ ∈ F(X),
onde F(X) denota o conjuto das aplicações de X em si mesmo, de forma que para cada
y ∈ X existe um único x ∈ X com σ(x) = y. Por ser uma bijeção, cada permutação σ
admite uma inversa σ −1 , definida pela condição
σ −1 (y) = x ⇔ σ(x) = y.
E naturalmente σ −1 ◦ σ = σ ◦ σ −1 = Id.
Observação 2.1.1. O conjunto das permutações de X munido da operação de composição
de funções forma um grupo, chamado de grupo das permutações de X, denotado por
S(X), e como sabemos, se X é um conjunto finito com k elementos, então o número de
permutações de X é k!, isto é, o número de elementos de S(X) é k!. Portanto, sendo o
conjunto Ik = {1, · · · , k} o conjunto dos inteiros de 1 a k, então denotando2 S(Ik ) por
Sk , teremos que |Sk | = k!.
2
Este grupo é chamado de grupo simétrico de k elementos.
2.1 Formas Alternadas
33
Definição 2.1.4. Uma permutação τ ∈ Sn , n ≥ 2, chama-se uma transposição quando
existem inteiros a 6= b em In tais que τ (a) = b, τ (b) = a e τ (i) = i para i 6∈ {a, b}. Quando
τ é uma trasposição, tem-se τ 2 = Id, isto é, τ −1 = τ.
Teorema 2.1.2. Toda permutação σ ∈ Sm pode ser escrita como um produto σ = τ1 · · · τk
de transposições.
Demonstração. Façamos por indução sobre m.
Se m = 2 o resultado é óbvio para qualquer permutação σ ∈ S2 . Supomos
então que o resultado esteja demonstrado para m − 1, com m > 2, isto é, qualquer
permutação σ ∈ Sm−1 é escrita como um produto de transposições. Temos assim que, se
por acaso, σ(m) = m, então a restrição de σ a Im−1 , σ 0 , é uma permutação, e pela hipótese
de indução temos que σ 0 = σ|Im−1 é tal que existem transposições τ10 , · · · , τk0 ∈ Sm−1 tais
que σ 0 = τ10 · · · τk0 . E como cada transposição τi0 ∈ Sm−1 se estende a uma transposição
τi ∈ Sm , com τi (m) = m, então teremos que σ = τ1 · · · τk .
Se porém for σ(m) = n < m, basta considerar uma transposição τ ∈ Sm , tal
que τ (n) = m, e assim teremos que τ σ(m) = m, e portanto τ σ = τ1 · · · τk , e pelo fato de
que τ = τ −1 , segue que σ = τ τ1 · · · τk
De fato, tal representação de uma transposição não é única, isto é, para uma
dada permutação podem existir várias formas de representá-la como um produto de transposições. Entretanto afirmamos que a paridade de k é única3 , ou seja, sendo σ = τ1 · · · τk ,
onde k é par, então qualquer outra representação será formada por um produto de n
fatores de transposições, com n também par. Isso nos permite a seguinte definição.
Definição 2.1.5. Diremos que uma permutação σ ∈ Sk é par quando ela for o produto
de um número par de transposições, e ı́mpar no caso contrário. Usaremos o sı́mbolo
sgn(σ) para representar o sinal, ou a paridade da permutação: sgn(σ) = 1 se σ for uma
permutação par e sgn(σ) = −1 se σ for ı́mpar.
De forma resumida temos
1 se σ é par
sgn(σ) =
−1 se σ é ı́mpar
3
Apesar de não demonstrarmos tal fato, sugerimos [6] como leitura complementar sobre permutações.
2.1 Formas Alternadas
34
Observação 2.1.2. Notemos que, sendo σ e ρ duas permutações, então sgn(σρ) = sgn(σ)sgn(ρ),
e em particular, sgn(σ −1 ) = sgn(σ). Além disso, quando τ é uma transposição, então
sgn(τ ) = −1.
Definição 2.1.6. Seja ω ∈ Tk (V ) um tensor de ordem k. Chamamos ω de alternado se,
para todo v1 , · · · , vk ∈ V, tem-se
ω(v1 , · · · , vi , · · · , vj , · · · , vk ) = −ω(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk ).
Teorema 2.1.3. O conjunto de todos os tensores de ordem k alternados, denotado por
Λk (V ), é um espaço vetorial de Tk (V ).
Demonstração. Sejam ω, η ∈ Λk (V ), v1 , · · · , vk ∈ V e a ∈ R, então
(a · ω + η)(v1 , · · · , vi , · · · , vj , · · · , vk ) =
= a · ω(v1 , · · · , vi , · · · , vj , · · · , vk ) + η(v1 , · · · , vi , · · · , vj , · · · , vk ) =
= (−1) · a · ω(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk ) − η(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk ) =
(−1) · a[ω(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk ) + η(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk )] =
= −a(ω + η)(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vk ).
Definição 2.1.7. Seja T ∈ Tk (V ). Definimos Alt(T ) por
Alt(T )(v1 , · · · , vk ) =
1 X
sgn(σ) · T (vσ(1) , · · · , vσ(k) ).
k! σ∈S
k
Teorema 2.1.4. Se ω ∈ Tk (V ), então Alt(ω) ∈ Λk (V ).
Demonstração. Seja τ uma transposição de i e j. Se σ ∈ Sk , seja σ 0 = σ · τ, então,
Alt(ω)(v1 , · · · , vj , · · · , vi , · · · , vn ) =
=
1 X
sgn(σ) · ω(vσ(1) , · · · , vσ(j) , · · · , vσ(i),··· ,vσ(k) ) =
k! σ∈S
k
1 X
sgn(σ) · ω(vσ0 (1) , · · · , vσ0 (i) , · · · , vσ0 (j) , · · · , vσ0 (k) ) =
=
k! σ∈S
k
1 X
=
−sgn(σ 0 ) · ω(vσ0 (1) , · · · , vσ0 (k) ) = −Alt(ω)(v1 , · · · , vn ).
k! σ0 ∈S
k
2.1 Formas Alternadas
35
Teorema 2.1.5. Se ω ∈ Λk (V ), então Alt(ω) = ω.
Demonstração. Considere uma tranposição τ de i e j, e ω ∈ Λk (V ). Observe que
ω(vτ (1) , · · · , vτ (k) ) = sgn(τ ) · ω(v1 , · · · , vk ).
Pelo fato de que toda permutação é um produto de transposições, segue que
Alt(ω)(v1 , · · · , vk ) =
1 X
sgn(σ) · ω(vσ(1) , · · · , vσ(k) ) =
k! σ∈S
k
=
1 X
sgn(σ) · sgn(σ) · ω(v1 , · · · , vk ) = ω(v1 , · · · , vk ).
k! σ∈S
k
Corolário 2.1.1. Se T ∈ Tk (V ), então Alt(Alt(T )) = Alt(T ).
Definição 2.1.8. Sejam ω ∈ Λk (V ) e η ∈ Λl (V ). Definimos a operação ω ∧ η ∈ Λk+l (V ),
chamada de produto exterior, como sendo
ω∧η =
(k + l)!
Alt(ω ⊗ η).
k!l!
Teorema 2.1.6. Sejam S ∈ Tk (V ), T ∈ Tl (V ). Se Alt(S) = 0, então Alt(S ⊗ T ) =
Alt(T ⊗ S) = 0.
Demonstração.
Alt(S ⊗ T ) =
X
1
sgn(σ)S ⊗ T (vσ(1) , · · · , vσ(k) , vσ(k+1) , · · · , vσ(k+l) ) =
(k + l)! σ∈S
k+l
=
X
1
sgn(σ)S(vσ(1) , · · · , vσ(k) ) · T (vσ(k+1) , · · · , vσ(k+l) ).
(k + l)! σ∈S
k+l
Se σ ∈ G ⊂ Sk+l , onde G denota o conjunto das permutações de Sk+l que mantém todos
os k + 1, · · · , k + l fixos, então
=
X
1
sgn(σ)S(vσ(1) , · · · , vσ(k) ) · T (vσ(k+1) , · · · , vσ(k+l) ) =
(k + l)! σ∈S
k+l
"
#
X
1
sgn(σ)S(vσ(1) , · · · , vσ(k) ) · T (vk+1 , · · · , vk+l ) =
(k + l)! σ∈G
Alt(S) · T (vk+1 , · · · , vk+l ) = 0.
Se porém σ0 6∈ G, defina G · σ0 = {σ · σ0 : σ ∈ G}, e seja
vσ0 (1) , · · · , vσ0 (k+l) = w1 , · · · , wk+l ,
2.1 Formas Alternadas
36
então
X
1
sgn(σ) · S(vσ(1) , · · · , vσ(k) ) · T (vσ(k+1) , · · · , vσ(k+l) ) =
(k + l)! σ∈G·σ
0
"
#
X
1
= sgn(σ0 ) ·
sgn(σ 0 ) · S(wσ0 (1) , · · · , wσ0 (k) ) · T (wk+1 , · · · , wk+l ) =
(k + l)! σ0 ∈G
= Alt(S) · T (wk+1 , · · · , wk+l ) = 0.
A demontração de que Alt(T ⊗ S) = 0 se faz de forma similar.
Teorema 2.1.7. Sejam ω ∈ Λk (V ), η ∈ Λl (V ) e θ ∈ Λm (V ), então Alt(Alt(ω ⊗ η) ⊗ θ) =
Alt(ω ⊗ η ⊗ θ) = Alt(ω ⊗ Alt(η ⊗ θ)).
Demonstração. Observe que
Alt(Alt(η ⊗ θ) − η ⊗ θ) = Alt(η ⊗ θ) − Alt(η ⊗ θ) = 0,
logo, pelo teorema anterior,
0 = Alt(ω[Alt(η ⊗ θ) − η ⊗ θ]) =
= Alt(ω ⊗ Alt(η ⊗ θ)) − Alt(ω ⊗ η ⊗ θ).
Então
Alt(Alt(ω ⊗ η) ⊗ θ) = Alt(ω ⊗ η ⊗ θ).
O caso Alt(ω ⊗ Alt(η ⊗ θ)) = Alt(ω ⊗ η ⊗ θ) se prova de forma similar.
Teorema 2.1.8. Sejam ω ∈ Λk (V ), η ∈ Λl (V ) e θ ∈ Λm (V ), então (ω ∧ η) ∧ θ =
ω ∧ (η ∧ θ) =
(k+l+m)!
Alt(ω
k!l!m!
⊗ η ⊗ θ).
Demonstração.
(ω ∧ η) ∧ θ =
=
(k + l + m)!
Alt((ω ∧ η) ⊗ θ) =
(k + l)!m!
(k + l + m)! (k + l)!
(k + l + m)!
·
Alt(ω ⊗ η ⊗ θ) =
Alt(ω ⊗ η ⊗ θ).
(k + l)!m!
k!l!
k!l!m!
De fato, o que acabamos de mostrar é que vale a associatividade
ω ∧ (η ∧ θ) = (ω ∧ η) ∧ θ = ω ∧ η ∧ θ.
(2.1)
2.2 Formas Diferenciais
37
E de forma geral, temos o produto de ordem superior
ω1 ∧ · · · ∧ ωr =
r
^
ωi .
(2.2)
i=1
Uma das principais razões de estudar as formas alternadas trata-se de analisar
a estrutura da função determinante, o que não faremos neste trabalho, pelo fato de o
mesmo ter outro objetivo. Os resultados apresentados até aqui serão suficientes para o
desenvolvimento do que se segue. Entretanto sugerimos a leitura das referências [5, 6, 9]
para estudos mais aprofundados sobre o tema.
2.2
Formas Diferenciais
Nesta sessão iremos definir as chamadas k−formas diferenciais em Rn , genera-
lizando a idéia que primeiramente apresentaremos para 1−formas em R3 . Os resultados
são adaptados principalmente pelo que é exposto pela referência [3].
Convencionaremos que a partir desta sessão, quando dissermos que uma aplicação
é diferenciável, estaremos nos fererindo à uma aplicação de classe C ∞ , e dessa forma não
devemos confundir o termo com seu significado no cálculo usual.
Definição 2.2.1. Considere p um ponto de R3 . O conjunto dos vetores q −p, para q ∈ R3 ,
será chamado espaço tangente de R3 em p, e será denotado por R3p .
Observação 2.2.1. Lembrando que o conjunto dos vetores e1 , e2 , e3 formam a base canônica
de R3 , e como podemos representar R3 por R30 , segue que o conjunto {(e1 )p , (e2 )p , (e3 )p }
forma uma base para o espaço tangente R3p , denotando um elemento v ∈ R3p por vp . Este
resultado será generalizado para um espaço tangente em Rn .
Definição 2.2.2. Um campo de vetores em R3 é um aplicação κ, que associa a cada ponto
p ∈ R3 um vetor κ(p) ∈ R3p . Podemos escrever κ como
κ(p) = a1 (p)e1 + a2 (p)e2 + a3 (p)e3 ,
onde a1 , a2 e a3 são funções de R3 em R.
Diremos que um campo vetorial κ é diferenciável se cada função ai : R3 → R,
i = 1, 2, 3, for diferenciável.
2.2 Formas Diferenciais
38
Para cada espaço tangente R3p podemos associar o seu espaço dual, denotado
por (R3p )∗ . Explicitamente,
(R3p )∗ = {ϕ : R3p → R | ϕ é linear}.
Teorema 2.2.1. Considere a base canônica {(e1 )p , (e2 )p , (e3 )p } de R3p . Defina a aplicação
xi por
xi : R 3 → R
x 7→ xi ,
para i = 1, 2, 3, onde x = (x1 , x2 , x3 ).
Nestas condições, o conjunto {(dxi )p ; i = 1, 2, 3} será a base dual de {(ei )p ; i =
1, 2, 3}.
Demonstração. De fato, basta observar que
1
∂xi
(dxi )p (ej ) =
=
∂xj 0
se
i = j;
se
i 6= j.
Definição 2.2.3. Uma forma exterior de grau 1 em R3 é uma aplicação ω, que associa a
cada ponto p ∈ R3 um elemento ω(p) ∈ (R3p )∗ . Pelo teorema anterior, podemos representar
uma forma exterior de grau 1 como
ω(p) = a1 (p)dx1 + a2 (p)dx2 + a3 (p)dx3 =
3
X
ai (p)dxi .
i=1
Omitindo (p) na expressão, obtemos simplesmente a forma ω =
Definição 2.2.4. Considere a forma exterior ω =
P3
i=1
P3
i=1
ai dxi .
ai dxi . Se cada aplicação ai : R3 →
R, i = 1, 2, 3, for diferenciável, ω é dita uma forma diferencial de grau 1.
Definição 2.2.5. Sejam ϕ1 , ϕ2 ∈ (R3p )∗ . Definimos a operação ϕ1 ∧ ϕ2 ∈ Λ2 (R3p )∗ por
(ϕ1 ∧ ϕ2 )(v1 , v2 ) = det (ϕi (vj )) .
O elemento (dxi )p ∧ (dxj )p ∈ Λ2 (R3p )∗ será denotado por (dxi ∧ dxj )p . Além disso, temos
em particular que (dxi ∧ dxj )p = −(dxj ∧ dxi )p , e (dxi ∧ dxi )p = 0.
Teorema 2.2.2. O conjunto {(dxi ∧ dxj )p ; i < j}, com i, j = 1, 2, 3, é uma base para
Λ2 (R3p )∗ .
2.2 Formas Diferenciais
39
Faremos a demonstração do caso geral deste teorema (teorema 2.2.3).
Definição 2.2.6. Um campo de formas bilineares ou forma exterior de grau 2 em R3 , é
uma correspondência ω que associa a cada p ∈ R3 um elemento ω(p) ∈ Λ2 (R3p ).
Pelo teorema (2.2.2) podemos escrever uma forma exterior ω como
ω(p) = a12 (p)(dx1 ∧ dx2 )p + a13 (p)(dx1 ∧ dx3 )p + a23 (p)(dx2 ∧ dx3 )p ,
ou simplesmente, por omissão de p, ω =
P
i<j
(2.3)
aij dxi ∧ dxj , i, j = 1, 2, 3, onde aij são
funções reais em R3 .
Definição 2.2.7. Quando temos a forma exterior ω =
P
i<j
aij dxi ∧ dxj , i, j = 1, 2, 3, e
cada aij é diferenciável, chamaremos ω de forma diferencial de grau 2 ou simplesmente
2−forma.
Até agora definimos o conceito de 1−forma diferencial e 2−forma diferencial.
Tais definições tiveram o intuito de nos familiarizar com os resultados e notações, para a
posterior generalização.
Definição 2.2.8. Considere p um ponto de Rn . O conjunto dos vetores q −p, para q ∈ Rn ,
será chamado espaço tangente de Rn em p, e será denotado por Rnp .
Lembrando que Λk (Rnp )∗ denota o espaço das formas alternadas de (Rnp )k em
R, isto é
Λk (Rnp )∗ = {ϕ : Rnp × · · · × Rnp → R | ϕ é k−linear e alternada},
observamos que, tomando elementos ϕ1 , · · · , ϕk ∈ (Rnp )∗ , então o elemento ϕ1 ∧ · · · ∧ ϕk
pertence a Λk (Rnp )∗ , onde por definição
(ϕ1 ∧ · · · ∧ ϕk )(v1 , · · · , vk ) = det (ϕi (vj )) , i, j = 1, · · · , k.
(2.4)
Observação 2.2.2. Em particular, note que (dxi1 )p ∧ · · · ∧ (dxik )p ∈ Λk (Rnp )∗ , i1 , · · · , ik =
1, · · · , n. Denotaremos este elemento por (dxi1 ∧ · · · ∧ dxik )p .
Teorema 2.2.3. O conjunto {(dxi1 ∧ · · · ∧ dxik )p ; i1 < i2 < · · · < ik ; ij ∈ {1, · · · , n}} é
uma base para o espaço Λk (Rnp )∗ .
2.2 Formas Diferenciais
40
Demonstração. Inicialmente, notemos que dxi1 ∧· · ·∧dxik são linearmente independentes,
pois tomando ai1 ,··· ,ik , i1 < i2 < · · · < ik , ij ∈ {i, · · · , n} de forma que
X
ai1 ,··· ,ik dxi1 ∧ · · · ∧ dxik = 0,
(2.5)
i1 <···<ik
e aplicando (2.5) aos vetores (ej1 , · · · , ejk ), j1 < j2 < · · · < jk , com jl ∈ {1, · · · , n}, temos
X
ai1 ,··· ,ik dxi1 ∧ · · · ∧ dxik (ej1 , · · · , ejk ) = aj1 ,··· ,jk ,
i1 <···<ik
e portanto ai1 ,··· ,ik = 0.
Devemos mostrar agora que para qualquer f ∈ Λk (Rnp )∗ , f é uma combinação
linear da forma
X
f=
ai1 ,··· ,ik dxi1 ∧ · · · ∧ dxik .
i1 <···<ik
Para tanto, basta tomar g ∈ Λk (Rnp )∗ , onde
g=
X
f (ei1 , · · · , eik )dxi1 ∧ · · · ∧ dxik .
i1 <···<ik
De fato, f (ei1 , · · · , eik ) = g(ei1 , · · · , eik ) para todos i1 , · · · , ik . Assim, fazendo f (ei1 , · · · , eik ) =
ai1 ,··· ,ik , obtemos a forma para f,
f=
X
ai1 ,··· ,ik dxi1 ∧ · · · ∧ dxik .
i1 <···<ik
Definição 2.2.9. Uma k−forma exterior em Rn é uma aplicação ω que associa a cada
p ∈ Rn , um elemento ω(p) ∈ Λk (Rnp )∗ .
Pelo teorema (2.2.3), podemos escrever uma forma exterior ω como
ω(p) =
X
ai1 ,··· ,ik (p)(dxi1 ∧ · · · ∧ dxik )p ,
(2.6)
i1 <···<ik
onde ij ∈ {1, · · · , n} e todos os ai1 ,··· ,ik são funções reais em Rn .
Definição 2.2.10. Quando uma k−forma exterior ω =
P
i1 <···<ik
ai1 ,··· ,ik dxi1 ∧ · · · ∧ dxik
é tal que, todas as funções aij : Rn → R são diferenciáveis, ω será dita uma k−forma
diferencial.
2.2 Formas Diferenciais
41
Denotando por I a k−úpla (i1 , · · · , ik ), então com o intuito de simplificar a
notação, podemos denotar uma k−forma diferencial ω por
ω=
X
aI dxI .
(2.7)
I
Por convenção, definiremos que uma 0−forma diferencial em Rn será uma
aplicação diferenciável f : Rn → R.
A partir de agora, por simplicidade, chamaremos uma k−forma diferencial
simplesmente por uma k−forma, e o nosso objetivo será definir algumas operações envolvendo tais formas, e estudar suas propriedades.
Definição 2.2.11. Sejam ω e η duas k−formas em Rn . Podemos definir a soma ω + η
como,
ω+η =
X
aI dxI +
X
I
bI dxI =
I
X
(aI + bI )dxI
I
Definição 2.2.12. Sejam ω uma k−forma e ϕ uma s−forma. Definimos o produto exterior de formas diferenciais ω ∧ ϕ como
ω∧ϕ=
X
aI bJ dxI ∧ dxJ ,
IJ
onde ω =
P
I
aI dxI , I = (i1 , · · · , ik ), com i1 < · · · < ik , e ϕ =
P
J
bJ dxJ , J = (ii , · · · , ij ),
i1 < · · · < ij .
Observação 2.2.3. De acordo com a definição de produto exterior, podemos ter uma
k−forma ϕ1 ∧ · · · ∧ ϕk , onde cada ϕi é uma 1−forma, para i = 1, · · · , k, lembrando
que ϕ1 ∧ · · · ∧ ϕk (v1 , · · · , vk ) = det(ϕi (vj ))
Teorema 2.2.4. Sejam ω uma k−forma, ϕ uma s−forma, e θ uma r−forma, então,
(i) (ω ∧ ϕ) ∧ θ = ω ∧ (ϕ ∧ θ);
(ii) (ω ∧ ϕ) = (−1)ks (ϕ ∧ ω);
(iii) ω ∧ (ϕ + θ) = ω ∧ ϕ + ω ∧ θ, se r = s.
P
aI dxI , I = (i1 , · · · , ik ), i1 < · · · < ik , ϕ =
J bJ dxJ ,
P
J = (j1 , · · · , js ), com j1 < · · · < js e θ = L cL dxL , L = (i1 , · · · , il ), com i1 < · · · < il .
Demonstração. Sejam ω =
P
I
(i)
!
(ω ∧ ϕ) ∧ θ =
X
IJ
aI bJ dxI ∧ dxJ
∧θ =
X
IJL
aI bJ cL dxI ∧ dxJ ∧ dxL =
2.2 Formas Diferenciais
42
!
X
=ω∧
bJ cL dxJ ∧ dxL
= ω ∧ (ϕ ∧ θ).
JL
(ii)
ω∧ϕ=
X
aI bJ dxi1 ∧ · · · ∧ dxik ∧ dxj1 ∧ · · · ∧ dxjs =
IJ
=
X
aI bJ (−1)dxi1 ∧ · · · ∧ dxik−1 ∧ dxj1 ∧ dxik ∧ · · · ∧ dxjs =
IJ
=
X
bJ aI (−1)k dxj1 ∧ dxi1 ∧ · · · ∧ dxik ∧ dxj2 ∧ · · · ∧ dxjs .
IJ
Procedendo indutivamente obtemos, pelo fato de J possuir s elementos,
ω∧ϕ=
X
bJ aI (−1)ks dxj1 ∧ · · · ∧ dxjs ∧ dxi1 ∧ · · · ∧ dxik = (−1)ks ϕ ∧ ω.
JI
(iii) Se r = s, a operação ϕ + θ está definida, e
ϕ+θ =
X
bJ dxJ +
J
X
cJ dxJ =
J
X
(bJ + cJ )dxJ .
J
Portanto,
ω ∧ (ϕ + θ) =
X
aI dxI ∧
I
=
X
X
X
aI (bJ + CJ )dxI ∧ dxJ =
IJ
J
aI bJ dxI ∧ dxJ +
IJ
(bJ + cJ )dxJ =
X
aI cJ dxI ∧ dxJ = (ω ∧ ϕ) + (ω ∧ θ).
IJ
Consideremos uma aplicação diferenciável f : Rn → Rm . Então f induz uma
aplicação f ∗ que associa uma k−forma em Rn à uma k−forma em Rm , pela seguinte
definição.
Definição 2.2.13. Sejam f : Rn → Rm uma aplicação diferenciável e ω uma k−forma
em Rn . Definimos a aplicação f ∗ ω por
(f ∗ ω)(p)(v1 . · · · , vk ) = ω(f (p))(dfp (v1 ), · · · , dfp (vk )),
onde p ∈ Rn , v1 , · · · , vk ∈ Rnp e dfp : Rnp → Rm
f (p) é a diferencial da aplicação f em p.
Observação 2.2.4. Por convenção, quando g é uma 0−forma, definimos a aplicação f ∗ (g)
como a composta g ◦ f.
Sejam f : Rn → Rm uma aplicação diferenciável, ω e ϕ k−formas em Rm e
g : Rm → R uma 0−forma. Assumiremos as seguintes propriedades, cuja demonstração
pode ser encontrada em [3].
2.2 Formas Diferenciais
43
(i) f ∗ (ω + ϕ) = f ∗ ω + f ∗ ϕ;
(ii) f ∗ (gω) = f ∗ (g)f ∗ (ω);
(iii) se ϕ1 , · · · , ϕk são 1−formas em Rm , então f ∗ (ϕ1 ∧ · · · ∧ ϕk ) = f ∗ (ϕ1 ) ∧ · · · ∧ f ∗ (ϕk ).
Definição 2.2.14. Seja g : Rn → R uma 0−forma, então a diferencial
n
X
∂g
dg =
dxi
∂xi
i=1
é uma 1−forma.
Definição 2.2.15. Seja ω =
P
I
aI dxI uma k−forma em Rn . A diferencial exterior dω,
de ω, é definida por
dω =
X
daI ∧ dxI .
I
Teorema 2.2.5. Sejam ω1 , ω2 k−formas em Rm e ϕ uma s−forma em Rm . Então,
(i) d(ω1 + ω2 ) = dω1 + dω2 ;
(ii) d(ω ∧ ϕ) = dω ∧ ϕ + (−1)k ω ∧ dϕ;
(iii) d(dω) = d2 ω = 0;
(iv) d(f ∗ ω) = f ∗ (dω), onde f : Rn → Rm é uma aplicação diferenciável.
Demonstração. Provaremos somente as afirmações (ii) e (iii)
(ii)
!
d(ω ∧ ϕ) = d
X
IJ
+
X
IJ
aI bJ dxI ∧ dxJ
=
X
d(aI bJ ) ∧ dxI ∧ dxJ =
IJ
aI dbJ ∧ dxI ∧ dxJ = dω ∧ ϕ + (−1)k
X
bJ daI ∧ dxI ∧ dxJ +
IJ
X
aI dxI ∧ dbJ ∧ dxJ = dω ∧ ϕ + (−1)k ω ∧ dϕ.
IJ
(iii) Assuma primeiramente que ω seja uma 0−forma, isto é, ω é uma função f : Rn → R
que associa cada ponto (x1 , · · · , xn ) ∈ Rn ao valor f (x1 , · · · , xn ) ∈ R. Então,
!
!
n
n
n
n
X
X
X
X
∂f
∂ 2f
∂f
dxj =
∧ dxj =
dxi ∧ dxj .
d
d(df ) = d
∂xj
∂xj
∂xi ∂xj
j=1
j=1
i=1
j=1
Pela hipótese de f ser uma 0−forma, segue que
∂2f
∂xi ∂xj
=
∂2f
∂xj ∂xi
(teorema 1.2.2). E como
dxi ∧ dxj = −dxj ∧ dxi , quando x 6= j, temos
X ∂ 2f
∂ 2f
−
dxi ∧ dxj = 0.
d(df ) =
∂x
∂x
∂x
∂x
i
j
j
i
i<j
2.2 Formas Diferenciais
Considere agora o caso em que ω =
44
P
I
aI dxI . Pela afirmação (i), podemos
restringir ao caso em que ω = aI dxI , com aI 6= 0. E por (ii), segue dω = daI ∧ dxI +
aI d(dxI ).
Mas observe que d(dxI ) = d(1) ∧ dxI = 0. Portanto,
d(dω) = d(daI ∧ dxI ) = d(daI ) ∧ dxI + daI ∧ d(dxI ) = 0,
lembrando que d(daI ) = d(dxI ) = 0.
45
3 Integração em Variedades
Neste capı́tulo iremos definir as variedades em Rn , e utilizar dos conceitos
estudados no capı́tulo anterior para estabelecer a noção de integral de uma k−forma em
Rn . Posteriormente, para a demonstração do teorema de Stokes, iremos definir a integral
de uma k−forma definida em uma variedade diferenciável.
3.1
Variedades Diferenciáveis
No capı́tulo 1 vimos o teorema de Stokes para aplicações em R2 e R3 , que nos
forneceu a seguinte identidade
Z Z
Z
F · dr,
(rotF · n)ds =
S
(3.1)
∂S
onde S é uma superfı́cie em R3 . Para a generalização deste teorema, precisaremos estender
o conceito de superfı́cie para dimensões maiores, que são as chamadas variedades.
Intuitivamente, uma variedade é a generalização de curvas e superfı́cies para
dimensões arbitrariamente grandes, e como a maioria dos conceitos matemáticos, sua
formalização não foi fruto da pesquida de apenas um, mas de vários matemáticos durante
muitos anos.
Alguns matemáticos como Riemann e Gauss figuram entre os principais nomes
que contribuı́ram para a formalização do conceito de variedade. Em especial, o termo manifold 1 é uma tradução direta (para o inglês) da palavra de origem alemã Mannigfaltigkeit,
utilizada por Riemann em seu trabalho pioneiro intituado Ü ber die Hypothesen, welche
der Geometrie zu Grunde liegen (Sobre as Hipóteses Subjacentes aos Fundamentos da
Geometria).
Iremos agora definir o conceito de variedade diferenciável, bem como mostrar
aluns teoremas envolvendo tal conceito. Os resultados apresentados nesta sessão foram
adaptados das referências [3, 9, 11].
1
Utilizamos como tradução não literal a palavra variedade, para manifold, como é usualmente feito
na literatura nacional.
3.1 Variedades Diferenciáveis
46
Definição 3.1.1. Seja I um conjunto, cujos elementos α chamaremos de ı́ndices. Dado
um conjunto U, uma famı́lia de elementos de U com ı́ndices em I é uma função u : I → U.
O valor de u no ponto α ∈ I será indicado com o sı́mbolo uα. A famı́lia u é representada
pela notação (uα )α∈I , ou simplesmente uα , quando não houver dúvidas sobre o conjunto
I.
Definição 3.1.2. Uma variedade diferenciável n−dimensional, ou simplesmente uma
n−variedade, é um conjunto M munido com uma famı́lia de aplicações injetivas fα :
Uα ⊂ Rn → M, de abertos Uα em M , tais que
(m1 )
S
α
fα (Uα ) = M ;
(m2 ) Para cada par α, β, com fα (Uα ) ∩ fβ (Uβ ) = W 6= ∅, os conjuntos fα−1 (W ) e fβ−1 (W )
são abertos em Rn , e as aplicações fβ−1 ◦ fα , fα−1 ◦ fβ são diferenciáveis;
Definição 3.1.3. O par (Uα , fα ), com p ∈ fα (Uα ), é chamado uma parametrização, ou
sistema de coordenadas de M em p. E fα (Uα ) é chamada uma vizinhança coordenada de
p.
Definição 3.1.4. Uma famı́lia (fα , Uα ) que goza das propriedades (m1 ) e (m2 ) é chamada
uma estrutura diferenciável em M.
Segue imediatamente da definição que o próprio conjunto Rn é uma variedade
diferenciável de dimensão n, assim como todo subconjunto aberto A ⊂ Rn .
Observando a definição (3.1.5) de superfı́cie regular no R3 dada por [2], segue
que uma superfı́cie regular no R3 é uma variedade diferenciável de dimensão 2.
Definição 3.1.5. Um subconjunto S ⊂ R3 é uma superfı́cie regular se, para cada p ∈ S,
existe uma vizinhança V de p em R3 e uma aplicação x : U → V ∩ S de um aberto U de
R2 sobre V ∩ S ⊂ R3 tais que,
(i) x é diferenciável;
(ii) x é um homeomorfismo 2 ;
(iii) Para todo q ∈ U, a diferencial dxq : R2 → R3 é injetiva.
2
Significa que a aplicação é contı́nua e possui inversa também contı́nua.
3.1 Variedades Diferenciáveis
47
Observação 3.1.1. Assumiremos a partir de agora que todas as variedades consideradas
serão de Hausdorff, e possuirão base enumerável3 . E com o intuito de simplificar a notação,
iremos nos referir na maioria das vezes à uma variedade diferenciável n−dimensional M
simplesmente por M n , onde o expoente n indicará sua dimensão.
Definição 3.1.6. Sejam M1n e M2m variedades diferenciáveis. Uma aplicação ϕ : M1n →
M2m é diferenciável no ponto p ∈ M1n se, dada uma parametrização g : V ⊂ Rm → M2m
em uma vizinhança de ϕ(p), existe uma parametrização f : U ⊂ Rn → M1n em uma
vizinhança de p, tal que, ϕ(f (U )) ⊂ g(V ), e a aplicação g −1 ◦ ϕ ◦ f :⊂ Rn → Rm é
diferenciável em f −1 (p).
Naturalmente, diremos que a aplicação ϕ é diferenciável em algum aberto de
M1n se é diferenciável em todos os pontos deste conjunto.
Precisamos agora definir os conceitos de curva diferenciável e vetor tangente
em uma variedade diferenciável, para poder estender os conceitos usuais do cálculo em
superfı́cies no R3 .
Lembremos da definição de curva diferenciável.
Definição 3.1.7. Uma curva diferenciável parametrizada é uma aplicação diferenciável
α : I → Rn de um intervalo aberto I = (−ε, ε) da reta real R em Rn .
Observação 3.1.2. A palavra diferenciável na definição acima significa que α é uma correspondência que leva cada t ∈ I em um ponto (x1 (t), · · · , xn (t)) ∈ Rn , de modo que as
funções reais x1 , · · · , xn são diferenciáveis. É importante notar ainda que não excluı́mos
o caso em que o intervalo I = (−∞, ∞).
Consideremos a aplicação α : (−ε, ε) → Rn , que descreve uma curva diferenciável em Rn , com α(0) = p ∈ Rn , e escrevemos
α(t) = (x1 (t), · · · , xn (t)), t ∈ (−ε, ε), (x1 , · · · , xn ) ∈ Rn .
Então α0 (0) = (x01 (0), · · · , x0n (0)) = v ∈ Rn . Considere agora uma função
ϕ : Rn → R, diferenciável em uma vizinhança de p. Dessa forma a derivada de ϕ na
direção de v, no ponto p é dada por
n
X
∂ϕ dxi d
(ϕ ◦ α) t=0 =
=
dt
∂xi dt t=0
i=1
3
Tais definições encontram-se no apêmdice B.
n
X
i=1
x0i (0)
∂
∂xi
!
ϕ.
(3.2)
3.1 Variedades Diferenciáveis
48
Portanto, a derivada direcional na direção do vetor v é um operador sobre
funções diferenciáveis que depende apenas de v. Por meio dessa propriedade podemos
definir o conceito de vetor tangente à uma variedade e, posteriormente definir um espaço
tangente à uma variedade diferenciável.
Consideremos um variedade diferenciável M n e D o conjunto das funções em
M n que são diferenciáveis em p, e escolha uma parametrização f : U ⊂ Rn → M n em
uma vizinhança de p = f (0, · · · , 0). Então a curva α : I → M n , e uma função ϕ ∈ D
podem ser escritas respectivamente como
f −1 ◦ α(t) = (x1 (t), · · · , xn (t));
ϕ ◦ f (q) = ϕ(x1 , · · · , xn ), q = (x1 , · · · , xn ).
Então, por (3.2) podemos escrever
n
X
d
d
α (0)ϕ = (ϕ ◦ α)t=0 = ϕ(x1 (t), · · · , xn (t))t=0 =
dt
dt
0
x0i (0)
i=1
∂
∂xi 0
Logo o vetor tangente α0 (0) em p pode ser escrito como
n
X
∂
0
0
α (0) =
xi (0)
.
∂xi 0
i=1
!
ϕ.
(3.3)
0
(3.4)
Estas considerações feitas anteriormente servem para podermos observar que,
chamando de Tp M ao espaço tangente em p de uma variedade diferenciável M, então
a escolha de uma parametrização ao redor de p servirá para determinar uma base para
Tp M, que de fato será um espaço vetorial. Detalhes a respeito desta construção podem
ser encontrados na referência [3].
De forma resumida, assumiremos a seguinte definição.
Definição 3.1.8. Seja M n uma variedade diferenciável e p ∈ M n . Chamaremos de espaço
o
n ∂
tangente a M n em p ao conjunto Tp M. E a base
;
i
=
1,
·
·
·
,
n
para Tp M será
∂xi
0
chamada base associada à parametrização f.
Agora que definimos o espaço tangente à uma variedade, podemos definir a
diferencial de uma aplicação ϕ : M1n → M2m , utilizando destes conceitos.
Definição 3.1.9. Sejam M1n e M2m variedades diferenciáveis, e ϕ : M1n → M2m uma
aplicação diferenciável. Para cada p ∈ M1n , a diferencial de ϕ em p é a aplicação linear
dϕp : Tp M1n → Tϕ(p) M2m ,
3.1 Variedades Diferenciáveis
49
que associa cada vetor v ∈ Tp M1n ao vetor dϕp (0) ∈ Tϕ(p) M2m , que é definida escolhendo
uma curva diferenciável α : (−ε, ε) → M1n , com α0 (0) = v, o que nos permite a representação
dϕp (v) = (ϕ ◦ α)0 (0).
Observe que para fazer sentido a definição (3.1.9), ela tem que ser independente
da escolha de α. E este resultado é garantido pelo seguinte teorema.
Teorema 3.1.1. Na definição (3.1.9), dado v ∈ Tp M1n , o vetor dϕp (v) = (ϕ ◦ α)0 (0) não
depende da escolha de α.
Demonstração. Sejam f1 (x1 , · · · , xn ) e f2 (y1 , · · · , yn ) parametrizações em vizinhanças de
p e ϕ(p), respectivamente, e suponha que ϕ seja expressa nestas coordenadas por
ϕ(x1 , · · · , xn ) = (ϕ1 (x), · · · , ϕn (x)), onde x = (x1 , · · · , xn ).
Considere α(t) = (x1 (t), · · · , xn (t)), t ∈ (−ε, ε). Dessa forma obtemos,
(ϕ ◦ α)(t) = ϕ(x1 (t), · · · , xn (t)) = (ϕ1 (x1 (t), · · · , xn (t)), · · · , ϕn (x1 (t), · · · , xn (t))) .
2
} é
E a expressão de (ϕ ◦ α)0 (0) na base { ∂f
∂xi
0
(ϕ ◦ α) (0) =
∂ϕ1 0
∂ϕ1 0
∂ϕn 0
∂ϕn 0
x (0) + · · · +
x (0), · · · ,
x (0) + · · · +
x (0) .
∂x1 1
∂xn n
∂x1 1
∂xn n
O que nos mostra que (ϕ ◦ α)0 (0) depende apenas da aplicação ϕ e das coordenadas de
1
}.
(x01 (0), · · · , x0n (0)) na base { ∂f
∂xi
Definição 3.1.10. Uma aplicação ϕ : M1n → M2m entre variedades diferenciáveis é dita
um difeomorfismo se é bijetora, diferenciável, e possui inversa também diferenciável. Diremos ainda que uma aplicação ϕ será um difeomorfismo local em um ponto p, se satisfaz
a condição de difeomorfismo em uma vizinhança de p. Isto é, existem abertos U e V, com
p ∈ U tais que ϕ : U → V é um difeomorfismo.
Definiremos agora as formas diferenciais em variedades difereciáveis.
Definição 3.1.11. Considere uma variedade diferenciável M n . Uma k−forma exterior ω
em M n é a escolha, para cada p ∈ M n , de um elemento ω(p) ∈ Λk (Tp M )∗ .
3.1 Variedades Diferenciáveis
50
Definição 3.1.12. Dada uma k−forma exterior ω em uma variedade diferenciável M n ,
e uma parametrização fα : Uα → M n em uma vizinhança de p ∈ fα (Uα ), definimos a
representação de ω nesta parametrização como a k−forma exterior ωα em Uα ⊂ Rn , dada
por
ωα (v1 , · · · , vk ) = ω(dfα (v1 ), · · · , dfα (vk )), com v1 , · · · , vk ∈ Rn .
Observe na definição acima que, se mudarmos o sistema de coordenadas para
fβ : Uβ → M n , p ∈ fβ (Uβ ), obtemos
(fβ−1 ◦ fα )∗ ωβ (v1 , · · · , vk ) = ωβ d fβ−1 ◦ fα (v1 ), · · · , d fβ−1 ◦ fα (vk )
= ωβ
dfβ ◦ d fβ−1 ◦ fα
(v1 ), · · · , dfβ ◦ d fβ−1 ◦ fα
(vk ) = ωα (v1 , · · · , vk ).
(3.5)
(3.6)
E temos a relação (fβ−1 ◦ fα )∗ ωβ = ωα , motivando a seguinte definição.
Definição 3.1.13. Uma k−forma diferencial em uma variedade diferenciável M n é uma
forma exterior que possui representação diferenciável em algum sistema de coordenadas.
Observação 3.1.3. Pelas equações (3.5) e (3.6), e pela definição acima, podemos concluir
que se uma k−forma exterior possuir representação diferenciável em algum sistema de
coordenadas, então possuirá em todos.
De forma resumida observamos que, sendo ω uma k−forma diferencial em
M n , então para uma parametrização (Uα , fα ) de M n , ω é a escolha de uma k−forma
diferencial ωα em Uα , de forma que, para alguma outra parametrização (Uβ , fβ ) de M n ,
com fα (Uα ) ∩ fβ (Uβ ) 6= ∅, tenha-se
ωα = fβ−1 ◦ fα
∗
ωβ .
(3.7)
Afirmamos ainda que todas as considerações feitas a respeito de formas diferenciais em Rn podem ser estendidas para formas diferenciais em uma variedade diferenciável
M n , tomando uma representação local.
De fato, a diferencial de uma k−forma em uma variedade diferenciável M n
está bem definida, pois por (3.7) tem-se
dωα = d fβ−1 ◦ fα
∗
ωβ = fβ−1 ◦ fα
∗
dωβ .
(3.8)
Definição 3.1.14. Uma variedade diferenciável M é dita orientável se possui uma estrutura diferenciável {(Uα , fα )}, tal que para cada par α, β, com fα (Uα ) ∩ fβ (Uβ ) 6= ∅,
a diferencial da mudança de coordenadas fβ−1 ◦ fα , possui determinante positivo. Caso
contrário, M é dita não orientável.
3.2 Teorema de Stokes
3.2
51
Teorema de Stokes
Nesta sessão, nossa meta será a demonstração do teorema de Stokes em vari-
edades compactas4 e orientáveis. E por este motivo todas as variedades consideradas a
partir de agora serão compactas e orientáveis, salvo apenas menção contrária.
Para as primeiras considerações, limitaremos ao caso em que M n = Rn , isto é,
consideraremos a variedade diferenciável n−dimensional (não compacta) Rn .
Definição 3.2.1. Seja ω uma forma diferencial definida em um conjunto aberto U ⊂ M n ,
definimos o suporte K de ω como o fecho5 do conjunto A = {p ∈ M n | ω(p) 6= 0}.
Considerando ω uma n−forma diferencial em Rn , então podemos escrever ω
como
ω = a(x1 , · · · , xn )dx1 ∧ · · · ∧ dxn .
(3.9)
E supondo que o suporte K de ω seja compacto e esteja contido em U, então
definimos a integral de ω sobre U por
Z
Z
adx1 · · · dxn ,
ω=
(3.10)
K
U
onde no lado direito da igualdade temos uma integral múltipla em Rn .
Observaremos agora as estreitas relações entre a integral de uma n−forma
definida em Rn e uma n−forma definida em uma variedade diferenciável qualquer M n .
Consideremos ω uma n−forma definida em uma variedade diferenciável M n ,
e suponha que o suporte K de ω esteja contido em alguma vizinhança coordenada Vα =
fα (Uα ). então, sendo a representação local de ω, ωα em Uα dada por
ωα = aα (x1 , · · · , xn )dx1 ∧ · · · ∧ dxn ,
e dessa forma podemos definir a integral
Z
Z
Z
ω=
ωα =
M
Vα
aα dx1 · · · dxn ,
(3.11)
(3.12)
Uα
onde o lado direito da igualdade expressa uma integral múltipla usual em Rn .
4
Aqui o termo compacto terá o mesmo significado que o empregado na topologia geral, uma vez que
uma variedade é um espaço topológico. Vide definição (6.0.19) e o teorema (6.0.13) no apêndice B.
5
Trata-se do conjunto dos pontos aderentes. Ver definição (6.0.17) no apêndide B.
3.2 Teorema de Stokes
52
Mas observe que para a validade de (3.12), precisamos mostrar que ela independe da escolha de uma vizinhança coordenada em particular. Na verdade, para mostrar
este resultado, será fundamental nossa hipótese inicial de que M n é orientável, isto é, a
diferencial da mudança de coordenadas possui determinante positivo.Tal resultado será
garantido pelo teorema a seguir.
Teorema 3.2.1. Seja ω uma n−forma em M n , e fα , fβ dois sistemas de coordenadas em
M n . Então assumindo que M n seja orientável, é válida a igualdade
Z
Z
ωα =
ωβ .
Vα
Vβ
Demonstração. Tome ωα e ωβ formas diferenciais em M n , com representações em Uα e
Uβ , respectivamente, e vizinhanças coordenadas {Vα } e {Vβ }.
Considere a mudança de coordenadas f = fα−1 ◦ fβ : Uα → Uβ . Fazendo
xi = fi (y1 , · · · , yn ), i = 1, · · · , n e (x1 , · · · , xn ) ∈ Uα , com (y1 , · · · , yn ) ∈ Uβ , e lembrando
que ωβ = f ∗ (ωα ), obtemos
ωβ = det(df )aβ dy1 ∧ · · · ∧ dyn ,
onde aβ = aα (f1 (y1 , · · · , yn ), · · · , fn (y1 , · · · , yn )).
Dessa forma, o resultado segue pela fórmula da mudança de variáveis na integral múltipla em Rn , isto é,
Z
Z
aα dx1 · · · dxn =
Uα
det(df )aβ dy1 · · · dyn .
Uβ
Pois pela hipótese de que M n é orientável, segue que det(df ) > 0, e portanto
Z
Z
ωβ .
ωα =
Vα
Vβ
Observe que as considerações feitas a respeito da integral de uma n−forma
em M n foram todas feitas supondo que o suporte K de ω estivesse contido em alguma
vizinhança coordenada. Iremos agora explorar o caso em que isso não se verifica.
Para tanto, considere uma cobertura {Vα } para uma variedade diferenciável
compacta M n . Iremos construir uma famı́lia (finita) de funções ϕ1 , · · · , ϕn , que satisfaçam
as seguintes condições:
3.2 Teorema de Stokes
Pn
(p1 )
i=1 ϕi = 1;
53
(p2 ) 0 ≤ ϕi ≤ 1, e o suporte de ϕi estará contido em algum Vαi = Vi .
Definição 3.2.2. A famı́lia {ϕi } que satisfaz as propriedades (p1 ) e (p2 ), listadas acima,
será chamada uma partição diferenciável da unidade, ou simplesmente partição da unidade, subordinada à cobertura {Vα }.
Observação 3.2.1. De fato, ainda não apresentamos garantia da existência de uma partição
diferenciável da unidade, entretanto tal resultado é válido pelo teorema (3.2.2), que apenas
enunciaremos.
Assumindo a existência de uma famı́lia {ϕi }, então o suporte da forma ϕi ω
em uma variedade M n está contido em Vi , para algum i, e pelas caracterı́sticas da famı́lia
{ϕi }, temos a identidade
Z
ω=
M
m Z
X
i=1
ϕi ω.
(3.13)
M
Mas observe que para a validade de (3.13), precisamos garantir que ela independe das escolhas feitas.
Com efeito, considere uma outra cobertura {Wβ } de M , que induz a mesma
orientação que a cobertura {Vα }, e seja {ψj } uma partição da unidade subordinada ao
recobrimento {Wβ }.
Então {Vα ∩ Wβ } ainda recobrirá M, e a famı́lia {ϕi ψj } será uma partição da
unidade subordinada a esse recobrimento. Assim,
m Z
X
i=1
ϕi ω =
M
m Z
X
i=1
ϕi
M
s
X
!
ψj
ω=
j=1
XZ
ϕi ψj ω.
(3.14)
ϕi ψj ω.
(3.15)
M
ij
E analogamente,
s Z
X
j=1
M
ψj ω =
s Z
X
j=1
M
m
X
i=1
!
ϕi
ψj ω =
XZ
ij
M
O que nos garante que a validade de (3.13) não depende das escolhas feitas, tanto do
recobrimento quanto da partição da unidade subordinada a ele.
Teorema 3.2.2. (Existência da partição diferenciável da unidade).
Sejam
M n uma variedade diferenciável compacta e orientável, e {Vα } uma cobertura de M n por
vizinhanças coordenadas. Então existem funções diferenciáveis ϕ1 , · · · , ϕm tais que,
3.2 Teorema de Stokes
Pm
(p1 )
i=1 ϕi = 1;
54
(p2 ) 0 ≤ ϕi ≤ 1, e o suporte de ϕi está contido em algum Vαi de da cobertura {Vα }.
A demonstração deste teorema pode ser encontrada nas referências [3, 9, 11].
Para as considerações posteriores precisaremos definir um tipo especial de variedade, chamada variedade diferenciável com fronteira, e para isso necessitamos da definição de um semi-espaço em Rn .
Definição 3.2.3. Chama-se semi-espaço em Rn ao conjunto
H n = {(x1 , · · · , xn ) ∈ Rn | x1 ≤ 0}.
Diremos que uma função f : V → R, definida em um aberto V ⊂ H n é
diferenciável, se existem um conjunto U ⊂ Rn que contém V, e uma função diferenciável
f em U , tal que a restrição de f a V seja igual a f . E neste caso, a diferencial dfp , de f
em p ∈ V, é definida como
dfp = df p .
(3.16)
Definição 3.2.4. Uma variedade diferenciável n−dimensional com fronteira é um conjunto M, munido com uma famı́lia de aplicações injetivas fα : Uα ⊂ H n → M, de abertos
de H n em M tais que,
(m01 ) Uα fα (Uα ) = M ;
(m02 ) Para todo par α, β, com fα (Uα ) ∩ fβ (Uβ ) = W 6= ∅, os conjuntos fα−1 (W ) e fβ−1 (W )
são abertos em H n , e as aplicações fβ−1 ◦ fα , fα−1 ◦ fβ são diferenciáveis;
(m3 ) A famı́lia {(Uα , fα )} é maximal com relação à (m01 ) e (m02 ).
Definição 3.2.5. Um ponto p de uma variedade diferenciável M n é dito um ponto de
fronteira de M, se para alguma parametrização f : U ⊂ H n → M em alguma vizinhança
de p, tenha-se f (0, x2 , · · · , xn ) = p.
Para que a definição anterior de ponto de fronteira de uma variedade faça sentido, precisamos garantir que ela independe da parametrização utilizada. E tal resultado
é exibido pelo próximo teorema.
Teorema 3.2.3. A definição de ponto de fronteira não depende da parametrização.
3.2 Teorema de Stokes
55
Demonstração. Seja f1 : U2 → M uma parametrização em uma vizinhança de p, de forma
que f1 (q) = p, com q = (0, x2 , · · · , xn ).
Suponha por absurdo que exista outra parametrização f2 : U2 → M, em uma
vizinhança de p, tal que f2−1 (p) = q2 = (x1 , · · · , xn ), com x1 6= 0.
Seja W = f1 (U1 ) ∩ f2 (U2 ). Temos então a aplicação f1−1 ◦ f2 : f2−1 (W ) →
f1−1 (W ), que será um difeomormismo, isto é, bijetora, diferenciável e que possui inversa
também diferenciável.
Como supomos x1 6= 0, existirá uma vizinhança U de q2 , U ⊂ f2−1 (W ), que
não intersepta o eixo x1 , e restringindo f1−1 ◦ f2 a U, temos ainda um difeomorfismo, dado
por
f1−1 ◦ f2 : U → H n ,
e além disso, det(d(f1−1 ◦ f2 )) 6= 0.
Finalmente, pelo teorema da função inversa, podemos garantir que a aplicação
f1−1 ◦ f2 : V ⊂ U → U1 ⊂ H n
será um difeomorfismo, o que nos leva à uma contradição, uma vez que se isso se verificasse
terı́amos pontos da forma (x1 , · · · , xn ), com x1 > 0, sendo levados em H n por f1−1 ◦ f2 .
Portanto garantimos que p será um ponto de fronteira mesmo com outra parametrização.
Sem ambiguidades, podemos então definir o conjunto dos pontos de fronteira
de uma variedade diferenciável M n .
Definição 3.2.6. Sendo M n uma variedade diferenciável, denotamos por ∂M o conjunto
dos pontos de fronteira de M n , chamado simplesmente de fronteira de M .
Observação 3.2.2. Se ∂M = ∅, então naturalmente a variedade não possui fronteira, e
portanto é definida segundo a definição (3.1.2).
Teorema 3.2.4. A fronteira ∂M de uma n−variedade diferenciável M com fronteira, é
uma (n − 1)−variedade diferenciável.
Demonstração. Tome um ponto p ∈ ∂M, e considere a parametrização fα : Uα ⊂ H n →
M n , em alguma vizinhança de p.
3.2 Teorema de Stokes
56
Dessa forma, fα−1 (p) = (0, x2 , · · · , xn ) ∈ Uα . Chamando U α = Uα ∩{(x1 , · · · , xn ) ∈
Rn | x1 = 0}, podemos observar que U α será um aberto em Rn−1 . Basta então considerar
f α a restrição de fα a U α e, pelo teorema (3.2.3), segue que f α (U α ) ⊂ ∂M. E ainda, a
famı́lia {(U α , f α )} será uma estrutura diferenciável em ∂M.
Se M n é uma variedade diferenciável orientável com fronteira, então a orientação de M n induz uma orientação em ∂M, e dizemos que ∂M possui a orientação
induzida por M. E a demonstração deste resultado pode ser encontrada na referência [3].
Finalmente, com as definições e resultados anteriores, podemos enunciar e
provar o teorema de Stokes em uma variedade.
Teorema 3.2.5. (Teorema deStokes). Sejam M n uma variedade diferenciável com
fronteira, compacta e orientável, ω uma (n−1)−forma diferenciável em M e i : ∂M → M
uma aplicação inclusão6 . Então
Z
∗
Z
iω=
∂M
dω.
M
Demonstração. Consideremos K o suporte de ω, e iremos dividir a demonstração em dois
casos:
(Caso 1). Se K está contido em alguma vizinhança coordenada V = f (U ) de uma
parametrização f : U ⊂ H n → M, então tomando a representação local de ω em U, temos
ω=
n
X
cj ∧ · · · dxn ,
aj dx1 ∧ · · · ∧ dx
j
cj significa que
onde aj = aj (x1 , · · · , xn ) é uma função diferenciável em U, e a notação dx
o termo dxj está sendo omitido. Assim, a diferencial dω obtém a forma
!
n
X
X
∂a
j
dω =
daj ∧ dxj =
(−1)j−1
dx1 ∧ · · · ∧ dxn .
∂x
j
j=1
j
Agora observe que podemos subdividir o caso 1 em dois subcasos, um para o caso em que
f (U ) ∩ ∂M = ∅ e outro para quando f (U ) ∩ ∂M 6= ∅.
(i).
Se considerarmos f (U )∩∂M = ∅, então o valor de ω será zero em ∂M, e consequentemente
6
Trata-se simplesmente de uma aplicação da forma i(x) = x, e o nome inclusão é motivado pelo fato
de que ∂M ⊂ M .
3.2 Teorema de Stokes
57
i∗ ω também irá se anular em ∂M. Portanto
Z
i∗ ω = 0.
∂M
Por outro lado, estendendo a definição de aj em H n , por
a (x , · · · , x ) = a (x , · · · , x ), se
(x1 , · · · , xn ) ∈ U
j
1
n
j
1
n
aj (x1 , · · · , xn ) = 0,
se (x1 , · · · , xn ) ∈ H n \ U
temos f −1 (K) ⊂ U, e aj é diferenciável em H n .
Considere então Q ⊂ H n um paralelepı́pedo, definido por
x1j ≤ xj ≤ x0j , j = 1, · · · , n
e que contenha f −1 (K) em seu interior. Assim,
Z
Z
X
dω =
U
=
U
X
(−1)j−1
j
j
Z
∂aj
(−1)j−1
∂xj
!
dx1 · · · dxn =
[aj (x1 , · · · , xj−1 , x0j , xj+1 , · · · , xn )−
Q
cj · · · dxn = 0,
−aj (x1 , · · · , xj−1 , x1j , xj+1 , · · · , xn )]dx1 · · · dx
pois aj (x1 , · · · , x0j , · · · , xn ) = aj (x1 , · · · , x1j , · · · , xn ) = 0, para todo j = 1, , · · · , n. E
portanto,
Z
∗
Z
dω.
iω=
∂M
M
(ii).
Se porém, f (U ) ∩ ∂M 6= ∅, então a aplicação i pode ser escrita como
x = 0;
1
i=
x = x , se j 6= 1
j
j
e usando a orientação induzida em ∂M, temos
i∗ ω = a1 (0, x2 , · · · , xn )dx2 ∧ · · · ∧ dxn .
Estendendo novamente aj a H n , e considerando o paralelepı́pedo Q0 dado por
x11 ≤ x1 ≤ 0 ; x1j ≤ xj ≤ x0j , j = 1, · · · , n,
de forma que a união de Q0 com o hiperplano x1 = 0 contenha f −1 (K). Então,
Z
Z
n
X
∂aj
j−1
dω =
(−1)
dx1 · · · dxn =
0 ∂xj
M
Q
j=1
3.2 Teorema de Stokes
Z
=
[a1 (0, x2 , · · · , xn ) − a1 (x11 , x2 , · · · , xn )]dx2 · · · dxn +
58
Q0
+
n Z
X
j=2
Q0
cj · · · dxn .
[aj (x1 , · · · , x0j , · · · , xn ) − aj (a1 , · · · , a1j , · · · , xn )]dx1 · · · dx
E como aj (x1 , · · · , x0j , · · · , xn ) = aj (x1 , · · · , x1j , · · · , xn ) = 0,
para j = 2, · · · , n, e a1 (x11 , x2 , · · · , xn ) = 0, temos
Z
Z
Z
ω = a1 (0, x2 , · · · , xn )dx2 · · · dxn =
M
i∗ ω.
∂M
garantido a validade do teorema nestas condições.
(Caso 2). Suponha agora que K não esteja contido em alguma vizinhança coordenada.
Iremos utilizar da construção de uma partição diferenciável da unidade para a demonstração.
Seja {Vα } uma cobertura de M por vizinhanças coordenadas, compativeis com
a orientação em M. Tome ϕ1 , · · · , ϕm uma partição diferenciável da unidade subordinada
ao recobrimento {Vα }.
Observando que as formas ωj = ϕj ω, j = 1, · · · , m satisfazem as condições do
P
primeiro caso considerado (caso 1), e que j dϕj = 0, seguem,
X
ωj = ω e
j
X
dωj = dω.
j
E portanto,
Z
dω =
M
m Z
X
j=1
M
dωj =
m Z
X
j=1
∂M
∗
Z
i ωj =
∗
i
∂M
X
j
Z
ωj =
∂M
i∗ ω.
59
4 Conclusão e Estudos Posteriores
Neste trabalho vemos a generalização dos teoremas de Green e de Stokes para
variedades compactas orientáveis, o que nos forneceu uma visão mais ampla dos teoremas
fundamentais do cálculo. Percebe-se que este teorema fornece uma generalização até
mesmo para o teorema fundamental do cálculo em sua forma clássica, para funções de
uma variável em R.
Um prosseguimento natural desta monografia poderia ser feito estudando o
teorema de Stokes para aplicações em variedades com singularidades, o que não é feito
neste trabalho, pois observa-se grande aplicabilidade de tais resultados em muitas áreas,
tanto da matemática pura quanto da aplicada.
Resultados especı́ficos de análise em variedades também podem ser uma boa
forma de continuação do exposto. Conceitos como mergulho e imersão, que motivam
vários teoremas fundamentais para esse tipo de análise. Por exemplo, analisar sob quais
condições uma variedade diferenciável pode ser imersa em uma espaço euclidiano.
Uma extensão deste também poderá ser feita considerando aplicações dos teoremas apresentados, como por exemplo a interpretação do fluxo elétrico, envolvendo
integrais de superfı́cie, conhecida como Lei de Gauss, além de muitas outras intepretações
fı́sicas possı́veis.
Também seria possı́vel uma revisão do capı́tulo 1, incluindo a linguagem das
formas diferenciais, introduzidas somente no capı́tulo 2. Com elas poderia-se perceber com
mais clareza a relação intrı́nseca dos resultados do capı́tulo 1 com os da sessão 3.3. Tratamse os resultados do capı́tulo 1 de casos particulares da sessão 3.3, considerando superfı́cies
regulares como variedades diferefenciáveis de dimensão 2, e as formas ω = P dx + Qdy
como 1−formas no R3 .
60
5 Apêndice A - Diferenciabilidade
Definição 5.0.7. Uma função f : Rn → Rm é diferenciável em a ∈ Rn , se existe uma
transformação linear λ : Rn → Rm tal que
|f (a + h) − f (a) − λ(h)|
= 0.
h→0
|h|
lim
Teorema 5.0.6. Se f : Rn → Rm é diferenciável em a ∈ Rn existe uma única transformação linear λ : Rn → Rm tal que
|f (a + h) − f (a) − λ(h)|
= 0.
h→0
|h|
lim
Demonstração. Suponha que exista µ : Rn → Rm tal que
|f (a + h) − f (a) − µ(h)|
=0
h→0
|h|
lim
Chamando d(h) = f (a + h) − f (a), então
|λ(h) − d(h) + d(h) − µ(h)|
|λ(h) − µ(h)|
= lim
h→0
h→0
|h|
|h|
lim
≤ lim
h→0
|λ(h) − d(h)|
|d(h) − µ(h)|
+ lim
h→0
|h|
|h|
| − 1||f (a + h) − f (a) − λ(h)|
|f (a + h) − f (a) − µ(h)|
+ lim
=0
h→0
h→0
|h|
|h|
≤ lim
Observe que, para x ∈ Rn , t 7→ 0, então tx 7→ 0, logo, tomando x 6= 0 obtemos
|λ(tx) − µ(tx)|
|λ(x) − µ(x)|
=
,
t→0
|tx|
|x|
0 = lim
e então λ(x) = µ(x).
Definição 5.0.8. A transformação linear λ é chamada de diferencial de f em a, e é
denotada por dfa .
Observação 5.0.3. Assim como no caso das funções reais em R, diferenciabilidade implica
em continuidade para funções de várias variáveis. Entretanto a recı́proca não se verifica,
assim como para funções de uma variável.
Pelas definições apresentadas, podemos observar os seguintes resultados.
5 Apêndice A - Diferenciabilidade
61
Teorema 5.0.7. Se f : Rn → Rm é uma função constante, então dfa = 0. E se f é uma
transformação linear, então df = f.
Demonstração. Basta observar que
|f (a + h) − f (a) − 0|
|c − c|
= lim
= 0,
h→0
h→0
|a|
|h|
lim
onde c ∈ Rm é uma constante tal que f (x) = c para todo x ∈ Rn .
E para o segundo caso,
|f (a) + f (h) − f (a) − f (h)|
|f (a + h) − f (a) − f (h)|
= lim
=0
h→0
h→0
|h|
|h|
lim
Definição 5.0.9. Uma função f : Rn → Rm é dita diferenciável se é diferenciável em
todos os pontos do seu domı́nio.
Definição 5.0.10. Considere um aplicação f : Rn → Rm , a um ponto do Rn e v um
vetor em Rn . Definimos a derivada direcional de f na direção de v em a, como o vetor
f (a + hv) − f (a)
.
h→0
h
Dv f (a) = lim
O interesse especial das derivadas direcionais será quando v = ei , onde {ei ; i =
1, · · · , n} é a base canônica do Rn . E estas serão chamadas derivadas parciais de f.
Usaremos as seguintes notações equivalentes para as derivadas direcionais:
Dei f (a), Di f (a),
∂f
∂f (a),
.
∂xi
∂xi a
Dessa forma, sendo a = (a1 , · · · , an ), temos
∂f
f (a + hei ) − f (a)
f (a1 , · · · , ai + h, · · · , an ) − f (a1 , · · · , an )
(a) = lim
= lim
.
h→0
h→0
∂xi
h
h
E percebe-se que
∂f
(a)
∂xi
é o resultado da derivada de f em relação à variável xi , mantendo
as outras constantes.
Naturalmente, temos as derivadas parciais de segunda ordem,
∂
∂f
∂ 2f
=
, ou
∂xi ∂xi
∂x2i
∂f
∂ 2f
∂
=
.
∂xi ∂xj
∂xi ∂xj
5 Apêndice A - Diferenciabilidade
62
E de forma geral tem-se,
∂f
∂kf
∂
···
=
, e
∂xi
∂xi
∂xki
∂
∂f
∂kf
···
=
.
∂x1
∂xk
∂x1 · · · ∂xk
Os próximos dois teoremas desempenham importante papel no estudo das
funções difereciáveis, sendo suas consequências além dos assuntos tratados neste trabalho.
Tratam-se da regra da cadeia e do teorema da função inversa, que apenas enunciaremos,
pois os utilizamos em algumas justificativas no decorrer do texto.
Teorema 5.0.8. (Regra da Cadeia). Se f : Rn → Rm é diferenciável em a e g :
Rm → Rp é diferenciável em f (a) então a composta g ◦ f : Rn → Rp é diferenciável em
a, e
(g ◦ f )0 (a) = g 0 (f (a)) · f 0 (a).
Teorema 5.0.9. (Teorem da Função Inversa). Seja f : U ⊂ Rn → Rn uma
aplicação diferenciável, e suponha que em p ∈ U , a diferencial dfp : Rn → Rn é um
isomorfismo1 . Então existe uma vizinhança V de p em U e uma vizinhança W de f (p)
em Rn tal que f : V → W tem inversa diferenciável f −1 : W → V.
Podemos interpretar a diferencial de uma aplicação diferciável da seguinte
forma.
Definição 5.0.11. Seja f : U ⊂ Rn → Rm uma aplicação diferenciável. Associamos a
cada a ∈ U uma aplicação linear dfa : Rn → Rm (diferencial de f em a), e a definimos
como:
Sejam w ∈ Rn e α : (−ε, ε) → U uma curva diferenciável2 tal que α(0) = a e
α0 (0) = w. Pela regra da cadeia, a curva β = f ◦ α : (−ε, ε) → Rm é também diferenciável.
Então
dfa (w) = β 0 (0).
Observação 5.0.4. De fato, a definição dada para dfa não depende da escolha da curva
que passa por a com vetor tangente w. E a demontração pode ser vista em [2], p. 150.
Definição 5.0.12. A matriz de dfa : Rn → Rm nas bases canônicas de Rn e Rm , isto
∂fi
, i = 1, · · · , m e j = 1, · · · , n, é chamada a matriz jacobiana de f em
é, a matriz ∂x
j
1
2
Trata-se de uma transformação linear bijetora.
Ver definição (3.2.7).
5 Apêndice A - Diferenciabilidade
63
a. Quando m = n, a matriz é quadrada e o seu determinante é chamado o determinante
jacobiano, e é denotado por
det
∂fi
∂xj
=
∂(f1 , · · · , fn )
.
∂(x1 , · · · , xn )
64
6 Apêndice B - Topologia Elementar do Rn
Por ser um espaço vetorial, e possuir uma estrutura métrica induzida pelo
produto interno usual, o espaço Euclidiano Rn possui uma estrutura topológica que, dentre
outras coisas, nos permite definir certos tipos de conjuntos e estudar suas propriedades.
Definição 6.0.13. Sejam a, b pontos do Rn . Denotamos por d(a, b) ∈ R a distância
do ponto a ao ponto b. No nosso contexo usaremos a distância euclidiana dada por:
pPn
2
|a − b| =
i=1 (ai − bi ) , onde a = (a1 , ..., an ) e b = (b1 , ..., bn ).
Definição 6.0.14. Chamamos de bola aberta, bola fechada e esfera, de centro a ∈ Rn e
raio r ∈ R, respectivamente aos conjuntos
B(a, r) = {x ∈ Rn : d(x, a) < r};
B[a, r] = {x ∈ Rn : d(x, a) ≤ r};
S(a, r) = {x ∈ Rn : d(x, a) = r}.
Observação 6.0.5. Veja que a bola fechada é a união disjunta da bola aberta com a esfera,
isto é,
B[a, r] = B(a, r) ∪ S(a, r).
Definição 6.0.15. Uma topologia num conjunto U é uma coleção τ de partes de U ,
chamados de abertos da topologia, com as seguintes propriedades:
1. ∅ e U pertencem a τ ;
2. Se A1 , · · · , An ∈ τ então A1 ∩ · · · ∩ An ∈ τ ;
3. Dada uma famı́lia arbitrária (Aλ )λ∈L com Aλ ∈ τ para cada λ ∈ L, tem-se
S
λ∈L
Aλ ∈
τ.
Diremos então que um espaço topológico é um par (U, τ ), onde U é um conjunto
e τ é uma topologia em X. Entretanto, usaremos na maioria das vezes apenas o termo
espaço topológico, ficando subentendido a topologia τ. Ressaltamos ainda que apesar da
definição pertencer a um contexto mais geral da topologia, nosso interesse neste trabalho
se restringe aos espaços topológicos euclidianos.
6 Apêndice B - Topologia Elementar do Rn
65
Definição 6.0.16. Um subconjunto A ⊂ Rn é dito aberto se para todo ponto a ∈ A
existe um raio r > 0 tal que B(a, r) ⊂ A.
Definição 6.0.17. Um ponto a ∈ A ⊂ Rn é um ponto de acumulação de A se toda
visinhança de a em Rn contém um ponto de A distinto de a, isto é,
A ∩ B(x, r) \ {x} =
6 ∅, ∀r > 0.
Observação 6.0.6. Também chamamos um ponto de acumulação de um conjunto de ponto
aderente. E sendo A ⊂ Rn , denotaremos por A o conjunto de todos os pontos x ∈ Rn ,
tais que x é ponto aderente em A.
Definição 6.0.18. Um conjunto A ⊂ Rn é fechado se todo ponto de acumulação de A
pertence a A. Equivalentemente, podemos dizer que A ⊂ Rn é fechado se toda sequência
convergente (an )n∈N de pontos distintos de A possui limite em A, ou seja, a sequência
converge para um ponto pertencente ao conjunto A.
Teorema 6.0.10. A ⊂ Rn é fechado se, e somente se,seu complementar Rn \ A é aberto.
Demonstração. Suponha que A seja fechado, e seja p ∈ Rn \ A. Como p não é ponto de
acumlação de A, existe r > 0 tal que B(p, r) não contém pontos de A, isto é B(p, r) ⊂
Rn \ A, logo Rn \ A é aberto.
Reciprocamente, suponha que Rn \ A seja aberto e que p seja um ponto de
acumulação de A. Provaremos então que p ∈ A.
Suponha que p 6∈ A, então existe r > 0 tal que B(p, r) ⊂ Rn \A. Isto implica em
B(p, r) não conter pontos de A, contrariando a hipótese de p ser um ponto de acumulação.
Segue que p ∈ A.
Até agora definimos e observamos algumas caracterı́sticas de conjuntos abertos
e fechados em Rn , como por exemplo um intervalo aberto, ou mais geral, uma bola aberta
em Rn são exemplos de conjuntos abertos, e ainda um intervalo fechado ou, analogamente,
uma bola fechada são alguns exemplos de conjuntos fechados em Rn .
Mas em um contexto mais amplo da topologia, a caracterização de conjuntos
não se restringe simplesmente em abertos ou fechados como, pois podem existir conjuntos
que não sejam abertos nem fechados, como por exemplo o conjunto Q do números racionais
como subconjunto de R, ou ainda conjuntos que sejam caracterizados abertos e fechados,
simultaneamente.
6 Apêndice B - Topologia Elementar do Rn
66
Observação 6.0.7. Em Rn , os únicos conjuntos que são abertos e fechados, sumultaneamente, é o conjunto vazio ∅ e o próprio Rn .
Teorema 6.0.11. A função f : Rn → Rm é contı́nua se, e somente se, para qualquer
conjunto aberto U ⊂ Rm , a imagem inversa f −1 (U ) é aberta em Rn .
Demonstração. Observe que o conjunto f −1 (U ) é expresso por
f −1 (U ) = {x ∈ Rn : f (x) ∈ U }.
Suponha que f é contı́nua. Se U ⊂ Rn é eberto, e a ∈ f −1 (U ), então existe ε > 0 tal que
B(f (a), ε) ⊂ U . Como f é contı́nua, existe δ > 0 tal que f (B(a, δ)) ⊂ B(f (a), ε) ⊂ U.
Como B(a, δ) ⊂ f −1 (U ), então segue que f −1 (U ) é aberto.
Suponha agora que f −1 (U ) é aberto para todo connjunto aberto U ⊂ Rm . Seja
a ∈ U e ε > 0. Então A = f −1 (B(f (a), ε)) é aberto. Assim, esxiste um δ > 0 tal que
B(a, δ) ⊂ A. Portanto, f (B(p, δ)) ⊂ f (A) ⊂ B(f (a), ε), e f é contı́nua em a.
Corolário 6.0.1. A função f : Rn → Rm é contı́nua se, e somente se, para qualquer
subconjunto fechado U ⊂ Rm a imagem inversa f −1 (U ) ⊂ Rn é subconjunto fechado.
Definição 6.0.19. Um conjunto A ⊂ Rn é dito compacto se, e somente se, todo subconjunto infinito B de A possui um ponto de acumulação em B. Essa afirmação é equivalente
a dizer que toda sequência de pontos em A possui uma subsequência que converge para
um ponto de A.
Como exemplo de subconjuntos que não são compactos em Rn , podemos citar
o subconjunto R, pois Z ⊂ R é infinito e não possui subsequência convergente.
Outro exemplo de conjunto não compacto é o intervalo aberto (0, 1) ⊂ R,pois
a sequência { n1 : n ∈ N} é um subconjunto infinito de (0, 1) que não possui subsequência
convergente porque { n1 : n ∈ N} possui apenas um ponto de acumulação, a saber o zero,
que não pertece ao conjunto.
De forma natural, podemos generalizar o exemplo acima e afirmar que bolas
abertas em Rn não são conjuntos compactos1 .
Se um conjunto A contido em Rn é finito, então automaticamente A é compacto
pois, pela nossa definição, para mostarmos que A não é compacto terı́amos que exibir um
1
Ver demonstração em [7].
6 Apêndice B - Topologia Elementar do Rn
67
subconjunto infinito que não possuı́sse sequência convergente dentro do próprio conjunto,
mas isso é impossı́vel uma vez que A é finito.
Definição 6.0.20. Um subconjunto A ⊂ Rn é limitado se ele está contido em bola do
Rn .
Definição 6.0.21. Uma cobertura aberta de um conjunto A ⊂ Rn é uma famı́lia de
S
conjuntos abertos {Uα }, α ∈ I tal que α Uα = A. Quando há apenas um número finito
na famı́lia, dizemos que a cobertura é finita. Se a subfamı́lia {Uβ }, β ∈ I 0 ⊂ I, ainda
S
cobre A, isto é, β Uβ = A, dizemos que {Uβ } é uma subcobertura de {Uα }.
Teorema 6.0.12. Para um conjunto K ⊂ Rn as seguintes afirmações são equivalentes:
1. K é compacto.
2. (Heine - Borel). Toda cobertura de K tem uma subcobertura finita.
3. (Bolzano - Weierstrass). Todo subconjunto infinito de K tem um ponto de
acumulação em K.
Demonstração. Mostraremos as implpicações (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (1).
(1) ⇒ (2) : Seja {Uα }, α ∈ A, uma cobertura de aberta do compacto K, e suponha que
{Uα } não tenha subcobertura finita.
Como K é compacto, ele está contido em uma região retangular
B = {(x1 , · · · , xn ) ∈ Rn | aj ≤ xj ≤ bj , j = 1, · · · , n}.
Então dividimos B pelos hiperplanos2 xj =
aj +bj
.
2
E obtemos assim 2n retângulos fechados
menores. Por hipótese, pelo menos uma das regiões retangulares menores, digamos B1 ,
é tal que B1 ∩ K não é coberta por um número finito de conjuntos abertos de {Uα }.
Dividimos agora B1 de forma análoga e, repetindo este processo, obtemos uma sequência
de regiões retangulares fechadas
B1 ⊃ B2 ⊃ · · · ⊃ Bi ⊃ · · ·
tal que nenhum Bi ∩ K é coberto por um número finito de conjuntos abertos de {Uα } e
o comprimento do maior lado de Bi converge para zero.
2
Em suma estamos subdividindo B em retângulos menores, por exemplo, se K ⊂ R2 , então ultilizando
este método iremos dividir K em 22 retângulos.
6 Apêndice B - Topologia Elementar do Rn
68
Afirmamos que existe p ∈ ∩i Bi . De fato, projetando cada Bi sobre o eixo j de
Rn , j = 1, · · · , n, obtemos uma sequência de intervalos fechados
[aj1 , bj1 ] ⊃ [aj2 , bj2 ] ⊃ · · · ⊃ [aji , bji ] ⊃ · · ·
Como (bji , aji ) é arbitrariamnente pequeno, vemos que aj = sup{aji } = inf{bji } = bj ,
donde aj ∈ ∩i [aji , bji ]. Assim, p = (a1 , · · · , an ) ∈ ∩i Bi , como afirmamos.
Observe que qualquer vizinhança de p contém algum Bi , para i suficientemente grande, logo, ela contém um infinidade de pontos de K. Assim, p é um ponto de
acumulação de K, e como K é fechado, p ∈ K.
Seja U0 um elemento da famı́lia {Uα } que contém p, como U0 é aberto, existe
uma bola B(p, ε) ⊂ U0 . Por outro lado, para i suficientemente grande, Bi ⊂ B(p, ε) ⊂ U0 ,
contrariando o fato de que nenhum Bi ∩ K pode ser coberto por um número finito de
elementos de {Uα }, e portanto temos que K possui uma subcobertura finita.
(2) ⇒ (3) : Suponha que A é um subconjunto infinito de K, e que nenhum ponto de K é
um ponto de acumulação de A. Então é possı́vel, para cada p ∈ K, p 6∈ A, escolher uma
vizinhança3 Vp de p tal que Vp ∩ A 6= ∅, e para cada q ∈ A escolher uma vizinhança Wq de
q tal que Wq ∩A = q. Assim, a famı́lia {Vp , Wq }, p ∈ K \A, q ∈ A, é uma cobertura aberta
de K. Como A é infinito e a omissão de qualquer Wq da famı́lia deixa o ponto q sescoberto,
a famı́lia {Vp , Wq } não tem uma subcobertura finita, e isso contradiz a afirmação (2).
(3) ⇒ (1) : De fato K é fechado, pois se p é um ponto de acumulação de K, tomando
bolas concêntricas B(p, 1i ) = Bi , obtemos uma sequência
p1 ∈ B1 − B2 , p2 ∈ B2 − B3 , · · · , pi ∈ Bi − Bi+1 · · ·
E essa sequência p como ponto de acumulação, e logo p ∈ K.
Corolário 6.0.2. Todo subconjunto A ⊂ Rn é compacto se, e somente se é fechado e
limitado.
Corolário 6.0.3. Todo subconjunto fechado de um conjunto compacto em Rn é compacto
Teorema 6.0.13. Se A é um subconjunto compacto de Rm e B é um subconjunto compacto
de Rn , então A × B é um subconjunto compacto de Rm+n .
3
Trata-se de uma bola aberta com centro em p.
6 Apêndice B - Topologia Elementar do Rn
69
Demonstração. Tome uma sequência (c1 )i∈N = (ai , bi )i∈N de pontos de A × B. Como
A é compacto, a sequência (ai )i∈N possui uma subsequência (aij )j∈N que converge para
um ponto a ∈ A. Analogamente, como B é compacto, a sequência (bi )i∈N possui uma
subsequência (bij )j∈N que converge para um ponto b ∈ B. Basta então pbservar que a
sequência (aij , bij )j∈N é uma subsequência da sequência (ai , bi )i∈N que converge para o
ponto (a, b) ∈ A × B.
Lema 6.0.1. Seja f : Rn → Rm uma função contı́nua em a ∈ Rn . Se (ai )i∈N é uma
sequência que converge para a, então a sequência (f (ai ))i∈N converge para o ponto f (a).
Teorema 6.0.14. Se A é um subconjunto compacto de Rn , e f : Rn → Rm é contı́nua,
então f (A) ⊂ Rm é compacto.
Demonstração. Se f (A) é finito não há o que provar. Suponha então que f (A) não seja
finito e tome um subconjunto infinito T ⊂ f (A). Temos que provar que T contém uma
sequência de pontos que converge para um pono em f (A). Para tanto, tome o conjunto
infinito S = f −1 (A) de pontos de A, e como, por hipótese, A é compacto, S contém uma
sequência (ai )i∈N que converge para um ponto a em A. Como f é contı́nua, pelo lema
anterior temos que (f (ai ))i∈N −→ f (a) e o resultado está provado.
Teorema 6.0.15. De D é um subconjunto compacto de Rn e f : D → R é uma função
contı́nua, então f atinge valor máximo e mı́nimo em pontos de D, isto é, existe pontos a
e b em D tais que f (a) ≤ f (x) ≤ f (a) para todo x ∈ D.
Demonstração. Faremos a demonstração somente para o valor máximo, pois para o valor
mı́nimo o argumento é similar.
Pelo teorema anterior sabemos que f (D) é um subconjunto compacto de R, isto é, f (D)
é fechado e limitado, e assimm existe sup f (D) = b tal que t ≤ b ∀t ∈ f (D). Queremos
provar que b ∈ f (D). Para isso observe que, para todo n ∈ N, existe um ponto tn ∈ f (D)
com b −
1
n
< tn < b. Mas então a sequência (tn )n∈N −→ b e o ponto b é um ponto
de acumulação de f (D) logo, pela compacidade de f (D), b ∈ f (D) e o teorema está
provado.
Definição 6.0.22. Um espaço topológico U é dito de Hausdorff se, para quaisquer dois
ponto distintos p, q ∈ U, existem abertos A1 , A2 , com p ∈ A1 e q ∈ A2 tais que A1 ∩A2 = ∅.
Definição 6.0.23. Uma coleção B de abertos de um espaço topológico U chama-se uma
base quando todo aberto A ⊂ U se exprime como reunião de conjuntos Bα ∈ B, isto é,
6 Apêndice B - Topologia Elementar do Rn
70
S
A = α Bα . Equivalentemente, dados arbitrariamente A aberto, e p ∈ A, então existe
B ∈ B tal que p ∈ B ⊂ A.
Definição 6.0.24. Dizemos que um espaço topológico U possui base enumerável, quando
existe uma coleção enumerável B = {B1 . · · · , Bn , · · · } de abertos em U tais que, todo
aberto em U é a reunião de conjuntos Bα .
Referências Bibliográficas
[1] APOSTOL, T., Calculus. vol. II. 2a ed. New York: Jhon Wiley, 1969.
[2] DO CARMO, M. P., Geometria Diferencial de Curvas e Superfı́cies. 3a ed.
Rio de Janeiro: SBM, 2008.
[3] DO CARMO, M. P., Differential Forms and Applications. 1a ed. Germany:
Springer - Verlag, 1994.
[4] EDUARDS Jr., C. H. Advanced Calculus of Several Variables. 1a ed. New York:
Dover, 1994.
[5] KOSTRIKIN, A. I.; MANIN, Y. I. Linear Algebra and Geometry. New York:
Gordon and Breach, 1981.
[6] LIMA, E. L. Álgebra Exterior. 1a ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2009.
[7] LIMA, E. L., Elementos de Topologia Geral. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico,
1970.
[8] LIMA, E. L. Espaços Métricos. 4a ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2009.
[9] MARDSEN, J. E.; R, T.; ABRAHAM, R., Manifolds, Tensor Alalysis and Applications. 3a Ed. New York: Springer - Verlag, 2001.
[10] PINTO, D; MORGADO, M. C. F. Cálculo Diferencial e Integral de Funções
de Várias Variáveis. 3a ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008.
[11] SPIVAK, M. Calculus on Manifolds. Massachusetts: Addison - Wesley, 1965.
Índice Remissivo
difeomorfismo, 49
aplicação multilinear, 31
local, 49
base, 69
diferencial, 60
enumerável, 70
diferencial exterior, 43
bola
distância euclidiana, 64
aberta, 64
esfera, 64
fechada, 64
espaço
campo vetorial, 10, 11, 37
de Hausdorff, 69
conservativo, 14
tangente, 37, 39, 48
diferenciável, 37
topológico, 64
divergente, 28
estrutura diferenciável, 46
rotacional, 26
fórmula, 11
unitário, 22
cobertura aberta, 67
comprimento de arco, 11, 12
conjunto
mudança de variáveis, 52
aberto, 65
famı́lia, 46
compacto, 66
fluxo, 23
domı́nio, 17
força, 9, 10
fechado, 65
forma diferencial, 40
limitado, 67
de grau 0, 41
simplesmente conexo, 17
em variedade, 50
curva, 10
de grau 2, 39
forma exterior, 40
diferenciável, 47, 62
fechada, 11
de grau 1, 38
parametrizada, 10
de grau 2, 39
em uma varirdade, 49
derivada
representação local, 50
direcional, 61
fronteira
parcial, 61
região, 15
determinante
função
jacobiano, 24
contı́nua, 66
72
ÍNDICE REMISSIVO
diferenciável, 60
escalar, 11
potencial, 14
homeomorfismo, 46
integral
de linha, 11
de superfı́cie, 21
forma diferencial, 51
73
regra da cadeia, 62
semi - espaço, 54
sistema de coordenadas, 46
superfı́cie
área, 21
bordo, 26
elemento de área, 22
orientada, 22
orientada positivamente, 28
k-tensor, 31
alternado, 34
parametrização
equivalente, 12, 24
orientação, 12
partição da unidade, 53
subordinada, 53
regular, 20, 46
representação explı́cita, 19
representação implı́cita, 19
representação paramétrica, 19
suporte, 51
teorema
Bolzano - Weierstrass, 67
partição regular, 9
da função inversa, 62
permutação, 32
de Gauss, 28
representação, 33
de Green, 16
sinal, 33
de Stokes, 26, 56
plano tangente, 20
fundamental do cálculo, 14
ponto
Heine - Borel, 67
aderente, 65
topologia, 64
de acumulação, 65
trabalho, 9, 10
de fronteira, 54
transposição, 33
produto exterior, 35, 41
produto tensorial, 31
de ordem superior, 37
variedade
com fronteira, 54
compacta, 47
região
diferenciável, 46
de tipo I, 15
fronteira, 55
de tipo II, 15
orientável, 50
simples, 15
vetor tangente, 20
ÍNDICE REMISSIVO
vizinhança coordenada, 46
74
Download