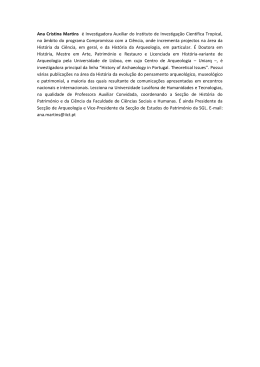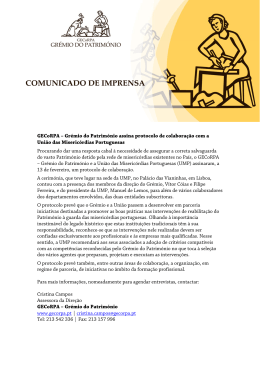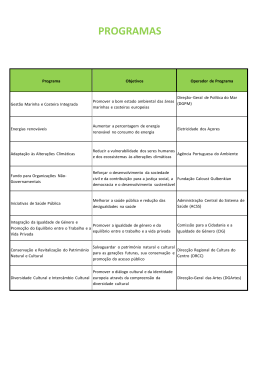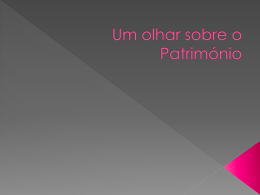Arqueologia Pré-Histórica: entre a Cultura Material e o Património Intangível1 LUIZ OOSTERBEEK Resumo: Em torno das noções e conceitos de arqueologia, património, identidade e cultura, é discutido o papel da memória na permanente reconstrução de passados, traçando um paralelo com os mecanismos reguladores das funções cognitivas e revendo a construção do património e a sua função na sociedade contemporânea. Defende-se que, numa abordagem memorial que valoriza de forma crescente a dimensão imaterial do património, a pré-história se situa no campo ideal da interpenetração das dimensões material e imaterial. Palavras-chave: Arqueologia; Pré-História; Património; Identidade; Memória Abstract: Around the notions and concepts of archaeology, heritage, identity and culture, the role of memory in a permanent reassessment of the past is discussed, suggesting a parallel with mechanisms that regulate cognitive functions and reviewing the construction of heritage and its role in contemporary society. Within a memorial approach that increasingly stresses the immaterial dimension of heritage, prehistory is the best field for the integration of both its material and immaterial dimensions. Key-words: Archaeology; Prehistory; Heritage, Identity; Memory A construção da identidade pela memória O esquecimento é a principal faculdade da memória. Virgílio Ferreira2 Uma das imagens fortes que marcaram a minha retina, resulta de uma visita aos Sete Povos, em especial a S. Miguel das Missões (Fig.1), onde se ergue essa extraordinária catedral barroca e onde se acolhem obras de arte lusíada, gravadas na madeira pelas mãos de guaranis. Não foram, porém, essas obras maiores do engenho humano que me tocaram mais fundo e sim os olhos das crianças guaranis...olhos onde não vi orgulho nem esperança. 1 2 Inicialmente publicado em “Cadernos do LEPAARQ”, Pelotas, Brasil Memória das lições que me deu, quando estudava no Ensino Secundário. “Crianças de olhos vazios”, lembro-me de escrever à minha Mulher nessa ocasião. Essa falta de luz estamos, infelizmente, habituados a encontrá-la nos mais velhos, às vezes mesmo em adolescentes, já desiludidos ou resignados, já alienados. Mas não nas crianças. Essa ausência de luz nos anos menores é ainda mais impressionante que a luz que às vezes vemos brilhar nos olhos de alguns velhos. Reencontrei-a, por exemplo, nos olhos de uma velha, na Tunísia (Fig.2). O que é essa “luz”? É uma emoção, um “estado de alma”, que se recorta com a capacidade de se sentir parte de um percurso com coerência, parte de uma história. E nos olhos dos meninos de S. Miguel, a luz que faltava não era a das brincadeiras ou a da comida ao fim do dia: não, eles não aparentavam nem fome nem falta de afectos. Mas pareciam deslocados: nem Índios nem Europeus, desapossados das suas terras, mas sobretudo das suas memórias, descendentes de gerações que ficaram entaladas nas lutas que travaram entre si, primeiro como conquistadores, depois como braços armados de conflitos entre Jesuítas, Espanhóis ou Portugueses. Num instante, a materialidade da imponente Igreja barroca revelou-se-me, na sua complexidade cultural, pelo olhar daquelas crianças. Faltava-lhes uma memória própria, não meramente turística. Faltava-lhes uma identidade exclusiva com aquelas ruínas, que apesar das aparências não eram, nem nunca foram, suas. É mesmo provável que não tivessem consciência dessas “faltas”. Mas senti-as eu. Dizem os manuais que o turista é o que interage com os residentes, por oposição ao excursionista, que passa por eles como mero cenário. Nessa minha ida a S. Miguel faltaram-me os residentes, pois os que lá estavam tanto podiam estar ali como noutro local qualquer. Estavam lá, mas aquele não era o seu “lar”. Noutras viagens, sobretudo no Rio Grande do Sul, mas também em S.Paulo e no Rio, conversando com amigos e colegas, visitando cerritos ou a Vila Maciel, fui verificando que a noção de cultura arqueológica (e sublinho noção e não conceito), no Brasil, é muito diversa da que predomina no espaço europeu. Aqui fala-se em tradições, conceito a que comecei por resistir, por o não entender, para finalmente a ele me render (Fig.3). Devo, por isso, a S. Miguel das Missões, e ao Brasil, os primeiros passos de uma reflexão sobre as relações cognitivas entre os vestígios arqueológicos e o seu envolvimento cultural actual, que agora procurarei resumir nestas páginas. O conceito de Património Cultural remete, antes de outra coisa, para o de propriedade. É património algo a que atribuímos um valor e com o qual estabelecemos uma relação de apropriação. O valor do Património é hoje, de forma crescente, uma forma de capital fixo, aquilo a que chamamos, por vezes, recurso infra-estrutural (Fig.4). Tal se deve ao facto de funcionarmos numa sociedade em que predomina a apropriação privada dos bens materiais, associada ao desenvolvimento do Turismo. Mas, antes dessa dimensão, inegavelmente importante, existe uma outra, de natureza imaterial. O Património Cultural é hoje um valor de uso a que recorremos, como aliás já o faziam os nossos antepassados, para nos posicionarmos no fio do Tempo. Dito de outra forma, o Património Cultural é o conjunto de realidades, materiais e imateriais, cuja gestação nos precedeu, e que constitui uma espécie de mapa orientador sobre o qual nos situamos (Fig.5). Definimo-nos, em grande medida, pela posição que ocupamos face a esse Património, pela relação que estabelecemos, ou não, com ele. E, neste jogo, é mais importante a dimensão imaterial: quanto mais exclusivamente material é a relevância desse Património para nós, menos ele nos influencia. É por isso que as ruínas de S.Miguel das Missões não têm a mesma “ressonância” para um Cristão, para um Muçulmano ou para um Ateu. Diz-nos António DAMÁSIO (2001), que na construção da inteligência começamos por estruturar um conjunto de emoções, uma “narrativa sem palavras” ancorada em relações de natureza sensório-motora, que nos conduzem progresivamente à construção do que ele chamou de “eu-autobiográfico”, ou seja, da nossa identidade. O Património Cultural tem essa faculdade de despertar emoções (estéticas ou outras), que nos ajudam a construir a nossa identidade, a nível individual ou colectivo. Perante uma realidade que reconheço como “Património Cultural” (e esta já é uma segregação cultural), posso reconhecer-me herdeiro dela, admirá-la como expressão de uma outra cultura que nada tem a ver com a minha, valorizá-la como de interesse maior ou menor, etc. As “peças” de que se compõe o universo do Património Cultural constituem um complexo de sinais, que vou situando no meu mapa cultural interior, umas de forma mais próxima de mim, outras de forma mais distante, numa rede que não é estável e que se modifica, por vezes de forma impressionante, ao longo da vida. É o que ocorre, por exemplo, quando verificamos que certas músicas que nos animavam aos 15 anos se tornam insuportáveis dois ou três anos depois; não foram as melodias e ritmos que mudaram, foi o seu lugar no nosso mapa do Património, foi a sua relevância para a nossa identidade. O Património Cultural é, assim, a âncora fundamental da identidade, mas é uma âncora flexível e em permanente reconstrução (Fig.6). O passado não é algo de imutável, algo a que podemos tentar aceder como quem vai virando as páginas de um livro, uma após a outra. O Passado de cada um de nós é um legitimador do Presente. Por isso, quando sofremos um grande abalo na nossa vida (a perda de alguém muito próximo, uma separação, ou outra situação análoga), começamos por nos “desorientar”, pela contradição entre um passado/património que legitimava a relação que se perdeu, e um novo presente em que ela já não existe. Essa desorientação conduz à depressão, da qual se sai construindo um novo passado, que legitime o novo presente. O Passado é, assim, um “saco” de informações, de sinais, que desencadeiam emoções, as quais, por sua vez, estruturam o nosso quotidiano. Informações que guardamos, dispersas, nesse universo nebuloso que é o Património Cultural, onde elas não existem na sua totalidade material, mas apenas decompostas, de insuspeitas formas. Processo idêntico parece existir na organização das informações no nosso cérebro (DAMÁSIO, 2003). Não existe, na nossa mente, um local onde se encontre armazenada a imagem da Gioconda, ou a percepção da cidade neolítica de Jericó, ou sequer, como gostaria Platão, a ideia de Pirâmide. Tal como sucede com as páginas virtuais geradas por motores de busca num computador, todas as imagens ou ideias só existem quando pensadas, ou seja, quando se desencadeia um processo de relação entre diferentes estímulos, que as constrói. Neste sentido, poderá dizer-se que não há, no plano do conhecimento, Passado; apenas Presente, incluindo o presente em que, a cada momento, se gera o passado. A memória é o mecanismo de permanente (re)organização do passado. É ela que coloca os “vestígios do passado” em relação uns com os outros, conferindo-lhes sentido. Dito de outra forma, é ela que, jogando com um conjunto de elementos materiais isolados (que podem ser impulsos eléctricos ou unidades de matéria, mas que, no plano colectivo, são também ruínas, sepulturas, pontes ou palácios), constrói uma dimensão coerente, a que damos o nome de Passado, ou de Património Cultural, o qual é, em última análise, de natureza imaterial. Nas sociedades menos complexas, a coerência destes estímulos é estruturada a partir de quadros de referência transmitidos por via oral, que tendem a ser estruturalmente binários (uma relação mais complexa é de mais difícil transmissão em sociedades sem escrita) mas, igualmente, muito complexos na sua génese e evolução (dado que, na ausência de uma materialização do sistema de regras de transformação que constitui a escrita, são permeáveis a maiores flutuações). Estas sociedades funcionam em sequências de oposições (LÉVISTRAUSS, 1976), construindo um sistema em que o núcleo invariante é o Mito fundador (geralmente uma história associada a um cruzamento de elementos sensorialmente apreendidos, como a água, a terra, o fogo e o ar), que se perpetua através de ritos que procuram fixá-lo, mas que admitem ritmos diversos e, por isso, variações no quadro cultural. O Mito funda a identidade do grupo, agregando essa dimensão ao “sentimento de si” de cada um dos seus elementos. Esta estrutura dual (Fig.7) é a que dominou a quase totalidade da História da nossa espécie, e que continua a ser preponderante na maior parte do planeta (o Yin e Yang). Apenas na bacia mediterrânica primeiro, e, por globalização do sistema Euro-Mediterrânico depois, se foi gerando uma estrutura ternária, que na dialéctica se exprime na noção de síntese. Mas, antes de avançarmos mais, convém sublinhar que, mesmo no mundo Euro-Mediterrânico-Atlântico, a estrutura antitética é dominante entre a população. O maniqueísmo, por exemplo, é uma das suas expressões. Mas a descoberta da escrita, com o que ela possibilitou de fixação de um corpus muito mais complexo de elementos invariantes, veio dar uma nova dimensão ao Mito fundador, e permitiu (embora o não impusesse) sair para fora de uma lógica binária, e aceitar não apenas a complementaridade entre dois elementos opostos, mas a geração de um terceiro diverso, a partir deles. O Cristianismo consolidaria esta visão nova do mundo, que ao introduzir a dimensão da génese (dois geram um terceiro), criou a noção de tempo (progressivamente mais homogéneo, contínuo e irreversível) e, com ela, de passado material. O Património Cultural é o sub-produto deste processo, e nasce com o Renascimento (após episódicas experiências de coeccionismo desde as primeiras Civilizações Pré-Clássicas), precisamente quando as modernas noções de tempo, de espaço e de causalidade se consolidam. Na Modernidade, o Património Cultural retoma o papel do Mito na construção da identidade colectiva. Ele materializa um certo passado, ora nacionalista ora, como hoje se pretende, mais unificador e ecuménico, mas sempre estranho a sociedades ou segmentos sociais cuja visão do mundo permaneça dual. Porque o Património Cultural só o é na sua dimensão imaterial, e nesta só pode ser reconhecido como Património se for relativizado (ou seja, laicizado). A destruição dos Budas de Bamiyan é, por seu lado, uma consequência lógica de um quadro mental binário, que exclui a noção de Património Cultural. A noção de Património Cultural, como “outro lugar” que foge à lógica antitética, permite preservar testemunhos e dissolver conflitos (OOSTERBEEK, 2000). Numa sociedade em que o Património ocupa o lugar do Mito, o Rito (revisitação encenada do Mito) é materializado na visitação e “usufruto” desse Património (Fig.8). Isto significa que, tal como no Mito, as suas componentes não ritualizadas se perdem (por esquecimento), também com o Património Cultural, as suas expressões retiradas do quotidiano da população excluem-nas da formação das respectivas identidades e, dessa forma, perdem qualquer valor de uso. As gravuras rupestres ou as cidades da Amazónia que ainda não foram descobertas, e também as ruínas abandonadas ou, pior ainda, as colecções esquecidas de museus ou os monumentos tornados inacessíveis ao Público, não incorporam, ou tendem a deixar de incorporar o processo de construção da identidade. “Esquecidas” ou ignoradas, essas expressões materiais não são Património Cultural, pois não são verdadeiramente apropriadas e tornam-se, assim, redundantes. A Humanidade sobreviveu bem, milhões de anos, sem Património Cultural. E pode continuar a fazê-lo. É apenas a forma cultural Euro-Mediterrânica-Atlântica, que na sua globalização crescente requer no entanto a preservação da diversidade, que precisa desse Património. A ironia da evolução histórica é a de que é a globalização dessa expressão cultural que, muitas vezes, não apenas reduz a diversidade cultural global, mas tende a reduzir a sua própria diversidade interna, o que, a concretizar-se, anularia a possibilidade de perpetuação dessa mesma forma cultural, e um novo domínio do binarismo. O Património Cultural é, assim, o meio de construção da identidade colectiva pela memória, por oposição à construção da identidade colectiva pelo Mito, que impera na lógica binária. Neste sentido, podemos dizer que o Património Cultural é a base da memória colectiva da Humanidade, que integra vestígios materiais (sendo estes os mais perenes) e imateriais (sendo estes os conjunturalmente mais relevantes), e que remete para as culturas passadas reinterpretando-as à luz da actualidade (OOSTERBEEK, 2001). Ele oferece-se como uma leitura perspectivista do Passado, que se não confunde com as Artes (que oferecem uma leitura prospectivista do presente, antes de os seus produtos se converterem, eles próprios, em Património cultural). A construção do Património O património imaterial reporta-se, obviamente, às culturas da oralidade ou à tradição oral nas culturas escritas, pois se tivesse sido escrito tornar-se-ia tangível. Jack Goody (2004, p. 91) Na construção do Património, as fontes orais são a primeira matéria-prima. Numa primeira reflexão, poderia pensar-se que são os vestígios materiais, as ruínas, os objectos, que são determinantes na construção do Património. No entanto assim não é. Começamos a construir o mapa do Património por “ouvir” e “ouvir dizer”. Canções e histórias, eco distante dos ritos primitivos, são instrumentos essenciais na construção da componente social da nossa identidade (Fig.9). É por elas que nos acercamos do património material, que se nos revela, num primeiro momento, como cenário dessas histórias. As ruínas são lugares de vivências ou, melhor dizendo, de histórias de vivências. Os artefactos são produtos finais de gestos, de comportamentos. O Património material, arquitectónico e arqueológico, começa assim por ser gerado pela oralidade –“E disse Deus: Haja luz; e houve luz”, Gen.1,1. A primeira forma de Património material é, por isso, a literatura (ler o que foi lido). E, para além da oralidade, o património vaise construindo em torno dos sentidos fundamentais. Nele ocupam lugar de destaque, desde cedo, as materialidades que contêm, de forma mais evidente, uma expressão imaterial: a Música (ouvir o que foi ouvido), as Fotografias e representações naturalistas (ver o que foi visto), a Gastronomia (saborear o que foi saboreado), o Património construído (tocar o que foi tocado). Num plano mais complexo, e também de acesso mais restrito, o Património é então construído por documentos interpretativos (corografias, monografias, mapas, etc.). Nesta complexa rede de fontes construtoras do Património Cultural, este vai-se afirmando na dupla recusa da miopia e do esquecimento. Recusa do esquecimento, que consiste em não o incorporar no processo de construção da identidade presente, dissolvendo-a em quadros culturais globais simplificados. Mas recusa, também, da miopia que consiste em não perceber que o património Cultural não o é em si, mas apenas no quadro de uma relação de usufruto pela sociedade e como parte integrante do território. Porém, a construção do Património, garante da diversidade cultural, faz-se igualmente na afirmação, dialéctica, da diversidade fragmentária, formal mas também essencial, de vários patrimónios (Fig.10). Nascido de uma cultura não binária, ele é percepcionado, inúmeras vezes, em sequências de oposições: • Património Arqueológico (subterrâneo, fora do campo visual) e Arquitectónico (aéreo, integrado no horizonte); • Património Móvel (que envolvemos) e Imóvel (que nos envolve); • Património Identitário (Etnográfico) e Património não Identitário (Artístico); • Património Imaterial (frágil) e Património material (perene); • Paisagens (percepções) e sítios (sensações). Na verdade, a percepção que temos dos vestígios patrimoniais tende a ser binária, é apenas na passagem da percepção para a construção do conceito que se introduz a dimensão genética, que gera uma outra dimensão, pela combinação das oposições anteriores. O conceito de Património Cultural é, assim, uma construção cultural que resolve as contradições integrando-as, e definindo desta forma um quadro global coerente (supera as contradições), flexível (permite num mesmo momento que segmentos diversos da sociedade privilegiem elementos diversos de um mesmo corpus patrimonial) e dinâmico (vai-se modificando por adição e subtracção de elementos, mas sobretudo por alteração de significados). Neste sentido, o Património Cultural é estruturante na transformação dos territórios (enquanto espaços físicos) em paisagens (enquanto territórios percepcionados). De alguma forma, o Património Cultural é o território “visto de dentro”, valorizando a componente humana na definição de fronteiras económicas (território de captação), sociais (território de poder) e culturais (paisagem), e de lugares (de pertença). Construído a partir da oralidade e dominando, na sua dimensão imaterial, o território, o Património Cultural foi, no entanto, sobretudo reconhecido na sua expressão material (BOUCHENAKI, 2004, p.9). A dimensão intangível da Pré-História A mente humana é intangível, uma abstração. (...) Um total de 6 milhões de anos de evolução separam as mentes dos homens modernos das dos chimpanzés. É esse período de 6 milhões de anos que encerra a chave para compreender a mente moderna. MITHEN (1996, p.10) A Pré-História é a História das sociedades baseadas exclusivamente na oralidade (Fig.11). Aproximamo-nos das sociedades pré-históricas através da chamada cultura material, ou seja, do conjunto de artefactos (objectos, estruturas) e ecofactos (animais, plantas, territórios modificados ou seleccionados pela Humanidade) que sobreviveram à usura do tempo. Sendo um campo do saber que se situa na encruzilhada das ciências do Homem, da Terra e da Natureza, não é fácil a sua “arrumação disciplinar” e o seu ensino universitário pode ser encontrado, em diferentes países, associado à Geologia, à Geografia, à Biologia, à Antropologia, à História ou aos Estudos Humanísticos. Neste sentido, a Pré-História, como a Arqueologia, nasceu no século XIX já como um campo de saber transdisciplinar. Resultado do cruzamento do antiquarismo classicista com a geologia do quaternário e com a etnologia escandinava, a Pré-História conheceu, desde a sua origem, essa tripla dimensão do rigor científico, do património histórico-artístico e do património imaterial. Na origem, a Arqueologia Pré-Histórica centrou-se na noção de cultura. O interesse dos arqueólogos foi-se centrando, progressivamente, nos artefactos, e nas suas “associações recorrentes” (como viria a dizer G. CHILDE, 1977). O objectivo era a identificação de etnias, de que é exemplo o monumental trabalho de BOSH-GIMPERA (1932), para a península ibérica. Desta forma, os primeiros pré-historiadores não separavam as dimensões material e imaterial, tendo como objectivo a compreensão global de culturas. Note-se que o conceito de cultura fora pela primeira vez formulado em 1871 por Edward TYLOR (1920) como “um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade”. Ao longo do séc. XIX começam a sistematizar-se os estudos comparativos (distribuição de moedas, monumentos megalíticos, etc.). Os conjuntos de vestígios (“Campos de Urnas”, “Cerâmica Campaniforme”, etc.) eram associados a povos. O autor que realizou a primeira sistematização histórico-cultural foi Oscar Montelius. Desenvolveu o método tipológico, e orientou a investigação para a comparação dos artefactos e estruturas em toda a Europa, a despeito dos seus respectivos contextos. Baseava-se na estratigrafia, e foi um defensor da supremacia cultural do Mediterrâneo na Pré-História. Desenvolveu a ideia de relação entre centros produtores/inovadores e periferias consumidoras. O difusionismo orientalista de Montelius suscitou reservas de diversos arqueólogos, não tanto na teoria (difusionista) como na sua concretização (orientalista). Mas em geral foi aceite: confirmava as teses religiosas judaico-cristãs, ao colocar o centro difusor no Próximo Oriente; concordava com a visão de que a Europa Ocidental era a herdeira do passado glorioso das civilizações pré-clássicas e clássicas (dando-lhe legitimidade para a colonização africana). Porém, é KOSSINA, com a sua obra “A Origem dos Alemães” (1911), que pela primeira vez os vestígios arqueológicos são incorporados no conceito de cultura. Kossina vai defender o carácter nacional da Arqueologia, que mais tarde será assumido pelo movimento nazi como parte da sua matriz ideológica. Kossina defendeu que a partir do Paleolítico Superior o registo arqueológico se podia organizar como um mosaico de culturas, de base étnica. É fácil verificar como esta ideia perdura até hoje entre muitos arqueólogos. As ideias de Kossina tiveram pouco eco fora da Alemanha, por razões óbvias. Mas Gordon Childe, australiano, militante socialista, aceitou o conceito de Kossina de cultura arqueológica, combinando-o com o esquema cronológico e difusionista de Montelius. Em 1925 publicou a primeira versão da sua “Aurora da Civilização Europeia” (CHILDE, 1969), definindo um amplo e complexo mosaico de culturas, baseadas no registo arqueológico e definidas a partir de “fósseis directores”. A ideia de fóssil director, ou seja, de seleccionar um numero reduzido de artefactos tipo para definir as culturas (Fig.12), abriu caminho ao funcionalismo. Childe procurava determinar o papel, a função, dos artefactos nas sociedades que os haviam produzido. Deu particular atenção á cerâmica, argumentando que ela tendia a refletir os gostos locais e a resistir ás influências externas, contrariamente aos artefactos metálicos, por exemplo (que, por isso, eram mais valiosos para a comparação cultural). Graças a Childe, os “estádios” de desenvolvimento (como o Neolítico), passam a ser vistos como mosaicos culturais. Foi igualmente importante ao introduzir a ideia de evolução descontínua, traduzida nas noções de revolução Neolítica e de revolução Urbana. Paralelamente, em 1919, foi criada na URSS, a partir da ex-Comissão Arqueológica Imperial de S.Petersburgo, a Academia Russa de História e Cultura Material (GAIMK). As linhas de força deste centro serão o primado da esfera socio-económica e a atenção detalhada à cultura material. Desde o início, esta Academia incluía especialistas em fauna, flora, geologia e climatologia (para além das outras ciências humanas). Vladislav RAVDONIKAS (1939), arqueólogo lituano da célula comunista do GAIMK, defenderia uma história marxista da cultura material, atacando Montelius, por este não ter em conta o factor social. A sua preocupação será desenvolver uma teoria marxista para a Arqueologia, área que Marx e Engels pouco haviam abordado. A questão era tanto mais complexa quanto mais se recuava no tempo. Para as épocas históricas o motor da evolução era a contradição de classes. Mas quais eram as contradições na Pré-História, no “comunismo primitivo”? O GAIMK abandonou as definições das idades da pedra, do cobre e do bronze (tecnologicamente determinadas), procurando estudar os modos de produção, a organização social e a ideologia. É deste modo que nasce a arqueologia do micro-espaço, ou seja, as escavações em área, de acampamentos paleolíticos e de povoados neolíticos. Desde os anos 30 que surgem estudos, na URSS, sobre a divisão de tarefas (a cerâmica feita por mulheres, a possibilidade de identificar sociedades matriarcais, etc.). As transformações verificadas no registo arqueológico já não são explicadas pela difusão ou migração, mas sim pelo desenvolvimento social interno. A evolução social seguiu de perto as formulações de MarxEngels para a sociedade primitiva, na leitura linear que será feita por Stalin (das sociedades préclânicas às sociedades comunistas). A partir de 1934, estabelece-se uma “Arqueologia Soviética”, concebida como ramo da História especializado na Cultura Material. Em 1937 o GAIMK passou a designar-se por Instituto de História da Cultura Material (na década de 1950 re-baptizado de Instituto de Arqueologia), integrando a Academia Soviética das Ciências. No seu seio, desenvolver-se-ia uma Secção especializada em aspectos técnicos, enquanto os estudos de etnogénese ganhariam novo alento. A Arqueologia histórico-cultural, muito criticada a partir dos anos 70, foi a responsável pela fundação da arqueologia como disciplina rigorosa. Os métodos da estratigrafia, da seriação, da classificação, da escavação em área, da análise funcional,... são o seu produto. Sobretudo, seja na sua expressão ocidental, com Gordon Childe, como, sobretudo, na sua versão soviética, o histórico-culturalismo acabaria por destacar a importância de recusar uma Pré-História meramente tipológica e descritiva, antes propondo esquemas interpretativos que faziam apelo ao que hoje designamos por cultura imaterial. A evolução ulterior da Pré-História, mesmo durante o seu período neo-positivista (entre o final da II Guerra Mundial e a década de 1980), aprofundou a reflexão epistemológica sobre a natureza do conhecimento em Pré-História, e em particular sobre o papel dos não especialistas na construção do discurso científico (“The public also makes a difference. In fact, whereas there are certain elements which are traditionally known and appreciated, there others in exactly the opposite situation”, GONZÁLEZ MENDÉZ , 2000, p.28). Na medida em que a Pré-História, nos seus intentos interpretativos, faz recurso aos modelos de origem etnográfica, propondo-se “contar uma história” de base rigorosa mas de estrutura argumentativa, ela aproxima-se do conhecimento oral, antes referido. Com efeito, a Pré-História, e com ela a Arqueologia Histórica das sociedades com escassa documentação escrita (comunidades rurais, escravos, etc.), só pode ser compreendida se recorrer à dimensão imaterial. Como refere Mons. MARCHISANNO (2002, p. 37) “L’arte per la sua immediatezza e visualitá è strumento di catechesi così che l’annunzio del Vangelo è stato concretizzato in innumerevoli cicli iconografici.” Com efeito, a Arte, a Arquitectura, proporcionam uma leitura imediata, mesmo que “errada”. São testemunhos que, na origem, foram concebidos para desencadear emoções e que são interpretados como tal por qualquer grupo humano. Castelos, Igrejas, Palácios... mas também certos artefactos móveis, como as esculturas do Aleijadinho ou os quadros de Van Gogh, todos têm um sentido decorrente da imediata integração no ambiente em que n´so mesmos nos situamos. O seu contexto é, de alguma forma, também o nosso (Fig.13). O mesmo não acontece com os testemunhos pré-históricos. Os dólmens e os sambaquis, a cerâmica marajoara e os zoólitos, as gravuras do Piauí e as casas subterrâneas do Sul, são elementos materiais que não se enquadram no nosso quotidiano, que já não têm nenhuma função nele. Contrariamente às Igrejas das Missões ou às ruínas de Pompeia, em relação aos testemunhos pré-históricos rompeu-se o vínculo entre nós e os seus produtores originais, que não sabemos nomear (Fig.14). A reconstrução em Pré-História, para o grande público, assemelha-se mais á ficção científica do que à ficção histórica e a sua plena interpretação é apenas possível, fora do estrito núcleo de especialistas, através de uma didáctica específica que leve a ver nesses vestígios os gestos e comportamentos que os originaram. É neste plano que a Pré-História constrói a ponte entre o Património construído e o Património imaterial. Conclusões Pelo facto de a modernidade se definir como ruptura, A tradição representa a única fonte possível de sentido. RODRIGUES (1996, P.308) A gestão integrada do Património Cultural é a forma como ele poderá permanecer relevante para o futuro da nossa sociedade. A gestão integrada é um programa transdisciplinar, que implica a identificação, o inventário, o estudo, a conservação e a valorização dos testemunhos materiais e imateriais, superando a sua dicotomia. Gerir o Património é “negociar” a relação entre propriedade (conjuntural) e memória (essencial), tendo o duplo objectivo de assegurar a conservação (para as gerações futuras) e a fruição (pelas gerações actuais), assim assegurando a relação com as gerações passadas. Trata-se de um processo de mediação de conflitos: entre propriedade e essência, entre o individual e o colectivo, entre preservação e fruição, entre descrição e interpretação. Mas uma mediação dinâmica, que sai das antíteses para gerar novas realidades, novas perspectivas do Património. Como referem RUNESSON & HALLIN (2002, p. 106): “The man-made world, unlike a natural landscape, should not be viewed as a passive background”. Uma gestão transversal de qualidade (QUAGLIUOLO, 2001; OOSTERBEEK, 2002), deverá encarar a estreita relação entre a investigação e a didáctica, propondo o passado como um campo de possibilidades com graus diversos de probabilidade. O facto de a Pré-História ser uma realidade construída sem recurso à memória escrita, confere-lhe uma dimensão virtual, cuja materialidade decorre da intervenção física dos seus fautores (o arqueólogo que escava e “dá á luz” os vestígios, que emergem quando finalmente vistos, tocados), sendo muitas vezes restituída pelas tecnologias de RV, que materializam os discursos interpretativos. Esta dimensão práxica da construção do Património Pré-Histórico, em que intervêm muitos não especialistas, contribui para uma visão holística da realidade, para a compreensão participada da diversidade cultural (a Pré-História é um supremo esforço de reconhecimento da alteridade) e para o reforço das identidades culturais ancestrais (sublinhando a existência de um Património comum da Humanidade). Tomar e Lisboa, Julho de 2004 Referências Bosh-Gimpera, Pedro (1932), Etnologia de la Peninsula Iberica, Barcelona Bouchenaki, Mounir (2004), Editorial, IN: Museum International, vol. 221-222, Oxford, UNESCO & Blackwell Pub., pp. 6-10 Childe, V. Gordon (1977), Introdução à Arqueologia, Mem Martins, Publicações EuropaAmérica Childe, V. Gordon (1969), A aurora da civilização europeia, Lisboa, Portugália Editora Damásio, António (2001), O sentimento de si. O corpo, a emoção e a neurobiologia da consciência, Mem Martins, Publicações Europa-América Damásio, António (2003), Ao encontro de Espinosa. As emoções sociais e a neurologia do sentir, Mem Martins, Publicações Europa-América González Méndez, Matilde (2000), Evaluation of the historic interest of cultural elements as management technology, IN: La Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del IV Colloquio Internazionale – Nuove Tecnologie e Beni Culturali e Ambientali, Roma, DRI, pp.26-37 Goody, Jack (2004), The transcription of oral Heritage, IN: Museum International, vol. 221222, Oxford, UNESCO & Blackwell Pub., pp. 91-95 Kossina, Gustaf (1911), Die Herkunft der Germanen Lévi-Strauss, Claude (1976), Relations of symmetry between rituals and myths of neighboring peoples, IN: Structural Anthropology 2, New York, Penguin Books, pp. 238-255. Marchisano, Francesco (2002), La gestione dei beni storico-artistici nel loro valore culturale, sociale, religioso, IN: La Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del VI Colloquio Internazionale – Qualitá e beni culturali e ambientali, Roma, DRI, pp. 32-39 Mithen, Steven (1996), The Prehistory of the mind. The cognitive origins of art and science, New York, Thames and Hudson Oosterbeek, Luiz (2000), A past for the future and a past for the present, IN: La Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del IV Colloquio Internazionale – Nuove Tecnologie e Beni Culturali e Ambientali, Roma, DRI, pp.22-24 Oosterbeek, Luiz (2001), Cultural Heritage and Human rights: a matter for long life learning, IN: La Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del V Colloquio Internazionale – Formazione, Occupazione e Beni Culturali e Ambientali, Roma, DRI, pp.212-215 Oosterbeek, Luiz (2002), Absolute quality: a point of view, IN: La Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del VI Colloquio Internazionale – Qualitá e beni culturali e ambientali, Roma, DRI, pp.230-233 Quagliuolo, Maurizio (2001), Quali manager per i ben culturali e ambientali?, IN: La Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del V Colloquio Internazionale – Formazione, Occupazione e Beni Culturali e Ambientali, Roma, DRI, pp.14-15 Ravdonikas, V. (1939), Istoriya pervobitnogo oblscestva (A história da sociedade préhistórica), Leningrado RODRIGUES (1996), Tradição e Modernidade, IN: revista da faculdade de ci~encias Sociais e Humanas, nº 9, Lisboa, Ed. Colibri, pp. 301-308 Runesson, Lennart; Gunilla Hallin (2002), Roses and Ruins, Myth and Reality, IN: La Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del VI Colloquio Internazionale – Qualitá e beni culturali e ambientali, Roma, DRI, pp. 100-107 Tylor, Edward B. (1920), Primitive culture: researches into the development of myhology, philosophy, religion, language, art and custom, London, J.Murray; G.P. Putnam’s sons Legendas das Figuras Fig. 1 – S. Miguel das Missões (Brasil) Fig. 2 – Matmata (Tunísia) Figf. 3 – Casa colonial em Angra dos Reis (Brasil) Fig.4 – Loja ou património? Sal (Cabo Verde) Fig.5 – Sligo (Irlanda) Fig. 6 – Colónia Maciel (Brasil) Fig. 7 – Templo de Khali (Singapura) Fig. 8. Praga (Rep. Checa) Fig. 9. Douz (Tunísia) Fig.10 Chinatown (Singapura) Fig.11- Aborígene (Austrália) Fig.12 – Gravuras antropomórficas do vale do Ocreza, Mação (Portugal) Fig.13 – Vista sobre Buda com neblina (Budapeste, Hungria) Fig. 14 – Indústria Lítica da Gruta dos Ossos, Tomar (Portugal)
Download