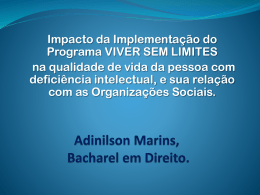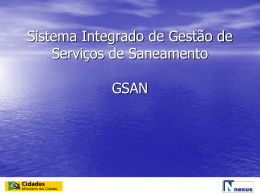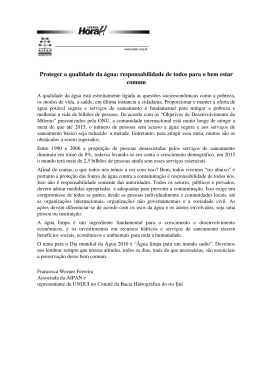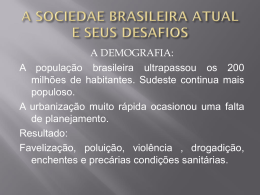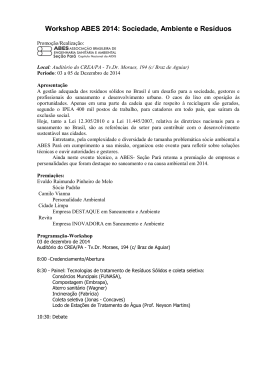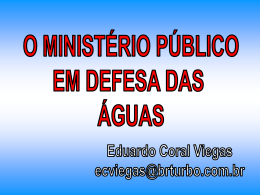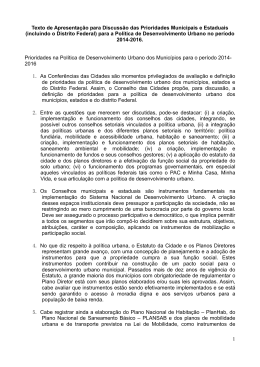Ministério das Cidades Planejamento Urbano Workshop Financiamento de Municípios - ABDE Rio de Janeiro – 18 de julho de 2013 Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos Departamento de Políticas de Acessibilidade e Planejamento Urbano Planos Diretores Participativos O que é Plano Diretor Participativo? O Plano Diretor Participativo é o instrumento básico de desenvolvimento urbano. É uma lei de fortalecimento do planejamento urbano construída de modo participativo com o objetivo de se garantir o amplo direito à cidade. POR QUE FAZER O PLANO DIRETOR ? Vantagens para o município instrumento de gestão democrática que colabora com resolução de conflitos relacionados ao convívio da população com determinados empreendimentos e atividades no ambiente urbano. PRERROGATIVAS LEGAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Capítulo de Política Urbana – Art 182: Define o PDP como instrumento básico da política urbana, obrigatório para cidades acima de 20 mil habitantes. NO ESTATUTO DA CIDADE (LEI FEDERAL 10257/01) Arts. 4º, 5º, 25, 28, 29, 32, 35, 39, 40, 41, 42 e 42-A: Definem obrigatoriedades, prazos para elaboração, penalidades legais e conteúdo mínimo. CONJUNTURA ATUAL Os planos elaborados após o Estatuto da Cidade devem passar por processos de revisão nos próximos anos Oportunidade para correção de fragilidades AVALIAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES PROBLEMAS MAIS COMUNS • Baixa aplicabilidade direta: remissão constante à legislação complementar; • Pouco rebatimento territorial: diretrizes genéricas desvinculadas do território (zoneamento); • Incompatibilidade com o PPA e com os orçamentos municipais: PD não avança na definição de investimentos prioritários/ estratégicos REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES REGRAS PARA REVISÃO • Prazo máximo: dez anos, a contar da data do início da vigência da lei. • Revisão antes de dez anos: - Previsão legal específica na lei do PD vigente; - Existência de estudos que apontem necessidade de revisão REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES REGRAS PARA REVISÃO • Conformidade com o Estatuto da Cidade; • Necessidade de processo participativo; • Submissão ao Conselho da Cidade ou similar, quando existente. PLANOS DIRETORES EFICIENTES ESTRUTURA BÁSICA a) Definição de princípios e/ou diretrizes b) Definição de objetivos gerais c) Definição de objetivos setoriais CONTEÚDOS SETORIAIS OBRIGATÓRIOS Plano de transporte urbano integrado: para cidades com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes. Plano de Mobilidade Urbana: para cidades acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados (até Jan/2015). d) Definição de parâmetros de ordenamento territorial: I - Macrozoneamento: fixa as regras fundamentais de ordenamento do território II - Zoneamento: institui as regras gerais de uso e ocupação do solo para cada uma das Zonas em que se subdividem as Macrozonas III – Definição de Zonas Especiais: áreas do território que exigem tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo, sobrepondo-se ao zoneamento. e) Definição de parâmetros para o uso, a ocupação e o parcelamento do solo para cada zona. I – Definição dos tipos de uso: residencial, comercial, misto, industrial, institucional e etc Aqui é possível definir e regulamentar os usos geradores de impacto (urbano, ambiental, de vizinhança e etc) II - Definição de parâmetros urbanísticos de ocupação do solo: coeficiente de aproveitamento (básico e máximo), taxa de ocupação, taxa de permeabilidade do solo, recuo e gabarito - é necessário o uso de mapas de apoio (anexos) f) Definição e regulamentação de instrumentos da política urbana desapropriação, OODC, OUC, PEUC, EIV e etc g) Definição e regulamentação de instrumentos de gestão da política urbana: I – Conselho Municipal das Cidades ou de Desenvolvimento Urbano; II – Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano; III – Sistemas de Monitoramento (indicadores, controle da ocupação do solo) h) Definição de investimentos estratégicos: listagem dos principais investimentos previstos para o cumprimento dos objetivos e diretrizes do plano. Os investimentos podem estar agrupados por macrozona, por zona ou por eixo setorial. Pode ou não estar acompanhado de prazo para consecução. h) Anexos: mapas, fotos aéreas tabelas, descrição dos perímetros das zonas, listagem de logradouros, entre outros. Planos de Saneamento DEFINIÇÕES É um pacto socioterritorial, estabelecido entre os agentes políticos, econômicos e sociais da cidade, em torno da gestão do saneamento ambiental, envolvendo a construção do diagnóstico, princípios e diretrizes, e as prioridades e metas na política de saneamento ambiental. Instrumentos indispensáveis da política pública de saneamento básico e obrigatórios para a contratação ou concessão dos serviços. Conjunto de estudos sobre a situação em que se encontram os serviços que compõem a área do saneamento básico em determinado território. Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – Fases, Etapas e Produtos FASE 1 – PLANEJAMENTO DO PROCESSO 1. Coordenação, Participação e Comunicação Social Produto 1: Plano de mobilização social. FASE 2 – ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 2. Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 3. Prognóstico Diretrizes, Objetivos e Metas Produto 2: Diagnóstico da Situação Local Produto 3: Prognóstico Diretrizes, Objetivos e Metas 4. Programas, Projetos e Ações 5. Ações para Emergência e Contingência Produto 4: Programas, projetos e ações 6. Mecanismos e procedimentos para monitoramento e avaliação Produto 5: Monitoramento e Avaliação. Controle social FASE 3 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 7: Aprovação do Plano de Saneamento Básico e demais produtos Produto 6: Relatório Final do Plano de Saneamento Básico Obs.: Os produtos acima descritos se referem ao Termo de Referencia do MCidades Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) Lei 11.124 de 2005 (SNHIS): a apresentação do PLHIS é condição para que os entes federados acessem recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. Definição: O PLHIS constitui um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores que caracterizam os instrumentos de planejamento e gestão habitacionais. É a partir de sua elaboração que municípios e estados consolidam, em nível local, a Política Nacional de Habitação, de forma participativa e compatível com outros instrumentos de planejamento local, como os Planos Diretores, quando existentes, e os Planos Plurianuais Locais. Planos Municipais de Mobilidade Urbana Previsão legal: Lei Federal 12.587/12, que institui a Politica Nacional de Mobilidade Urbana Definição: O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana Conteúdos: serviços de transporte público coletivo; circulação viária; infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados; operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; polos geradores de viagens; áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada e mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana Estratégias de autofinanciamento vinculadas à Política Urbana GASTOS COM DESENVOLVIMENTO URBANO + ou – 18 % da receita corrente dos municipios ARRECADAÇÃO Instrumentos fiscais: IPTU, ITBI e ISS ISS: cerca de 10% do total da receita corrente IPTU: cerca de 6,5% da receita corrente O IPTU apresenta grande variabilidade entre municípios quanto maior o município, maior é o percentual representado pelo IPTU na receita corrente incapacidade técnica excesso de isenções plantas de valores desatualizadas irregularidade fundiária Captura de “mais valias” urbanas Reversão, para a sociedade, de valorização imobiliária gerada por investimentos públicos Contribuição de melhoria: difícil aplicação Outorga Onerosa (solo criado) “venda” de potencial construtivo adicional (importância do CA básico único e = 1) Operações Urbanas Consorciadas Possibilidade de financiamento de projetos urbanos específicos, como grandes obras de mobilidade, e de promover mudanças estruturais na dinâmica urbana (reabilitação de áreas vazias ou degradadas) Está em processo de normatização linha especifica de financiamento para Operações Urbanas com recursos do FGTS Obrigada! www.cidades.gov.br Carolina Baima Cavalcanti Gerente de Acessibilidade e Planejamento Urbano Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos [email protected]
Download