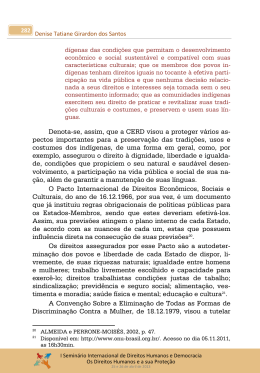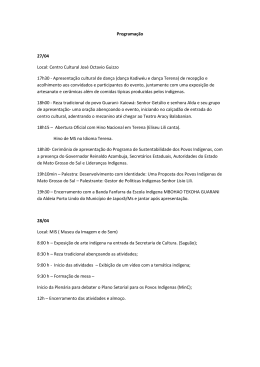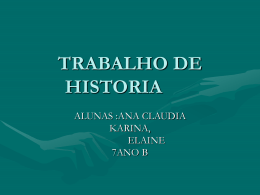JUSTIÇA FEDERAL: RACISMO, TERRAS E DIREITOS HUMANOS** 1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dentro do amplo quadro de caracterização constitucional do Poder Judiciário, coube à Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição, fundamentalmente, os processos em que a União, suas autarquias ou empresas públicas forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (posicionamentos dentro do processo civil), excetuados os casos de falências, acidentes de trabalho, Justiça eleitoral e Justiça do Trabalho (inciso I). Também, para o que aqui interessa: a) as causas relativas a graves violações de direitos humanos, em que seja suscitado incidente de deslocamento de competência, para o fim de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos (inciso VI-A c/c § 5º, art. 109, CF); b) a disputa sobre direitos indígenas (inciso XI, art. 109). Em todas estas hipóteses, eventual recurso será dirigido ao Tribunal Regional Federal que, no caso da 4ª Região, está sediado em Porto Alegre e tem abrangência sobre os feitos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O TRF-4ª Região não somente capitaneou um processo de interiorização da Justiça Federal de primeiro grau, antes somente localizada nas capitais e cidades próximas, mas também estabeleceu um processo de especialização interna para apreciação das causas1: a) a primeira seção, com duas turmas, julgando direito tributário e trabalhista; b) a terceira,com outras duas Turmas, envolvendo feitos relativos à previdência e assistência social; c) a quarta, com duas Turmas julgando e processando feitos de natureza penal; e d) a segunda, processando e julgando feitos de natureza administrativa, civil e comercial, bem como os demais feitos não compreendidos nas competências anteriores. Em suma, esta última seção aprecia o que se convencionou chamar “competência residual”, ou seja, todos os processos que não tenham a especialização das matérias anteriores. * Apresentado no Workshop/Seminário “Repensando o acesso à Justiça no Brasil”, realizado pelo Observatório da Justiça Brasileira, em Belo Horizonte, de 29 de novembro a 4 de dezembro de 2010, no Hotel Clarion. Agradecimentos aos comentários de Helena Dolabela e Rogério Arantes; especial menção deve ser dada à leitura atenta, depois da apresentação, por parte de Lilian Gomes e Nilma Lino Gomes, cujas sugestões foram incorporadas no texto final. 1 Art. 2º, § 2º, Regimento Interno. Justamente nas Turmas desta última seção, portanto, que se encontram concentrados todos os feitos que envolvem os indígenas, os quilombolas (quando demandado o INCRA, que é autarquia federal) e eventual federalização de processo envolvendo violação grave de direitos humanos. Isto demanda, por um lado, uma especial atenção em relação às premissas e ao senso comum teórico que permeia o “imaginário” do Judiciário e, por outro lado, uma nova formação para os próprios magistrados, tanto de primeiro, quanto de segundo grau, no tocante à questão dos direitos humanos. Estas, portanto, as duas principais questões a serem abordadas no presente trabalho. O Tribunal Regional, contudo, tem uma característica geográfico-epistemológica interessante: a) localizando-se no sul geográfico do Brasil, os atores jurídicos, contudo, elaboram seus posicionamentos como sendo pertencentes ao norte epistemológico do país (juntamente com o Sudeste); b) ao mesmo tempo, por um intenso processo de colonização alemã, italiana e também polonesa (parcialmente, também japonesa), os atores jurídicos trabalham dentro de um imaginário sócio-jurídico de uma população de descendência fundamentalmente europeia, o que invisibiliza tanto a presença indígena quanto as comunidades negras. 2. A diversidade étnico-cultural e a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, ao contrário das anteriores e ainda que não tenha utilizado qualquer terminologia de “multicultural” ou “intercultural”, estabelece premissas e coordenadas para pensar a diversidade étnico-racial, social e cultural em patamares diferenciados. Primeiro, porque parte de um conceito de cultura que abrange patrimônio material e imaterial, acolhendo bens “´portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, não somente envolvendo obras, documentos, edificações, conjuntos urbanos, como sempre foi tratado o “patrimônio histórico e cultural”, mas também “ formas de expressão” e “modos de criar, fazer e viver” ( incisos I e II do art. 216, CF). Rompe, desta forma, com uma concepção “essencialista” de cultura, imutável e “eterna”. Não remete, pois, a questão ao passado, mas sim à atualidade da vivência dos grupos nacionais. Segundo, porque determinou a preservação das manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras (art. 216, § 1º, CF), bem como a fixação de datas comemorativas de “alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais” (art. 216, §2º, CF). Aqui entra a discussão sobre o processo de “descolonização” da memória nacional e do rompimento de um padrão eurocentrado e católico de comemorações nacionais. As discussões sobre feriados judeus, datas de comemorações afro-brasileiras e mesmo o Dia da Consciência Negra demonstram o longo caminho ainda a percorrer. Terceiro, porque, no campo educacional, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF) caminha ao lado do direito, assegurado às comunidades indígenas, de “utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem” (art. 210, §2º, CF). Se é verdade que a língua portuguesa é o idioma oficial do país ( art. 13, CF), não parece haver impedimento para cooficialização de línguas indígenas ou de outras comunidades em determinadas localidades. Neste sentido, em São Gabriel da Cachoeira/AM, desde 22/11/2002 (Lei nº 145), os idiomas tikuna, baniwa e nheengatu tem status cooficial que obriga o município a sua utilização: a) na prestação de serviços públicos; b) na produção de documentação pública e campanhas publicitárias; c) incentivar o aprendizado e uso em escolas e meios de comunicação. Nos mesmos moldes, foi determinada a cooficialização da língua pomerana em Santa Maria de Jetibá/ES, pela Lei nº 1.136/2009, e do guarani, em Tacuru/MS, em maio de 2010. Países vizinhos têm previsão constitucional neste sentido: no Paraguai, em relação ao guarani, juntamente com o castelhano; e na Bolívia, em relação a trinta e seis línguas indígenas nacionais (art. 5.1 da Constituição). Quarto, porque foi a primeira Constituição a considerar o racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Ou seja: a reprimenda maior em termos de penalidade, juntamente com o regime de cumprimento mais rigoroso. Isto, por outro lado, determina obrigações positivas e negativas: a) impedir qualquer conduta, prática ou atitude que incentive, prolifere ou constitua racismo; b) tomar todas as medidas cabíveis e possíveis para a erradicação de tal prática. Aliás, o STF entendeu por uma definição jurídico-constitucional que compatibilizasse conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos ou biológicos, repudiando discriminações raciais “inspiradas na pretensa superioridade de um povo sobre outro, de que são exemplo a xenofobia, 'negrofobia', 'islamofobia' e o antissemitismo.”2 Podendo atingir, portanto. negros, ciganos e também indígenas. Quinto, porque, ao disciplinar o estatuto jurídico do indígena, fixou como balizas: a) reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, bem os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam (art. 231, caput, CF); b) determinação de a União demarcar tais terras, que, sendo propriedade desta, permanecem em usufruto das comunidades (art. 231, §2º, CF); c) inalienabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade das terras indígenas (art. 231, §4º, CF), o que as torna “terras fora do comércio”, tais como as terras quilombolas, que também tem cláusula de indisponibilidade e utilização “pro indiviso” (art. 17 do Decreto nº 4.887/2003); d) determinação no sentido de que as terras indígenas são aquelas “imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições” (art. 231, § 1º, CF), o que a torna distinta da mera posse civil e lhe deu uma característica especial de territorialidade e de associação da comunidade a este espaço de reprodução sócio-cultural; e) a nulidade de todos os títulos de domínio eventualmente incidentes sobre as terras indígenas (art. 231, § 6º, CF). Em suma, rompe com o padrão de tutela e “menoridade”, reconhecendo os indígenas, suas comunidades e suas organizações como sujeitos de direitos (art. 232, CF), com capacidade de postular em juízo. 3. Uma geografia das injustiças. Estes pontos permitem, portanto, reconhecer que, em se tratando de comunidades negras, indígenas e tradicionais, as lutas jurídicas envolverão, no Poder Judiciário federal, fundamentalmente: a) reconhecimento da diversidade étnico-sócio-cultural; b) o questionamento das terras tradicionalmente ocupadas. 2 HC 82.424-2/RS, Rel. p/acórdão Min. Maurício Corrêa, julg. 17-09-2003. Importante destacar, inicialmente, uma diferenciação de atuação de operadores jurídicos. O Ministério Público tem, entre suas funções institucionais, a defesa do patrimônio público, do meio ambiente e de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF) e a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, V, CF). Atua, desta forma, preventiva e reativamente à eventual violação de direitos de comunidades vulneráveis (a LC nº 75/93 incluiu também a defesa de “minorias étnicas” e idosos, nos termos do art. 6º, VII, “c”). O Poder Judiciário, por sua vez, mesmo o federal não tem como função primordial o julgamento de ações que envolvam comunidades étnicas, direitos de indígenas e outros grupos culturais. Atua, fundamentalmente, sob “impulso”, ao apreciar ações intentadas por outros atores jurídicos. O que implica dizer, também, que não se vem dando atenção, na formação dos magistrados, a estes tópicos. Algumas dificuldades, contudo, são relevantes para a apreciação destas questões por parte do Poder Judiciário. Primeiro, porque existe uma dificuldade de reconhecer a própria diversidade étnico-cultural, associado ao padrão de “monoculturas da mente”, ou seja, a reprodução do saber científico, da linearidade do tempo, da escala universal, da lógica produtivista e da naturalização das diferenças. Ou seja, a produção do “diferente”, do “outro”, como “ignorante”, “atrasado”/”arcaico”/”pré-moderno”, “local”/”tradicional”, “improdutivo” e “inferior”. Como bem salienta Boaventura Santos, “o que não existe é, na verdade, activamente produzido como não existente, isto é, como uma alternativa não-credível ao que existe”.3 Isto é que se verifica quando, em processos judiciais, as partes alegam que nunca houve uma comunidade negra na localidade, que somente num passado remoto teriam existido índios naquela terra ou que os atuais habitantes nem mais índios são, porque utilizam celular, vestem jeans e utilizam novas tecnologias. Recorde-se que mesmo os ministros do STF, no julgamento Raposa Serra do Sol, referiram-se a silvícolas, aborígenes, aculturação e estágio civilizatório. Do que se trata, pois, é de uma desconstrução destas lógicas de inexistência, de forma a despensar, desresidualizar, desracializar, deslocalizar e despro3 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. Disponível em: www.ces.uc.pt/bss/documentos/sociologia_das_ausencias.pdf p. 11-12. duzir.4 Assim, em Porto Alegre, os indígenas kaingang, tendo em vista informações obtidas pela internet por um parente e as visões de uma xamã, se reterritorializaram no sul da cidade, no que se denominou chamar “Morro do Osso”. A comunidade local reagiu, entendeu que um santuário “ecológico”, dos poucos espaços preservados da “especulação imobiliária”, estava sendo invadido por um grupo que nunca provou qualquer ancestralidade naquela localidade. As alegações, constantes do processo, salientaram: a) os indígenas “desejam receber todas as estruturas para morar com conforto e infra-estrutura de abastecimento e saneamento”; b) a modificação ambiental com a sua instalação não é compatível com preservação ambiental; c) a ocupação pode resultar em enfrentamentos entre a comunidade e os moradores do entorno, “não satisfeitos com a presença do grupo ali”. Num dos inúmeros embates (a ação não está finalizada), houve o julgamento de um recurso, interessante para ilustração. Naquele momento, o juiz de primeiro grau determinara a reintegração do Município de Porto Alegre e, portanto, a retirada dos indígenas. O Tribunal, contudo, reformou a decisão, entendendo que: a) o conflito não difere de outros, sempre em detrimento das comunidades indígenas, somente “mudando-se os argumentos (desenvolvimento, defesa ambiental, descaracterização das comunidades indígenas, etc)”; b) no confronto com interesses preservacionistas, aquele que periclita é o de defesa da comunidade kaingang; c) a “defesa do meio ambiente não afasta necessariamente o homem e muito especialmente o índio”, devendo ser incentivada como “forma de conhecimento e preservação consciente”; d) que tipo de educação ambiental seria ministrada nas escolas, para as crianças, com a retirada dos índios? e) enquanto não se realizam as pesquisas processuais e antropológicas, “não há justificativa para que a comunidade indígena seja privada de sua posse local, sendo relegada a aceitar sofregamente os ônus das nossas fórmulas processuais”; f) a remoção não seria feita para uma área tradicionalmente ocupada, mas para “qualquer área, desde que não seja o Morro do Osso”; g) a ocupação indígena consolida talvez a espécie de ocupação menos danosa, devendo haver comprometimento de todos, sendo certo que a comunidade indígena pode 4 Idem, p. 20. vir a “abrir-se para sociedade, colhendo os benefícios disso”; h) os kaingang não se estabelecem em terras que seus antepassados não habitaram, e, assim, não são as comunidades que devem “aguardar nossos processos de ocupação de suas terras”, mas sim nós que devemos “aguardar o resultado de nossos próprios processos administrativos e judiciais para afirmar que as comunidades não apresentam os direitos que alegam”. 5 Observe-se, aqui, a existência: a) de outro conhecimento, ao lado do científico, para fundamentar a ancestralidade (a xamã); b) a dificuldade de reconhecimento de sociodiversidade coexistindo com biodiversidade, numa visão de preservação ambiental que desconsidera a presença humana, e, portanto, invisibiliza negros, indígenas e comunidades tradicionais); c) da visão de modernidade e tradição como substrato de raciocínio para buscar restringir os direitos indígenas. Contraposição, pois, de epistemologias. Segundo, a manutenção de um imaginário que valoriza a “unidade nacional”, que teme a fragmentação ou a criação de conflitos (a alegação quanto às ações afirmativas é exemplar) e a manutenção de uma forte defesa de um “cadinho de culturas” que desencadeou um fenômeno único no mundo: a “democracia racial”. Isto tem determinadas implicações teóricas e práticas para o exercício judicial. De um lado, a dificuldade de reconhecer, em relações concretas, da presença e manutenção do racismo. É um “racismo sem racistas”, e as discriminações, apesar da previsão constitucional, são sistematicamente tidas como “brincadeiras” de “mau gosto”, situações de menor importância (se comparadas, obviamente, com o apartheid sul-africano e a segregação racial dos EUA). Observe-se, por exemplo, a contraposição de argumentos envolvendo tais questões. Um professor de Agronomia da UFRGS, em 2000, afirmou em sala de aula: “os negrinhos da favela só tinham os dentes brancos porque a água que bebiam possuía flúor” e “soja é que nem negro, uma vez que nasce é difícil de matar”. Um aluno negro provocou a instauração de sindicância que, mesmo reconhecendo que uma afirmação destas é “desrespeitosa e discriminatória”, ainda mais quando a solução apontada é o extermínio, concluiu que, apesar de inapropriadas, as expressões coloquiais e informais, usuais no meio 5 AI nº 2005.04.01.052760-4/RS, Rel. Juiz Márcio Antônio Rocha, convocado, julg. 19-07-2006. rural, não caracterizavam discriminação racial no contexto em que foram usadas, mas sim tinham “intuito de criar um ambiente mais descontraído no primeiro dia de aula da disciplina”. A sentença de primeiro grau manteve as conclusões da sindicância, mas foi reformada pelo Tribunal, que entendeu: a) expressões deste tipo ilustram “manifestações de injustiça simbólica, que violam direitos por meio de padrões de representação, interpretação e comunicação”; b) a instituição faz a “discriminação parecer às pessoas como fato natural e aceitável, circunstância que torna mais grave a reprodução desnecessária de expressões com cunho discriminatório racial”; c) é dever evitar e repudiar a discriminação institucional, ao invés de reproduzi-la; d) a veiculação de expressões racistas por servidor público no exercício de magistério público viola a “impessoalidade, na medida em que reproduz tratamento detrimentoso à negritude que identifica parcela fundamental da comunidade nacional, sem falar no efeito direto ao aluno ali presente”; e) reconheceu dolo, “ não sendo crível que indivíduo com o grau de formação intelectual, experiência e histórico funcional tais quais o apelado não perceba o explícito e textual conteúdo racista na expressão utilizada”.6 Trata-se, pois, de reconhecer a existência de concepções hegemônicas e contrahegemônicas de direitos humanos, em processos de oposição, hibridação e conflito: dir-seia “direitos humanos de baixa intensidade” ou “de conformação” e “direitos humanos de alta intensidade” ou “de oposição”. Um processo de escavação, como diz Ratna Kapur, no sentido de verificar como “o discurso é permeado por ambições imperiais, assertivas sobre superioridade moral e civilizacional e evangelicanismo religioso.”7 Ou seja, o aparente consenso em relação aos direitos humanos esconde o fato de que eles são um campo de lutas e de contestações- também discursivas- onde “competem pressupostos e visões de mundo distintos sobre gênero, diferença, cultura e subjetividade”8 6 7 AC nº 2001.71.00.025177-7/RS, Rel. Juiz Roger Raupp Rios, convocado, julg. 28-04-2009 KAPUR, Ratna. Human rights in the 21st century: take a walk on the dark side. Sydney Law Review. Volume 28, n.4, december 2006. Disponível em: http://www.law.usyd.edu.au/slr/slr28_4/Kapur.pdf 8 KAPUR, Ratna. Revisioning the role of law in women’s human rights. IN: MECKLED-GARCÍA & ÇALI, Basak. The legalization of human rights: multidisciplinary perspectives on human rights and human rights law. London- New York: Routledge, 2006, p. 102. É o que se pode ver também em outro exemplo julgado pelo mesmo TRF. A comunidade guarani, em decorrência de medidas de compensação pela duplicação da BR 101 no trecho Palhoça/SC a Osório/RS, depois de estudos e laudos antropológicos, conseguiu novas terras, cuja qualidade e estatuto jurídico, eram similares às que ocupavam anteriormente (art.16.4 da Convenção 169-OIT). Quando a FUNAI foi buscar a declaração de imunidade do ITBI (imposto de transmissão de bens imóveis), foi surpreendida com a desapropriação, pelo Município de Gaspar/SC, da mesma área, com a finalidade de construção de horto florestal. Não tendo obtido êxito para anular o decreto municipal, a FUNAI recorreu ao TRF4ª Região, que entendeu: a) desvio de finalidade do ato municipal, que mascarava a intenção de impedir o reassentamento da comunidade; b) situação de discriminação indireta, porque a medida, aparentemente neutra, tinha impacto diferenciado perante a comunidade indígena; c) existência de conduta racista, comprovada por matéria jornalística, narrando que a FUNAI teria dificuldades para adquirir a área, porque a “comunidade, mesmo sabendo que os guaranis eram grupos pacíficos, que se relacionam bem com as comunidades onde estão inseridos, ficou apreensiva com a notícia”; d) o propósito de preservação ambiental não era incompatível com o interesse de proteger a comunidade indígena; e) impossibilidade de o Poder Público utilizar-se de meios legais como forma de não possibilitar o exercício de direitos indígenas, incentivando e estimulando “o preconceito em relação a estes”, sugerindo-se, ainda, a possibilidade de um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Gaspar, de “forma a trabalhar o valores constitucionais de repúdio ao racismo, pluralismo de idéias, defesa e valorização da memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, valorização da diversidade étnica e cultural, bem como promoção do bem de todos, sem preconceitos de raça e cor.9 A discussão sobre o parecer CNE/CEB 15/2010 e a obra de Monteiro Lobato é, no campo educacional, uma variação sobre a negação da temática da persistência estrutural do racismo e da discriminação.10 Da mesma forma, as alegações de que os índios não 9 AI nº 2007.04.00.037557-9/SC, Rel. Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria, julg. 27-05-2008. A decisão, na prática, não surtiu efeito porque, no mesmo dia em que comunicada a decisão colegiada, a comunidade tinha pedido a desistência da área. 10 BALDI, César Augusto. Monteiro Lobato, racismo e CNE. Disponível em: podem contribuir para o desenvolvimento e mesmo o receio de “perder terras para índios” não passa de um discurso racista mascarado. Por outro lado, como bem salienta Alexandre Emboaba da Costa, tais argumentos de defesa da “excepcionalidade” de nossa “convivência étnica” tendem a: a) divorciar o Brasil dos processos históricos de desenvolvimento global, construindo uma “especificidade histórica” como “algo isolado”, como se não houvesse qualquer inserção num sistema internacional de distribuição desigual de hierarquias; b) apontar a miscigenação como falta de racismo e como fator que influencia as relações sociais, esquecendo a articulação complexa entre classe, gênero, raça, sexualidade e espiritualidade na “constituição desigual do desenvolvimento e das sociedades da América Latina”; c) supervalorizar a ligação entre miscigenação e igualdade social como se fosse um processo estático, esquecendo tratar-se de “um sistema específico de dominação, com suas maneiras próprias de reproduzir a hierarquia e o poder”. Em suma: “em vez de proteger a miscigenação a qualquer custo”, necessário “examinar como as relações desiguais e hierárquicas foram reproduzidas dentro de um sistema que não visa à separação de raças como na América do Norte, mas uma suposta tendência à integração e à cordialidade.”11 Ademais, é evidente a dificuldade dos atores jurídicos em reconhecer o racismo da legislação. O próprio caráter étnico de discriminação da imensa concentração fundiária no país ficara oculto, porque a abolição deu por “encerrado”o “problema do negro”, excluindo-os dos textos legais e constitucionais qualquer referência a “quilombos”, que só reaparecem cem anos depois, na Constituição de 1988. A Lei de Terras, de 1850, ao estabelecer como única possibilidade de aquisição a compra, ignorou as distintas posses, incluindo as indígenas, as regulações existentes entre as comunidades tradicionais e impediu o acesso da terra às comunidades negras, no período pós-abolição. O mesmo se deu com o primeiro Código Penal da República, que penalizava vadiagem e capoeiragem, atingindo, portanto, a população negra, recém liberta e suas manifestações culturais. Os terreiros de candomblé necessitavam de autorização da polícia para poderem funcionar (para as Igrejas, nunca houve tal necessidade). Da mesma forma, o art. 2º do Decreto nº 7.967/45, http://www.cartacapital.com.br/politica/monteiro-lobato-racismo-e-cne. Republicado em: http://etnico.wordpress.com/2010/11/16/monteiro-lobato-racismo-e-cne/ 11 COSTA, Alexandre Emboaba. Mobilizando a ancestralidade afro-brasileira para a transformação das relações sociais e o desenvolvimento global. Disponível em: http://www.orunmila.org.br/blog/?p=167 dispondo sobre o ingresso de imigrantes, tinha em vista “a necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes de sua ascendência europeia.” Há como esconder o caráter racializado da legislação? Apropriação de terras e racismo, pois, continuaram a ser legados pendentes do período da independência. Terceiro, porque, em se tratando destas comunidades, a propriedade não tem sido nem a forma pública, estatal, nem aquela tradicional, ou seja, a privada, de feitio civilista dos códigos. Especialmente no caso do Judiciário brasileiro, isto é um enorme desafio, quando se tem em conta que: a) boa parte dos casos de posse ou mesmo de terras indígenas são decididos com a mera exibição do título de propriedade (esquecendo-se a distinção entre ambos os institutos), com evidente prevalência desta última sobre a primeira; b) as comunidades utilizam um mesmo espaço territorial de forma coletiva, nem sempre com fronteiras individuais claramente destacáveis, o que vai contra toda uma formação jurídica privatista; c) tem-se destacado pouco a função socioambiental da propriedade (art. 186,CF), o que implica preservação ambiental, respeito a relações de trabalho (não utilização de trabalho escravo, portanto) e aproveitamento adequado e racional; d) a visão jurídica tradicional tem associado “terra” a “mercadoria”. Isto está relacionado, também, com a associação que a terra tem com a noção de soberania e mesmo de poder despótico ou de domínio sobre um território, o que ficou evidente no julgamento Raposa Serra do Sol (reconhecer “território” seria abrir mão da soberania do país, criando micro Estados e permitindo o avanço da internacionalização da Amazônia), mas, ao mesmo tempo, demonstra a manutenção do colonialismo interno nas relações de terra. Não é à toa, pois, que os relatórios da Comissão Pastoral da Terra demonstrem que a manutenção do trabalho escravo esteja intimamente ligada à agricultura dita “moderna” (o agronegócio de exportação).12 Mas que consequências teria a troca da expressão “terra” por “território” no sentido de espaço de reprodução social, cultural e simbólica, para tais comunidades? Trata-se de reconhecer, conforme constou no voto do Min. Ayres Britto, no julga12 BALDI, César Augusto. Violência no campo: revisitando conceitos. http://etnico.wordpress.com/2009/08/20/violencia-no-campo-revisando-conceitos/ Disponível em: mento “Raposa Serra do Sol” ( Pet 3388), que este tipo tradicional de posse fundiária é um “heterodoxo instituto de Direito Constitucional, e não uma ortodoxa figura de Direito Civil”. Nestes termos, as ações possessórias, de cunho privatístico, podem dar conta de uma realidade heterodoxa de Direito Constitucional, tal como a dos indígenas e comunidades quilombolas ( o art. 68-ADCT tem a mesma conotação)? A doutrina civilista continua somente privilegiando a propriedade privada, sem reconhecer a multiplicidade de formas de posse e propriedade. Quarto, porque estes processos envolvendo comunidades quilombolas dizem respeito também ao próprio “status jurídico” da oralidade, dos testemunhos orais e da história oral como provas dentro de um processo judicial, que está acostumado com a escritura, como forma de reprodução de conhecimento dito científico. São depoimentos, lembranças, relatos e vivências colocados dentro de processos administrativos e judiciais a justificar a territorialidade, a ancestralidade, a convivência em comunidade, os laços de parentesco, as formas de religiosidade, as disposições de utilização da propriedade. Isto implica, também, a produção da visibilidade das manifestações destas comunidades e de um processo de justiça cognitiva, reavaliando a ciência como única forma de conhecimento. 13 Ademais, as próprias comunidades rompem o padrão eurocentrado: a resistência negra não somente preservou saberes africanos e afro-brasileiros, mas desenvolveu um sistema de sabedoria, história, memória da opressão, experiência vivida, aprendizado. 14 O processo do “Morro do Osso”, por sua vez, antes salientado, também contava com muita produção de história oral da comunidade, além do testemunho da xamã, a afirmar a existência de um cemitério indígena na localidade. Quinto, porque os relatórios internacionais destacam a falta de capacitação adequada "em matéria de direitos humanos", em particular com respeito aos "direitos consagrados" em tratados internacionais, especialmente "na judicatura e entre os agentes públicos" (item 19 e recomendação 42 do relatório do Comitê DESC15, recomendação 18 do relatório 13 Vide a discussão de João Pacheco de Oliveira a respeito da história oral: Os caxixós do Capão do Zezinho: uma comunidade indígena distante de imagens da primitividade e do índio genérico. Disponível em: http://www.anai.org.br/arquivos/Laudo_Antropologico_Caxixos_Capao.pdf 14 COSTA, Alexandre Emboaba, op. cit., p. 9. 15 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/publications/CESCR- Compilacion(1989-2004).pdf CERD16 e itens 61 e 80, "i" do relatório da moradia adequada.17). As próprias decisões judiciais têm sido profundamente refratárias a apreciar a questão de tratados internacionais de direitos humanos, prevalecendo, depois de muita discussão, a jurisprudência, por parte do STF, no sentido de um caráter supra-legal (durante muito tempo houve a equiparação com a legislação ordinária), mas resistindo ao status constitucional de tais instrumentos internacionais.18. Boa parte dos julgamentos, no TRF-4ª Região, quando se referem à questão indígena e quilombola, ignoram, “solenemente”, a incorporação, no âmbito jurídico interno, da Convenção nº 169-OIT (Decreto nº 5.051, de 19/04/2004) e mesmo a aprovação, em 2007, da Declaração da ONU sobre os Povos Indígenas. Saliente-se, por exemplo, que alguns autores, como Raquel Fajardo e Bartolomé Clavero19, a consideram um documento internacional de novo tipo, intermediária entre a declaração, de “soft law”, e a convenção, de caráter impositivo. Estas são algumas formas de invisibilização e, portanto, de produção de injustiças para estas comunidades. 4. Uma contrageografia das justiças. Recente pesquisa feita entre os integrantes do Ministério Público, revela que a maioria dos respondentes dos questionários é casada (63,5%), de cor branca (79,6%), tendo pai com ensino superior completo (68,3%) e mãe com ensino superior completo (34,7%)e tem 16 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/f23afefaffdb960cc1256e59005f05cc/$FILE/G0441073.pdf 17 http://www.unfpa.org/derechos/documents/relator_vivienda_brasil_04.pdf 18 A alteração que marca a atual jurisprudência se deu com o julgamento do RE 466.343, Rel. Min. Cézar Peluso, dezembro de 2008. 19 Bartolomé Clavero sustenta que a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas é “uma norma que não conhece precedentes”, tanto que “sequer se tem um nome apropriado para ela”, podendo-se dizer que “ é uma declaração das Nações Unidas com o conteúdo de um pacto entre os Estados membros das mesmas e os povos indígenas do mundo”. Não se sujeita “a ratificações dos Estados nem sua validade se supervisiona por instâncias internacionais tão só entre aqueles Estados que procederam sua ratificação”, tendo, porém, caráter geral e contando “com mecanismos de supervisão relativo a todos os Estados do mesmo alcance geral”, como se verifica do art. 38, segundo o qual os Estados “adotarão as medidas apropriadas (...) para alcançar os fins” da Declaração, e do art. 42, que determina que “as Nações Unidas, seus órgãos, incluído o Foro Permanente para as questões indígenas, e os organismos especializados, inclusive em nível local, assim como os Estados, promoverão o respeito e a plena aplicação das disposições da presente Declaração e velarão por sua eficácia”. Vide: CLAVERO, Bartolomé. Instrumentos internacionales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Declaración de Naciones Unidas y Convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Disponível em: http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2008/06/prologo-articulo-instrumentos.pdf , p. 1- 5. parente próximo em carreira jurídica (41%)20 Os dados relativos ao Poder Judiciário não destoam muito deste padrão. Boaventura de Sousa Santos tem destacado que, na formação dos magistrados, tem dominado uma cultura normativista, técnico-burocrática, assentada em21: a) prioridade do direito civil e penal, uma autonomia que “determina o modo de interpretar e aplicar o direito”; b) cultura generalista, no sentido de que só o magistrado tem competência para resolver litígios e, pois, todos os litígios; c) desresponsabilização sistêmica, de tal forma que, havendo um problema, ele sempre é do sistema ou da estrutura burocrática, associada a baixíssimo nível de ação disciplinar efetiva; d) privilégio de poder, que não consegue ver os agentes do poder em geral como cidadãos com iguais direitos e deveres: e) refúgio burocrático, com preferência pelo institucional; f) sociedade longe, ou seja, competente para interpretar o direito e incompetente para interpretar a realidade; g) confusão entre independência e individualismo autossuficiente e, pois, aversão ao trabalho em equipe, ausência de gestão por objetivos e resistência a aprender com outros saberes. Todos estes elementos podem impactar o modo de interpretação das questões postas em juízo, mas, aqui, somente serão consideradas aquelas que envolvem necessidades especiais no tocante ao acesso à justiça em relação a comunidades negras, indígenas e tradicionais e para a própria formação dos magistrados, dentro do marco de um constitucionalismo intercultural e de pluralidade étnico-cultural. em relação a questões étnico-raciais e de direitos humanos. Elas não significam a resolução destes problemas, mas apontam formas para trabalhar um quadro a partir das carências apontadas na seção anterior. Salientem-se algumas. Primeiro, deve-se permitir que as comunidades possam expressar-se em sua própria língua. Aliás, o período pós-independência estabeleceu uma forma “correta” de português, “um modelo importado que se afastasse, ao mesmo tempo, do português popular brasileiro e das variedades urbanas da própria elite branca e letrada”22 Afinal, era 20 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli. Perfil socioprofissional e concepções de política criminal do Ministério Público Federal. Brasília: ESMPU, 2010, p. 33 e 37. 21 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 2007, p. 66-70. 22 BAGNO, Marcos. O racismo linguístico do Brasil. Caros Amigos, setembro de 2008. Disponível em: http://marcosbagno.com.br/site2/conteudo/arquivos/art_carosamigos-setembro.htm necessário afastar o “falar atravessado dos africanos” e as formas mestiças, efetivamente nacionais, de oralidade. Na origem, pois, um “racismo linguístico”, que demonizou sempre o que Lélia Gonzalez chamava de “pretoguês”.23 Recentemente, o julgamento dos acusados da morte do líder indígena Marcos Veron, foi transferido do Mato Grosso do Sul para São Paulo, buscando um júri mais imparcial. Lá, a juíza de instrução não aceitou que os réus fossem ouvidos em guarani, por meio de intérprete, o que fez com que o Ministério Público Federal se retirasse do júri. O fato de os réus terem respondido, no estado de origem, em português, não invalida o fato de deverem ser ouvidos em sua própria língua. Como destacou a Vice-Procuradora-Geral da República, “falar uma língua não é compartilhar uma linguagem, a mesma compreensão de mundo e códigos de conduta”, principalmente num ambiente externo, como o Judiciário e o júri: “era preciso permitir que os índios tivessem ali algo que lhes é comum, familiar, que é a sua língua, num ambiente totalmente estranho.”24 A cooficialidade das línguas, já referida anteriormente, é apenas mais uma forma de acesso destas comunidades. Segundo, a questão da conveniência, dadas as peculiaridades já narradas em relação a tais comunidades tradicionais, indígenas ou quilombolas, da existência de um "tradutor cultural", um profissional que não se confunde nem como o intérprete nem necessariamente com o perito, podendo ser um antropólogo (ou de qualquer das ciências sociais), mas que seja “capaz de fazer compreender ao juiz e às demais partes do processo o contexto sócio-político e cultural daquele grupo”, um responsável, pois, pelo diálogo intercultural, tornando mutuamente inteligíveis as demandas e especificidades, evitando que o "sistema judicial ignore a diversidade e aplique o direito sempre do ponto de vista étnico dominante".25 Ora, se a Constituição assegura às minorias étnicas o exercício de seus direitos sem a necessidade de serem assimiladas, devem, consequentemente, ser "adotadas medidas para garantir que os membros desses povos possam compreender e se fazer 23 Vide a análise do pensamento desta socióloga negra em: RATTS, Alex & RIOS, Flavia. Lélia Gonzalez. Retratos do Brasil Negro. São Paulo: Selo Negro, 2010. 24 Disponível em: http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-minorias/a-reserva-dedourados-e-talvez-a-maior-tragedia-conhecida-na-questao-indigena-em-todo-o-mundo-afirma-vice-pgr 25 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Processo civil e igualdade étnico-racial. IN: PIOVESAN, Flávia & SOUZA, Douglas Martins de. Ordem jurídica e igualdade étnico-racial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 295-299. A possibilidade foi admitida como conveniente no julgamento do AI nº 2008.04.00.010160-5/PR ( Rel. Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria, julg. 01-07-2008, publ. DE 31-07-2008). compreender em procedimentos legais, facilitando para eles, se for necessário, intérpretes ou outros meios eficazes", conforme preceitua o art. 12 da Convenção 169-OIT. À falta de disciplina específica do direito processual civil, nada impede seja utilizada a previsão da convenção internacional, que tem, na atual jurisprudência, status supralegal.26 O reconhecimento da autoatribuição, por parte destas comunidades, implica, por sua vez, rechaçar a ideia de que, no contexto urbano ou aprendida a língua, indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas perdem sua identidade, em nome de uma integração ou “aculturação”. A presunção de conhecimento da lei por todos é uma ficção válida para quem compartilha os mesmos referenciais teóricos e culturais da sociedade hegemônica. Tendo em vista que mesmo a Convenção 169-OIT e a Constituição admitem a resolução por métodos tradicionais, respeitados os limites de direitos humanos, futuras demandas necessitarão de verificação, no caso concreto, da cosmovisão das comunidades em relação a determinadas práticas ou mesmo em caso de cometimento de crimes ( na Bolívia, discute-se o erro de tipo culturalmente condicionado).27 Não é o fato de “estar integrado” na sociedade que afasta a realização de prova pericial, por antropólogo, para verificar a questão penal. Mas a situação reforça a necessidade de o Poder Judiciário desenvolver mecanismos, práticas e sensibilidades para lidar com a história oral e laudos antropológicos. Inclusive porque, em relação a estas “comunidades tradicionais”, a visibilidade somente pode ser reconhecida, na maior parte das vezes, por meio destas provas e não de documentação ou início de “prova material”. Uma verdadeira e urgente 26 27 Quando do projeto “Expedição da Cidadania”, desenvolvido pela AJUFE(Associação dos Juízes Federais do Brasil) e outras entidades, junto a comunidades indígenas guaranis, no sudoeste do Paraná,em 2009, realizando juizados itinerantes para elaboração de documentos úteis e propositura de ações, constatou-se: a) barreira da língua e a dificuldade dos indígenas procurarem os órgãos estatais; b) os órgãos estatais não estão preparados para fornecer tratamento diferenciado de atendimento a integrantes de populações tradicionais; c) o projeto atendeu necessidades impostas pela sociedade geral, mas com desconhecimento da população atendida ( por exemplo, cogitou-se de exames de câncer de mama, que não seriam bem recebidos pela comunidade, ou mesmo o incentivo a artesanato, sem buscar formas sustentáveis de obtenção de matéria-prima); d) ausência de conhecimento de antropologia o que “poderia auxiliar na definição de medidas e serviços a serem prestadas às comunidades indígenas”. Vide: BOCHENEK, Antônio César. As viagens insólitas até às populações tradicionais: análise do projeto “Expedição da Cidadania”, nas comunidades indígenas Tekoha Okoy, Tekoha Añenete, Tekoha Itamarã. Cabo dos Trabalhos, Programas de Mestrado e Doutoramento do CES/FEUC/FLUC, nº 4, 2010. Disponível em: http://cabodostrabalhos/ces.uc.pt/pdf/29._Antonio_Cesar_Bochenek.pdf ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Consideraciones acerca de reconocimiento del pluralismo cultural en la ley penal. IN: GALLEGOS-ANDA, Carlos Espinosa y TAPIA, Danilo Calcedo. Derechos ancestrales; justicia em contextos plurinacionales. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 99-121. O projeto estabelecia que, para a responsabilidade penal, deveria se tomar em conta “a cosmovisão e os valores culturais dos protagonistas do conflito” (p.114). necessidade de reapreciar a visão processualística. Terceiro, a necessidade de romper com o colonialismo interno dos atores jurídicos, que conhecem todas as teorias do Norte imperial28 e desconhecem práticas e jurisprudência de países vizinhos. A Corte Constitucional colombiana e mesmo as Constituições do Equador e da Bolívia fornecem farto material sobre reconhecimento de direitos às comunidades indígenas, questões envolvendo consulta prévia e informada, validação ou não de métodos tradicionais de resolução de conflitos. A discussão sobre pluralismo jurídico e reconhecimento de jurisdição indígena, no Brasil, é quase que inexistente no âmbito de Judiciário e Ministério Público. As Constituições boliviana e equatoriana, por exemplo, rompem, parcialmente, com uma visão eurocentrada de mundo e admitem a inclusão de visões até então marginais na teoria constitucional, fruto também do forte protagonismo das comunidades indígenas. São exemplos: a inscrição de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deve garantir a sustentabilidade e o bem viver (“sumak kawsay” , art. 14 da Constituição equatoriana); a inclusão de “ama qhilla, ama lulla, ama suwa” (não seja preguiçoso, mentiroso nem ladrão), “suma qamaña” (viver bem), “ivi maraei (terra sem mal), ñandereko” (vida harmoniosa) entre os princípios ético-morais da sociedade plural (art. 7º da Constituição boliviana) ou mesmo o reconhecimento de que a natureza (“pacha mama”) tem direito “ a que se respeite integralmente sua existência, manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos “ (art. 71 da constituição do Equador). Como tais questões tem sido tratadas no âmbito do Judiciário e do Ministério Público, no Brasil? Os exemplos citados neste artigo e outros que poderão ser apresentados revelam que a formação dos magistrados tem desperdiçado a experiência de países semiperiféricos, em nome de uma modernidade européia que não tem vivência, exceto agora com os imigrantes, com questões raciais e étnicas. Seminários, workshops e 28 Assim, por exemplo, Marcelo Neves destaca que a experiência brasileira, em termos constitucionais, tem sido dominada pelo diálogo com os constitucionalismos alemão e americano, mas salienta que é preciso “que se tenha cuidado para que a invocação frequente da jurisprudência americana, alemã e de outras ordens jurídicas não constitua mais um episódio histórico de 'colonialismo' no campo da cultura jurídica”, ou seja, a passagem de uma “importação acrítica de modelos legislativos e doutrinários para uma incorporação inadequada de precedentes jurisprudenciais”: NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 182 congressos devem dar atenção a tais atores jurídicos dos países latino-americanos e não somente aos representantes do “mainstream” EUA/Europa. Quarto, o processo de internacionalização dos direitos humanos, posterior ao advento da Constituição e mesmo o reconhecimento jurisprudencial de status diferenciado para tratados internacionais de direitos humanos não refletiu, ainda hoje, a incorporação desta jurisprudência por parte dos atores jurídicos. Os relatórios internacionais têm salientado o profundo desconhecimento, mesmo do Ministério Público, mesmo da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem inúmeras decisões envolvendo consulta prévia e informada, reconhecimento de relação especial das comunidades negras e indígenas com o espaço territorial de reprodução cultural, de proteção de outras propriedades pela própria Convenção Americana e, ainda que timidamente, de discriminação racial. Recentemente, a Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF tem disponibilizado, em sua página de internet, jurisprudência de outros países envolvendo a Convenção 169-OIT, bem como da CIDH, no tocante a comunidades tradicionais. 29 As escolas de Magistratura não tem dado destaque a tal questão, preferindo insistir, na maior parte das vezes, em mera atualização legislativa, e, em boa parte, os programas para concurso para juiz federal não incluem a temática de direitos humanos e de tratados internacionais. A questão torna-se ainda mais premente quando se recorda que a partir da EC n° 45/2004 é possível o deslocamento de feito ajuizado na esfera estadual para a esfera federal, desde que: a) o pedido seja realizado pelo Procurador-Geral da República; b) comprovada a incapacidade das autoridades estaduais locais em agirem para apuração dos fatos; c) provada a ocorrência de grave violação de direitos humanos e a necessidade de garantia do cumprimento, pelo Brasil, de obrigações decorrentes de tratados internacionais sobre o tema. No caso envolvendo a morte da missionária Dorothy Sang, o STJ, responsável pela 29 Disponíveis em: http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/destaques-do-site/a-aplicacao-da-convencao-169-na-america-latina e http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/destaques-do-site/a-corte-interamericana-de-direitos-humanos-e-as-populacoestradicionais questão, entendeu não presentes os requisitos.30 Recentemente, contudo, aceitou o deslocamento para a Justiça Federal/PB, para apuração da morte do advogado Manoel Bezerra de Mattos Neto, ocorrida em Pitimbu/PB, por alegada atuação de grupos de extermínio naquele Estado.31 Perante o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em reunião realizada em Campo Grande, no dia 22 de novembro deste ano, foi aprovada a recomendação a federalização das investigações dos chamados “Crimes das Mães de Maio”, os assassinatos cometidos por grupos de extermínio em ocorrências de resistência seguida de morte da Polícia Militar, durante a semana de 12 a 21 de maio de 2006, em represália aos ataques da facção criminosa Primeiro Comando da Capital ( PCC). Os inquéritos foram sempre arquivados, e as investigações sofreram inúmeras falhas. Estas questões de federalização demandarão, portanto, uma atenção especial por parte dos operadores jurídicos na esfera federal. Quinto, a jurisprudência das cortes internacionais de direitos humanos têm insistido que as investigações de casos envolvendo raça e gênero devem ser objeto de maior atenção, vigor e imparcialidade, para que a violação não reste impune, que se reafirme a condenação, pela sociedade, do racismo e como forma de “manter a confiança das minorias na habilidade das autoridades em protegê-las da ameaça da violência racial.”32 No projeto do Estatuto da Igualdade Racial (no original, no art. 63; no substitutivo, art. 80)33, estava prevista a criação de um grupo de trabalho para elaboração de Programa Especial de Acesso à Justiça para a população afro-brasileira, prevendo, dentre outras medidas: a) inclusão da temática da discriminação racial e desigualdades raciais no processo de formação profissional das carreiras jurídicas da Magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública; b) criação de varas especializadas para julgamento de demandas criminais e cíveis originadas da legislação antidiscriminatória e promocional da igualdade racial; c) adoção de estruturas institucionais adequadas à operacionalização das propostas e medidas previstas. No entanto tal proposta não foi contemplada no projeto final que foi aprovado pelo Congresso Nacional, prevendo apenas, vagamente, “programas de ação 30 IDC nº 1/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 10/10/2005, p. 217. 31 IDC nº 2/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 22/11/2010. 32 ECHR, Case of Angelova and Iliev v. Bulgaria, Judgmente 26 july 2007, para. 98; ECHR, Menson and others v. United Kingdom, acórdão 47916/99. 33 Disponível em: www.cedine.rj.gov.br/.../Estatuto_da_Igualdade_Racial_Novo.pdf afirmativa”, no tocante ao acesso à justiça (art.4º, inciso VII, Lei nº 12.288/2010). Deve-se incluir também o combate ao que se convencionou denominar “racismo ambiental”, ou seja, “qualquer política, prática ou diretiva que afete ou prejudique, de formas diferentes, voluntária ou involuntariamente, a pessoas, grupos ou comunidades por motivo de raça ou cor.34Vale dizer: as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma desproporcional sobre etnias vulnerabilizadas, independentemente de sua intencionalidade. Nesta lógica, a “injustiça ambiental” é entendida como o “mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis.”35 Singular lembrar que, nos Estados Unidos, o movimento por “justiça ambiental” teve origem entre os negros como desdobramento das lutas por direitos civis, depois da década de 1970, com o movimento contra aterros de resíduos tóxicos, que denunciou que três quartos dos aterros da região sudeste dos Estados Unidos estavam localizados em bairros habitados por negros (recorde-se, também, que, quando do furacão Katrina”, a impossibilidade de evacuação da cidade atingiu, majoritariamente, a população negra de New Orleans). O mesmo fenômeno se verifica, atualmente no Brasil, com a construção de inúmeras hidrelétricas no Programa de Aceleração do Crescimento. Tanto a temática da discriminação racial quanto daquela de gênero/sexual devem constar, não somente do programa para seleção das carreiras jurídicas, mas de oficinas, workshops obrigatórios por parte das Escolas de Magistratura. Devem constituir, inclusive, eixo transversal para a formação profissional. Sexto,, coloca-se a necessidade de repensar a relação entre as normas definidoras de direitos presentes na Constituição e nos tratados internacionais de direitos humanos. Neste sentido, se faz necessário um “diálogo das fontes”, de forma que “a Constituição 34 BULLARD, Robert. Ética e racismo ambiental. Disponível em: http://www.sfiec.org.br/iel/bolsaderesiduos/Artigos/Artigo_Etica_e_Racismo_Ambiental.pdf 35 Manifesto de lançamento da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Disponível em: http://www.justicaambiental.org.br/_justicaambiental/pagina.php?id=229 não exclui a aplicação dos tratados, e nem estes excluem a aplicação dela, mas ambas as normas (Constituição e tratados) se unem para servir de obstáculo à produção normativa doméstica infraconstitucional que viole os preceitos da Constituição ou dos tratados de direitos humanos em que a República Federativa do Brasil é parte.”36 É que os tratados internacionais de direitos humanos prevêem, no geral, uma cláusula de prevalência da norma que seja mais favorável à proteção do ser humano. Veja-se, por exemplo, o art. 29, “b”, da Convenção Americana dos Direitos Humanos, os artigos 5. 2 e 46 do Pacto Internacional dos direitos civis e políticos, os artigos 5.2 e 24 do Pacto Internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais, o art. 1.3 da Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, os artigos 1º e 16.2 da Convenção internacional contra a tortura e outros tratamentos humanos, cruéis e degradantes, os artigos 13 e 14 da Convenção de Belém do Pará. Em outros termos, a aplicação da norma que seja mais favorável, mais protetora ou mais benéfica às vítimas e, pois, beneficiárias dos tratados de direitos humanos. A Constituição boliviana, de 200937, prevê, de forma expressa, tanto a aplicação do tratado internacional quando a norma for mais favorável que a contida na Constituição, quanto a interpretação dos direitos constitucionais de acordo com os tratados internacionais quando estes prevejam normas mais favoráveis. Isto implica, também, o rompimento de uma concepção canônica de direitos humanos que privilegia a dimensão de direitos civis e políticos, relegando os direitos econômicos, sociais e culturais a segundo plano. Mas não significa, por sua vez, ignorar os condicionamentos de colonialismo que constituem boa parte do direito internacional, em especial envolvendo migrações, tráfico de pessoas, gênero e diferenças religiosas. 38 Um exercício intercultural de tradução entre diferentes cosmovisões deve ser privilegiado para a formação dos atores jurídicos. 36 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 214. 37 “ Artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.” 38 Para uma análise da forma como a história do direito internacional está permeada pelo imperialismo e colonialismo, vide: ANGHIE, Antony. The evolution of International Law: colonial and postcolonial realities. Third Word Quarterly, vol. 27, nº 5, p.739-753, 2006. Não são poucos, portanto, os desafios de acesso à justiça e de formação dos magistrados quando envolvem questões de diversidade étnico-sócio-cultural. Afinal, trata-se de descolonizar o imaginário, a memória, as constelações de poder e criar novos arquivos, revelando a capacidade de agir histórico destas comunidades invisibilizadas.39 É uma luta por justiça reparativa, histórica e social, mas também por justiça cognitiva. Mas como salienta Mia Couto, o “mundo está grávido de imensidão”, e os homens, moradores de infinitos, “nasceram para desobedecer mapas e desinventar bússolas”, pois os “vivos se esforçam como anarquitetos”.40 César Augusto Baldi, mestre em Direito ( ULBRA/RS), doutorando Universidad Pablo Olavide ( Espanha), servidor do TRF-4ª Região desde 1989,é organizador do livro “Direitos humanos na sociedade cosmopolita” ( Ed. Renovar, 2004). 39 LAO-MONTES, Agustín. Sin justicia étnico-racial no hay paz: las afro-reparaciones en perspectiva histórico-mundial. IN: ROSERO-LABBÉ, Claudia Mosquera & BARCELOS, Luiz Claudio. Afro-repareciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales, 1ª impresión. Junio de 2009, p. 138 e 150. 40 COUTO, Mia. La muerte nascida del guarda-carreteras. IN: Ángeles borrachos. Santiago: LOM, 2005, p. 141
Baixar