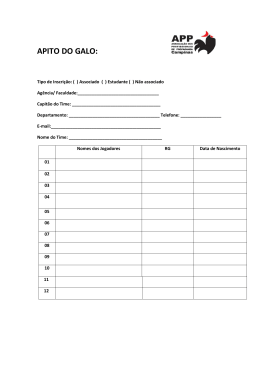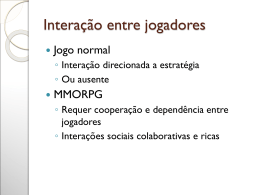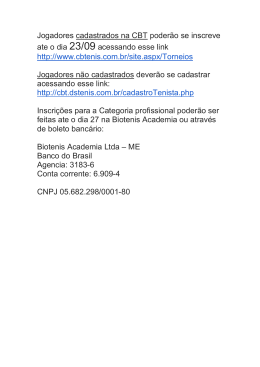1 O CÍRCULO DE AMOR A vida é uma jornada. O tempo é um rio. A porta está entreaberta. JIM BUTCHER C ecil B. DeMille teria amado esse momento. Lá estava eu naquela limusine sobre a rampa que conduz ao Memorial Coliseum de Los Angeles, esperando que meu time chegasse enquanto uma multidão de 95 mil torcedores em êxtase com roupas de todas as combinações possíveis de púrpura e dourado dos Lakers seguia em direção ao estádio. Mulheres em tutus, homens fanta‑ siados de soldados de Guerra nas estrelas e crianças agitando cartazes de “Kobe Diem”. Mas, apesar de toda a algazarra, emanava algo inspirador em relação a esse antigo ritual com um toque decididamente de L.A. Como disse Jeff Weiss, um colunista do LA Weekly: “Foi o mais perto que qualquer um poderia imaginar sobre o que seria assistir ao retorno das legiões romanas para casa depois de uma temporada na Gália.” Na verdade, nunca me senti muito confortável nas celebrações de vitória, embora isso seja estranho para uma profissão como a minha. O fato é que tenho fobia de grandes multidões. Isso não me incomoda durante os jogos, mas às vezes me deixa enjoado em situações de menor controle. E, além do mais, nunca gostei de ser o centro das atenções. Talvez por uma timidez inerente ou pelas mensagens conflitantes rece‑ bidas dos meus pais quando criança. Ambos eram ministros da igreja – mamãe foi uma das pessoas mais ferozmente competitivas que já co‑ nheci – e achavam que era bom ganhar, mas que era um insulto a Deus rejubilar‑se com o próprio sucesso. Ou como eles próprios diziam: “A glória pertence a Ele.” 12 ONZE ANÉIS De todo modo, as celebrações não tinham nada a ver comigo. Só tinham a ver com a notável transformação vivenciada pelos jogadores durante o percurso do campeonato de 2009 da National Basketball Asso‑ ciation (NBA), principal liga profissional de basquetebol norte‑americano. Isso era visível no rosto deles enquanto desciam pela escada púrpura e dourada até o Coliseu. Eles sorriam e brincavam com alegria, com seus bonés e camisetas da competição, enquanto a torcida vibrava de prazer. Quatro anos antes, os Lakers nem tinham chegado às finais. E agora eram mestres do universo do basquete. Alguns técnicos são obcecados por ga‑ nhar troféus; outros gostam de ver os próprios rostos na TV. O que me motiva é apreciar a união dos jovens e tocar a magia que aflora quando se devotam – de todo o coração e toda a alma – a algo maior que eles próprios. Depois que se experimenta isso, nunca mais se esquece. O símbolo é o anel. Na NBA, os anéis simbolizam status e poder. Não importa o quão berrante ou pesado seja um anel de campeão, o sonho de ganhá‑lo é o que instiga os jogadores a disputar a longa temporada da NBA. Quem entendia isso era Jerry Krause, ex‑gerente-geral do Chicago Bulls. Quando entrei na equipe como assistente técnico em 1987, ele pediu para que eu usasse um dos dois anéis que ganhei quando participei do campeonato como jogador pelo New York Knicks para inspirar os jogadores dos Bulls. Isso era o que eu também fazia durante as finais nos meus tempos de treinador na Associação Continental de Basquete, mas a cada dia a ideia de ostentar aquele enorme pedaço de ouro no dedo me parecia um pouco demais. Um mês depois da grande experiência de Jerry, a pedra central do anel caiu enquanto eu jantava no Bennigan’s, em Chicago, e nunca mais a recuperei. E depois disso só usava os anéis durante as finais e em ocasiões especiais, como nessa triunfante confraternização no Coliseu. No nível psicológico, o simbolismo do anel é mais profundo: o eu em busca de harmonia, conexão e completude. Na cultura indígena norte‑americana, por exemplo, o poder unificador do círculo era de tal modo significativo que nações inteiras eram concebidas como uma sequência de anéis (ou aros) interligados. A tenda era um anel, tal como O CÍRCULO DE AMOR13 o eram a fogueira, a aldeia e a representação da nação em si – círculos dentro de círculos, sem começo nem fim. A maioria dos jogadores não era tão familiarizada com a psicologia indígena norte‑americana, mas entendiam intuitivamente o significado mais profundo do anel. No início da temporada, os jogadores tinham criado um refrão que passaram a gritar antes de cada jogo, com as mãos juntas e em círculo. Um, dois, três – ANEL! Depois que tomaram seus lugares no palco – uma réplica da quadra dos Lakers, no Staples Center – me levantei e me dirigi à multidão. – Qual foi nosso lema nesta equipe? O anel – disse e exibi o conquis‑ tado no último campeonato, em 2002. – O anel. Foi esse o lema. Não é apenas um aro de ouro. É um círculo que representa o vínculo entre todos os jogadores. Um grande amor de um pelo outro. Círculo de amor. Não é assim que a maioria dos torcedores do basquete encara o es‑ porte. Mas depois de mais de quarenta anos envolvido por esse jogo no mais alto nível, tanto como jogador quanto como treinador, não consigo pensar em outra expressão mais significativa para descrever a misteriosa alquimia que une os jogadores em busca do impossível. Claro que não estamos falando aqui do amor romântico e nem mes‑ mo do amor fraternal no sentido tradicional da cristandade. A melhor analogia que me ocorre a respeito é a intensa conexão emocional entre os grandes guerreiros no calor da batalha. Alguns anos atrás o jornalista Sebastian Junger se incorporou a um pelotão de soldados norte‑americanos baseados em uma das regiões mais perigosas do Afeganistão, a fim de entender o que impulsionava aqueles jovens incrivelmente corajosos a lutar em condições tão adversas. O que ele descobriu, conforme narrado no livro War, é que a coragem necessária para o engajamento na batalha era indistinguível do amor. A irmandade entre os soldados era tamanha que estavam mais preocupados com o destino dos amigos do que consigo próprios. Segundo Junger, um solda‑ do chegou a declarar que seria capaz de se jogar sobre uma granada em defesa de qualquer companheiro, mesmo daquele de quem não gostava tanto assim. E, quando Junger o inquiriu sobre a razão disso, o soldado 14 ONZE ANÉIS respondeu: “Porque realmente amo esses meus irmãos. Quer dizer, é uma fraternidade. É gratificante quando se salva a vida de um companheiro e ele sobrevive. Qualquer um deles faria o mesmo por mim.” Esse tipo de vínculo praticamente impossível de ser reproduzido na vida civil é fundamental para o sucesso, diz Junger, porque sem isso nada mais é possível. Não quero levar a analogia longe demais. Os jogadores de basquetebol não arriscam diariamente a própria vida, como os soldados no Afega‑ nistão, mas em muitos aspectos aplica‑se o mesmo princípio. É preciso uma série de fatores críticos para se conquistar um campeonato da NBA, incluindo uma combinação certa de talento, criatividade, inteligência, tenacidade e, claro, sorte. Mas, se uma equipe não tem o ingrediente essencial – amor –, nenhum dos outros fatores importa. Não se forma um tipo de consciência como essa da noite para o dia. São necessários anos de abnegação para que os jovens atletas deixem de lado os próprios egos e se engajem de corpo e alma na experiência de grupo. E a NBA não é exatamente o ambiente mais amigável para o aprendiza‑ do da abnegação. Embora o jogo em si seja um esporte com equipes de cinco jogadores, a cultura circundante celebra o comportamento egoísta e acentua a realização individual acima da união da equipe. Mas não era esse o caso quando comecei a jogar para os Knicks, em 1967. Naquele tempo a maioria dos jogadores ganhava um salário mo‑ desto e no verão precisava de um trabalho de meio expediente para fazer face às despesas. Raramente os jogos eram televisionados e nenhum de nós jamais ouvira falar de vídeo dos melhores momentos e muito menos de Twitter. Isso mudou na década de 1980, impulsionado em grande parte pela popularidade da rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird e pelo surgimento de Michael Jordan como fenômeno global. Hoje, o jogo tornou‑se uma indústria de bilhões de dólares, com torcedores pelo mundo afora e uma sofisticada máquina midiática que transmite todos os acontecimentos dentro e fora das quadras cada dia da semana e 24 horas por dia. O subproduto lamentável disso é a obsessão marqueteira com o estrelato que afaga os egos de um punhado de jogadores de basquete O CÍRCULO DE AMOR15 e que prejudica o aspecto fundamental que atrai o grande público ao basquete: a beleza inerente ao jogo. Como a maioria dos outros times da competição da NBA – os Lakers de 2008‑09 lutaram por anos a fio para fazer a transição de um time desconectado e guiado pelo ego para um sistema unificado e abnegado, mas não constituíram o time mais transcendente já treinado por mim – essa honra pertence ao Chicago Bulls de 1995‑96, liderado por Michael Jordan e Scottie Pippen. E também não eram tão talentosos quanto o time dos Lakers de 1999‑2000, carregado por arremessadores precisos do naipe de Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Glen Rice, Robert Horry, Rick Fox e Derek Fisher. No entanto, os Lakers de 2008‑09 tinham as sementes da grandeza no seu DNA coletivo. Os jogadores pareciam mais ávidos do que nunca quando se apresenta‑ ram ao centro de treinamento, em agosto de 2008. No final da temporada anterior tinham feito uma última corrida milagrosa até as finais contra os Celtics, apenas para serem humilhados em Boston e derrotados no sexto jogo decisivo por 39 pontos. Claro que aquela surra que tomamos nas mãos de Kevin Garnett e companhia – e a torturante viagem de volta ao hotel por entre multidões de torcedores dos Celtics – acabou sendo uma experiência brutal, especialmente para os jogadores mais jovens que ainda não tinham provado o veneno de Boston. Alguns times se sentem desmoralizados depois de derrotas como aque‑ la, mas, depois de tanta energização, aquele time jovem e animado chegara tão perto da conquista apenas para vê‑la detonada por um adversário fisicamente mais intimidante e mais difícil. Kobe, que tinha sido nomeado o melhor jogador do ano da NBA, estava particularmente em primeiro plano. Eu sempre me impressionei com a capacidade de recuperação e a autoconfiança inquebrantável de Kobe. Ao contrário de Shaq, que às vezes era corroído pela indecisão, Kobe nunca se permitia esse tipo de pensamento. Se colocassem uma barra de salto em altura a três metros e meio, ele pularia quatro metros e meio, mesmo que nunca tivesse feito isso. Foi com essa atitude que chegou ao centro de treinamento naquele outono, causando um poderoso impacto nos companheiros de time. Ainda assim, o que mais me surpreendia não era a implacável de‑ terminação de Kobe, mas sim a mudança no relacionamento que tinha 16 ONZE ANÉIS com os companheiros. Ele já não era mais o jovem impetuoso que se consumia para ser o melhor jogador e absorvia a alegria de jogar dos outros jogadores. O novo Kobe que surgiu naquela temporada acabou por cumprir o papel de um líder de time apaixonado. Quando cheguei pela primeira vez a Los Angeles alguns anos antes, tratei de encorajá‑lo a se juntar mais aos companheiros do time e se esconder menos no quarto de hotel para estudar as reprises das partidas. Mas Kobe zombava da ideia e dizia que os outros só estavam interessados em carros e mulheres. E agora se esforçava para se ligar aos outros jogadores de maneira que pudessem construir um time mais coeso. Claro, isso ajudou para que outro cocapitão do time – Derek Fisher – se tornasse um líder natural com excepcional inteligência emocional e afinadas habilidades de gestão. Fiquei satisfeito quando Fish, que desempenhara um papel fundamental como armador em nossa campanha anterior de três campeonatos consecutivos, decidiu voltar para Los Angeles depois de jogar para o Golden State Warriors e o Utah Jazz. Fish não era tão rápido nem tão criativo como outros armadores mais jovens da liga, mas era forte, determinado e destemido, e tinha um caráter sólido como uma rocha. E apesar da pouca velocidade tinha o dom de conduzir a bola até o ataque e de fazer o sistema funcionar com eficiência. Também era um excelente arremessador de três pontos quando o tempo de jogo expirava. Acima de tudo, mantinha com Kobe um vínculo sólido. Kobe respeitava a disciplina mental e a autoconfiança de Fish em momentos de grande pressão, e Fish sabia como chegar a Kobe de um jeito que ninguém mais chegava. No primeiro dia de treino, Kobe e Fish deram uma palestra para o time na qual disseram que a temporada seguinte seria uma maratona e não uma corrida, e que o time precisava se concentrar no confronto homem a homem sem se deixar intimidar pelo contato físico. Ironicamente, a cada dia Kobe se parecia mais e mais comigo. Na obra inovadora Tribal Leadership, os consultores de gestão Dave Logan, John King e Halee Fischer‑Wright apontam as cinco etapas de desenvolvimento tribal, formuladas após a realização de uma extensa pesquisa sobre organizações de pequeno e médio portes. As equipes de basquete não são oficialmente tribais, mas compartilham muitas caracte‑ rísticas iguais e se desenvolvem em muitas das mesmas linhas: O CÍRCULO DE AMOR17 – compartilhada pela maioria das gangues de rua e caracte‑ rizada pelo desespero, a hostilidade e o sentimento coletivo de que “a vida é uma merda”. ETAPA 1 – ocupada principalmente por pessoas apáticas que se perce‑ bem como vítimas e que são passivamente antagônicas, com a ideia de que “minha vida é uma merda”. Pense na série televisiva The Office ou na tira de quadrinhos Dilbert. ETAPA 2 ETAPA 3 – concentrada principalmente na realização individual e im‑ pulsionada pelo lema “eu sou o máximo (e você não é)”. Segundo os autores, as pessoas organizadas nesta etapa “têm que vencer, e assim a vitória é uma questão pessoal. Trabalham mais e avaliam os concorrentes em base individual, clima que resulta em um conjunto de ‘guerreiros solitários’”. – dedicada ao orgulho tribal e à convicção primordial de que “nós somos o máximo (e vocês não são)”. Este tipo de equipe requer um adversário forte, e quanto maior o é mais poderosa é a tribo. ETAPA 4 – além de rara, se caracteriza pelo sentido inocente de diva‑ gação e pela forte convicção de que “a vida é o máximo”. (Ver Bulls, Chicago, 1995‑98.) ETAPA 5 Se todas as coisas são iguais, afirmam Logan e seus colegas, a cultura da etapa 5 supera a da etapa 4, que, por sua vez, supera a da 3, e assim por diante. Afora isso, as regras mudam quando nos deslocamos de uma cultura para outra. Por isso, os proclamados princípios universais que aparecem na maioria dos livros de liderança raramente se sustentam. Caso se queira mudar a cultura de uma etapa para outra, é necessário encontrar as alavancas apropriadas para essa fase especial no desenvol‑ vimento do grupo. Durante a temporada de 2008‑09, os Lakers precisavam que o time mudasse da etapa 3 para a 4 se quisessem vencer. A chave era pegar um grupo de jogadores essenciais à equipe que assumissem uma abordagem 18 ONZE ANÉIS mais coletiva e menos egoísta do jogo. Eu não me preocupava muito com Kobe, mas, quando ele se sentia frustrado, a qualquer momento disparava uma metralhadora de arremessos. De qualquer forma, ele já entendia àquela altura da carreira que era uma loucura tentar pontuar cada vez que colocava as mãos na bola. Eu também não me preocupava com Fish ou com Pau Gasol, porque tinham uma inclinação para ser jogadores de equipe. O que me preocupava eram alguns jogadores mais jovens que estavam ansiosos em fazer fama com o pessoal do SportsCenter da ESPN. Mas, para minha surpresa, no início da temporada notei que até mesmo os jogadores mais imaturos da equipe estavam concentrados em uma única ideia. – Estávamos em uma missão séria e não deixaríamos que a peteca caísse – diz o ala Luke Walton. – Quando chegamos à final, a derrota não era uma opção. Tivemos um começo eletrizante ao ganhar 21 dos primeiros 25 jogos, e quando no Natal enfrentamos os Celtics em casa já éramos uma equipe muito mais animada do que a das finais do ano anterior. Jogávamos da maneira que os “deuses do basquete” ordenavam: observando o movi‑ mento das defesas e reagindo em uníssono como uma afinada banda de jazz. Aqueles novos Lakers bateram os Celtics com folga, 92‑83, e depois dançaram ao longo da temporada até o melhor recorde da Conferência Oeste (65 vitórias e 17 derrotas). A ameaça mais preocupante se deu na segunda rodada das finais con‑ tra o Houston Rockets, que levou a série para sete jogos, mesmo tendo perdido a estrela Yao Ming com uma fratura no pé durante o terceiro jogo. Em contrapartida, nosso grande ponto fraco era a ilusão de que poderíamos velejar o talento a sós. Porém, o fato de terem sido levados ao limite da série por um time que estava sem as suas três maiores estrelas mostrou aos nossos jogadores que as finais podiam ser muito traiçoeiras. A disputa acirrada os fez acordar e os ajudou a se aproximarem e se tornarem um time unido da etapa 4. Sem dúvida alguma, o time que saiu da quadra em Orlando depois de vencer as finais do campeonato em cinco jogos era diferente daquele outro time que no ano anterior desmoronara na quadra do TD Garden, O CÍRCULO DE AMOR19 em Boston. Não era apenas um time mais resistente e mais confiante, e sim agraciado por um forte vínculo. – Era apenas uma fraternidade – diz Kobe. – Era tudo que era... uma fraternidade. Quase todos os técnicos que conheço passam muito tempo concentrados no X disso e no O daquilo. E reconheço que algumas vezes também me enredei nessa armadilha. No entanto, o que fascina a maioria dos afi‑ cionados de esportes não é a interminável tagarelice sobre as estratégias que preenchem as transmissões de rádio e TV. É o que gosto de chamar de natureza espiritual do jogo. Não posso fingir que sou um especialista em teoria de liderança; en‑ tretanto, sei que a arte de transformar um grupo de jovens ambiciosos em time integrado e campeão não é processo mecanicista. É um misterioso ato de malabarismo que requer não apenas profundo conhecimento das leis consagradas pelo tempo do jogo, mas também coração aberto, mente clara e aquela curiosidade atenta aos caminhos do espírito humano. Este livro aborda a minha jornada na tentativa de desvendar esse mistério.
Baixar