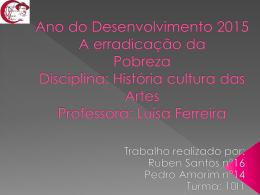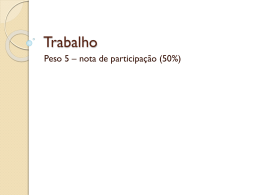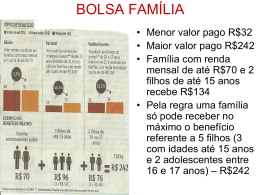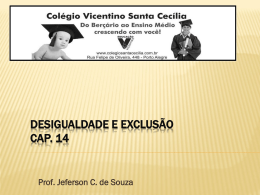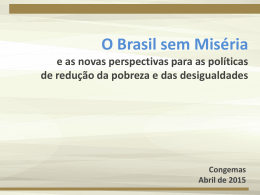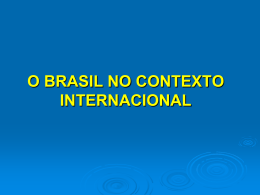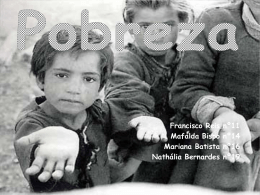PRINCIPAIS ÍNDICES DE POBREZA BRASILEIRA Ricardo Dalla Costa1 RESUMO A discussão proposta neste artigo é mostrar alguns parâmetros que leva a divulgação dos índices de pobreza. Assim, a privação de algumas necessidades básicas para a sobrevivência do indivíduo colabora para o aumento da linha de pobreza. Uma análise empírica é ilustrada para verificar um índice hipotético de pobreza no Brasil para fins de comparação. Também é abordado a análise da distribuição da renda, onde a Curva de LORENZ, o Coeficiente de GINI e o Índice de Desenvolvimento Humano, onde é analisado os Estados brasileiros assim como no país com o resto do mundo. Por fim, um exemplo ilustrativo de distribuição de renda através da Hipérbole de PARETO. Palavras Chave: Pobreza; Privações; Curva de LORENZ, Coeficiente de GINI, IDH, Hipérbole de PARETO. INTRODUÇÃO No discurso de posse em primeiro de janeiro de 2003, o Excelentíssimo Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, frisou várias vezes o combate à fome e conseqüente pobreza do povo brasileiro. Segundo o artigo de LEMOS (1999), “neste estudo buscou-se construir um Índice de Pobreza (IP) com base no conceito de privações. Para tanto utiliza-se os indicadores: privação de acesso aos serviços de água encanada, de saneamento e de coleta de lixo e privação da renda”. De acordo com esse índice, é interessante fazer uma regressão para verificar a análise desses dados. Neste estudo é dado ênfase a Curva de LORENZ e conseqüente o Coeficiente de GINI, de forma a comparar dados com economias internacionais, desenvolvidas ou não. Da mesma forma, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), também é alvo de estudo 2 e comparações com outras nações. Para fechar, um modelo da aplicação da Hipérbole de PARETO segundo os dados do Censo do IBGE (2000) de forma a ilustrar uma análise empírica. HORIZONTE DO DESEJO A pobreza brasileira vem em conseqüência do “Horizonte do Desejo”, isto é, título do artigo de SANTOS (1998), onde a privação de uma melhor qualidade de vida aumenta cada vez mais o número de pessoas para a linha da pobreza. Do mesmo autor, “o sentimento de privação relativa instala-se precisamente nos interstícios que se expandem ou contraem entre aquilo de que se dispõe e aquilo de que se ambiciona dispor, entre o real cotidiano e o horizonte do desejo”. A pobreza brasileira é também conseqüência do descaso social e da falta de vontade política de governos anteriores. A perspectiva de um horizonte de menores privações parece ser um sonho de tempo infinito. A Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, frisa no Capítulo 3 o Combate à Pobreza, como: 3.1. A pobreza é um problema complexo e multidimensional, com origem ao mesmo tempo na área nacional e na área internacional. Não é possível encontrar uma solução uniforme, com aplicação universal para o combate à pobreza. Antes, é fundamental para a solução desse problema que se desenvolvam programas específicos para cada país, com atividades internacionais de apoio às nacionais e com um processo paralelo de criação de um ambiente internacional de apoio. A erradicação da pobreza e da fome, maior eqüidade na distribuição da renda e desenvolvimento de recursos humanos: esses desafios continuam sendo consideráveis em toda parte. O combate à pobreza é uma responsabilidade conjunta de todos os países. (IPARDES, 2001) Ainda assim, não se poderia deixar de mencionar o consumo, este ligado diretamente a renda, pois: Supondo solucionado o problema de traduzir as diferenças relativas em valores monetários, a questão converte-se em formular estratégias para a obtenção de renda monetária, cuja tradução material se manifesta nos indicadores do padrão de vida ambicionado. O segredo inicial dessa estratégia foi descoberto por Adam Fergusson, mais uma vez, e encontra-se em radical mudança no horizonte de tempo. Enquanto em sociedades primitivas a taxa de desconto temporal é, por assim dizer, infinita, sendo zero o valor presente de um bem futuro, o consumo tende a ser imediato e a atividade econômica predatória. De onde, nenhuma 1 Mestrando em Teoria Econômica pela UEM (Jan/2003). 3 poupança, nenhum investimento, nenhum aumento sistemático de riqueza, exceto por expropriação de terceiros (SANTOS, 1998). E novamente a Agenda 21 no Capítulo 4, frisa a Mudança dos Padrões de Consumo, como: 4.3. A pobreza e a degradação do meio ambiente estão estreitamente relacionadas. Enquanto a pobreza tem como resultado determinados tipos de pressão ambiental, as principais causas de deterioração ininterrupta do meio ambiente são os padrões insustentáveis de consumo e de produção, especialmente nos países industrializados. Motivo de série preocupação, tais padrões de consumo e produção provocam o agravamento da pobreza e dos desequilíbrios. (IPARDES, 2001) ÍNDICE DE POBREZA Os dados da Tabela 1 foram extraídos da Tabela 5 de LEMOS (1999). É de grande observação que os Estados serão analisados pela sua totalidade com exceção da Região Norte, onde o PNAD não pesquisou o Setor Rural. Para facilitar a identificação, considere IP como Índice de Pobreza, PE como Privação da Educação, PA como Privação de Água, PS como Privação de Saneamento, PL como Privação de Lixo e PR como Privação de Renda, todos em percentuais. TABELA 1 – ÍNDICE DE POBREZA DOS ESTADOS BRASILEIROS EM 1996. AMOSTRAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ESTADOS NORTE Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará Amapá Tocantins NORDESTE Maranhão Piauí Ceará Rio G. Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia SUDESTE IP (%) PE PA PS PL PR 25.63 29.67 28.32 20.05 38.52 48.69 46.41 12.64 17.55 15.62 10.24 14.22 16.85 23.32 40.37 36.32 13.21 2.27 43.26 30.32 37.46 19.29 46.58 45.63 30.29 53.23 85.16 51.92 25.09 25.21 25.29 21.96 48.16 25.16 53.00 33.97 32.76 29.47 21.70 41.32 27.45 57.84 59.35 56.33 51.48 42.27 47.34 43.09 46.48 41.32 48.01 34.68 32.78 30.24 23.74 29.55 23.72 36.34 24.95 28.40 53.76 41.19 49.59 23.66 31.88 28.14 37.44 23.22 34.83 69.39 63.37 74.27 58.15 66.78 53.49 62.75 41.88 60.90 78.38 72.49 50.48 32.67 42.55 38.65 37.72 37.65 50.36 64.67 64.40 60.79 52.97 57.50 55.29 57.01 54.35 59.47 4 17 18 19 20 Minas Gerais 30.32 Espírito Santo 30.42 Rio de Janeiro 18.21 São Paulo 13.21 SUL 21 Paraná 31.33 22 Santa Catarina 19.84 23 Rio Grande Sul 22.60 CENTROESTE 24 Mato Grosso Sul 29.63 25 Mato Grosso 45.63 26 Goiás 38.35 27 Distrito Federal 14.05 BRASIL 28,59 Fonte: LEMOS (1999), IBGE/PNAD (1996) 13.47 14.28 8.71 8.75 20.28 23.73 14.16 6.19 32.06 31.60 12.57 10.87 31.24 37.02 14.63 5.40 39.25 37.17 24.56 17.80 12.39 6.84 7.77 17.36 28.28 21.85 51.26 21.39 23.95 20.51 23.29 20.65 33.15 24.56 29.78 15.52 13.29 15.21 8.45 15,89 23.38 37.84 37.39 7.86 22,48 12.60 77.78 60.95 7.66 36,44 24.43 35.32 27.77 4.20 26,91 39.95 39.33 42.77 19.08 36,19 Assim, esses dados analisados econometricamente pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com 27 amostras (Estados) e 6 parâmetros, tem-se: Y^ = β1 + β2PE + β3PA + β4PS + β5PL + β6PR Y^ = 3,8101 + 0,1182 PE + 0,0398 PA + 0,2856 PS + 0,1514 PL + 0,2559 PR (I) (1,6805) ( 0,1445) (0,0618) (0,0317) ( 0,0631) (0,1018) O Coeficiente de Determinação (R²) mostrou o valor de 0, 9714 , isto é, 97,14% da regressão é explicada, que pode ser considerada satisfatório. Para uma análise de teste de significância2, usa-se os valores entre parênteses, que são os desvios-padrão. H0: β1 = 0 t1 = 2,2671 > tc (5%, gl=21) = 2,080 Rejeita-se H0 e o teste é estatisticamente significativo. H0: β2 = 0 t2 = 0,8180 < tc (5%, gl=21) = 2, 080 Não rejeita-se H0 e o teste não é estatisticamente significativo. H0: β3 = 0 t3 = 0,6440 < tc (5%, gl=21) = 2, 080 Não rejeita-se H0 e o teste não é estatisticamente significativo. H0: β4 = 0 t4 = 9,0013 > tc (5%, gl=21) = 2, 080 Rejeita-se H0 e o teste é estatisticamente significativo. H0: β5 = 0 t5 = 2,398 > tc (5%, gl=21) = 2, 080 Rejeita-se H0 e o teste é estatisticamente significativo. H0: β6 = 0 t6 = 2,5116 > tc (5%, gl=21) = 2, 080 Rejeita-se H0 e o teste é estatisticamente significativo. 2 Os dados estatísticos foram retirados de GUJARATI (2000). 5 Para uma análise do teste F Global3, tem-se: F(5,21) = 142,8316 > Fc (5%,5,21) = 2,68 , o teste F rejeita H0 e é estatisticamente significativo. Para testar se existe multicolinearidade, a regressão será feita por partes de forma a comparar os coeficientes de determinação simples (r²). Assim, Regredindo IP contra: 1) PE obtém-se r² = 0,7500 , sendo t1 = 4,1308 > tc e t2 = 8,6610 > tc 2) PA obtém-se r² = 0,5958 , sendo t1 = 3,5354 > tc e t2 = 6,0714 > tc 3) PS obtém-se r² = 0,7903 , sendo t1 = 4,5915 > tc e t2 = 9,7070 > tc 4) PL obtém-se r² = 0,7518 , sendo t1 = 4,9129 > tc e t2 = 8,7028 > tc 5) PR obtém-se r² = 0,7857, sendo t1 = 1,0169 < tc e t2 = 9,5760 >tc Logo, como as razões t são altas (exceto em t1 na quinta regressão) e os r² são inferiores ao R², não existe multicolinearidade. Para análise de autocorrelação, a estatística Durbin-Watson4 apresenta, para n = 27 , nível de signficância a 5% e k' = 5, tem-se: GRÁFICO 1 - AUTOCORRELAÇÃO Autocorrelação (+) 0 Incon- ausência de Incon- Autocorreclusão autocorrelação clusão lação (-) di ds 1,004 1,861 2 4-ds 2,139 4-di 4 2,996 O valor DW = 1,8815, está ausente de autocorrelação. Como seria o índice de pobreza brasileira com menos restrições das privações? Considerando os menores índices dos Estados na Tabela 1 tem-se: 1) PE = 6,84 em Santa Catarina 2) PA = 2,27 em Roraima 3) PS = 7,66 no Distrito Federal 4) PL = 4,20 no Distrito Federal 5) PR = 17,80 em São Paulo Utilizando a equação (I) obtém-se o índice de pobreza estatístico de 12,09% contra o valor total fornecido pela Tabela 1 de 28,59%, ou seja, é o porcentual da população brasileira restrita as condições mínimas para sair da linha da pobreza, como educação, 3 4 Os dados estatísticos foram retirados de www.Baseeconomia.cjb.net (2000). Idem rodapé n. 2. 6 água, saneamento, lixo e a renda na melhor das hipóteses. Comparando com outras nações, como a República da Coréia do Sul e no Chipre, a água e o saneamento chegam a 100% da população, e para não ir muito longe, a média de educação dos brasileiros não chega a 4,5 anos de estudo contra 8 anos na Argentina. Porém, essa realidade está mudando, pois segundo o Banco Mundial (2002), O Relatório sobre o Desenvolvimento Global 2003 /.../ Importantes indicadores sociais do Brasil apresentaram melhoras significativas ao longo dos anos, principalmente nas áreas de educação fundamental e saúde básica. A porcentagem de crianças fora da escola caiu de 18,2% para 3% entre 1992 e 2000; a taxa de analfabetismo teve uma redução de 18,3% para 10,2% no período de 1992 e 2000; e a mortalidade infantil caiu de 47,8 por mil em 1990 para 29,6 por mil em 2000. Essas melhorias estão entre as mais rápidas para qualquer país do mundo, em período semelhante. A CURVA DE LORENZ Representação gráfica da distribuição de renda usada pela primeira vez em 1905 pelo estatístico norte-americano M. C. Lorenz. Dessa forma, o modelo de LORENZ consiste num gráfico cartesiano, onde o eixo das abscissas é representada na forma percentual da população, e no eixo das ordenadas, a percentagem da renda no período (em média por um ano), resultando em uma representação gráfica de 45º graus, chamada de reta de eqüidistribuição. Sendo assim, “a curva que surge então poderá ser assim interpretada: x% das pessoas mais pobres perceberam y% da renda total, ou, ao contrário, y% das rendas mais baixas correspondem a x% de pessoas. A curva serve, portanto, para medir o grau de desigualdade entre os limites opostos da distribuição da renda”. (SANDRONI, 1994) Como exemplo, considere a Tabela 2 a seguir: TABELA 2 –EXEMPLO DO MODELO DE LORENZ POPULAÇÃO 50% 40% 9% 1% 100% RENDA . 10% mais pobres 15% 30% 45% mais ricos . 100% 7 O COEFICIENTE DE GINI Utilizando a curva de LORENZ, o coeficiente de GINI define como limite o valor de 0 a 1. Assim, quanto mais o índice tende a zero, melhor será a distribuição da renda, e conseqüentemente, quanto mais se aproximar de um, pior será a distribuição e a desigualdade. A forma expressa é a seguinte: . Coeficiente de GINI = G = Área ∆ OAB Onde o numerador é a área hachurada do Gráfico 2 e o denominador é o triângulo formado pelos pontos OAB. GRÁFICO 2 - COEFICIENTE DE GINI. % Renda 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,1 A 45º 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 B 1,0 % População 0,9 Fonte: SANDRONI, 1994. As tabelas 3, 4 e 5 abaixo ilustram alguns índices. TABELA 3 – COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS (renda por percentis) Economia Ano Coeficiente de GINI Alemanha 1994 30,0 Canadá 1994 31,5 Estados Unidos 1997 40,8 França 1995 32,7 Itália 1995 27,3 Japão 1993 24,9 Reino Unido 1991 36,1 Nota: Tabela 5 - Distribuição da renda ou do consumo. Banco Mundial. Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2000 / 2001. 8 TABELA 4 – COEFICIENTE DE GINI NO BRASIL Renda – desigualdade – Período coeficiente de GINI Anual 1960* 0,490 1970* 0,560 1977 0,625 1978 0,604 1979 0,605 1980 0,588 1981 0,587 1982 0,595 1983 0,599 1984 0,593 1985 0,601 1986 0,590 1987 0,603 1988 0,619 1989 0,637 1990 0,616 1991 0,605 1992 0,583 1993 0,604 1994 0,602 1995 0,601 1996 0,602 1997 0,602 1998 0,602 1999 0,596 2000** 0,609 Fonte: IPEA, 2002b; * ROSSETTI (1982); ** IBGE (2000) TABELA 5 – COEFICIENTE DE GINI PARA A AMÉRICA LATINA EM 1996 Coeficiente de Gini Anual Argentina 0,48 Bolívia 0,53 Brasil 0,59 Chile 0,56 Costa Rica 0,46 Equador 0,57 El Salvador 0,51 México 0,55 Panamá 0,56 Paraguai 0,59 Peru 0,46 Uruguai 0,43 Venezuela 0,47 Fonte: Banco Inter-Americano, 1999. Período 9 Da série da Tabela 4, o coeficiente mais baixo na década de 90 foi de 0,583 no ano de 1992 (governo Collor). Comparando a Tabela 3 com a Tabela 5, o país com a pior distribuição de renda foi os Estados Unidos com 0,408 que está além da melhor distribuição da América Latina, no caso, o Uruguai com 0,43. No Brasil, em 2000, o índice apontava para 0,609, isto é, muito além do desejável, que seria no mínimo, semelhante a 1960 como 0,49. O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH Uma definição direta sobre o IDH é fornecido pelo IPEA (2002a) como O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado originalmente para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Países com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; os países com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano; países com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é um órgão de pesquisa que vem destacando o IDH freqüentemente como verifica-se na Tabela 6. TABELA 6 – IDH BRASIL Período 1975 1980 1985 1990 1995 1999 2000 Fonte: IPEA, 2002(a). IDH 0,644 0,679 0,692 0,713 0,737 0,750 0,757 Assim o Brasil é considerado como nível médio de desenvolvimento humano. A Tabela 7 compara o IDH com outras nações, colocando o Brasil na 10ª posição dos países com mais de 50 milhões de habitantes: 10 TABELA 7 - IDH, POPULAÇÃO E PIB per capita EM 2000 Países 2000 População (milhões) 2000 PIB per capita (dólares PPC) 2000 IDH Posição 2000 1 Estados Unidos 0,939 6 283,2 34.142 2 Japão 0,933 9 127,1 26.755 3 França 0,928 12 59,2 24.223 4 Reino Unido 0,928 13 59,4 23.509 5 Alemanha 0,925 17 82,0 25.103 6 Itália 0,913 20 57,5 23.626 7 México 0,796 54 98,9 9.023 8 Federação Russa 0,781 60 145,5 8.377 9 Tailândia 0,762 70 62,8 6.402 10 Brasil 0,757 73 170,4 7.625 11 Filipinas 0,754 77 75,7 3.971 12 Turquia 0,742 85 66,7 6.974 13 China 0,726 96 1.275,1 3.976 14 Irã 0,721 98 70,3 5.884 15 Vietnã 0,688 109 78,1 1.996 16 Indonésia 0,684 110 212,1 3.043 17 Egito 0,642 115 67,9 3.635 18 Índia 0,577 124 1.008,9 2.358 19 Paquistão 0,499 138 141,3 1.928 20 Bangladesh 0,478 145 137,4 1.602 21 Nigéria 0,462 148 113,9 896 22 Rep. Dem. Congo 0,431 155 50,9 765 23 Etiópia 0,327 168 62,9 668 Fonte: IPEA, 2002a. Uma interessante comparação é o cruzamento dos dados do Índice de Pobreza da Tabela 1 com o IDH e com o coeficiente de GINI com os Estados brasileiros. 11 TABELA 8 – ÍNDICES DE POBREZA POR ESTADO IP (%) IDH Coefic. 1996 2000 GINI ESTADOS 0,5750 Rondônia 0,2563 0,729 0,5710 Acre 0,2967 0,692 0,6110 Amazonas 0,2832 0,717 0,5640 Roraima 0,2005 0,749 0,5980 Pará 0,3852 0,720 0,5690 Amapá 0,4869 0,751 0,6120 Tocantins 0,4641 0,721 0,6080 Maranhão 0,5935 0,647 0,6120 Piauí 0,5633 0,673 0,6280 Ceará 0,5148 0,699 0,6080 Rio Grande Norte 0,4227 0,702 0,5990 Paraíba 0,4734 0,678 0,6180 Pernambuco 0,4309 0,692 0,6180 Alagoas 0,4648 0,633 0,6080 Sergipe 0,4132 0,687 0,6120 Bahia 0,4801 0,693 0,5970 Minas Gerais 0,3032 0,766 0,5920 Espírito Santo 0,3042 0,767 0,5860 Rio de Janeiro 0,1821 0,802 0,5690 São Paulo 0,1321 0,814 0,5880 Paraná 0,3133 0,786 0,5480 Santa Catarina 0,1984 0,806 0,5710 Rio Grande Sul 0,2260 0,809 0,6010 Mato Grosso Sul 0,2963 0,769 0,6000 Mato Grosso 0,4563 0,767 0,6000 Goiás 0,3835 0,770 0,6080 Distrito Federal 0,1405 0,844 0,6090 BRASIL 0,2859 0,757 Fonte: LEMOS (1999), IBGE/PNAD (1996); IPEA (2002a); Censo (2000) AMOSTRAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 De acordo com a Tabela 8, o Estado de São Paulo apresenta o menor Índice de Pobreza, com 0,1321 e o Distrito Federal é o Estado que melhor apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano, com 0,844. Da mesma forma, o maior Índice de Pobreza, com 0,5935 é o Maranhão e o Estado que pior apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano, com 0,633 é Alagoas. Quanto ao Coeficiente de GINI, Santa Catarina apresenta o mais baixo com 0,5480 enquanto Ceará apresenta a pior distribuição de renda com 0,6280. Nota-se que o Nordeste é realmente a parte brasileira onde a carência de infraestrutura é acentuada. 12 A HIPÉRBOLE DE PARETO Vilfredo Pareto (1848-1923) destacou-se nos princípios das desigualdades da repartição da renda. Assim, a economia passa a se preocupar com o lado social mais isolado e mais necessitado, ou seja, “a renda social se distribui sempre entre os indivíduos de acordo com certo padrão universalmente similar: grande número de indivíduos percebe pequeno número se superiores, abaixo do nível médio geral, enquanto se localiza nas faixas percebendo rendimentos acentuadamente acima da média”. (ROSSETTI, 1982) Assim, PARETO pesquisou na Europa Ocidental de forma a construir modelos estatísticos, que novamente: O enunciado geral da lei de PARETO baseou-se em indicações estatísticas de diferentes países, a partir das quais o pesquisador de Lausanne construiu apreciável número de séries de distribuição de freqüências adotando como intervalo de classe os diversos escalões de repartição e acumulando descendentemente os dados correspondentes ao número de indivíduos inscritos em cada uma das classes indicadas. A seguir, construiu os gráficos correspondentes, representando nas abscissas as classes de renda e no eixo das ordenadas as freqüências descendentes acumuladas, correspondentes ao número de indivíduos com rendimentos iguais ou superiores aos das classes consideradas.(id) Na definição da economia do bem-estar, A economia do bem-estar estuda as condições em que, pode-se dizer, a solução para um modelo de equilíbrio geral é ótima. Isto exige, entre outras coisas, uma distribuição ótima de fatores entre as mercadorias e uma distribuição ótima de mercadorias (isto é, distribuição de renda) entre os consumidores. Diz-se que uma distribuição de fatores de produção é ótima de Pareto se a produção não pode ser reorganizada para aumentar a produção de um ou mais bens sem diminuir a produção de outro bem. /.../ Do mesmo modo, diz-se que uma distribuição de bens é ótima de Pareto, se a distribuição não puder ser reorganizada para aumentar a utilidade de um ou mais indivíduos, sem diminuir a utilidade de outro indivíduo. (SALVATORE, 1984) Assim a forma5 da hipérbole é: Y= 5 β0 (X – r)β1 . Os parâmetros originais são interpretados como A e α, ou seja, A por β0 e α por β1. 13 Onde X é a variável independente, Y é a variável dependente, β0 e β1 são parâmetros e r é a menor renda da qual a curva começa a desenvolver. Desprezando r e levando em conta que a curva tem duas assintotas (X = r e Y = 0; r = 0 uma vez que deslocando o eixo das ordenadas, de forma que a menor renda e a origem se coincidem), a forma da hipérbole reduz a: Y = β0 (X)β1 . No caso do Brasil, de acordo com o Censo do IBGE de 2000, existem 169.799.170 habitantes sendo distribuído conforme a Tabela 9. TABELA 9 - FAMÍLIAS POR CLASSES DE RENDIMENTO MÉDIO MENSAL FAMILIAR - 1999 Brasil e Grandes Regiões Até 2 Mais de 2a5 Mais de 5 a 10 Mais de 10 a 20 Mais de 20 Brasil (1) 27,6 32,2 18,6 9,9 5,9 Sem** Rendimento 3,5 ** Exclusive os sem declaração de renda. Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. Porém para uma análise ilustrativa, existe a dificuldade em conceituar o rendimento médio da primeira (de zero a dois salário mínimo) e da última faixa (mais de vinte salários mínimos). Assim para fins didáticos, ou seja, fazendo a primeira faixa com rendimento igual a média de 0 a 1 SM6 , a segunda faixa com a média de 2 a 5 SM, a terceira faixa a média de 5 a 10 SM, a quarta de 10 a 20 SM , a quinta de 20 a 40 SM e a sexta de 40 a 80 SM. Usando os níveis percentuais da Tabela 9 chega-se a Tabela 10. 6 Salário Mínimo. 14 TABELA 10 – RENDA E INDIVÍDUOS Renda R$ Nº de Indivíduos (%) População 100 54675333 32.2 600 31582646 18.6 1500 16810118 9.9 3000 10018151 5.9 6000 5942971 3.5 12000 1697992 1 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo IBGE (2000). GRÁFICO 4 – HIPÉRBOLE DE PARETO PARA O Nº de indivíduos (milhões) BRASIL PELO CENSO DE 2000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 0 5000 10000 15000 Faixas de renda (R$) Por expressão matemática temos: Y = β0 . (X) -β1 Estabelecendo a forma logarítmica7 e de acordo com a Tabela 10 tem-se: log Y = log β0 . (x) -β1 log Y = log β0 + log (x) -β1 log Y = log β0 - β1 log x LY^ = 21,3600 – 0,6839 LX (II) Desse modo o coeficiente β1 determina a inclinação ao qual PARETO definiu como “indicador do grau de desigualdade da repartição da renda”. Em suas pesquisas, apresentou como variação do coeficiente β1 como -1,9 < β1 < -1,2 , sendo a média β1 = – 1,5. 7 ROSSETTI descreve como escala dilogarítma. 15 O coeficiente β1 saiu bem diferente do esperado. Contudo, o coeficiente de -0,6839 aproxima-se mais de β1 = – 1,2 do que β1 = –1,9 , o que indica uma reta mais inclinada e conseqüente maior desigualdade de renda. Graficamente: Y (log do nº de indivíduos) GRÁFICO 5 – LOG DA HIPÉRBOLE DE PARETO – BRASIL 2000 1.31 1.3 1.29 1.28 1.27 1.26 0 1 2 3 4 5 X (log das faixas de renda) ANÁLISE EMPÍRICA Com base na equação (II), a análise vem a ser: log Y^ = 21,3600 – 0,6839 LX (0,8520) (0,1125) R² = 0,9021 F(1,4) = 36,8961 t1 = 25,0684 t2 = -6,0742 gl = 4 n = 6 tc = 2,776 DW = 1,4186 Observa-se um coeficiente de determinação admissível e os testes de significância como estatisticamente significativos. O teste F também é significativo uma vez que o valor crítico é Fc (5%,1,4) = 7,71. Para análise de autocorrelação, a estatística Durbin-Watson apresenta, para n = 6 , nível de signficância a 5% e k' = 1: GRÁFICO 6 - AUTOCORRELAÇÃO Autocorrelação (+) 0 Incon- ausência de Incon- Autocorreclusão autocorrelação clusão lação (-) di ds 0,61 1,400 2 4-ds 2,60 4-di 4 3,39 Logo, a estatística DW ilustrada no Gráfico 6, não existe autocorrelação. 16 CONCLUSÃO Apesar do estudo ser abrangente e interessante, este artigo mostrou alguns indicadores para ilustrar o grau de necessidade e conscientização que todos devem ter com o bem-estar. A partir da década de 80 surge o Estado Mínimo, visando revitalizar o processo de acumulação capitalista. Com governos neo-liberais a pobreza acentuou-se e os índices não pouparam a verdade, refletindo a cada ano os assustadores números de um país que por um lado é considerado um das dez maiores economias industriais do mundo e por outro lado um dos piores níveis de distribuição de renda, amparo social e nutricional. O índice de pobreza de LEMOS (1999), com análise estimativa, indica 12,09% na melhor das hipóteses para reduzir a privação da educação, a privação de água, a privação de saneamento, a privação ao lixo e privação a renda. O Coeficiente de GINI no Brasil em 2000, apontou para 0,609, uma evidência da difícil missão em distribuir a renda de uma maneira mais uniforme. O IDH brasileiro em 2000 é uma surpresa boa, 0,757 subindo a cada ano. Hoje o Brasil é considerado como nível médio de desenvolvimento humano, e se continuar nessa trajetória, conseguirá ir para o alto nível, que é acima de 0,800. Talvez com esse índice, os demais tendem a melhorar no futuro. Ainda assim, não se pode esquecer de mencionar, que o estudo revelou, e que não é surpresa, que os estados nordestinos apresentam o maior nível de distribuição de renda, maior nível de pobreza e mais baixo nível de desenvolvimento humano. Por fim, um estudo da Hipérbole de PARETO ilustra o perfil da distribuição de renda no Brasil com dados do Censo 2000 de forma didática. 17 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o Desenvolvimento Global 2003 . BRASÍLIA, 21 de agosto de 2002. Disponível em: http://www.obancomundial.org/ Acesso em 05/01/2003. BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2000/2001. Disponível em: http://www.obancomundial.org/ Acesso em 10/03/2001. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2001). Censo Demográfico (IBGE, 2000). Resultados do universo: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. Disponível em: http://www.gov.org.br/ Acesso em 06/01/2003. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992: Rio de Janeiro). Curitiba: IPARDES, 2001. 260p. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2001). Disponível em: (IPEA. 2002a). Disponível em: (IPEA. 2002b). Disponível em: http://www.ipea.gov.br/ Acesso em 10/06/2001. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada http://www.ipea.gov.br/ Acesso em 07/01/2003. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada http://www.ipeadata.gov.br/ Acesso em 07/01/2003. LEMOS, José de Jesus Souza. Pobreza Rural e Urbana no Brasil Pós Plano Real. In: XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMISTAS E VII CONGRESSO DE ECONOMISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 13 – 17, 1999. Rio de Janeiro. CD-ROM... Rio de Janeiro: COFECON, CORECON/RJ, IERJ, SIDECON/RJ, AEALC, 1999. GUJARATI, Damodar N. Econometria Básica. 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 18 ROSSETTI. José Paschoal. Introdução à Economia. 9ª. ed., rev., atualizada, ampl. São Paulo, Atlas: 1982 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Horizonte do Desejo – privação relativa e o limiar de sensibilidade social. In: XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMISTAS E VII CONGRESSO DE ECONOMISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 13 – 17, 1999. Rio de Janeiro. CD-ROM... Rio de Janeiro: COFECON, CORECON/RJ, IERJ, SIDECON/RJ, AEALC, 1998. SALVATORE. Dominick. Microeconomia. Introdução à Economia. Coleção Schaum. São Paulo: McGraw-Hill, 1984. SANDRONI, Paulo. Novo Dicionário de Economia. 5ª ed. São Paulo: Editora Best Seler, 1994. Valores Críticos da Distribuição F. Ponto dos 5% superiores. Disponível em: http://www.baseeconomia.cjb.net. Acesso em jan. 2000.
Download