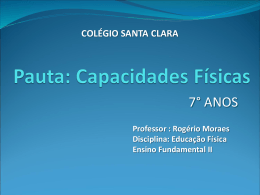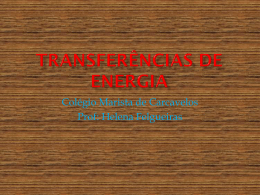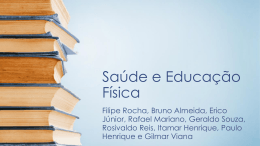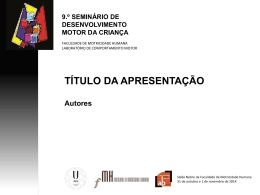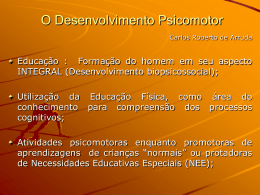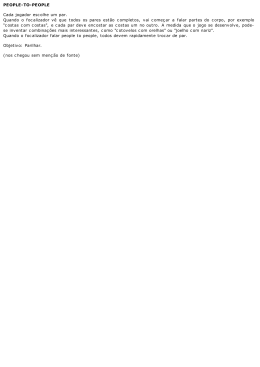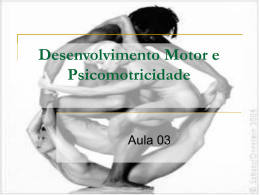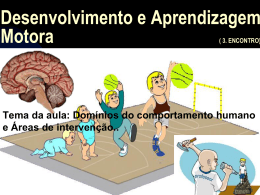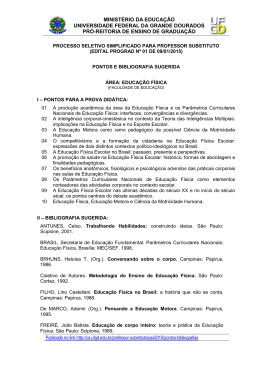A PEDAGOGIA DO “MOVIMENTO HUMANO” - O CORPO COMO OBJETO DE ESTUDO. PROJETO LEITURA E ESCRITA: A AVALIAÇÃO MOTORA Samuel de Souza NETO1 Maria Cecília de Oliveira MICOTTI2 Larissa Cerignoni BENITES3 Carolina Rodrigues Alves da SILVIERA4 Resumo Com vistas ao provimento de s ituações pedagógicas que habilitem os alunos das primeiras séries do ensino fundamental de uma escola estadual, para a realização da leitura e da e scrita, esta pesquisa visou identificar e estabelecer relações entre os f atores de s ucesso e o s de i nsucesso na al fabetização. O desenvolvimento deste estudo contou com observações de aulas para entender como era abordada a q uestão da e scrita e da l eitura. Da mesma f orma f oram organizadas atividades didáticas (intervenção), tendo a s ua aplicação no Laboratório de Alfabetização do Departamento de E ducação da UNESP – Rio Claro, bem como na pr ópria escola com as aulas de Educação Física e uma avaliação motora. Os participantes foram 23 al unos, da 3 ª e da 4 ª sé rie, de s ete c lasses d iferentes, escolhidos pelas professoras e m virtude de apr esentarem p roblemas r elacionados ao pr ocesso de alfabetização. O s r esultados q ue s erão apr esentados no pr esente es tudo di zem respeito, apenas, a av aliação m otora e a E ducação F ísica. N a obt enção des tes dados foi utilizado como método a E scala Motora proposta por Rosa Neto (2002). O tr abalho de i ntervenção, u tilizado na s aulas de E ducação F ísica, pautou-se no programa pr oposto pel a pr ofessora da ár ea, c onsiderando q ue a pr oposta apresentava-se adeq uada ao des envolvimento motor destes e scolares. N este contexto, e stes participantes deveriam r ealizar s uas a tividades f ísicas co m a s ua sala de or igem. A pós a valiação des tes e scolares e m pré-teste e pós -teste constatou-se, numa am ostra de se te al unos, i ndicados pela pr ofessora de educação f ísica, c omo o s m ais bem s ucedidos, q ue q uatro al unos apresentaram desenvolvimento m otor s ignificativo e que t rês não, nos l evando a c oncluir q ue embora a s aulas de educ ação f ísica t ivessem u m p rograma de ens ino adeq uado para a s cl asses desses e scolares não t inha u m p rograma es pecífico q ue de sse uma at enção es pecial aos co mponentes m otores a fetados, c omprometendo o trabalho c om o t odo. O e studo m ostrou s er de f undamental importância trabalhar com o c orpo na e scola. Q ue a E ducação F ísica, ao t rabalhar c om o m ovimento humano, ou com a cultura de m ovimento, tem uma grande contribuição a da r em trabalhos integrados com outras disciplinas, mas que também se torna necessário que este trabalho leve em consideração a necessidade de avaliação motora para a elaboração do programa de ens ino, v isando à ef etiva pr omoção ( integração) destes escolares. Palavras-chave: corpo; movimento humano; avaliação motora; Educação Física. I - INTRODUÇÃO A alfabetização constitui um dos mais graves problemas educacionais de nosso país. O s f racassos e scolares desafiam ao l ongo do t empo a s m edidas i nstitucionais. P ara remediar as dificuldades, algumas medidas paliativas têm sido adotadas como alternâncias de 1 Docente do Departamento de Educação (IB/UNESP/Rio Claro). Docente do Departamento de Educação (IB/UNESP/Rio Claro), coordenadora do Projeto Leitura e Escrita. 3 Discente do curso de Licenciatura em Educação Física (IB/UNESP/Rio Claro). 4 Discente do curso de Licenciatura em Educação Física (IB/UNESP/Rio Claro). 2 22 métodos e períodos de recuperação. Porém, alguns problemas persistem até mesmo pelo fato de suas defasagens serem advindas do ato motor. MICOTTI ( 2003, p. 188), de f orma s intética, também coloca q ue a pr esença de alunos “ analfabetos” ou “mal a lfabetizados” nas sé ries a vançadas do E nsino F undamental é apontado como um dos mais graves problemas educacionais, havendo críticas sobre a validade e a adequação do ensino ministrado nas escolas. Algumas das possíveis e xplicações podem e star no des envolvimento m otor desses e scolares, abrangendo s uas “ fronteiras” cognitiva–motora–afetiva. D e m odo g eral, podemos a firmar q ue o s er humano es tá e m c onstante des envolvimento. A lgo nov o é incorporado diariamente, seja pelo simples fato de estar mais velho, quanto o de t er adquirido uma nov a hab ilidade. O m ovimento ex erce um a f unção e ssencial no processo de desenvolvimento (PELLEGRINI et al., 2003) Segundo P ellegrini e B arela ( 1998), nos p rimeiros anos de e scolarização, principalmente na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental, a atividade é muito importante no es tabelecimento de r elações entre o s er humano em desenvolvimento e o ambiente que o r odeia. É muito importante a aq uisição de hab ilidades e também a tomada de consciência do corpo e de suas relações com o meio. Para a tarefa da escrita é muito importante a questão da atenção, pois, quando a criança bu sca e screver a s p rimeiras palavras, e la c opia o q ue o pr ofessor e screve na l ousa, devendo, desta forma, prestar atenção no tipo de traçado, onde inicia e onde se encerra a letra e as seqüências que se seguem (PELLEGRINI et al., 2003) Neste contexto, é de s uma importância a i nteração do c orpo de f orma completa no contexto da escola para se entender alguns fracassos relacionados à escrita e à linguagem, particularmente os relacionados ao ato motor, nos desafiando a conhecer um pouco o que uma “pedagogia” do movimento humano teria a nos oferecer. Por pedagogia estaremos entendendo a ár ea de es tudos que tem por objetivo a sistematização e r acionalização dos métodos de educação da c riança, cabendo lembrar que a pedagogia moderna fundamenta-se no c onhecimento adeq uado da s l eis q ue r egem o desenvolvimento psicofisiológico do educ ando e, sobretudo, dos fatores de ordem social que o condicionam. De modo q ue as doutrinas pedagógicas, embora pareçam refletir o pensamento filosófico individual dos s eus autores, e xprimem, de f ato, a r ealidade s ocial, e conômica e política da época em que surgiram. Porém, Guiraldelli Jr nos lembrará que... “A pedagogia, literalmente f alando, te m o s ignificado de “ condução da c riança”. E ra, na Grécia Antiga, a atividade do e scravo que a s conduzia aos locais de estudo, onde 23 deveriam receber instrução de seus preceptores. O escravo pedagogo era o “condutor de c rianças”. C abia a el e l evar o j ovem a té o l ocal do c onhecimento, m as não necessariamente er a s ua f unção i nstruir e sse j ovem. E ssa s egunda et apa f icava po r conta do preceptor. Quando da dom inação r omana s obre a G récia, a s co isas s e m odificaram. A í, o s escravos e ram o s p róprios g regos. E , nesse c aso, o s e scravos e ram portadores de uma c ultura s uperior à do s seus dominadores. A ssim, o escravo pedagogo não s ó continuou a agi r c omo “ condutor de c rianças”, m as t ambém a ssumiu a s f unções de preceptor”. (GUIRALDELLI JUNIOR, 1987, P. 8) Como s e pode obs ervar, o riginariamente, a pedag ogia es tá ligada ao at o de condução ao saber, tendo até hoje a preocupação com os meios, as formas e maneira de levar a pe ssoa ao c onhecimento, podendo-se di zer q ue a m esma s e v incula ao s p roblemas metodológicos r elativos ao c omo ens inar, o q ue ens inar, q uando ens inar, para q uem ensinar. De f orma q ue el a c onsubstancia-se no pól o t eórico da pr oblemática educ acional, podendo-se afirmar, grosso modo, que a pedagogia é a teoria, ao passo que a educação é a prática, tendo na didática a mediadora destes dois pólos no processo educativo. “A educação é, antes de tudo, uma prática educativa. É uma prática geradora de uma teoria pedagógi ca. A educação, ao m esmo t empo que pr oduz pedagogia, é t ambém direcionada e efetivada a partir das diretrizes da pedagogia. (...) A didática, a meu ver, é a m ediadora entre o pólo teórico (pedagogia) e o pólo prático (educação) da atividade educ ativa. O como ensinar, o que ensinar, o quando ensinar e o para que m ensinar, quando ligados à pedagogi a, e stão i mpregnados dos pressupostos e diretrizes de uma determinada concepção de mundo que, por sua vez, nutre t al pedagogia. O ra, no âm bito da didática, o como ens inar, o que ens inar, o quando ensinar e o para quem ensinar se consubstanciam em motivações para que o educador, s ob a l uz da concepção de mundo que or ienta s ua pe dagogia, procure os instrumentos e a s t écnicas necessárias para que a prática educ ativa oc orra c om sucesso”. (GUIRALDELLI JUNIOR, 1987, p. 9-10) No q ue s e r efere ao m ovimento hum ano, m otricidade hum ana, s e es tará entendendo-o como o objeto de estudo da educação física – um campo acadêmico-profissional que tem no corpo a sua cultura de movimento e um espaço de intervenção social. Desse modo, falar numa pedag ogia do “movimento hum ano” s ignifica t ratar do at o m otor, c onduta m otora, que m ove es te c orpo e de co mo es te pode s er t rabalhado, c onsiderando o s conhecimentos/saberes provenientes desta motricidade humana. Como objetivo de estudo, este trabalho se restringirá em apresentar um corpo de conhecimento q ue v em s endo c onstruído no âm bito da pedag ogia do “movimento hum ano”, motricidade hum ana, v isando c ontribuir c om o pr ojeto l eitura e scrita no q ue t ange à i dade motora do s e scolares, u ma v ez q ue es te i ndicativo é det erminante e m q ualquer t rabalho de intervenção pedag ógica v oltado par a a ár ea da al fabetização. D e modo q ue s e t rata de um estudo descritivo que estará se utilizando técnicas do trabalho experimental, sem desconsiderar a análise qualitativa. 24 II - A PEDAGOGIA DO “MOVIMENTO HUMANO” – O CORPO COMO OBJETO DE ESTUDO Há um velho provérbio hindu que diz: o corpo é como uma cidade que tem cinco portas, referindo-se aos órgãos do sentido: olfato, tato, audição, visão e paladar. De modo que, por esses órgãos se desenvolve a inteligência prática (sensório-motora), a cognitiva, a afetiva, a social (SOUZA NETO, 2000). SOUZA N ETO ( 2000), num t rabalho de enf oque ant ropológico s obre “ O professor: q uem e le é?” , v ai c olocar q ue o c orpo é o l ugar p rivilegiado no q ual o m undo s e divide, c om o s m últiplos si gnificados q ue r ecebe da realidade, c onstituindo-se nu m universo próprio, o uni verso hum ano. P orém, ao m esmo t empo e m q ue dec ompõe es te uni verso, o nosso c orpo o r eúne. Alto e baixo, na f rente e at rás, direita e es querda constituem graças ao nosso corpo, uma totalidade orgânica. Como organismo, é um conjunto de ór gãos que permite as funções necessárias à vida. Da mesma forma é a base de percepção e organização da vida humana nos sentidos biológico, antropológico, psicológico e social. Dessa forma, o nosso falar, olhar, andar, sentir e pensar representam modos de vida, podendo-se dizer que o c orpo é u m corpo no mundo. Embora o corpo se constitua num universo de v ida e par a a v ida, na escola tem sido de sconsiderada a “ atividade m otora” das cr ianças desde o s p rimeiros d ias de aul a, c om restrições ao seu modo de ser e agir. Neste c ontexto, até m esmo a s aulas de educ ação f ísica par ecem se conformar com uma atividade puramente recreativa, esportiva ou de desenvolvimento corporal nas quais o “movimento” parece ter um fim em si mesmo. Dessa f orma, há nec essidade de s e (re)descobrir o co rpo, pois s e el e, e m s ua compreensão mais ampla, é linguagem, não há como “excluí-lo” do processo de alfabetização. Portanto, r esgatar a “motricidade hum ana” nos parece s er o pr imeiro pa sso par a a (re)integração do “ corpo” na escola, pois não se passa da atividade simbólica (representações mentais) do mundo concreto, com o qual o sujeito se relaciona, sem a atividade corporal – o elo de ligação. 25 Para K unz ( 1998), num t rabalho c onsiderado s ignificativo, c om base na s t eses elaboradas pelos holandeses B uytendijk, Go rdjin e T amboer, e o al emão T rebels, os estudos sobre o “Movimento Humano”, no ocidente, seguem uma tradição aristotélica e/ou uma tradição galilaica. Para a tradição aristotélica considera-se a ação humana orientada a um objetivo final, s endo inerente ao pr óprio c omportamento ou ani mal, pois, a credita-se q ue o comportamento ex ija u m e squema de e sclarecimento t eleológico e/ ou f inalístico par a c om a s intenções situadas no futuro. Na t radição g alilaica ent ende-se q ue es tas m esmas a ções e ac ontecimentos humanos s ão det erminados por u m p rocesso de e sclarecimento c ausalístico. N esta v isão, o comportamento humano é ent endido como uma conseqüência de det erminadas causas que o precederam no tempo. No geral, o que se tem é um tipo de r acionalidade que vai caracterizar o mundo moderno (modernidade), passando po r u ma “mecanização da i magem de m undo”, no âm bito dos m ovimentos, e m q ue “ as t eorias t eleólogicas das t ransformações e do s e sclarecimentos dão l ugar a t eorias do des locamento de objetos e m atérias” ( p.7), c entrando s ua at enção no “movimento” como um todo, e não no Movimento Humano em particular. No âm bito de sse pr ocesso, o s “movimentos” e a s t endências para a r ealização de movimentos, pelo homem no mundo de hoje, como muito bem observou Kunz (1998, p.7), se traduzem por causa da urbanização, do trânsito, dos locais de trabalho, do estudo, do consumo, etc, no “deslocar” e/ou na condição de ser “deslocado” de um lugar (ou de mundo) para o outro. Portanto, o homem se desloca de um lugar para outro com o carro, com o ônibus, com o trem, ou para o m undo pela janela da t elevisão, mas não “ se-movimenta”. Para o autor é nesse “semovimentar” q ue a s c hamadas ciências do m ovimento hum ano têm o s s eus m aiores interesses e m a tividades co mo c orrer, andar, j ogar, dançar e tc, por s erem e xemplos do movimentar-se humano, cabendo a elas uma interpretação “natural”, mas também cultural. Entretanto, no campo da Educação Física, esta questão não é t ão simples, pois, na literatura r estrita à ár ea, não há c onceito m ais discutível – também “ pobremente” interpretado – do que o “Movimento Humano”, em virtude da multidisciplinariedade das ciências que lhe dão sustentação, permitindo uma pluralidade de significados. Em f ace do ex posto, c onsiderando a literatura es pecífica e a c iência do movimento hum ano, o “ Movimento H umano” pode s er c ompreendido e m t ermos de s ua “função”, como no caso da biomecânica, da aprendizagem motora, etc. Neste contexto, levamse em consideração as ações que precisam ser efetivadas para que determinadas funções, no 26 esporte, na danç a ou e m outra at ividade da c ultura de m ovimento s eja executada, de ac ordo com o s objetivos ( por e xemplo, u ma bol a na c esta) determinados e m odelos de aç ão pr éestabelecidos, v isando al cançar o êx ito. E nfim, q uando es tamos d iante des ta “ forma de movimento” podemos falar de uma “cientificização” (interpretação natural) do movimento. O que importa não é o se-movimentar humano que interessa nos estudos, mas a elaboração técnica de m ovimentos (criados e t estados co m aparelhos so fisticados e e m c ondições e specíficas, como os laboratórios) e suas possibilidades de imitação pelo homem. Nesta perspectiva, a cientificização do m undo da c ultura de movimentos faz com que o hom em, num processo de “clonagem”, p recise i mitar t udo: pensamentos, ações, sentimentos e o s eu m odo pr óprio de movimentar. (KUNZ, 1998, p. 8) Da mesma maneira, o movimento também pode ser compreendido na f orma de um “compreender -o-mundo-pelo-agir”. N este enf oque, o s e-movimentar apresenta-se, e m sua estrutura fundamental, como uma ação dialógica, mudando o foco do “ deslocamento”, da observação ou da pes quisa, do Movimento do H omem para o Homem (criança) que se movimenta. Para tanto, o autor considera quatro aspectos de análise dos movimentos: - o sujeito/autor – o movimento é uma ação de sujeitos, tendo como enfoque que o s ujeito do m ovimento é a pr imeira r eferência na m ediação c om o m undo at ravés de movimentos no esporte, na dança, no jogo etc. - a s ituação – o m ovimento é um a aç ão vinculada a um a det erminada s ituação que ocorre por intermédio de movimentos no jogo, esporte, dança, conteste, brinquedo etc. - a m odalidade – uma det erminada m odalidade na r ealização de m ovimentos configura-se a par tir de u m determinado ent endimento na s r elações de t empo e es paço q ue envolvam movimentos nos jogo, esporte, dança, conteste, brinquedo etc. - o significado - o movimento é uma ação relacionada a u m significado, ou seja, os m ovimentos e a s s uas r eferências c onstituem-se q uase s empre num a pr é-condição normativa. No g eral, o q ue s e t em é uma concepção di alógica do m ovimento hum ano que busca compreender-o-mundo-pelo-agir, pois as pessoas ao se-movimentarem realizam descobertas e conhecimentos de si próprias, de sua corporeidade, do outro e do mundo. 27 Em outro trabalho, Manuel Sergio da Cunha5 (1983, 1992), mais conhecido como Manuel Sergio, nos apresenta como proposta para a Educação Física, a Motricidade Humana. No i nício de s eus e studos i dentificou como obj eto d e est udo da ‘Ciência da s A tividades Corporais’ a ‘conduta motora’6, c onsiderando-a e m s eus aspectos an átomo-funcionais, afetivos, s ociais e f ilosóficos’. E ntretanto, e m e studos posteriores, numa s egunda f ase de reflexão, é a ssinalado q ue a m atriz t eórica do obj eto d e est udo, a ‘ conduta m otora’, é a ‘Motricidade Humana’. Portanto, concebe-se uma área de conhecimento para a E ducação Física e não da Educação Física. Questionando-se a E ducação F ísica, s erá i ndagado e m q ue r eside a cientificidade das Faculdades de Educação Física que lhes dê autonomia e singularidade? Qual é o seu objeto teórico de estudo e como se processa a sua ‘prática científica’? ‘‘... a c iência bi omédica, onde a E ducação F ísica hodi erna ai nda r adica, ta mbém apresenta e rros e videntes, o riundos do c artesianismo e es quecendo a mat riz de u m conceito holístico e ec ológico de s aúde. Com efeito. A visão holística dos organismos vivos é r ecusada pel a c oncepção c lássica de ciência, porque i mplica modi ficações transparentes e m t oda a c onceptualização un ilateral e m que el a a ssenta e pela qua l tem obtido resultados espetaculares. Só que a nat ureza humana é ‘ Bios’ e ‘Logos’ em constante i nteração e aut o-organização, de ac ordo c om a s e xigências de um a abordagem sistêmica.’’ (CUNHA, 1983: 8) Ao se colocar que a natureza humana é ‘Bios’ e ‘Logos’, referindo-se à sua autoorganização e c onstante i nteração, e lementos da abor dagem s istêmica, s e es tará t ambém entrando nu m d iscurso da ‘pós-modernidade’, e m c uja pr oposta es taria a ssentada um a cosmologia bi ológica ( DOLL J R, 1998). A ssim s endo, a c onstrução de ssa nov a f ase da Educação Física passaria pelo paradigma ‘pós-moderno’. Porém, em que bases de conhecimento assenta-se a ‘motricidade humana’? ‘‘... haverá lugar para a ciência da motricidade humana, no quadro geral das ciências?’’ ‘‘Se a c onsiderarmos um ramo da biologia como já pretendia Spencer, em relação à psicologia, ela tem o seu lugar marcado entre as ciências da natureza; se a definirmos como a ciência que es tuda a ex plicação e a c ompreensão das condutas motoras, ela cabe i nteiramente ent re as ciências do hom em. C omo a ps icologia, a c iência da motricidade humana apr esenta u m objeto de obs ervação i gual ao obs ervador. E sse fenômeno i nvulgar dá-lhe uma pos ição de r elevo e m qualquer m etodologia c ientífica. A c onstrução de uma c iência a rranca de dado s c oncretos ou c omunicacionais e constrói t eorias onde e sses dados a ssentam. N a c iência da mot ricidade humana , a ‘conduta motora’ é o que s e observa, à luz de uma determinada ‘teoria’. Em primeiro lugar, portanto a c onduta; v em, depois, a c onstrução t eórica ( uma hi pótese, entre 5 A p roposta de Manuel Sergio da C unha f oi particularmente des envolvida no B rasil, no f inal da déc ada de 1980 , quando es teve como professor visitante da UNICAMP. 6 A questão da s ‘condutas m otoras’ t em a v er c om a P sicomotricidade. E sta f oi u m mo vimento que pr ocurava t rabalhar o desenvolvimento da c riança, com o ato de apr ender, envolvendo os processos cognitivos, afetivos e psicomotores, e tendo como proposta a f ormação i ntegral da criança. A E ducação F ísica i mbuída da P sicomotricidade t ornou-se u m me io par a apr ender a s diferentes m atérias, a s ocialização, bem c omo par a aux iliar na r eadaptação, r eabilitação, i ntegração. N este di scurso há um a proposta de s ubstituição da E ducação F ísica pel a P sicomotricidade, buscando ne sse c ampo u m c onhecimento bás ico e fundamental para a formação do professor. (Cf. Soares, 1996: 9) 28 tantas), básica par a o t rabalho do i nvestigador. E c hegamos então ao objeto de estudo sobre o qua l a ssenta a r eferida c onstrução t eórica. N o meu ent ender, a 7 motricidade humana....’’ (CUNHA, 1983:p. 10) Nesta proposta, a matriz biológica de c onhecimento teórico que tem identificado a Educação Física desloca-se para uma matriz humanística (ciências humanas), denominada de ‘‘c iências do hom em’’ que, ‘‘entendida c omo c iência ( e c iência do hom em), percepciona a motricidade c omo es trutura e ssencial da c omplexidade hum ana’’. De m odo q ue ‘‘só c omo ciência do hom em ( onde a ‘compreensão’ é s uperior à ‘ explicação’) a m otricidade hum ana encontra justificativa na ‘ Universitas Scientiarum’ como saber independente e singular.’’ (p. 12, 15). No g eral, a m otricidade s upõe um a ‘‘visão sistêmica do H omem’’ (de r elação e integração); a ‘‘existência de u m s er não es pecializado e c arenciado, aberto ao m undo, aos outros e à transcendência’’; e, ‘‘porque aberto ao Mundo, aos outros e à transcendência, e deles carente, um ‘ ser práxico’, procurando encontrar e produzir o que, na complexidade, lhe permite unidade e r ealização’’ (o homem é um processo); e, ‘‘porque ‘ ser práxico’, com acesso a um a experiência englobante, agente e fator de cultura, projeto originário de todo o sentido, memória do mundo e ser axiotrópico (que persegue, apreende e realiza valores)’’. (p. 11-12) Podendo-se dizer que a m otricidade constitui: ‘‘uma ‘ energia’... que é o es tatuto ontológico, v ocação e pr ovocação de aber tura à t ranscendência’’ ( todo o si stema é f eito de energia); o ‘‘processo adapt ativo, a u m me io am biente v ariável, de u m s er humano não especializado’’; o ‘‘processo ev olutivo de u m s er, c om p redisposição à i nterioridade, à pr ática dialogal e à c ultura’’ e o ‘‘processo c riativo de u m s er e m que a s p ráxis l údicas, agonísticas, simbólicas e pr odutivas t raduzem a v ontade e a s c ondições de o H omem s e r ealizar c omo sujeito, ou seja, como autor responsável dos seus atos’’. (p. 12) Dessa aná lise m ais a mpla, a m otricidade hum ana, para a s F aculdades de Educação Física, quer significar: ‘‘- Que a E ducação F ísica não abr ange t odo o c ampo de aç ão do s s eus profissionais, dado que, c omo es pecialistas da ciência da mot ricidade humana, cabe-lhes por direito próprio, o jogo, o desporto, a ginástica, a dança, o circo, a ergonomia e a r eabilitação ( e o t reino que ac ompanha todas estas atividades). E ‘ Educação Motora’ ( que dev eria s ubstituir a ex pressão E ducação F ísica) é o ramo pedagógico da Ciência da Motricidade Humana (...). - Que a s F aculdades de E ducação F ísica dev erão pa ssar a c hamar-se Faculdades de M otricidade H umana, passando a ssim a r eferir-se a u m c ampo do conhecimento e não a uma profissão.’’ ‘’- Que os ‘ curricula’ escolares das Faculdades de Motricidade Humana hão de acrescentar à s disciplinas básicas, de t eor b iológico, outras disciplinas básicas 8 de teor cultural.’’ (p. 13) 7 8 O negrito e o grifo são nossos. Esta proposta foi adotada pela Faculdade de Educação Física da UNICAMP no ano de 1988. 29 Para CUNHA ( 1992), na ‘ ciência da m otricidade hum ana’ é po ssível encontrar uma matriz d isciplinar. N esta per spectiva c oloca-se q ue, antes, a E ducação F ísica v isava ao desenvolvimento da s f aculdades físicas do i ndivíduo, c entrando o s s eus e studos e investigações unicamente na( s) c iência(s) do des porte. P orém, a gora, na ‘ ciência da motricidade hum ana’, o c orpo s e t orna a r eferência de t udo. N este ‘ paradigma em ergente’, antidualista e hol ístico, expresso na pa ssagem do físico ao m otor, a Educação Física ‘‘é a pr éciência da Ciência da M otricidade H umana. A e mergência do novo par adigma r adica, não s ó nas exigências da compreensão e da explicação de uma área de conhecimento, que o vocábulo físico j á não a brange, m as t ambém na di ssolução do par adigma c artesiano, onde c avou u m fosso intransponível entre o ser e o pensar.’’. (p 101). Nesta pr oposta, o ei xo epi stemológico da E ducação F ísica q ue ant es e stava localizado na s ci ências b iológicas, desloca-se par a a s ci ências humanas numa per spectiva hermenêutica e f enomenológica. N o geral, de concreto, o que se tem é o r econhecimento da Motricidade Humana, como indicativo de uma área de estudos centrada na área de humanas. No boj o de sses dois t rabalhos q ue f oram apresentados não s e pode i gnorar a contribuição de T ANI9 (1996). E m s ua c oncepção adot ou o t ermo ‘Ci nesiologia’10 por s er a terminologia m ais difundida entre as expressões q ue têm surgido, significando, literalmente, o estudo do m ovimento. Dessa f orma, a ‘‘Cinesiologia poderia ser definida como uma área do conhecimento que t em c omo objeto d e est udo o movimento hum ano, com o s eu f oco de preocupações centrado no estudo de movimentos genéricos (postura, locomoção, manipulação) e específicos do esporte, exercício, ginástica, jogo e dança’’. (TANI, 1996: 25-26). Neste c ontexto, a Cinesiologia t eria a s ca racterísticas de um a ár ea de conhecimento e não de um a di sciplina ac adêmica. A d isciplina ac adêmica é identificada, normalmente, por possuir u m objeto de es tudo pr óprio, u ma m etodologia de es tudo especializada e , u m paradigma pr óprio, g erando u m c orpo de c onhecimento úni co, r equisito utilizado pel as d isciplinas t radicionais. J á, a Cinesiologia t eria c omo c aracterística a abrangência de es tudos, desde os níveis mais microscópicos até os mais macroscópicos, indo além dos limites das disciplinas tradicionais devido à sua pluralidade. Porém, reconhece-se que de um lado isso traz problemas para a sua identidade epistemológica e metodológica, mas que, 9 O P rofessor D outor G o T ani t em publicado i números t extos que f alam s obre a ques tão da nec essidade de u m c orpo de conhecimento na E ducação F ísica. E ntre el es pode-se c itar o t rabalho pub licado e m 1988, na c oletânea “Educação F ísica e esportes na universidade’’ (Seed/MEC/UnB/1988), organizada por Solange C. E. Passos, da UnB, em 1986, dentro da temática: ‘ A pesquisa e a pós-graduação em Educação Física’. Neste artigo, apoiado em uma seleção bibliográfica norte-americana, que vai dos anos 60 aos anos 80, localiza o seu texto na questão ‘ se a Educação Física é uma disciplina acadêmica ou uma profissão’. Em face deste ques tionamento, a r eflexão s obre o assunto c aminha na bu sca de um a or ganização par a es truturar e ste c orpo de conhecimento. Aprofundando a s ua discussão conclui que existe o obj eto de es tudo – o movimento humano. Mas este é marcado pela fragmentação do c onhecimento. Como alternativa para a E ducação Física aponta-se para um encaminhamento em torno do paradigma sistêmico em oposição ao paradigma mecanicista da ciência clássica. 10 No Brasil, uma das primeiras pessoas a adotar esta terminologia foi Inezil Pena Marinho, em 1984. 30 por outro l ado, apresenta a per spectiva c oncreta de i ntegração de c onhecimentos e descobertas de várias disciplinas em torno de um mesmo objeto de estudo. (TANI, 1996: 26) Dentro de sse enf oque, a Cinesiologia apr esentaria um a estrutura transdisciplinar e seria constituída de três grandes subáreas de investigação: Biodinâmica do Movimento Humano (englobaria a Bioquímica do E xercício, a F isiologia do E xercício, a Biomecânica e a Cineantropometria), Comportamento Motor Humano (incorporaria o Controle Motor, a Aprendizagem motora, o Desenvolvimento Motor e a Psicologia do Esporte) e Estudos Socioculturais do M ovimento H umano (reuniria a S ociologia, a História, a A ntropologia, a Filosofia, a É tica e a E stética do M ovimento H umano/Esporte). C omo ex emplo de ssa r ede, propõe-se na área da pesquisa: QUADRO 1 - Cinesiologia, Educação Física e Esporte ÁREA DE CONHECIMENTO IDENTIFICAÇÃO CATEGORIAS CINESIOLOGIA PESQUISA BÁSICA PESQUISA APLICADA Biodinâmica do Movimento Humano Pedagogia do Movimento Humano Comportamento Motor Humano Adaptação do Movimento humano EDUCAÇÃO FÍSICA Estudos Socioculturais do Movimento Humano Treinamento Esportivo Administração Esportiva ESPORTE (Cf. TANI, 1996) No q uadro, a Cinesiologia es taria f ornecendo c onhecimento par a a s pesquisas na ár ea da E ducação F ísica e do E sporte. O s cu rsos de E ducação F ísica e E sporte, em sua especificidade, e stariam re cebendo c onhecimentos r elativos ao s eu c ampo de at uação profissão. Por exemplo, a Pedagogia do Movimento Humano estaria relacionada (recebendo informações, c onhecimentos) à B iodinâmica do M ovimento H umano, a o C omportamento Motor Humano e aos Estudos Socioculturais do Movimento Humano. Da mesma forma, a 31 Biodinâmica do M ovimento H umano es taria env iando c onhecimento par a a Pedagogia do Movimento Humano e para a Adaptação do Movimento Humano. Nesta or ganização, o enf oque apr esentado v ai à di reção de um a abordagem sistêmica, na q ual o aut or t em o seu ponto de apoi o, f azendo menção à T eoria do C aos e à própria Cibernética, nas se guintes f rases: ‘ desordem t em s ido c onsiderada f onte de or dem’; ‘ observa-se aut o-organização no m undo f ísico, e o m esmo m ecanismo c omeça a s er desvendado no m undo bi ológico e so ciológico’; ‘ parecem e xistir p rincípios de or ganização universais q ue s e ap licam a t odos o s si stemas d inâmicos’; ‘ a c iência di rige s ua at enção ao comum, às semelhanças, à essência’ e ‘ fala-se em nova síntese’. (TANI, 1996: 30) Caminhando par a es ta di reção, c aberia ao s cu rsos de f ormação s elecionar e organizar o s c onhecimentos pelo per fil do pr ofissional q ue s e q uer f ormar. E m f ace de ssa compreensão, a i mplantação do bac harelado ou g raduação e m E ducação F ísica s ignifica t er uma proposta de preparação profissional baseada num corpo de conhecimento. Como estrutura administrativa, a sua configuração abrangeria: QUADRO 2 - Proposta da Faculdade de Cinesiologia, Educação Física e Esporte FACULDADE DE CINESIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE Departamento de Cinesiologia Biodinâmica do Movimento Humano Comportamento Motor Humano Estudos Socioculturais do Movimento Humano Departamento de Educação Física Pedagogia do Movimento Humano Adaptação do Movimento Humano Departamento de Esporte Treinamento Esportivo Administração Esportiva (Cf. TANI, 1996) Na proposta apresentada, não há dúv ida de q ue esta se encaminha para aquilo que D OLL J R. ( 1998) c hama de ‘‘ paradigma pós-moderno’’, c entrado na bi ologia, na aut oorganização. P orém, o s eu pont o de apoi o e stá no ‘‘ paradigma m oderno’’ que t raçou o per fil científico da s d isciplinas t radicionais. E ntão, c omo c onsubstanciar u ma c osmologia bi ológica dentro de um a cosmologia mecanicista? É o desafio a ser vencido dado, à própria natureza do conhecimento proposto. No âm bito des te pr ojeto, tr abalharemos, nesse m omento, c om a aná lise do movimento hum ano num a per spectiva do des envolvimento m otor e não em s ua di mensão hermenêutica. P orém, a s ponderações não dei xarão de c olocar a s ua ênf ase t ambém na descrição qualitativa. 32 III - MÉTODO E TÉCNICAS UTILIZADAS PARA A OBTENÇÃO DOS DADOS Na busca dos dados escolheu-se a E scola Motora de R OSA DE NESTO (2002) como m étodo par a s e av aliar a i dade m otora de u m g rupo de e scolares de um a e scola estadual, de primeira a quarta série, na cidade de Rio Claro, localizada no interior do Estado de São Paulo, tendo na análise qualitativa dos resultados o ponto de convergência desta reflexão. Esta avaliação f oi r ealizada no s egundo s emestre de 2003 , nos meses de ag osto-setembro e novembro-dezembro. ROSA D E N ETO ( 2002), e m s eus e studos s obre o des envolvimento m otor, propôs uma avaliação motora centrada em sete aspectos motores que foram interpretados na forma de um conjunto prescritivo de normas e orientações. 3.1 – OS COMPONENTES MOTORES AVALIADOS NA ESCOLA MOTORA – A proposta de Rosa NETO (2002): Motricidade fina – é a c oordenação visiomanual ( atividade mais f reqüente e m ais comum no homem), ela inclui a fase de transporte da mão, seguida de uma fase de agarre e manipulação, o q ue dá u m c onjunto de obj eto/mão/olho. E ste pr ocesso ex ige a par ticipação de di ferentes centros nervosos, m otores e s ensoriais, para q ue na aç ão ex ista a c oincidência ent re o at o motor e um a es timulação v isual percebida. E m i ndivíduos não v identes transfere-se a percepção visual para outro tipo de informação. Motricidade global – é a c apacidade do i ndividuo de , c om s eu r itmo, deslocamento, compreender-se m elhor e bu scar novas i nformações. A perfeição pr ogressiva do at o m otor implica nu m f uncionamento g lobal de s eus m ecanismos r eguladores. O m ovimento g lobal é sempre sinestésico, tátil, labiríntico, etc. Equilíbrio – está v inculado à i déia do t ônus postural, ou s eja, postura c orporal q ue s ejam corretas e ec onomizem energia, para q ue não oc orra a f adiga c orporal, entre out ros. O equilíbrio é o es tado de u m corpo quando forças distintas atuam sobre ele e s e compensam e anulam mutuamente. Em tudo deve ter o equilíbrio, para andar, para sentar, para ficar em pé – isto feito dinamicamente ou estaticamente. Esquema Corporal – é a i magem do c orpo, o m odelo pos tural q ue c ada u m t em, e a construção de sses e squemas é f eita at ravés da or ganização da s s ensações r elativas a s eu próprio c orpo e m a ssociação c om o s dos do m undo ex terior. A e laboração do s e squemas corporal segue as leis da maturidade céfalo-caudal e próximo-distal. Organização Espacial – é compreender as dimensões do corpo com o espaço que é f inito e com o infinito, ou seja, a organização espacial depende ao mesmo tempo da estrutura do nosso corpo, como, da natureza do m eio que nos rodeia e suas características. A evolução da noção espacial destaca a existência de duas etapas: uma ligada à per cepção imediata do ambiente e outra baseada nas operações mentais que saem do espaço representativo e intelectual. Organização Temporal – as duas vertentes desta def inição: a ordem e a dur ação, quando a primeira def ine a s ucessão q ue ex iste ent re o s a contecimentos; u ma s endo c ontinuação da outra em uma ordem física; e a segunda permite a variação do intervalo que separa o início e o fim do acontecimento. A organização temporal inclui a dimensão lógica, a dimensão cultural e os aspectos de vivência. 33 Lateralidade – é a preferência da utilização de uma das partes simétricas do corpo (mão, olho, perna e ouv ido). A l ateralidade acontece em virtude de um predomínio q ue outorga a u m dos hemisférios a iniciativa da organização do ato motor. Por exemplo: LATERALIDADE Lateralidade Mãos Olhos Pés D (direito) Três provas com a mão direita E (esquerdo) Três provas com a mão esquerda Duas provas com o olho esquerdo Dois chutes com o pé esquerdo I (indefinido) Uma ou dua s provas com a m ão Uma pr ova c om o ol ho di reito ou direita ou com a mão esquerda com o olho esquerdo Um chute c om o pé direito ou com o pé esquerdo Duas provas com o olho direito Dois chutes com o pé direito PONTUAÇÃO GERAL DDD EEE DED/EDE/DDE DDI/EEI/EID Destro completo Sinistro completo Lateralidade cruzada Lateralidade indefinida No geral, este conjunto permite identificar a idade motora dos escolares e, mediante este diagnóstico, propor u m t rabalho de i ntervenção, s egundo a s o rientações de R OSA N ETO (2002). 3.2 - ORIENTAÇÕES U TILIZADAS PA RA A AP AFERIÇÃO DOS RESULTADOS LICAÇÃO D OS T ESTES E PA RA A • Os t estes deverão s er aplicados de ac ordo c om a i dade c ronológica da c riança. U m aluno poderá ser testado a partir de sua idade cronológica ou inferior. • O exame m otor pode s er iniciado pela s eqüência de provas motoras: motricidade f ina, motricidade global, equilíbrio, etc. • Se a criança tem êxito em uma prova, o resultado será positivo e será registrado com o símbolo 1. • Se a pr ova exige habilidade com o lado direito e es querdo do c orpo, será registrado 1, quando houver êxito com os dois membros. • Se a prova tem resultado positivo apenas com um dos membros (direito ou esquerdo), o resultado será registrado ½. • Se a prova tem resultado negativo, será registrado 0. 34 Por exemplo: 1 2 3 4 5 6 Teste/ 2 anos MF MG EQ EC OE L/OT 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 ½ 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8 9 10 11 IDADES MOTORAS IM1= 5 anos e 6 meses ou 66 meses IM2= 7 anos ou 84meses IM3= 5 anos ou 60 meses IM4= 6 anos ou 72 meses IM5= 6 anos ou 72 meses IM6= 5 anos ou 60 meses IMG=IM1+IM2+IM3+IM4+IM5+IM6 6 (Idade Motora Geral) IC (Idade Cronológica) IN/IP (Idade negativa/ Idade positiva)= IMG – IC Os v alores se rão pos itivos q uando a i dade m otora g eral apresentar valores numéricos superiores à idade cronológica, geralmente expressa em meses. QMG=IMG . 100 (Quociente Motor Geral) IC QUADRO 3 - A Classificação da Idade Motora 130 ou mais 120 – 129 110 – 119 90 – 109 80 – 89 70 – 79 69 ou menos Muito superior Superior Normal alto Normal médio Normal baixo Inferior Muito inferior 35 QUADRO 4 - A Classificação de Idades Cronológicas/Motoras ANOS 2 anos 2 anos e 6 meses 3 anos 3 anos e 6 meses 4 anos 4 anos e 6 meses 5 anos 5 anos e 6 meses 6 anos 6 anos e 6 meses 7 anos 7 anos e 6 meses 8 anos 8 anos e 6 meses 9 anos 9 anos e 6 meses 10 anos 10 anos e 6 meses 11 anos MESES 24 meses 30 meses 36 meses 42 meses 48 meses 54 meses 60 meses 66 meses 72 meses 78 meses 84 meses 90 meses 96 meses 102 meses 108 meses 114 meses 120 meses 126 meses 132 meses 3.3 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA O programa de Educação Física, desenvolvido com os escolares, num total de 23 (com as suas respectivas classes), pela professora da área, constou de: A - CONHECIMENTO E CONTROLE DO CORPO - ESQUEMA C ORPORAL: m ovimentos g lobais, m ovimentos s egmentares, m ovimentos independentes, m ovimentos i nterdependentes, percepção (tátil/visual/auditiva), e xpressão c orporal (limitação/dramatização/interpretação/mímica). - ORIENTAÇÃO ESPACIAL: lateralidade, direção, trajetória, localização. - ORIENTAÇÃO TEMPORAL: velocidade, curso regular. - CAPACIDADES F ÍSICAS: f orça, r esistência, f lexibilidade, c oordenação ( global e seletiva), velocidade, agilidade, equilíbrio. - HABILIDADES MOTORAS: locomoção, manipulação, não locomoção. B - ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSÃO CORPORAL - RODAS. - CANTIGAS. - BRINQUEDOS CANTADOS. - LADAINHAS. - MOVIMENTOS COMBINADOS EM RÍTMOS DIFERENTES. C - JOGOS - JOGOS DE REGRAS. - GRANDES JOGOS. - JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS D - RECREAÇÃO - LIVRE - DIRIGIDA 36 Esta programação foi desenvolvida durante todo o ano de 2003. A grande ênfase do s egundo s emestre, período e m q ue es tivemos na e scola, ficou po r c onta do s j ogos de estafetas ou g incanas e at ividades q ue env olviam j ogos e xplorando a or ientação t emporal e espacial, e atividades que incorporavam a relação da criança com o seu corpo. Uma descrição mais detalhada de c omo es te pr ograma f oi desenvolvido não f oi possível, pois não t ivemos acesso aos planos de aula da professora de Educação Física em razão de a escola ter apenas o plano de ensino. IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO A avaliação da Idade Motora apontou os seguintes resultados: QUADRO 5 – Idade Motora e Lateralidade das Crianças no Pré-Teste Idade e Componentes Nome e Série Augusto - 4ª A Bruna - 4ª B Fabio - 4ª C Júlia - 4ª A Maycon - 4ª A Moacir - 4ª C Nicholas - 4ª C Paulo - 4ª A Tiago - 4ª A Welinton - 4ª C Rudivaldo – 4ª C Felipe - 4ª A Kaique - 3ª B Rafael –3ª B Valéria - 4ª F Alan - 4ª A Ruan - 4ª E Bruno - 4ª D Erica - 3ª B Mônica - 3ª A Nicolas - 3ª B Micael l- 4ª E Bruno Rafael - 4ª D Idade MF MG EQ EC OE OT LAT 9 10 10 10 10 11 8 9 11 11 11 10 9 10 10 11 10 9 10 9 10 10 10 11 11 11 9 9 9 11 11 10 11 11 11 11 9 11 11 11 9 8 11 10 10 9 9 9 9 7 10 10 10 11 11 11 11 10 9 9 11 11 11 9 7 9 9 9 8 11 11 11 6 11 9 10 11 11 11 11 11 9 10 11 11 11 11 10 9 10 10 11 9 9 10 5 8 7 8 8 9 8 7 9 7 10 7 10 8 7 9 7 6 7 7 5 7 5 5 11 11 11 8 11 4 11 7 6 5 8 9 8 6 8 9 9 8 7 7 7 6 6 9 8 7 9 9 7 9 7 6 6 8 7 8 7 7 8 6 7 6 LC LC DC LC DC DC EC DC LC DC DC DC DC LC EC LC DC DC LC DC DC LC DC *A s egunda c oluna c orresponde à i dade c ronológica; a s demais co lunas co rrespondem à s i dades mo toras alcançadas na realização dos testes. Siglas: MF - motricidade fina, MG - motricidade global, EQ - equilíbrio, EC esquema corporal, OE - organização espacial, OT - organização temporal e LAT – lateralidade. Como se pode observar pelos resultados são crianças de diferentes classes com problemas motores que foram selecionadas para participar do projeto, apresentando a seguinte classificação: 37 QUADRO 6 – Escala Motora de Desenvolvimento no Conjunto dos Componentes Motores Avaliados Quociente Motor Geral PM IC IP IN IMG ( a/m) QMG Resultados - EDM Nome e Série Augusto - 4ª A D 9 -1,5 7,5 83 Normal baixo Bruna - 4ª B D 10 -2,7 7,3 73 Inferior Fabio - 4ª C D 10 0,6 10,6 106 Normal médio Júlia - 4ª A D 10 -3,6 6,4 64 Muito inferior Maycon - 4ª A D 10 -0,2 9,8 98 Normal médio Moacir - 4ª C D 11 -0,7 10,3 94 Normal médio Nicholas - 4ª C E 8 1,6 9,6 120 Superior Paulo - 4ª A D 9 0,6 9,6 107 Normal médio Tiago - 4ª A D 11 -2 9 82 Normal baixo Welinton - 4ª C D 11 -2,4 8,6 78 Inferior Rudivaldo - 4ª C D 11 -1 10 91 Normal médio Felipe - 4ª A D 10 -0,8 9,2 92 Normal médio Kaique - 3ª B D 9 -1,8 7,2 80 Normal baixo Rafael - 3ª B D 10 -1,8 8,2 82 Normal baixo Valéria - 4ª F E 10 -2,2 7,8 78 Inferior Alan - 4ª A E 11 -2,3 8,7 79 Inferior Ruan - 4ª E D 10 -0,4 9,6 96 Normal médio Bruno - 4ª D D 9 -0,8 8,2 91 Normal médio Erica - 3ª B D 10 -1,8 8,2 82 Normal baixo Monica - 3ª A D 9 -0,2 8,8 98 Normal médio Nicolas - 3ª B D 10 -1,6 8,4 84 Normal baixo Micael l- 4ª E E 10 -1,4 8,6 86 Normal baixo Bruno Rafael - 4ª D D 10 -2 8 80 Normal baixo PM - preferência m anual, I C - idade c ronológica, I P - idade pos itiva, I N - idade negat iva, IM G - idade motora geral, QMG - quociente motor geral e EDM - são os resultados obtidos pelas crianças. O cálculo destas idades geralmente é feito em meses, porém a apresentação está em anos, para ficar mais fácil a associação. Gráfico do perfil do grupo avaliado Uma criança está no Muito inferior. Quatro crianças, no Inferior. Oito crianças, no Normal baixo. Nove crianças, no Normal médio. Uma criança, no Superior. EDM 4% 4% 17% MI INF 40% NB NM 35% S UP 38 Deste g rupo f oram s elecionadas se te c rianças pela pr ofessora de E ducação Física para realizarem novamente os testes, tendo como referência a performance nas aulas de Educação Física no âmbito dos componentes motores. A escolha destas crianças se deu em virtude de ser um grupo muito heterogêneo; de f reqüentarem a uni versidade dua s v ezes por s emana, Laboratório de A lfabetização, para participar do projeto leitura e escrita, e pelo fato de a professora de Educação Física ter relatado que houv e u m me lhora s ignificativa no c omportamento m otor das m esmas. P ortanto, gostaríamos de c omprovar e stes i ndicativos e mpíricos co m u ma nov a ap licação do s t estes, embora esta conduta fizesse parte de nossos propósitos. Nesta instituição não desenvolvemos um programa particular de Educação Física, visando a i ntervenção, pois gostaríamos também de c onhecer q uais se riam o s r esultados de um a pr ogramação m otora q ue i ncorporasse a psicomotricidade como parte de seu conteúdo. Esta explicitação se faz necessário uma vez que a nossa intervenção também estaria propondo os conteúdos encontrados e estava prevista para uma e scola q ue não houv esse u m p rofissional da ár ea. P ortanto, a s c ondições pedagógicas encontradas na e scola e m re lação à E ducação F ísica dev eriam f avorecer u m re sultado m ais positivo, dispensando, a g rosso modo, um trabalho mais especializado em virtude de j á terem um especialista da área que poderia dar subsídios. Na ap licação do pós -teste, c onsiderando q ue es tes e scolares t iveram aula de Educação Física, de uma a duas aulas por semana, no período de três meses, o resultado foi o seguinte: QUADRO 7 - Idade Motora e Lateralidade das Crianças no Pós-Teste Idade e Componentes Idade * MF Nome e série 1 2 Augusto - 4ª A 10 1 MG 2 EQ EC OE 2 1 2 1 2 9 11 10 9 9 5 11 OT 1 2 1 LAT 2 L LC C 9 11 9 6 9 5 6 5 7 6 6 L LC 10 11 Júlia - 4ª A C 10 11 11 9 11 11 8 10 8 8 9 8 D DC 9 Paulo - 4ª A C 11 11 11 11 11 11 7 9 11 8 9 6 D DC 11 Rudivaldo - 4ª C C 8 11 7 L LC 10 11 10 10 9 8 8 6 7 8 Erica - 3ª B C 11 11 9 9 9 11 7 7 9 8 8 7 D DC 9 Monica - 3ª A C 11 11 9 9 11 7 9 6 7 6 D DC 9 11 9 Kaique - 3ª B C Glossário: *Idade. O n º 1 s ignifica o pr imeiro t este, enquanto que o n º 2 é o s egundo t este. E m negrito assinala-se se houve ou não ev olução em relação à i dade biológica num dado comparativo. A numeração que não recebeu ênfase significa que não houve evolução, podendo haver regressão. 11 10 11 1 7 9 39 Observa-se q ue houv e t anto um a m elhora da m aioria q uanto per das na i dade motora das cr ianças, nos r evelando q ue a s aulas de E ducação F ísica m inistradas na g rade horária da pr imeira a q uarta séries é importante e nec essária. Mas também foi sublinhado que este pr ograma nec essita da c ontribuição de es tudiosos da ár ea para q ue o m esmo seja mais eficaz e alcance plenamente os resultados pretendidos. 4.1 - LATERALIDADE A p referência m anual f oi a valiada apena s co m o c omponente da e scrita e apresentou a s eguinte disposição: das 23 crianças avaliadas, 19 são destras e 4 são sinistras (canhotas). No que se refere à lateralidade esta foi dividida em olhos e pés: (a) para os olhos, das 23 crianças avaliadas 14 são destras e 9 s ão sinistras; (b) para os pés, das 23 crianças avaliadas 20 são destras e 3 são sinistras. A c onclusão do s r esultados da l ateralidade no s l evou a ac reditar q ue, o q ue existe é uma preferência lateral por um segmento do corpo para uma determinada tarefa. Isto é, as cr ianças apresentam a c onsistência no us o de um a da s m ãos, o lho ou pé – essa consistência aum enta c om a idade. Nas crianças pesquisadas, a dominância completa de u m dos lados foi relativamente pequena, chamando a atenção para a lateralidade mista/cruzada. 4.2 – GRUPO DE CRIANÇAS QUE FIZERAM O PÓS-TESTE No g eral, e stes e scolares apresentaram u m q uadro ev olutivo no s eu desenvolvimento m otor q ue, s e não aux iliou na pr omoção do s m esmos, ao m enos, i ndicou o caminho para a solução destes problemas, como se poderá observar: QUADRO 8 - Classificação Nome e série Augusto - 4ª A Júlia - 4ª A Paulo - 4ª A Rudivaldo - 4ª C Kaique - 3ª B Erica - 3ª B Monica - 3ª A *Idade atingida no teste. 1º t este – EDM Normal baixo 7 anos e 3 meses* Muito inferior 5 anos e 7 meses Normal médio 8 anos e 8 meses Normal médio 7 anos e 7 meses Normal baixo 7 anos e 5 meses Normal baixo 6 anos e 10 meses Normal médio 8 anos e 2 meses 2º t estes – EDM Normal médio 8 anos e 4 meses Normal baixo 7 anos Normal médio 8anos e 8 meses Normal baixo 7 anos e 4 meses Normal médio 8 anos e 10 meses Normal médio 7 anos e 6 meses Normal médio 8 anos e 2 meses 40 Apresentação dos gráficos de cada criança no Pré-Teste e Pós-Teste 12 10 8 6 4 2 0 EDM-Teste e Reteste Augusto 1 Augusto 2 MF MG EQ EC OE OT Idade motora Idade motora EDM- Teste e Reteste 12 10 8 6 4 2 0 Testes Paulo 2 Idade motora Idade motora Paulo 1 12 10 8 6 4 2 0 Erica 1 Erica 2 Testes MF MG EQ EC OE OT EDM- Teste e Reteste 12 Kaique 1 Kaique2 Idade motora Idade motora Testes EDM- Teste e Reteste 12 10 8 6 4 2 0 12 10 8 6 4 2 0 Júlia 2 MF MG EQ EC OE OT EDM-Teste e Reteste MF MG EQ EC OE OT Júlia 1 Testes EDM- Teste e Reteste 10 8 Rudivaldo1 6 Rudivaldo 2 4 2 0 MF MG EQ EC OE OT Testes MF MG EQ EC OE OT Testes Idade motora EDM- Teste e Reteste 12 10 8 6 4 2 0 Monica 1 Monica 2 MF MG EQ EC OE OT Testes 41 Estes r esultados permitem observar a lguns f atos q ue oc orrem durante al guns períodos de desenvolvimento. O p rimeiro seria o f ato de q ue a c riança deve ser estimulada ao movimento, deve adquirir consciência corporal e destreza em algumas habilidades, para realizar as tarefas do dia-a dia. Perante este pressuposto é inegável que a escola deva lembrar, a todo instante, a dimensão corporal e a importância que este assume no processo de aprendizagem. Um segundo ponto é o t ipo de avaliação. No caso, o teste utilizado permitiu encontrar algumas lacunas e m c ertas habilidades q ue s ão f acilmente a ssociadas à e scrita e q ue dem onstra q ue este conteúdo não vem sendo abordado na instituição. A f unção des ta av aliação f oi dar s ubsídio par a s e v erificar s e o q ue es tá s e ensinando na e scola po ssibilita o des envolvimento pl eno de ssas cr ianças. Portanto, não há dúvidas de que a f alta de av aliações pode camuflar algumas perspectivas, no que diz respeito aos fracassos e vitórias na alfabetização e na educação corporal. 42 CONCLUSÃO O e studo m ostrou s er de f undamental im portância t rabalhar c om o c orpo na escola. Q ue a E ducação F ísica, ao t rabalhar com o m ovimento hum ano, ou c om a c ultura de movimento, tem uma grande contribuição a da r em projetos integrados com outras disciplinas, interdisciplinares, mas que também se torna necessário que este trabalho leve em consideração a necessidade de avaliação motora para a elaboração do programa de ensino, visando à efetiva promoção (integração) destes escolares. No âmbito desta compreensão, entendeu-se que é m uito importante o pr ofessor conhecer a m atéria q ue ens ina. P orém, é m ais i mportante ai nda t rabalhar o c onhecimento pedagógico do conteúdo específico, o que significa dizer que se enfocaria várias dimensões do conhecimento, essenciais para a at ividade docente, como: conhecimento da m atéria de ensino (estruturas si ntáticas, c onteúdo, e struturas s ubstantivas), c onhecimento pedag ógico g eral (alunos e aprendizagem, gestão da aula, currículo e interação) e o conhecimento dos contextos do sistema educativo (comunidade, sistema educativo, escola). Na r ealidade, o es tudo e m s i t rouxe à t ona a q uestão da pr ofissionalidade docente e m q ue não bas ta q uerer ensinar, mas é f undamental i r além do es tabelecido, para que o exercício da autonomia docente realmente aconteça em sala de aula. A avaliação motora e as aulas de Educação Física, mais que um espaço em que se trabalha a motricidade humana, nos revelou a necessidade de uma pedagogia do movimento humano que traga contribuições para os problemas não solucionáveis, no âmbito da instituição, relacionados ao processo de alfabetização. Agradecimentos: ao c orpo doc ente e di scente da E scola E stadual “ Prof. S ylvio de A raújo” – Rio Claro, SP. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CUNHA, M. S. V. Uma nova c iência do homem – a Quinantropologia. Desportos, Lisboa v. 7, 1983. _____.Motricidade Humana: um paradigma emergente. In: MOREIRA. W. W. (Org.). Educação Física & esportes: perspectivas para o século XXI. Campinas: Papirus, 1992. p. 91-108. DOLL J ÚNIOR, W . Currículo: uma per spectiva pós -moderna. P orto A legre: A rtes M édicas, 1997. 224 p. GUIRALDELLI JR, P., O que é pedagogia? São Paulo, SP: Brasiliense, 1987. KUNZ, E . L imitações no f azer c iência e m E ducação F ísica e E sportes: C BCE, 20 ano s auxiliando na s uperação. Revista B rasileira de Ciências do E sporte, N úmero E special Comemorativo dos 20 anos de Fundação – setembro, 1998, p. 4-11. 43 MICOTTI, M. C. O. Êxito e insucesso em alfabetização: diferenças iniciais. In: Wilson Galhego e Alvaro Martim Guedes. Cadernos do Núcleo de E nsino. São Paulo, SP: UNESP – PROGRAD, 2003, p.188-200. PELLEGRINI, A . M .; S OUZA N ETO, S .; BENITES, L . C .; VEIGA, M . e M OTTA, A . I. O Comportamento Motor no pr ocesso de e scolarização: buscando s oluções no c ontexto e scolar para a al fabetização. In : W ilson G alhego e A lvaro M artim G uedes. Cadernos do N úcleo de Ensino. São Paulo, SP: UNESP – PROGRAD, 2003, p.271-284. PELLEGRINI, A . M ., BARELA, J . A . O q ue o pr ofessor deve s aber s obre o des envolvimento motor de s eus a lunos. In : Alfabetização: a ssunto par a pai s e m estres. 1 . ed. Rio Claro: IB/UNESP, 1998, p.94. ROSA NETO, F. Manual de avaliação motora. Porto Alegre: Artmed, 2002. SOUZA N ETO, S . O p rofessor, q uem e le é? I n: Encontro de E ducadores do M ovimento Humanidade Nova, 1. 2000. Vargem Grande Paulista, SP: Movimento Humanidade Nova, 2000 (Mimeo.). TANI, G. E ducação f ísica e es porte no 3 º g rau: u ma abor dagem desenvolvimentista. In : PASSOS, S . C . E . Educação física e es portes na uni versidade. B rasília: M inistério da Educação, Secretaria de Educação Física e Desportos, 1988. p. 379-394. _____. Cinesiologia, educação f ísica e es porte: o rdem e manente do c aos na es trutura acadêmica. Motus Corporis, v. 3, n. 2, p. 9-50, 1996. (edição especial). 44
Download