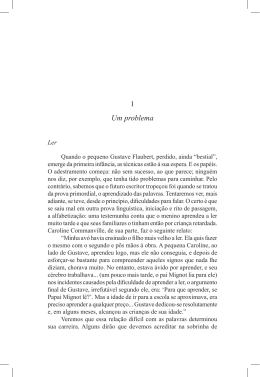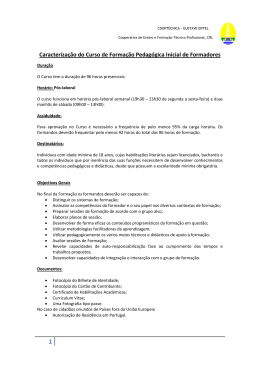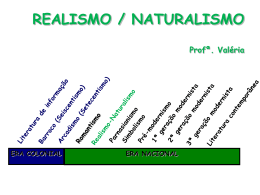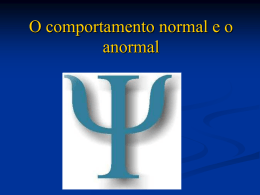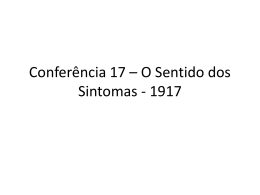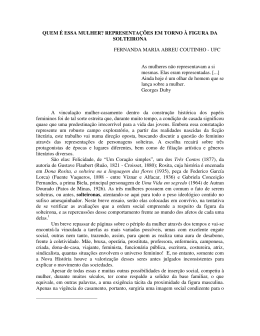I O problema Tratamos da neurose de Flaubert, tentando compreendê-la por dentro, ou seja, reconstituir sua gênese proto-histórica e depois a história e descobrir nesta as intenções teleológicas subjetivas que se constituem por meio dela e acabam por estruturá-la. Quando chamo de subjetivas essas intenções estruturantes, evidentemente pretendo fazer uma seleção e só designar aquelas que, surgindo de sua situação particular – ou seja, originalmente familiar –, não têm outra significação senão a de visar seu caso singular e, aplicando-se a uma anomalia “indizível”, mas vivenciada com mal-estar, integrá-lo naquilo que ele mesmo chama de “sistema particular” e “feito para uma única pessoa”. Em suma, vimos a neurose desenvolver-se num terreno bem definido que a condicionava: a atividade passiva; discernimos dois elementos distintos, mas inseparáveis pelo menos pelo discurso: o transtorno primitivo e o stress, reação autodefensiva que tenta envolver o transtorno para dissolvê-lo ou pelo menos neutralizá-lo e que, com essa tentativa (ou seja, com a mobilização geral da vivência que ela exige e com suas relações dialéticas com esse mal-estar palpitante que ela inclui em si, digere mal e sofre, em contrapartida, como sua determinação móvel e imprevisível), acaba por produzir as perturbações mais amplas no âmbito do habitus e dos comportamentos. Assim, a neurose intencional e padecida mostrou-se como uma adaptação ao mal, provocando mais distúrbios que o próprio mal. No entanto, apesar de termos recenseado esses distúrbios de acordo com os testemunhos de Gustave, não procuramos avaliá-los: em outros termos, vimos perfeitamente que, ao invés de eliminar a anomalia, eles a haviam reforçado e até, de certo modo, constituído, tornando Gustave um homem profundamente diferente dos outros. Mas, na 10 Livro primeiro falta de um sistema de valores, não pudemos decidir de um ponto de vista objetivo, até agora, se a neurose prejudicara Flaubert e em que medida, ou se, ao contrário, tinha sido útil para ele. Evidentemente, não faltam estruturas objetivas, e delas partimos: há o conjunto institucional, produto e expressão das infraestruturas; há a conjuntura histórica que, condicionada por esse conjunto, o supera na exata medida em que o conserva, avivando suas contradições internas; há a família Flaubert, resultado metaestável das estruturas e da história, cujo desequilíbrio comum à época dá testemunho ao mesmo tempo das persistências do passado e do difícil advento de uma ordem nova; há o pai, enfim, rural e citadino, feudal e burguês, cientista, portanto agnóstico, naquele tempo em que a Fé, assassinada pelo jacobinismo, tenta renascer sem grande sucesso e, de todo modo, manifesta-se na nova geração como perda, como diminuição do ser sem contrapartida. Mas essas determinações abstratas e gerais já estão muito particularizadas na intersubjetividade familiar dos Flaubert: aquele pai glorioso, nervoso até as lágrimas, aquele melindrado, tirano, bonachão ou terrível, aquela mãe, acabrunhada para sempre pela morte da própria mãe, exagerando a subserviência de esposa, adorando o marido como esposo e, mais ainda, como substituto do pai; a atmosfera lúgubre do Hospital Central, tudo, enfim, contribui para enriquecer as determinações institucionais e superá-las em direção à história concreta de um micro-organismo irredutível que não pode fugir à conjuntura histórica, mas que a padece e a totaliza à sua maneira. E, sobretudo, foi preciso encarar esse conjunto concreto – ascensão da burguesia refratada numa vida cotidiana – como algo vivenciado em meio à ignorância e à agitação por uma criança, ou seja, por um produto constituído dessa célula social, um filho do homem, predestinado antes mesmo de ser concebido, a superar às cegas, no escuro, esses condicionamentos em direção a seus próprios fins e, assim, a chocar-se com os objetivos estranhos que uma vontade outra lhe impusera, objetivos que ele interiorizava, a despeito de si mesmo, como se fossem também seus. A ignorância e a constituição passiva, a frieza devotada da mãe e aquele segundo desmame, a brusca desafeição do pai – ou o que foi sentido como tal –, o ciúme e a exasperação de um guri preso entre as incapacidades que lhe haviam sido dadas e a ambição familiar que ele já interiorizara: esse nó de víboras não podia ser desatado; era preciso vivenciá-lo, ou seja, constituí-lo obscuramente Neurose objetiva 11 como uma determinação subjetiva. E a subjetividade de Gustave manifesta-se justamente no fato de que os únicos instrumentos de que ele dispõe para se compreender e compreender seu entorno são símbolos (maldição de Adão, maldição paterna), mitos (fatalidade, ultramaniqueísmo que consagra a vitória do Mal sobre o Bem), construtos falsos (Achille concebido como usurpador, Achille-Cléophas às vezes identificado com o Diabo) e fantasias de ressentimento (ligadas à crueldade que ele chama de “maldade” na juventude, e que Sainte-Beuve chamará de sadismo em sua crítica de Salambô, mas que, como vimos, é principalmente uma variedade de sadomasoquismo ligado ao problema da ficção e da encarnação). Por mais que tenhamos mostrado nas instituições e na existência histórica do grupo Flaubert as condições objetivas da neurose, somos forçados a constatar que, bem antes da crise de 1844, já na primeira infância, afinal, e em toda aquela adolescência que chamarei de pré-neurótica – pois nela vimos os distúrbios futuros prenunciarem-se e constituírem-se aos poucos –, Gustave não reage às agressões objetivas explicadas por sua situação real, mas sim às interpretações cifradas que ele lhes dá, e que têm como origem os esquemas pré-fabricados de sua subjetividade. Uma atenção de Achille-Cléophas para Achille aparecerá bem cedo como uma frustração diabolicamente premeditada pelo pai simbólico, aquele Senhor Negro, e a resposta de Gustave será o ódio literário que o faz escrever Um perfume por sentir ou Peste em Florença. No colégio, as conversas inocentes ou os sorrisos inoportunos dos colegas manifestam, a seus olhos, a crueldade assassina da multidão, escandalizada com sua anomalia. Contra esse ostracismo rigoroso – mas sonhado: ao contrário, ele parece ter gozado de popularidade real e até de certo prestígio – ele se defende com o êxtase passivo; em outras palavras, esse comportamento pré-neurótico (que em última análise poderia até ser qualificado de neurótico) e perfeitamente subjetivo – porque, por meio do alheamento, busca uma compensação no imaginário puro e apreendido como tal – é uma reação de defesa diante de uma interpretação errônea, hiperbólica, da situação real, cujo aspecto resolutamente simbólico é ditado por esquemas pré-constituídos. Assim, não só o comportamento induzido é uma modificação da subjetividade, como também, embora se apresente como simples percepção do acontecimento objetivo, a determinação indutora é uma apreciação subjetiva deste. Alguém dirá que somos todos assim, e é verdade: perceber é situar-se; há, portanto, em todo caso, uma dialética de interiorização 12 Livro primeiro e exteriorização. Mas o que conta aqui é a proporção: enquanto uma parte do objeto se revela tal qual é, revelando-nos o que somos (ou seja, nossa relação com ele e nossa ancoragem), pode-se esperar, ao cabo de longo esforço, chegar à reciprocidade de posição (o objeto a nos definir à medida que definimos o objeto) que é a verdade humana. No caso de Gustave, a subjetividade corrói o objetivo e deixa-lhe tão somente a exterioridade justa para que ele transmita seu poder indutor às fantasias que o digeriram. Seu esforço é inteiramente o de se dessituar.1 Em consequência disso, acompanhamos sua vida pré-neurótica até a explosão da neurose, abstendo-nos de apreciar objetivamente seus comportamentos. Preferimos compreendê-lo, ou seja, estudar os comportamentos a partir de seus fins e considerá-los como respostas a situações vivenciadas, em vez de declará-los aberrantes ao compará-los aos estímulos “reais” ou aos comportamentos dos outros. De fato, tomando-se as coisas pelo princípio, nessas esferas é impossível decidir o que é realidade sem dispor de um sistema de valores. Porque quem, afinal, está mais adaptado à realidade: Gustave, que tenta por todos os meios interromper os estudos de direito por saber, profundamente, que eles o levarão a abraçar uma carreira, portanto a tornar-se aquele “burguês” que ele abomina, ou Ernest, que também foi romântico e desprezou os “filisteus” à saciedade, mas nem por isso alimentou a intenção de isentar-se de sua classe, que ascendeu com habilidade e flexibilidade todos os degraus da carreira, começando como procurador na Córsega e terminando parlamentar, Ernest cuja primeira preocupação, quando lhe pediram as cartas do amigo morto para serem publicadas, foi a de expurgá-las? Para um psiquiatra, para um analista burguês – todos eles são –, Ernest é o protótipo do adulto: social, sociável, adaptado à sua tarefa e até mesmo à evolução da sociedade francesa. Gustave, em cuja personalidade excepcional esses facultativos estão perfeitamente preparados para negar, continua sendo alguém digno de tratamento. Até concordo, mas de quê? Nenhum deles, está claro, pensaria em impedi-lo de escrever. A busca seria por adaptações, só isso. Mas para quê? Para possibilitar-lhe ir com mais frequência a Paris? Morar lá? Passar todas as suas noites na cama da Musa? Fazer outros livros, e não os que fez? Ser – como o amigo, Maxime, o fotógrafo – eleito algum dia para a Academia? Será que tentariam levá-lo a reconhecer que é burguês, fizesse ele o 1. Ou seja, de destruir ou ocultar a relação de reciprocidade. Neurose objetiva 13 que fizesse, e que a luta contra sua classe, perdida de antemão, absorve em vão todas as suas faculdades? É verdade que ele se atormenta. E que Joséphin Soulary é mais adulto, mais forte, mais reconciliado, e, com um sorriso divertido, confessa: “Querem o quê? Eu sou burguês”. Lembro-me do seguinte conselho, dado por um psicoterapeuta a um amigo meu, que gostava de rapazinhos: “Meu caro, você precisa escolher: tornar-se homossexual passivo ou tentar a heterossexualidade”. Acaso diriam a Flaubert: “Meu caro, você precisa escolher: seja com conhecimento de causa o burguês que você tem na pele e torne-se o grande poeta Soulary ou então se junte ao povo, trabalhe numa fábrica e deteste sua classe de origem, tornando-se um de seus explorados”? Solução de hoje. Mas não de anteontem, como sabemos. Em outros termos, é perfeitamente impossível reviver com simpatia a neurose de Gustave, apreender suas origens e intenções, constatar com ele que ela lhe permite viver e, portanto, aderir a seus fins profundos e, ao mesmo tempo, apreciá-la a partir de fora em nome de um conceito duvidoso de normalidade. Contudo, há neurose: o próprio Flaubert admite. Dez anos de crises “epileptiformes”, alucinações, angústia, um nervosismo tremendo e um isolamento quase total: é isso o que ele chama de “minha doença nervosa”. Vimos qual era seu sentido: há aquela escolha sacrificial de ser um homem-fracasso e, por trás, a teologia negativa do “Quem perde ganha”, que restabelece a esperança no fundo daquela alma desesperada. Não há dúvida de que, nascida em caso de extrema urgência (de urgência para ele, do modo como ele fora feito, do modo como ele se fazia), ela o salvou do pior. Mas afinal a que preço? Pois os transtornos são incontestáveis. E invasivos. Embora ele sempre tenha compreendido, obscuramente, “até onde podia ir longe demais”. Mas como? Esse homem só queria escrever. No fundo, se escrever, que lhe importa ter de, às vezes, ir agitar-se em seu sofá? Não podemos julgar seu isolamento como se fosse um homem da sociedade, um político ou um militar. Se há danos e se precisamos avaliá-los, só dispomos de uma balança: a que é aceita por ele mesmo. A doença o arrebata ao curso de direito e lhe garante a liberdade de escrever, ou seja, simplesmente lhe dá tempo: isso ele diz, e ninguém duvida. Mas sem ela, talvez mais atormentado, mais infeliz, porém mais adaptado, ele não teria escrito melhor? Em outros termos, a neurose, a pretexto de servir a seu fim supremo, a Arte, por acaso não o degradou sutilmente? Não terá feito dele um artista de segunda ordem, ao passo que, sem ela, ele podia aspirar à primeira ordem? 14 Livro primeiro Essa avaliação, que parece usar critérios aceitáveis pelo próprio Flaubert e nos põe ou acredita nos repor no terreno da objetividade, ou seja, da obra como objeto apreciável, é a avaliação que Maxime tentou fazer depois da morte do amigo. Gustave, segundo ele, foi um escritor de enorme talento. Sem a doença, não há a menor dúvida, ele teria demonstrado ser um gênio. Apesar dos desentendimentos que os opuseram de 1850 até a morte de Flaubert, o interesse dessa afirmação decorre do fato de que Du Camp o conheceu antes da crise de Pont-l’Évêque e de que parece tê-lo sinceramente admirado na época. Novembro o impressionara: ele se via ali, é de se perguntar por quê. E, desses dois amigos, era o futuro acadêmico que sofria a influência do outro. Ele adivinhava uma força retida, um poder explosivo em Gustave, que não demorariam a manifestar-se. Depois da primeira crise, foi com frequência a Rouen e acreditou constatar certo déficit. Gustave está impressionado, tem medo da loucura, da morte. Em sua vida aconchegante, a menor contrariedade o mergulha numa agitação violenta. Isso não seria nada; mas ele perdeu qualquer interesse pelos acontecimentos exteriores, já nem sequer lê jornais, vive num devaneio do qual tem dificuldade para sair e, sobretudo, não muda, como se fosse um relógio marcando eternamente a hora do acidente que destruiu seu mecanismo: as mesmas leituras, frequentemente de uma obscenidade grosseira, os mesmos comportamentos, as mesmas brincadeiras. Cabe observar, em primeiro lugar, que o julgamento de Maxime é secretamente ditado pelo nome que ele dá à doença de Flaubert: para ele, é epilepsia, distúrbio somático, mas com consequências terríveis para a vida mental. Em outros termos, o diagnóstico do médico amador já comportava a certeza de um déficit psíquico. Na época ninguém sequer imaginava a existência de neuroses. Além disso, o sistema de avaliação proposto por Du Camp quase não é utilizado em nosso tempo: essa oposição gênio-talento tem um pano de fundo, ao qual voltaremos, que põe em causa a Providência; na época romântica abusava-se dela, e a geração de 1830-1840 a herdara, para sua infelicidade. Se não a rejeitamos pura e simplesmente, é porque queremos fazer a avaliação de acordo com Gustave, e este, como todos os seus contemporâneos, fazia grande uso dela. O fato é que esse tipo de avaliação pressupõe julgar as obras de Flaubert com os critérios estéticos de Maxime. E isso tampouco é aceitável. Du Camp, claro, tem o direito de aplicá-los. Desde que se saiba que, julgando, ele se julga, como fazemos todos. Mas, em Neurose objetiva 15 1970, é perfeitamente impossível acatá-los. A obra de Gustave – diz ele – poderia ter sido melhor do que é. Ela atinge certo nível e nunca se eleva além dele. Os frutos não cumpriram o prometido pelas flores. Esse juízo é revogável. Foi e é revogado a cada dia. Em primeiro lugar, antes mesmo de ter sido formulado já em 1857, pelo estrondoso sucesso de Madame Bovary1; mais tarde, pela geração de Zola, Daudet e Maupassant. Chegaram outros tempos em que muitos se afastaram de Flaubert: Valéry não gostava dele, alguns críticos quiseram demonstrar que ele escrevia mal; isso porque a literatura seguia outros caminhos e definia o estilo de outro modo; em todo caso, não se tratava de condenar Madame Bovary pelas razões propostas por Maxime. Depois, essa época também passou: Gustave volta a angariar simpatias, e os novos romancistas veem nele um precursor, admiram-no por ter, em meados do século XIX, ido direto ao problema que consideram essencial, pondo em questão o próprio ser da literatura: a linguagem. Juízo revogável, este também, que um dia será revogado, e essa revogação também será anulada. Em suma, como todas as grandes obras, esta tem uma história, que se iniciou durante a vida do autor e não está perto de terminar. Cada negação de negação o enriquece e o encaminha para sua verdade vinda-a-ser, totalização ideal que só se pode imaginar no fim da história, se é que essas palavras têm sentido. E cada uma dessas negações nada mais é que a situação de Flaubert dada por uma literatura que redefine seus objetivos e os meios de atingi-los. Maxime, porém, está fora do jogo. Engolido, com suas ideias com que ninguém se preocupa. No entanto, não deixa de ser interessante voltar a ele: só ele formulou a questão dos danos. Ora, em que ele se baseia para ousar dizer que Gustave, sem a “epilepsia”, poderia ter escrito melhor? Numa apreciação crítica dos romances? Não: nos comportamentos pessoais.2 O texto é claro: Flaubert vive em estado de distração permanente, a atualidade não lhe interessa, não lhe diz respeito. Por conseguinte, ele permanece imutável. Conclusão: ele não tem nada para dizer pela simples razão de que se recusa a inspirar-se no vivenciado. 1. Romance que Maxime não apreciava muito e não entendia – ao mesmo tempo que o julgava digno de ser publicado na Revue de Paris. 2. Mas a apreciação das obras está subjacente; é o ponto de partida e o termo final da avaliação dos comportamentos: trata-se de denegri-las em nome daquilo que elas poderiam ter sido. Tentativa absurda: como saber o que elas teriam sido sem a crise? Mas Maxime é esperto demais para mostrar o jogo: ele pretende nos levar a julgar obras a partir dos comportamentos de seu autor. Como aquele sonhador, aquele fraco, aquele anormal, enfim, pode ter atingido tais ápices em suas obras?
Download