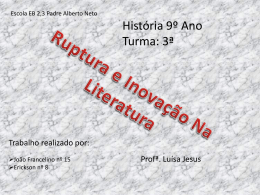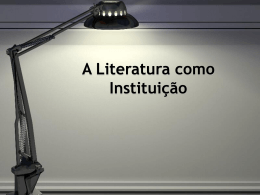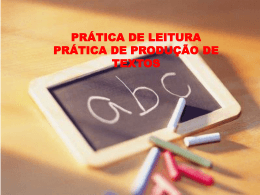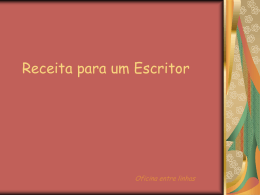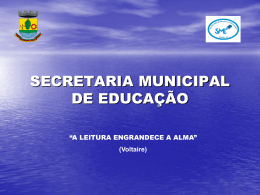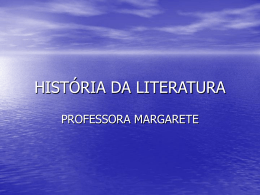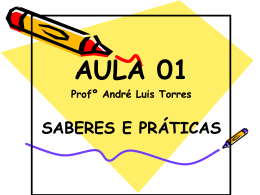LITERATURA E INTERNET: UMA VIA DE MÃO DUPLA ENTRE O
IMPRESSO E O DIGITAL
DANIELA AGUIAR BARBOSA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO - UENF
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
2
JULHO - 2012
LITERATURA E INTERNET: UMA VIA DE MÃO DUPLA ENTRE O
IMPRESSO E O DIGITAL
DANIELA AGUIAR BARBOSA
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Cognição e
Linguagem do Centro de Ciências do Homem, da
Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro, como parte das exigências para a
obtenção do título de Mestre em Cognição e
Linguagem.
Orientadora: Profª. Drª. Analice de Oliveira
Martins
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
3
JULHO – 2012
LITERATURA E INTERNET: UMA VIA DE MÃO DUPLA ENTRE O IMPRESSO E
O DIGITAL
Daniela Aguiar Barbosa
Orientadora: Profª. Drª. Analice de Oliveira Martins
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Cognição e Linguagem do Centro de Ciências do Homem, da
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, como
parte das exigências para a obtenção do título de Mestre em Cognição
e Linguagem.
Aprovada em ________ de ______________ de 2012.
Comissão examinadora:
___________________________________________________________________________
Presidente, Profª Drª Analice de Oliveira Martins - UENF
___________________________________________________________________________
Profª Drª Paula Mousinho Martins- UENF
___________________________________________________________________________
Pr. Dr. Pedro Wladimir do Vale Lyra – UENF
___________________________________________________________________________
Profª Drª Vania Cristina Alexandrino Bernardo – IFF – Campos dos Goytacazes
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
4
JULHO – 2012
5
À minha irmã Marcela Aguiar Barbosa
Não podemos confundir expiação com literatura.
Literatura não é exorcismo, mas quando o demônio fica.
(Fabrício Carpinejar)
O tempo é a minha matéria,
o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.
6
(Carlos Drummond de Andrade)
AGRADECIMENTOS
Agradeço, em primeiro lugar, a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer cada
pessoa que contribuiu - direta ou indiretamente - para minha formação pessoal e acadêmica.
Aos meus pais – Rui e Maria José – por terem sempre acreditado em mim, dando-me
incentivos e palavras de conforto nos momentos mais difíceis. Obrigada pelo amor
incondicional e pela presença tão forte em minha vida.
À minha irmã, um agradecimento especial, pelo grande exemplo de determinação,
força e coragem. Por sonhar comigo o mesmo sonho, pelas ótimas ideias, pelas horas de sono
perdidas no período em que eu preparava esta dissertação, só para mostrar que eu não estava
sozinha, por todos os incentivos, pelo companheirismo, pela amizade, por ser o meu anjo e a
minha vida.
Aos professores da UENF e do IFF, que tanto contribuíram para meu crescimento
acadêmico e para minha condição de pesquisadora. Ao professor Doutor Pedro Lyra pelas
poesias inspiradoras, por ter sido um importante colaborador em minha caminhada, apoiandome com calma, confiança e amizade. À professora Doutora Vania Bernardo pelas importantes
considerações sobre meu trabalho. À professora Doutora Silvia Lúcia Barreto por ter, em
2005, mostrado para mim o universo dos blogs. À professora Rita Maia por ter me feito ainda
mais apaixonada por Literatura. À professora Paula Mousinho por ter tão prontamente
atendido ao pedido de participar dessa banca.
Aos meus amigos de Mestrado que estiveram comigo contribuindo com trocas tão
significativas, em especial, Waleska Carvalho, pela parceria tão consistente e prazerosa na
participação dos congressos e pela presença amiga.
À minha afilhada Amanda Alves (em memória), por ter me ensinado tão bravamente
como ser uma guerreira.
À professora e doutora Analice, que foi quem mais contribuiu para minha formação
acadêmica e para minha condição de pesquisadora, acreditando, em dois momentos distintos,
em mim e em meu projeto. Obrigada pelas sugestões valiosas sobre o meu tema, pelas aulas
tão motivadoras, pelas discussões, pelas conversas e pela amizade.
7
RESUMO
Este trabalho busca analisar manifestações da literatura em ambiente digital. Se há uma
continuidade na tradição literária – seus modos de produção e criação - ou uma possível
revolução, apontando para novos paradigmas, inclusive, para a configuração de uma literatura
linkada. A partir de visitas a sites e blogs literários, comunidades de orkut e entrevistas com
escritores que publicam de forma impressa e na rede, foi possível investigar permanências
e/transformações, nas relações entre autor/leitor, leitor/obra, autor/obra, autor/crítico, e ainda,
o modo como escritores e leitores se comportam frente às mudanças nos modos de circulação
da literatura.
Palavras-chave: Literatura; Novas tecnologias; Modos de produção e circulação.
8
ABSTRACT
This work aims to analyze manifestation of the literature in the digital environment, if it
represents a continuity of literary tradition - its ways of production and creation - or a possible
revolution, indicating to new paradigms, including, for setting up a “linked” literature. From
visits to literary sites and blogs, orkut communities and interviews with writers who publish
in a print and a network way was possible to investigate permanences and/changes in the
relationship between author/reader, reader/book, author/book, author/critic and yet, how
writers and readers behave face the changes in the ways of circulation of literature.
Keywords: Literature, new technologies, ways of production and circulation
9
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Ilustração 1: Blog A Físsil Flor...............................................................................................................19
Ilustração 2: Orkut - Discutindo Literatura...........................................................................................21
Ilustração 3: Facebook – Postagens poéticas professor Pedro Lyra.....................................................22
Ilustração 4: Blog Ana Paula Maia........................................................................................................25
Ilustração 5: Portal Literal.....................................................................................................................49
Ilustração 6: Site Enter..........................................................................................................................50
Ilustração 7: Poesia interativa “Oratório”.............................................................................................52
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Tempo de utilização da Internet .........................................................................................83
Gráfico 2: Escrita de textos ..................................................................................................................84
Gráfico 3: Busca de informação ...........................................................................................................85
Gráfico 4: Como procede quando encontra um livro digitalizado .......................................................86
Gráfico 5: Ao receber uma indicação bibliográfica o que costuma fazer? ...........................................87
10
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .....................................................................................................................................12
1. A LITERATURA E AS INTERSECÇÕES COM A INTERNET.....................................................................16
1.1. Redes virtuais: um espaço democrático e interativo................................................................18
1.2. Hipertexto ..............................................................................................................................22
..........................................................................................................................................................22
1.3. O leitor-autor: uma mudança de paradigma.............................................................................26
1.4. O escritor performático ...........................................................................................................30
2. FIO DA NAVALHA: “MAS ISSO É LITERATURA?” ...............................................................................39
2.1. Algumas reflexões sobre a literatura e o seu objeto .................................................................40
2.2. Literatura Canônica...................................................................................................................44
........................................................................................................................................................44
2.3. As práticas literárias na internet................................................................................................46
2.4. Valor estético em tempos digitais.............................................................................................54
3. MODOS DE PRODUÇÃO DA LITERATURA NA INTERNET...................................................................61
3.1. Reflexões sobre uma literatura linkada....................................................................................61
3.2. Uma literatura linkada? Ponderações sobre a produção da literatura na internet .................64
............................................................................................................................................64
3.3. Modos de produção da literatura na rede................................................................................70
3.4. O circuito literário em ambiente digital.....................................................................................74
4. MODOS DE CIRCULAÇÃO DA LITERATURA........................................................................................77
4.1. O suporte livro em tempos digitais............................................................................................78
4.2. Vantagens e desvantagens do livro digital.................................................................................79
4.3. Na corda bamba: livro impresso ou digital?..............................................................................82
11
4.4. Considerações sobre a leitura digital.........................................................................................87
CONSIDERAÇÕES FINAIS: LITERATURA NA INTERNET - UMA ALTERNATIVA........................................88
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................................................90
ANEXO A - Perfil da Amostra...............................................................................................................94
ANEXO B - Entrevista com a escritora Adriana Lisboa.........................................................................96
............................................................................................................................................................98
ANEXO C- Entrevista com o escritor Alexandre Inagaki.......................................................................98
ANEXO D – Entrevista com a escritora Alice Sant’anna.....................................................................101
ANEXO E – Entrevista com o escritor André de Leones.....................................................................104
ANEXO F – Entrevista com o escritor Bruno Goularte.......................................................................106
ANEXO G - Entrevista com a escritora Cecília Giannetti ....................................................................109
ANEXO H – Entrevista com o escritor Daniel Galera..........................................................................111
...........................................................................................................................................................112
ANEXO I – Entrevista com a escritora Josely Bittencourt...................................................................114
ANEXO J - Entrevista com a escritora Maira Parula..........................................................................117
ANEXO L - Entrevista com o escritor Marcelo Moutinho..................................................................119
ANEXO M - Entrevista com o escritor Pedro Lyra..............................................................................121
ANEXO N – Entrevista com o escritor Wilton Cardoso.......................................................................125
ANEXO O – Entrevista com a escritora Ana Paula Maia.....................................................................128
ANEXO P - Entrevista com o escritor Henrique Rodrigues.................................................................130
ANEXO Q – Entrevista com o escritor Fabrício Carpinejar ...............................................................132
ANEXO R – Entrevista com o escritor Henrique Rodrigues................................................................134
..........................................................................................................................................................134
ANEXO S – Questionário....................................................................................................................136
12
INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos provocaram modificações no cenário econômico, político,
espacial, temporal, social, com repercussões também na esfera cultural. Adeptos da internet,
os jovens de hoje permanecem grande parte do tempo linkados. Frequentam espaços de chat,
recorrem ao correio eletrônico e manejam diferentes programas de navegação na rede com
bastante habilidade. Para não ser, paulatinamente, relegada ao esquecimento, a literatura atendendo ao espírito do seu tempo - adere ao digital e, por meio de blogs, twitter, Orkut,
Facebook, sites e revistas literárias, instaura novas possibilidades para escritores e leitores.
Essas redes sociais e ambientes virtuais vêm funcionando como grandes responsáveis
pela apresentação e divulgação da literatura contemporânea, principalmente, aquela produzida
por escritores e alguns aspirantes a escritores. O espaço mostra-se favorável à publicação
devido ao processo instantâneo e transparente, que funciona sem editores e prazos, além de
favorecer experimentações de linguagens, textos, estilos, conquistando, dessa forma, cada vez
mais adeptos.
A liberdade e a descentralização encontradas na web trazem, contudo, algumas
implicações: um número maior de escritores e aspirantes, que se aventuram neste espaço –
nascidos numa sociedade manipulada pela indústria cultural e massificada – contribuem para
que as produções distanciem-se dos critérios de valor atribuídos aos cânones. Surge, pois, um
esmaecimento de fronteiras entre gêneros, linguagens e suportes. Neste contexto, a literatura
dialoga com a cultura popular, a cultura de massa, mescla os gêneros da ficção com os de nãoficção, hibridizando-se. Surgem também, nesse cenário, experimentações envolvendo o
hibridismo autoral e a ficção interativa.
Diante disso, é objetivo desta pesquisa investigar se a literatura feita com o suporte do
computador representa uma continuidade na tradição literária – seus modos de produção e
13
criação - ou uma possível revolução, apontando para novos paradigmas, inclusive, para a
configuração
de
uma
literatura
linkada.
Para
isso,
investigo
as
permanências
e/transformações, em cenário digital, nas relações dos elementos que compõem a vida
literária: autor/leitor, leitor/obra, autor/obra, autor/crítico. Questões referentes às relações
mantidas pelos escritores com os cânones literários, a interferência do leitor no processo
criativo e o modo como escritores e leitores se comportam frente às mudanças nos modos de
circulação da literatura também serão por mim perseguidas.
Para que tais objetivos se cumprissem escolhi, como metodologia de trabalho,
inicialmente, uma pesquisa bibliográfica envolvendo autores que abordam temas pertinentes a
esse estudo, explorando o material publicado sobre o tema a partir de livros, artigos, jornais e
material disponibilizado na internet. Após a pesquisa bibliográfica, iniciei uma pesquisa de
campo utilizando técnicas quantitativa e qualitativa que pretendiam explorar e descrever a
situação atual da literatura digital.
A pesquisa qualitativa foi elaborada a partir da necessidade de avaliar se os escritores
estão modificando os modos de produção da literatura em decorrência das potencialidades do
suporte e criando, com isso, uma literatura diferenciada do formato impresso. O primeiro
procedimento foi uma investigação participante em sites, blogs literários e Facebook. Como o
universo dos blogs é muito grande, foi necessário fazer uma categorização para restringir o
meu objeto de pesquisa. Por meio de diferentes visitas, pude separá-los em três grupos: o
primeiro referente aos blogs de autoria de escritores já legitimados pela crítica e com obras
impressas; o segundo formado por blogs mantidos por pessoas que não têm publicação em
papel, mas que possuem pretensões literárias, publicando na internet; e o terceiro
enquadrando os blogs de pessoas que encontram na rede um canal para externar, por meio da
palavra, suas emoções, sentimentos e desabafos sem pretensões literárias.
Elegi blogs de escritores que se encaixam nos dois primeiros grupos. Também
selecionei escritores com publicação em papel, que, embora não utilizam blogs, valem-se de
alguma outra ferramenta digital, como sites literários e/ou Facebook. Os blogs selecionados
foram escolhidos por razões diferentes, alguns pelo fato de seus criadores terem participado
de projetos na internet, entre eles Amores Expressos1 e Enter2, outros pela visita recorrente,
1
Amores Expressos consistia em enviar dezesseis escritores brasileiros para dezesseis cidades diferentes do
mundo. O projeto teria como produto final dezesseis livros, correspondentes à experiência de cada um em torno
do tema “amor”, que a princípio seriam publicados pela Companhia das Letras. Durante esse período, os
escritores teriam que manter um blog.
2
ENTER foi um projeto de antologia digital, que reuniu 37 autores para explorar todas as possibilidades da web.
Disponível em: http://www.oinstituto.org.br/enter/enter.html. Acesso em 10.01.2011.
14
desde que os descobri em 2005 e 2006, ao realizar uma pesquisa3, e alguns por indicação dos
próprios blogueiros. A partir dessa seleção, foi elaborada entrevista aberta, enviada por email
- em alguns casos pelo próprio Facebook . Por meio das respostas obtidas, pude interpretar os
dados segundo a perspectiva dos participantes e relacionar com a revisão bibliográfica para
exemplificar e sustentar as hipóteses de trabalho.
A pesquisa quantitativa, por sua vez, foi elaborada a partir da necessidade de
compreender os caminhos e escolhas dos leitores atuais, se estariam seduzidos pela
praticidade das obras digitais em detrimento dos livros em papel ou se, por outra, estariam,
mesmo com todos os estímulos tecnológicos, descartando o novo e preferindo o suporte
convencional da literatura. Para isso, propus-me coletar dados e transformá-los em números e
gráficos, permitindo elaborar caminhos que podem direcionar, inclusive, estudos posteriores
em âmbito nacional. A população selecionada para esta pesquisa foi a de estudantes de cursos
de graduação presencial matriculados em instituições universitárias da cidade4 de Campos dos
Goytacazes5, conforme anexo A.
A escolha se deu pelo fato de esse grupo fazer uso intenso e com bastante frequência
de material bibliográfico e, ao mesmo tempo, possuir conhecimentos e acesso ao uso das
tecnologias computacionais por exigência do sistema educacional do qual fazem parte. De
acordo com MEC/INEP CENSO 20096, o quantitativo de alunos que frequenta os cursos
universitários no município de Campos dos Goytacazes é de 17.368. Devido ao tempo e aos
recursos disponíveis, optei por aplicar o questionário somente a uma amostra da população a
ser calculada para uma margem de erro7 de 5%, um nível de confiança8 de 95%, chegando à
dimensão amostral de 376 entrevistas, que foram aplicadas de forma aleatória a estudantes das
seguintes instituições: UNIFLU FAFIC, UNIFLU Odonto, UENF, UCAM, UNIVERSO,
ISECENSA. Isso me possibilitou fazer uma representação do perfil dos universitários
campistas.
3
A referida pesquisa foi apresentada na monografia “Blogs: o despertar para Literatura Linkada” na conclusão
do curso de Especialização lato sensu em “Literatura, Memória Cultural e Sociedade”, no IFF - Campos dos
Goytacazes/RJ, em 2006, sob orientação da professora doutora Analice de Oliveira Martins. Alguns pontos das
entrevistas feitas com escritores blogueiros nessa pesquisa serão retomados e apreciados no presente trabalho.
4
A cidade foi escolhida a partir dos critérios de tempo e recursos do entrevistador, como um ponto de partida
para a pesquisa que pode ser desenvolvida posteriormente em outros municípios ou, inclusive, em todo âmbito
territorial brasileiro para alcançar maior representatividade.
5
É um município brasileiro localizado no norte do estado do Rio de Janeiro, na Região Sudeste do país. Com
uma população de 463731 habitantes segundo o Censo Populacional 2010 do IBGE. É a maior cidade do interior
fluminense e a décima maior do interior do Brasil. É, também, o município com a maior extensão territorial do
estado.
6
O Censo 2009 do MEC/INEP foi escolhido por ser o mais recente com dados disponíveis.
7
A margem de erro revela o valor de erro que pode existir.
8
Nível de confiança diz respeito ao grau de precisão da resposta.
15
Assim, no primeiro capítulo, foram analisadas a escrita híbrida, hipertextual,
rizomática e polifônica potencializada pelo suporte. Nele, também se procurou refletir sobre o
papel do leitor, que além de produtor de sentido, em ambiente digital, torna-se um coautor
colaborando com a escrita hipertextual. Neste capítulo, também foi pensada a figura do
escritor, que, por sua vez, por meio de entrevistas, aparições na mídia, performances, e da
própria escrita dos blogs tem a possibilidade de se inventar, construindo uma persona,
condizente com os procedimentos de “autoficcionalização”, em que o escritor faz de si
personagem, embaralhando os conceitos de realidade e ficção.
No segundo capítulo, foram apresentadas algumas “práticas literárias” produzidas em
ambiente digital, que, por sua vez, distanciam-se da literatura canônica. A partir das
considerações de Terry Eagleton sobre o conceito de literatura ou sobre a dificuldade de
conceituação da mesma foi percorrido um caminho no sentido de relativizar e redimensionar
os critérios de atribuição de valor utilizados para se pensar a literatura na internet, levando em
consideração o contexto da cultura de massa e das novas tecnologias.
No terceiro capítulo, fazendo uso das entrevistas dos escritores que publicam na
internet e das investigações na rede, foi avaliado se o suporte digital tem sido determinante
para transformar os modos de produção da literatura e se a literatura produzida nesse
ambiente pode ser considerada de fato uma literatura linkada, com características próprias do
ciberespaço.
No último capítulo, foi percorrido o caminho do livro, desde sua primeira aparição,
até a recente configuração do livro digital. Também foi possível avaliar suas vantagens e
desvantagens. Após a realização de uma pesquisa quantitativa, foi possível dimensionar, no
universo de estudantes universitários do município de Campos dos Goytacazes, a relação que
mantêm com o suporte físico e o digital. Os resultados da pesquisa tornaram-se significativos
pela amostra escolhida: um grupo potencialmente envolvido com as novas tecnologias.
Mesmo sendo um tema que possa provocar desentendimento radical entre amantes da
literatura em papel e os entusiastas das novas tecnologias, a pesquisa aqui desenvolvida serve
como mais uma contribuição para se pensar o contexto sócio-cultural atual em consonância
com a literatura e as novas tecnologias, temática essa ainda carente de pesquisas9.
9
A presente pesquisa justifica-se também por dialogar e transitar pelas duas linhas de pesquisa do Programa de
Pós-Graduação em Cognição e Linguagem do Centro de Ciências do Homem, da Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro: Pesquisas Interdisciplinares em Comunicação, Educação e Novas Tecnologias
da informação e Pesquisas Interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia.
16
1. A LITERATURA E AS INTERSECÇÕES COM A INTERNET
Tempos globalizados e tecnológicos, marcados por volatilidade e efemeridade, são
responsáveis por mudanças significativas no cenário político-econômico e na vida social e
cultural do século XXI, fazendo com que os indivíduos sejam obrigados a lidar com a
descartabilidade, a novidade e a obsolescência de produtos, técnicas, ideias e, até mesmo,
valores pressupostamente eternos pela sociedade, além de terem a impressão de que o mundo
parece menor e que o tempo está em constante aceleração.
O sujeito antes compreendido como um ser totalmente centrado, unificado, dotado das
capacidades de razão, consciência e ação por uma herança iluminista, transfigura-se, no final
do século XX, num sujeito descentrado, deslocado ou fragmentado, fruto da sociedade
moderna. Stuart Hall, em seu livro A identidade cultural na pós-modernidade (2006), afirma:
“As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio,
fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como
um sujeito unificado” (HALL, 2006, p.7).
Estes fenômenos contemporâneos - reformulação dos conceitos de tempo, espaço e
identidade - potencializados pelos meios de comunicação, foram determinantes para que a
sociedade se tornasse completamente interconectada, havendo uma maior aproximação e
comunicação entre os indivíduos de toda a parte, tal qual uma “aldeia global”, como sugeriu
McLuhan10.
O surgimento da Internet, como uma rede mundial de computadores, reforçou esse
conceito ao criar um novo espaço para o conhecimento, para o pensamento e para interação
entre os indivíduos. Os homens, mediados pelos computadores, passam a criar conexões e
relacionamentos capazes de fundar um espaço de sociabilidade virtual: surgiram comunidades
10
McLuhan, escritor canadense e um dos precursores da teoria da comunicação, há pouco mais de 30 anos,
formulou o conceito de aldeia global ao perceber a agilidade e a rapidez com que os meios de comunicação
desenvolviam novas tecnologias. Disponível em http://www.infoescola.com/internet/ciberespaco/. Acesso em
13/03/2012.
17
virtuais, círculos de amizades eletrônicas, trocas de mensagens, textos, imagens, vídeos, que
transitam numa velocidade jamais vista. Trata-se, por sua vez, de um espaço, que não existe
fisicamente, mas virtualmente: o ciberespaço11. Um novo lugar de existência, que vence
barreiras físicas e proporciona um contato simultâneo e universal.
O filósofo Pierre Lévy, em O que é o virtual?(1996), mostra que, embora o virtual
refira-se, muito frequentemente, a algo que “não está presente”, não significa o “não-real”,
mas sim o que existe em potência e tende a atualizar-se. Desse modo, o fato de não pertencer
a lugar nenhum não impede a existência de algo. Para o autor:
Uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre uma base de
afinidade por intermédio de sistemas de comunicação telemáticos. Seus
membros estão reunidos pelos mesmos núcleos de interesses, pelos mesmos
problemas: a geografia, contingente, não é mais nem um ponto de partida,
nem uma coerção. Apesar de “não presente”, essa comunidade está repleta
de paixões e de projetos, de conflitos e de amizades. Ela vive sem lugar de
referência estável: em toda parte onde se encontrem seus membros
móveis...ou em parte alguma (LEVY, 1996, p.20).
Pierre Lévy, na introdução de outra importante obra Cibercultura (1999), retorna ao
termo ciberespaço e cria um neologismo para referir-se ao diálogo entre novas tecnologias e a
cultura. Trata-se da cibercultura. Desse modo, o meio eletrônico potencializa e apresenta-se
como um espaço propício também para a produção e circulação da cultura. Segundo Lévy:
O ciberespaço é o novo meio que surge da interconexão mundial dos
computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que
ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse
universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto
de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento
do ciberespaço. (LEVY, 1999, p.17)
São muitas as possibilidades encontradas na cibercultura: são jornais e revistas on-line,
e-books, blogs e sites culturais, entre outras práticas, que se multiplicam na rede,
conquistando cada vez mais adeptos. Se antes era necessário percorrer as bibliotecas para
acessar as informações de uma enciclopédia, hoje é possível se “conectar” a esta imensa
aldeia global, em uma velocidade quase instantânea, em casa.
A literatura, enquanto manifestação cultural sintonizada com o seu tempo, não poderia
ficar alheia a tais mudanças e nem infensa a esses novos tempos. O seu lugar tradicional
11
“Termo que foi idealizado por William Gibson, em 1984, no livro Neuromancer, referindo-se a um espaço
virtual composto por cada computador e usuário conectados em uma rede mundial”. Disponível em
http://www.infoescola.com/internet/ciberespaco/. Acesso em 13/03/2012
18
constituído na era Gutenberg12 é deslocado também para o ambiente digital por meio dos
suportes dos blogs, sites, revistas on-line, Facebook, Orkut. Muitos são os territórios pelos
quais circulam a “literatura”, na Grande Rede, atraindo cada vez mais a atenção de escritores,
aspirantes a escritores e leitores.
A partir disso, é preciso questionar por que leitores e escritores buscam cada vez mais
o suporte digital? Seria o fazer literário mais acessível e possível na Grande Rede? O processo
de escrita/leitura na internet mudou em relação ao antigo suporte (o livro)? Como leitores e
escritores se comportam diante das novas tecnologias? Essas questões serão aprofundadas
nesse capítulo.
1.1. Redes virtuais: um espaço democrático e interativo
Escritores, principalmente, iniciantes, sempre tiveram grandes dificuldades para
publicar seus textos, recorriam às editoras, que, abarrotadas de originais, elegiam alguns pautando-se, muitas vezes, em atrativos mercadológicos ou critérios de apadrinhamento negando ao grande público a oportunidade de conhecer estreantes e talentosos escritores, que
viam seus originais descartados. Quem possuía boas condições financeiras podia patrocinar a
primeira edição de sua obra ou dividir com as editoras os gastos, garantindo, assim, o desejo
do livro impresso.
A utilização da Internet permitiu que pessoas comuns, completamente fora da mídia,
dispondo de acesso ao computador, começassem a ter voz e vez, podendo exibir o que antes
ficava escondido nas gavetas ou aquilo que era rejeitado pelas editoras. Para isso utilizavam
suportes digitais, tais como blogs, Orkut e Facebook13, publicando o que desejavam de forma
gratuita, podendo com um pouco de talento, até mesmo, destacar-se. Para alguns, é o primeiro
passo ao expor-se à curiosidade, ou mesmo, à execração pública.
Essas ferramentas e redes sociais vêm funcionando como grandes responsáveis pela
apresentação e divulgação da literatura contemporânea, principalmente, aquela produzida por
escritores e alguns aspirantes a escritores. O espaço favorável à publicação, devido ao
processo instantâneo e transparente, que funciona sem editores e prazos, partilhando e
experimentando linguagens, textos, estilos, tem conquistado cada vez mais adeptos.
12
Gutenberg, em 1454, criou a prensa responsável pela aproximação da concepção de livro impresso que temos
hoje. Com sua invenção, o livro era feito de papeis costurados e posteriormente encapados.
13
Embora concentre minha pesquisa na influência dos Blogs, Orkut e Facebook, é indiscutível a forma como os
Home-pages, YouTube e Twitter contribuem para a divulgação da literatura contemporânea.
19
Os weblogs, ou simplesmente blogs, surgiram como uma forma livre de expressão, de
criação e de compartilhamento de conhecimento. Os blogs são sites pessoais com entradas
organizadas em ordem cronologicamente inversa: têm a forma de um diário às avessas.
Trazem textos organizados em blocos, com imagens e muitos links. Atualmente, essa é uma
importante ferramenta de publicação na web baseada na postagem de microconteúdos e
atualizações frequentes. A facilidade da publicação vem fazendo do blog um instrumento cada
vez mais popular.
O blog A Físsil Flor da aspirante a escritora Josely Bittencourt14 representa bem esse
espaço criativo, múltiplo e livre. A blogueira posta frequentemente poesias, mas também
prosa, abusando da inventividade potencializada pelo suporte. O poema O céu sobre o signo
publicado em 18.03.2012, feito em espiral, demonstra o labirinto de ideias e sensações
expressas em sua poesia:
O céu sobre o signo
Os olhos são dois pontos de vista
A vista cerzida ao corpo
O corpo bifurca o caminho
O caminho é a lente do destino
O destino é um buraco no tecido
Por onde vejo
não transito
mas só espio
a via por onde ando é onde...
Qualquer parte é um pedaço que se define
perdido no fio do caminho.
(BITTENCOURT, Josely)
Ilustração 1: Blog A Físsil Flor
14
Joselly Bittencourt – professora de Língua Portuguesa e mantenedora do blog A Físsil Flor. Disponível em
http://fissilflor.blogspot.com.br/
20
A interação escritor-público é outra grande vantagem desse novo meio de produção da
literatura. Isso ocorre pelo fato de o suporte incluir, frequentemente, uma caixa de
comentários aberta aos leitores, que, por sua vez, expõem suas opiniões sobre o que leram,
exercendo o papel de críticos. Desse modo, a aproximação entre leitor-escritor é assegurada.
A pesquisadora Denise Schittine, em seu livro Blog: comunicação e escrita íntima na internet
(2004), afirma:
Do ponto de vista do leitor, o diarismo virtual traz a possibilidade de se
comunicar com o diarista. Através da troca de idéias feita por e-mail e da
correspondência feita por meio dos posts, pela primeira vez lhe é permitido
se colocar, dar a sua opinião e se aproximar de quem está escrevendo. A
partir do momento que o diarista responde, se estabelece aí a relação de
cumplicidade. (SCHITTINE, 2004, p. 71)
Ao serem notados pela singularidade de sua escrita, alguns aspirantes a escritores
conseguem sair do anonimato com a divulgação do blog e aproveitamento de seus textos em
sites, revistas literárias eletrônicas ou mídia impressa, que funcionam como algumas das
instâncias de legitimação da produção digital. O escritor e blogueiro Henrique Rodrigues15
declara em entrevista16:
O blog é um espaço democrático para a experimentação e, de certa forma,
uma vitrine. Obviamente, há muita coisa ruim na rede, mas é preciso
entender que o blog é apenas mais um suporte, não um pressuposto de
qualidade. Muitos escritores da minha geração utilizam esse recurso para
uma espécie de test-read dos seus textos, e também para estabelecer contato
direto com seus leitores por meio dos comentários. (Ver ANEXO R)
O orkut, cujo objetivo inicial era de ajudar seus membros a conhecer pessoas e manter
relacionamentos, representa um importante veículo para abertura da literatura. Nele é possível
identificar a formação de comunidades de escritores e aspirantes que utilizam esse espaço
para testarem seus textos junto aos demais membros, ao mesmo tempo, tornam-se leitores e
críticos da literatura que ali se transfigura. Luciana Pessanha Pires17, criadora e moderadora da
comunidade do orkut Discutindo Literatura18- apresentada na tela inicial como um “espaço
criado para os amantes das letras: poetas, escritores e afins”- afirma, na apresentação da
Revista Tempo Brasileiro Literatura on-line (2011), que:
15
Henrique Rodrigues é poeta e contista. Formou-se em Letras pela UERJ, fez Mestrado e Doutorado na PUCRio. Possui o blog Fullbag, hoje utilizado como um espaço de agenda literária e autodivulgação. Disponível em:
<http://www.fullbag.blogger.com.br/2010_12_01_archive.html> Acesso: 05/02/2011.
16
Todas as entrevistas mencionadas nesse trabalho estão disponíveis, na íntegra, nos anexos.
17
Luciana Pessanha Pires é professora, criadora e moderadora da comunidade orkutiana “Discutindo Literatura”,
fundada em 2005, que conta, até o momento, com 1.792 membros. Acesso em 12.06.2012.
18
Disponível em: http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=3332336
21
Hoje, a comunidade conta com 850 tópicos, livremente abertos por seus
membros, onde se encontra um rico acervo literário de diversos autores, o
que provoca uma viagem prazerosa do olhar e gera convites para os mais
diversos eventos bem como publicação impressa e eletrônica, servindo
também como fonte de pesquisa sobretudo para estudantes. No tópico
“Of/sina”, por exemplo, são postados poemas para análise por qualquer um
dos seus membros”. (PIRES, 2011, p. 6)
Ilustração 2: Orkut - Discutindo Literatura
Outro espaço público e virtual que vem sendo utilizado frequentemente por escritores
e aspirantes a escritores é o Facebook, cujos membros são envolvidos numa complexa teia de
informações compartilhadas. Entre postagens de acontecimentos pessoais rotineiros,
desabafos, exposição de fotos, e autopromoção é possível encontrar, em páginas de escritores
e aspirantes, rasgos de criatividade. O professor, escritor e poeta Pedro Lyra exibiu,
primeiramente, em sua página do Facebook diferentes postagens contendo uma série de
sonetos de seu livro, publicado em 2002, Desafio – uma poética do amor19. Logo, dedicou-se
a uma nova publicação, postagens contendo uma nova série do “Poema-Postal”20. Se o
formato do poema – postal já era uma estratégia do autor para colocar a poesia mais próxima
19
LYRA, Pedro. Desafio: uma poética do amor. 3.ed. Fortaleza: Topbooks. Editora UFC, 2002.
O professor Pedro Lyra foi quem idealizou o Poema-Postal. Lançado em 1970, definiu-se como precursor da
Mail Art, hoje internacionalizada pela Internet. Os primeiros consistiam em poemas concretos fundidos com
imagem, porém os mais recentes, com fragmentos do seu livro Argumento – Poemythos globais, de 2006, são
breves textos poéticos, que funcionam muitas vezes como legenda, associada à imagem escolhida.
20
22
do público leitor, visando “à sua popularização”21; nesse sentido, a inserção no meio digital
pode contribuir ainda mais para tal finalidade.
Ilustração 3: Facebook – Postagens poéticas professor Pedro Lyra
Pedro Lyra, ao fazer o texto de apresentação da revista Tempo Brasileiro A cultura no
Ciberespaço (2009), adverte:
Esses sites estão exercendo um papel paralelo ao da mídia impressa. Se esta
continua divulgando a produção com alguma regularidade, a eletrônica já a
superou numa outra função: não apenas a de preservar a produção divulgada,
mas sim a de mantê-la ao alcance imediato de qualquer receptor, em
qualquer ponto do planeta. E mais ainda: ela ofereceu (particularmente aos
iniciantes) um espaço universal para a publicação. (LYRA, p.7, 2009)
As produções literárias encontradas nessas redes eletrônicas ampliam-se cada vez mais
e utilizam-se, entre outros princípios, do hipertexto como será visto a seguir.
1.2. Hipertexto
O suporte digital, caracterizado pela gratuidade, instantaneidade, mobilidade,
multiplicidade e interatividade, oferece diferentes possibilidades à literatura, que começa a se
apropriar de seus recursos, entre eles, a utilização de som, imagem e texto no mesmo suporte,
ganhando novas dimensões em relação à literatura impressa. Outro importante recurso é o
hipertexto, que funciona não como um suporte técnico da escrita, mas como uma prática de
escrita, disseminada pela Grande Rede, que encontra nela o potencial necessário para sua
utilização. A literatura digital é, pois, pautada no hipertexto.
21
LYRA, Pedro. Nos 15 anos do poema-postal. Rio de Janeiro. 3ª ed. Edições Lira, 2009.
23
O hipertexto se caracteriza por uma leitura não linear e sequencial, em que cada ponto
ou nó pode ser conectado a qualquer outro, sendo o leitor responsável por selecionar,
esquematizar, construir uma rede intertextual, mas não é uma inovação da digitalização.
Muitos recursos estilísticos - pé-de-página, escrita entre parênteses, legendas, capítulos,
sumários, notas, índices - utilizados no suporte impresso, já apontavam para uma leitura
hipertextual. O que se apresenta como novidade é a rapidez com que é feito o emaranhado de
textos. Com um simples clique, o leitor pode percorrer caminhos diferentes, saltando, até
mesmo, de um texto para outro – além de associações de textos, sons e imagens. Pierre Lévy
(1999) considera que:
Em relação às técnicas anteriores de ajuda à leitura, a digitalização introduz
uma pequena revolução copernicana: não é mais o navegador que segue os
instrumentos de leitura e se desloca fisicamente no hipertexto, virando as
páginas, deslocando volumes pesados, percorrendo a biblioteca. Agora é um
texto móvel, caleidoscópico que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e
desdobra-se à vontade frente ao leitor. (LÉVY, 1999, p. 56)
Diferentemente da forma quase sempre sequencial e linear de escrever da literatura
impressa, a literatura digital sugere que o escritor possa levar os leitores a percorrerem
caminhos diversos, passando, por exemplo, de um conto para uma notícia de jornal, de um
blog para a vida e obra de um grande escritor, num único texto, a partir de links, pelos quais o
leitor decide qual percurso será traçado. No ciberespaço, a leitura não segue mais o plano
linear comum à maioria das narrativas clássicas. Segundo a pesquisadora Ana Cláudia Viegas,
em A ficção brasileira e as redes hipertextuais (2006, p. 214), “a conexão em rede permite ao
internauta navegar através de sites e links diversos, fazendo da leitura da tela um deslizamento
entre as superfícies, acompanhado da montagem fragmentária de novos textos (...)”.
Ao visitar o blog eraOdito do escritor Marcelino Freire22, pode-se enveredar por
caminhos diversos. Utilizando uma linguagem simples e descontraída, o escritor oferece
inicialmente informações práticas sobre uma “Balada Literária”. Isso pode ser exemplificado
com o seguinte recorte23:
9.10.06
BALADA LITERÁRIA
22
Marcelino Freire é escritor e editor, mantenedor do blog Ossos do ofídio (marcelinofreire.wordpress.com/ )
idealizador e organizador da antologia Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século, lançou o livro Rasif –
Mar que Arrebenta (contos, 2008), Amar é crime (contos, 2010),Contos Negreiros (contos, 2005), BaléRalé
(contos, 2003), Angu de sangue (contos, 2000).
23
Disponível em: http://www.eraodito.blogspot.com/. Acesso em 11.10.2006.
24
É este o nome do evento que promete movimentar a cidade na semana que
vem e saravá, amém! Trata-se do Balada Literária. Começa na quinta, dia
19, com o lançamento do Joca Reiners Terron, e vai até o domingo, dia 22.
Palestras, exposições, cervejadas. Na Vila Madalena e na Praça Roosevelt.
Entre os quase cem convidados estão Botika, Cadão Volpato, Chico César,
José Miguel Wisnik, Nicolas Behr, Sérgio Sant'Anna e os internacionais
Cristian De Nápoli, Efraim Medina Reyes e Martín Kohan. Garanta já sua
vaga. É de graça. É só fazer a inscrição. Saiba mais clicando aqui em cima. E
tem mais: a Balada Literária, neste seu número zero, é uma homenagem ao
grande Glauco Mattoso. Um brinde ao poeta e vamos que vamos nessa. Fui.
Os links deixados por Marcelino Freire, fazem com que seus leitores, com uma grande
velocidade, percorram novos caminhos, saltando do erOdito para a vida e obra de Glauco
Mattoso, mencionado em seu texto. Os links, por sua vez, prosseguem no site de Glauco
Mattoso24 sugerindo novas leituras, compondo um emaranhado de novos textos, com
características híbridas. Para Denise Schittine (2004):
É comum que os blogueiros estabeleçam dentro de suas páginas links para
outras páginas que gostam de visitar. No canto esquerdo ou direito, figura
uma lista com os blogs preferidos e mais lidos pelo autor da página.
Também é comum existirem, dentro do texto, alguns links e comentários
sobre outros blogs. Isso faz com que o leitor que estiver acompanhando o
texto frequentemente possa traçar o caminho pelo qual passou o seu autor.
(SCHITTINE, 2004, p.86)
Gilles Deleuze e Félix Guattari, no livro Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia (1995),
conceituam o “livro-raiz” como aquele que envolve uma “lógica binária”, que não
compreende a multiplicidade, cujo modelo é o livro clássico (DELEUZE, GUATTARI, 1995,
p. 13). Em oposição, apresentam como modelo ideal o “livro-rizoma”, que se baseia nos
princípios da conexão, heterogeneidade, multiplicidade, ruptura, cartografia e decalcomania.
De acordo com estes teóricos: “diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta
um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete
necessariamente a traços de mesma natureza” (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 32). Para
melhor elucidar:
Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e
transborda. Ele constitui multiplicidades lineares a n dimensões, sem sujeito
nem objeto, exibíveis num plano de consistência e do qual o Uno é sempre
subtraído. (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 32).
Glauco Mattoso http://glaucomattoso.sites.uol.com.br/quem.htm-. Pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva
(paulistano de 1951), o nome artístico trocadilha com "glaucomatoso" (portador de glaucoma, doença congênita
que lhe acarretou perda progressiva da visão, cegueira total em 1995), é poeta, ficcionista, ensaísta e articulista
em diversas mídias.
24
25
O rizoma de Deleuze e Guattari pode ser associado ao modelo dos hipertextos digitais,
pelo fato de o hipertexto alterar fundamentalmente a noção de textualidade, constituindo um
texto múltiplo, sem centro discursivo, sem margens, produzido por um ou vários autores e,
como texto eletrônico, está sempre sendo construído, desmontado, conectado, modificado.
O blog Killing Travis25 da escritora Ana Paula Maia26 ilustra bem a questão.
Aproximando-se de um diário por suas diferentes entradas, ele mistura gêneros, é híbrido e
rizomático. Os links encontrados no corpo do texto e ao lado direito da tela sugerem ao leitor
“múltiplas entradas e saídas”, diferentes “linhas de fuga”, podendo ser lido como platôs que
constituem o rizoma, como nós que se ligam aleatoriamente. É possível, por exemplo, saltar
de um de seus contos para matérias e artigos veiculados na imprensa ou para o site do seu
livro Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos. Enfim não há regras, nem começo nem
fim, mas apenas um meio pelo qual diferentes rizomas vão-se formando.
Ilustração 4: Blog Ana Paula Maia
Pierre Lévy, em seu já citado livro O que é o virtual? (1996, p.37), explica que
algumas funções do hipertexto informático são hierarquizar e selecionar “áreas de sentido”,
tecendo ligações e conectando o texto a outros documentos. O recurso da hipertextualidade
também remete aos conceitos de dialogismo e intertextualidade, concebidos antes mesmo da
implementação do suporte digital e que, por sua vez, já apontavam para a possibilidade do
texto enquanto tecido de muitas textualidades.
25
Disponível em http://killing-travis.blogspot.com.br/. Acesso em 20.03.2012.
Ana Paula Maia é autora que publicou o primeiro Folhetim Pulp na internet: Entre rinhas de cachorros e
porcos abatidos. Possui três obras publicadas de forma impressa: O habitante das falhas subterrâneas (Editora 7
letras, 2003), A guerra dos bastardos (Editora Língua Geral – 2007) e Entre rinhas de cachorros e porcos
abatidos (Editora Record – 2009).
26
26
O teórico Mikhail Bakhtin27 considera o dialogismo como um “tecido de múltiplas
vozes”, ou de múltiplos textos ou discursos, que se completam e entrecruzam. Nessa
concepção, o discurso não é individual, uma vez que se constrói entre pelo menos dois
interlocutores ao dialogar com outros discursos ou textos. Bakhtin, em sua obra Questões de
literatura e estética: a teoria do romance (1988, p.86), constata que “todo discurso concreto
(enunciação) encontra aquele objeto para o qual está voltado sempre, por assim dizer, já
desacreditado, contestado, avaliado, envolvido por sua névoa escura ou, pelo contrário,
iluminado pelos discursos de outrem que já falaram sobre ele”. (BAKHTIN, 1988, p. 86)
A literatura digital é dialógica por excelência. Ao valer-se da hipertextualidade, o leitor
pode interagir e dialogar com diferentes textos, já enriquecidos pela multiplicidade de vozes,
pelos diversos pontos de vista, pelas diversas “falas” sociais. A pesquisadora Cinthia Costa
Santos, em seu artigo “Literatura digital: intertexto, intratexto e hipertexto” (2002), reafirma o
caráter dialógico da literatura digital, pautada no hipertexto, por considerar que o espaço
dinâmico e móvel é propício para a multiplicidade de vozes e à polifonia, multifacetando
visões dentro de um mesmo campo de visão (SANTOS, p.4).
O princípio da intertextualidade – estabelecido por um texto que cita, completa ou
contesta o outro - também pode ser potencializado pelo hipertexto, à medida que os links
deixados pelo autor, fazem o leitor deslizar entre passagens de um texto e a outro no mesmo
suporte, fazendo os resgates de sentido e as associações necessárias para uma interpretação
coerente. No livro Impresso ou eletrônico: um trajeto de leitura (2002), a pesquisadora Nízia
Villaça afirma:
A intertextualidade é caracterizada de maneira geral como diálogo entre os
livros de uma biblioteca infinita. A intertextualidade em rede não é só uma
relação com a memória do intérprete, entre o texto atual e a memória do
texto. Os dois textos estão igualmente presentes e interligáveis entre si por
links, estruturados a vários níveis. Através de links que ligam passagem do
livro a outras, o leitor caminha. (VILLAÇA, 2002, p.108)
Por meio das ligações hipertextuais, algumas mudanças podem ser observadas na
literatura, entre elas, o estatuto do leitor e do escritor.
1.3. O leitor-autor: uma mudança de paradigma
27
Mikhail Bakhtin (1895 – 1975), historiador da literatura e filósofo soviético, mostra em seus estudos que o
modo de existência da linguagem é o dialogismo, pois, em cada texto, em cada enunciado, em cada palavra
ressoam duas vozes: a do eu e a do outro.
27
O teórico Terry Eagleton, em sua importante obra Teoria da literatura: uma
introdução (1983) mostra que a teoria da literatura, durante anos, concentrou suas análises na
figura do autor (Romantismo e século XIX) e no texto em si (Nova Crítica), anulando a
importância do leitor. Somente com a Estética da Recepção – teoria criada por Wolfgang Iser,
nas décadas de 1960 e 1970, na Alemanha - que se começou a examinar e valorizar o papel do
leitor na literatura.
Mesmo na literatura impressa, o leitor interage e dialoga com a obra, à medida que faz
conexões implícitas, preenchendo as lacunas deixadas pelo autor, formulando hipóteses,
fazendo deduções, deixando as suposições de lado à medida que a leitura prossegue,
modificando o texto e sendo modificado por ele. Para Eagleton:
O texto, em si, realmente não passa de uma série de “dicas” para o leitor,
convites para que ele dê sentido a um trecho da linguagem. Na terminologia
da teoria da recepção, o leitor “concretiza” a obra literária, que em si mesma
não passa de uma cadeia de marcas negras organizadas numa página. Sem
essa constante participação ativa do leitor não haveria obra literária.
(EAGLETON, 1983, p. 82)
Se o papel do leitor no texto impresso, mesmo de forma exteriorizada, já era
importante para “concretização” da obra; no texto digital, ele é determinante. Isso ocorre
porque o leitor em ambiente digital é transportado para dentro da ação. Nas obras O que é o
virtual? (1996) e Cibercultura (1999), Pierre Lévy mostra a desterritorialização como uma
das principais características do texto produzido no ciberespaço. Quando postado na internet,
o texto é virtualizado, tornando-se não-presente, não podendo ser fixado no espaço-físico e no
tempo. Apesar disso, o texto virtual é real, sendo uma fonte indefinível de atualizações. Nos
hipertextos digitais, o leitor é quem territorializa e atualiza o texto.
O hipertexto digital - com suas múltiplas janelas - liberta o leitor da obrigatoriedade
do linear. Em vez de seguir uma leitura única pré-traçada pelo escritor, ele cria novas ligações
escolhendo os links, combinando os nós, editando e participando da construção de sua leitura
particular em meio a uma “matriz de textos potenciais” (LÉVY, 1999, p. 57). Além da
recriação particular de um texto em uma rede hipertextual pré-disposta, ainda há a
possibilidade de o leitor intervir no conteúdo, acrescentar novos links e abrir caminhos ainda
não disponíveis no site pelo autor.
Com isso é possível perceber modificações importantes em relação à literatura
impressa, pois a participação do leitor nos meios digitais não está relacionada somente à
dimensão conceitual, mas também à construção e interferência ativa na escrita, passando a
participar da própria redação hipertextual e transformando-se em coautor ou leitor-escritor.
28
Em contrapartida, o escritor, que costumava na obra impressa a ser proprietário de uma obra
única, no labirinto hipertextual, vê sua produção em constante transformação, à medida que os
leitores anotam, comentam, conectam textos uns aos outros, criando uma escrita coletiva,
elaborada numa tessitura polifônica. Lévy acrescenta:
O navegador pode tornar-se autor de maneira mais profunda do que ao
percorrer uma rede preestabelecida: ao participar da estruturação de um
texto. Não apenas irá escolher quais os links preexistentes serão usados, mas
irá criar novos links, que terão um sentido para ele e que não terão sido
pensados pelo criador do hiperdocumento. (LÉVY, 1999, p. 57).
Os blogs, em sua maioria, contam com as ferramentas da caixa de comentários, um
local propício para discussão e o diálogo, até mesmo, para o surgimento de fórum, onde os
internautas podem comentar, sugerir, criticar, acrescentar informações sobre o que leram e,
posteriormente, retornar e ver outros comentários. Em muitos casos, os navegadores podem
criar links para seus próprios blogs. Dessa forma, o leitor-autor contribui para aumentar a rede
hipertextual. O blog Pra não ficar na gaveta, de Alice Sant’anna28 ilustra bem a participação
ativa do leitor-escritor. Eis a postagem de agosto de 2011.
Quarta-feira, Junho 08, 2011
um enorme rabo de baleia
cruzaria a sala nesse momento
sem barulho algum o bicho
afundaria nas tábuas corridas
e sumiria sem que percebêssemos
no sofá a falta de assunto
o que eu queria mas não te conto
é abraçar a baleia mergulhar com ela
sinto um tédio pavoroso desses dias
de água parada acumulando mosquito
apesar da agitação dos dias
da exaustão dos dias
o corpo que chega exausto em casa
com a mão esticada em busca
de um copo d’água
a urgência de seguir para uma terça
ou quarta boia e a vontade
é de abraçar um enorme
rabo de baleia seguir com ela
Postado por Alice Sant'Anna # 6:51 PM 22 Comentários
28
Alice Sant’anna é escritora e blogueira. Lançou seu primeiro livro de poesia Dobradura pela editora 7 Letras
em 2008. Atualmente, mantém o blog “A Dobradura” disponível em http://adobradura.blogspot.com.br/. Acesso
em 20.02.2012.
29
Após a visualização instantânea do texto, a escritora blogueira recebeu em sua caixa
de comentários 22 postagens de leitores. A interatividade do suporte pressupõe um leitor
ainda mais ativo, que, entre elogios e comentários banais, cobra a atualização e interfere na
escrita. Um dos leitores de Alice Sant’anna, Márcio Ahima, apresenta como resposta ao texto
da escritora blogueira, na caixa de comentário, um poema que dialoga com o que leu.
Márcio Ahimsa disse ...
vamos envelhecer
sem ver o tempo passar
ter como companheiros
um velho sofá
a janela rangendo
as dobradiças do tempo
guardando o horizonte
que ficou pregado
nuns olhos de criança
brincando lá fora
e o quadro pendurado
na parede deixando
amarela a fé
que ainda tenho na vida
beijo Alice, tanto tempo...
Quarta-feira, Junho 08, 2011
Dessa forma, a ação do leitor de Alice Sant’anna não se restringe somente em navegar
pelos escritos e pelas trilhas deixadas pela blogueira, sua interferência no texto faz dele um
coautor, contribuindo de forma conjunta para construção de um hipertexto: espaço dialógico,
híbrido e polifônico. Pierre Lèvy afirma que “as costuras e remissões, os caminhos de sentido
originais que o leitor inventa podem ser incorporados à estrutura mesma dos corpos. A partir
do hipertexto, toda leitura tornou-se um ato de escrita”. (LEVY, 1996, p. 46)
É importante considerar que a literatura fundada no hipertexto pode também ter um
efeito reverso e não se concretizar para o leitor. A já citada Nízia Villaça aponta os perigos da
leitura hipertextual na Internet. Para ela, o leitor “tem que decifrar a ligação secreta, as
estratégias discursivas e restabelecer a ligação temática das presunções auditivas a partir do
tópico, servindo-se do seu instinto de detetive”. (VILLAÇA, 2002, p. 109). Quem segue
ingenuamente os links intencionais deixados pelos autores não terá condições de fazer as
associações necessárias e ter uma interpretação coerente.
No suplemento literário “Prosa & Verso” do jornal O Globo de 10.04.2010, o crítico
literário e colunista José Castello reavivou a desconfiança em relação ao ato da leitura na web
30
ao fazer uma analogia entre a web e o mito da caverna de Platão.29Assim como na caverna de
Platão, a condição de escuridão impede a luz da verdade, na “caverna da web”, segundo o
crítico, os diferentes links, imagens e janelas, que arrastam o leitor e oferecem infinitas
possibilidades de leitura, conferem também maior rapidez e, consequentemente, maior
dispersão, levando à escuridão e não ao pensamento. Para Castello, para imaginar é preciso
parar e respirar. Toda leitura impõe pausas, o que nem sempre ocorre na web.
Recorrendo à imagem do tapete criada por Vilém Flusser, Castello comenta tal risco:
“Sobre os fios verticais da urdidura, o tapeceiro narra sua trama – isto é, costura um tapete.
Sem a urdidura para sustentá-la, a trama é impossível, simplesmente desaba”. Ao fazer alusão
ao escritor como tapeceiro, o crítico mostra que a escrita só faz sentido quando “urdida” pelo
leitor. Cada leitor lê a trama e lhe confere uma forma. Para elucidar José Castello afirma :
Sem o exercício da urdidura, a trama se torna só um chicote louco, que nos
açoita e fere. Deixamos de pensar – o que é o mesmo que deixar de ler.
Perdemos nossa interioridade, desistimos da nossa subjetividade, e
preferimos o festim de uma grande rede.
1.4. O escritor performático
O teórico Roland Barthes, em seu polêmico ensaio “A morte do autor” (2004), propôs
a reavaliação do lugar do autor, visto, na sociedade moderna, como proprietário da verdade e
fonte necessária para explicação da obra. Ao desvincular a imagem do escritor da obra
literária, ignorando, por exemplo, elementos biográficos na análise textual, tentava-se
outorgar a autonomia necessária à obra. Barthes concebia a literatura como escritura e,
segundo ele, toda “escritura é a destruição de toda voz, de toda origem. A escritura é esse
neutro, esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o branco-e-preto em que
vem se perder toda identidade, a começar pela do corpo que escreve”. (BARTHES, 2004, p.
57).
De acordo com a argumentação de Barthes, o autor, agora concebido como um ser de
papel, não como uma “pessoa” no sentido psicológico - não existindo antes e nem depois, mas
no momento da enunciação - cede lugar principal à linguagem. Para o teórico, o texto
representa um “tecido de citações”, polissêmico, construído em diálogo com outros textos,
29
Segundo o mito, existia um muro bem alto separando o mundo externo e uma caverna. No interior da caverna
permaneciam os seres humanos que nasceram e cresceram ali e que, por sua vez, ficavam de costas para a
entrada, acorrentados, sem poder mover-se, forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna e as imagens
ali refletidas. Desse modo, não tinham conhecimento sobre o mundo fora dali, somente libertando-se
conseguiriam buscar a essência das coisas para além do “mundo sensível”. Disponível em
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mito_da_caverna. Acesso em 07.04.2012.
31
feito por meio de “escrituras múltiplas”, que deve ser “desfiado” e “percorrido” pelo leitor.
(BARTHES, 2004, p. 62-63)
Pensar a morte do autor, no século XXI, em que a cultura midiática e as novas
tecnologias o aproximam cada vez mais dos leitores - que passam a conhecer não somente a
obra, mas sua imagem veiculada nos jornais, em programas de televisão e na internet - tornase cada vez mais difícil. Se o autor “morreu” para Barthes, ele começa a ressuscitar não como
origem e explicação da obra, mas como uma presença cada vez mais intensa nas mídias.
Nesse contexto, os escritores que, nas gerações passadas, eram fonte de mistério por
serem desconhecidos do grande público, atualmente, têm seus nomes listados em diferentes
eventos. Participam de bienais, palestras nas academias, congressos, tiram fotos com leitores,
dão autógrafos, participam de programas de televisão, concedem entrevistas, além de alguns
recorrerem, para a divulgação da obra, a atos que os deixam em evidência, as chamadas
performances. O escritor e blogueiro Marcelino Freire ilustra bem tal situação em seu antigo
blog30:
15.3.10
GERAÇÃO BBB
Você viu a escritora na jaula?". Hã? "A escritora na casa de vidro?". O quê?
Fiquei assim meio aéreo, sem saber. Lá, na Livraria da Vila da Fradique
Coutinho. "O maior barato, Marcelino!". No primeiro andar, a escritora
estava. Trancafiada. Começou sua estadia na quinta-feira passada e vai até
esta quarta. Come, dorme, vegeta, solitária. À vista de quem passa. O nome
dela: Paula Parisot. A missão: divulgar o seu livro Gonzos e Parafusos,
publicado pela Editora Leya. Eta danado! (...) E aí vejo a autora confinada.
E aí tenho de cruzar, cheio de constrangimento, o piso até a seção de
encomendas. E ela lá, parece que me enxergando, me sacando, do centro do
casulo. E dizendo: "não reclame, vocês também já fizeram marketing".(...)
A imagem passada pelo autor, nos diferentes eventos nada mais é, em muitos
momentos, que a construção de uma persona, condizente com procedimentos de
“autoficcionalização”, em que faz de si personagem de ficção, embaralhando os conceitos de
realidade e ficção. A renomada teórica Beatriz Sarlo, citada pelo pesquisador Sérgio Araújo
de Sá, em livro A reinvenção do escritor: literatura e mass media (2010), comenta a questão
das entrevistas para a construção da imagem do escritor:
(...) o escritor responde com uma sinceridade também construída. Dizendo o
que pode ser dito, sendo fiel na medida do possível (sempre em uma medida,
como qualquer outra pessoa que fosse interrogada), colocando-se frente a
uma pergunta como quem se coloca frente à imagem refletida em um
30
Disponível em: http://www.eraodito.blogspot.com/Acesso em 16.03.2010
32
espelho, que possui uma verdade relativa e, no entanto, indispensável.
(SARLO apud Sá, 2010, p. 148)
Em O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea (2010), a
pesquisadora Leonor Arfuch cria o conceito de “espaço biográfico” para abarcar além dos
gêneros autobiográficos canônicos, as narrativas vivenciais próprias de nosso tempo entrevistas, perfis, retratos, testemunhos, histórias de vida, relatos de auto-ajuda, talk-shows,
reality-shows - que surgem com a interferência da cultura midiática, transitando entre verdade
e ficção. Diante desse conceito, elaborado por Arfuch, não faz mais sentido os leitores se
questionarem se a narrativa é autobiográfica ou literária, uma vez que o próprio conceito de
autobiografia passa a não ser tão rígido e inquestionável. Segundo o pesquisador Bruno Lima
Oliveira31:
Pensar quem é o sujeito que retorna na contemporaneidade, quem é o autor
da autoficção, implica sabê-lo como um sujeito híbrido, fragmentado,
disperso nos vários discursos midiáticos de que faz parte, pois esse autor não
se mostra apenas textualmente, mas também e em igual medida na televisão,
em blogs em entrevistas, talk shows, congressos.
Assim, se antes a leitura da obra suscitava o desejo de conhecer o autor, agora se pode
dizer que sua presença na mídia e as performances, em muitos momentos, são o que induzem
o público à curiosidade e, por consequência, ao conhecimento da obra e/ou à sua aquisição. O
pesquisador Sérgio de Sá mostra que o escritor “(...) se sustenta sobre a mídia, sente-se a
priori possuído pelo que pode dar-lhe essa, vamos dizer, macroliteratura” (SÁ, 2010, p.22).
Sérgio de Sá acrescenta:
Estar fora da mídia é não ter visibilidade (...). De alguma forma, ao
participar da mídia, o escritor testa os argumentos que estão na obra. Pode
sentir a boa recepção do leitor ou perceber que está fora da ação esperada.
Ao se dispor a falar, o escritor também se coloca no papel de intelectual, que
há muito ele perdeu, justamente pelo enclausuramento na obra, cada vez
mais distante do grande público. (Sá, 2010, p.147)
O escritor blogueiro Wilton Cardoso32 cuja produção está unicamente vinculada a
blogs e e-books, ao ser perguntado se considera escritor quem não possui obra impressa e
31
Disponível em http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/pt/arquivos/gt_lt16_artigo_5.pdf. Acesso em 24.06.2012
Wilton Cardoso publicou em 2002 um e-book chamado marjnau, contendo uma reunião de poemas.
Participou, junto com alguns poetas e artistas de Goiânia, da revista eletrônica Ruído branco
(http://wsmartins.net/ruidobranco/) e do blog coletivo vida miúda (http://vidamiuda.blogspot.com.br), que
coordenou até o início deste ano. Possui uma obra impressa, o nave aleatória, livro de poesia publicado num
projeto
de
incentivo
cultural
de
Goiânia.
Possui
o
blog
minutos
de
feitiçaria
(http://minutosdefeiticaria.wordpress.com).
32
33
publica somente na internet, apresenta uma importante questão:
Sim, acredito, afinal o que conta é o texto escrito e não o suporte. Mas creio
que a questão é se as pessoas consideram escritor quem não publica por
editoras. Porque o que pega é você não ter a chancela de uma editora grande
ou respeitável e, em consequência, estar fora da mídia, da universidade e do
circuito de eventos literários, como festas e concursos. O lado bom disso é
que esta vida literária me parece chata, o ruim é que ninguém me conhece e,
portanto, não lê. (Ver ANEXO N)
Desse modo, embora publique na internet - estratégia importante para captação de
leitores - e assuma a condição de escritor, quando fora do circuito da mídia, torna-se
desconhecido de grande parte do público interessado na literatura contemporânea. Estar na
mídia, é, pois, uma condição necessária ao escritor atual, visto que são muitos os nomes
surgidos que dividem espaço nas livrarias, e para conseguir sobressair, precisa ser visto e
“conhecido” pelos possíveis futuros leitores. Para Sérgio de Sá (2010) “a cultura mediática
reveste o material simbólico na sociedade contemporânea, toma lugar de outras instâncias – a
literária entre elas – no predomínio da legitimação do valor cultural”. (SÁ, 2010, p. 27). A
validação da boa escrita, necessariamente, não está ligada à obra impressa, visto que, como
afirma Alice Sant’anna no anexo D, “pode haver um bom escritor de internet, e o outro pode
ser um mau escritor publicado” , mas, para tentar fazer parte da ebulição da vida literária atual
e estar na mídia, o passo, na grande maioria das vezes, determinante ainda continua sendo a
chancela editorial.
Além da sua aparição nas mídias, retratando toda uma performance necessária ao
contemporâneo, o escritor se fragmenta e se inventa, textualmente, no diálogo com o leitor no
suporte do blog, que, por sua vez, vem se destacando como um importante “espaço
biográfico” na contemporaneidade. Os blogs que, inicialmente, surgiram como diário íntimo
na internet, com o tempo, foram adquirindo novas possibilidades. Aspirantes e escritores que
desejavam atrair a atenção de leitores, escritores e críticos passaram a utilizar esse suporte,
como uma estratégia para a inserção no circuito artístico-literário.
Entretanto, os blogs literários ficam, na maior parte das vezes, na fronteira entre
realidade e ficção, de modo que não é possível definir, assertivamente, o que é fato ou
invenção, verdade ou verossimilhança. As postagens marcadas, em grande parte, pela escrita
em primeira pessoa, misturam acontecimentos reais como agenda literária, fotos de
participações em eventos, comentários diversos com fragmentos de contos e crônicas. A
pesquisadora Diana Irene Klinger, em Escritas de si, escritas do outro: autoficção e
etnografia na narrativa latino-americana contemporânea (2006), reitera tal afirmação ao
34
considerar que “o traço marcante na ficção mais recente é a presença autobiográfica real do
autor empírico em textos que por outro lado são ficcionais” (MORICONI, 2005 apud
KLINGER, 2006, p.10).
No que diz respeito ao que é produzido nos blogs literários é importante fazer uma
diferenciação. Há blogs de escritores ainda pouco conhecidos, sem obra impressa, que
funcionam como uma espécie de vitrine de toda uma produção. Caso exemplar acontece no
blog Minutos de feitiçaria do já citado escritor blogueiro Wilton Cardoso. Além de publicar
em seu blog diferentes poesias de sua autoria, há também links para acessar todas as suas
obras disponíveis em e-books. Segundo o escritor, “o canal de contato do leitor com minha
escrita é quase que exclusivamente a rede, pois estou fora do circuito literário tradicional”. A
postagem de 04.04.2012 ilustra bem a produção do blog33 desse escritor.
último
aquilo que surgiu
sem ninguém ver
quase ninguém viu
incógnito… sumiu
a vida chama
o estrondo/silêncio da vida
não cabe no mudo
ruído das palavras
a vida grita
murmúrio inconstante
de um rio em chamas
enxame de vozes
sem uma palavra
a vida cobra
o dobro do preço
e ela não quer
viver de metades
é hora de existir
inteiro (mesmo
em mil pedaços)
viver é sempre um
rejuntar-se precário
com as chamas do acaso
é hora
de calar
e viver
33
Disponível em: http://minutosdefeiticaria.wordpress.com. Acesso em 02.05.2012
35
(Wilton Cardoso)
Em contrapartida, os blogs de escritores já legitimados e com obras impressas, em sua
maioria, possuem uma produção diversa: textos despretensiosos, desabafos, informações
sobre agenda literária, fragmentos de obras, impressões de leitura, piadas, opiniões sobre fatos
cotidianos particulares ou acontecimentos noticiados pela mídia.
Em alguns momentos,
postam contos, crônicas, poemas que podem até ser aproveitados em obras impressas. A
escritora Adriana Lisboa34 afirma em entrevista presente no anexo B: “Já publiquei no meu
blog textos despretensiosos, instantâneos, poemas em prosa que depois aproveitei em algum
livro”.
O renomado teórico Philippe Lejeune, propondo solucionar os problemas na
identificação de uma autobiografia, formula a teoria do “pacto autobiográfico”. Este pacto
determina a existência da autobiografia - e, numa perspectiva mais geral de escrita íntima,
incluindo o diário35- mediante uma relação de identidade entre autor, narrador e personagem.
O teórico propõe a ideia de que o leitor deve assumir uma atitude de “cão de caça”,
procurando rupturas e deformações no pacto, e, também, responsabilizando-se em avaliar o
escrito como verdade ou ficção. O “pacto autobiográfico” realizado entre quem escreve e
quem lê “escritas íntimas” se fundamenta, num contrato de identidade selado pelo nome
próprio, que resume a existência do autor, pois aquele seria a única marca no texto de um
fora-do-texto, remetendo a uma pessoa real. No caso dos blogs, essa identidade é muito difícil
de ser mensurada, visto que nesse novo mecanismo de produção, os leitores podem comentar
e ajudar o blogueiro em sua escrita. Há também blogs que pertencem a mais de um dono. Há,
portanto, uma escrita polifônica e híbrida. Embora, em muitos momentos, fale de seu
cotidiano, suas opiniões, não há, no texto, necessariamente, a marca que ateste esse “eu” real,
podendo, inclusive, uma mesma pessoa ter vários blogs, identificados por heterônimos.
A pesquisadora Ana Cláudia Viegas, no artigo O “eu” como matéria de ficção – o
espaço biográfico contemporâneo e as tecnologias digitais36, aponta para o fato de o “impacto
da internet sobre o ‘espaço biográfico’ se fazer sentir na abertura à existência virtual, às
invenções de si, os jogos identitários, propícios à fantasia da autocriação e ao
34
Adriana Lisboa é escritora. Começou a publicar em 1999, pela editora Rocco, e de lá para cá lançou no total,
cinco romances impressos, um livro de contos/poemas em prosa, e quatro livros infanto-juvenis.
35
Na definição utilizada por Lejeune (2008, p.14), o diário difere da autobiografia por não haver no primeiro
uma perspectiva retrospectiva da narrativa.
36
Disponível em http://www.textodigital.ufsc.br/num07/anaclaudia.htm . Acesso em 20.06.12.
36
desenvolvimento de redes inusitadas de interlocução e sociabilidade”. Pensemos de forma
prática as nuances da escrita de si no blog da escritora Paloma Vidal37.
A escritora Paloma Vidal nasceu em Buenos Aires em 1975 e aos dois anos veio para
o Brasil. Este deslocamento vivido na infância e os deslocamentos posteriores instauraram na
autora algumas questões relacionadas ao pertencimento, que incidem diretamente na sua
literatura. No blog “lugares onde não estou” resgata rasgos de memória, transformando-os em
palavras.
30.1.11
(...)
no meu sonho não há praia nem chuva, mas um espaço vazio que é um
antigo restaurante.
é o nosso lugar.
não é mais.
as caixas de papelão tomaram conta de tudo.
"nenhum lugar jamais nos pertence".
quem fala é outro, mas a dor é minha.
Se pensarmos no título do blog de Paloma Vidal “lugares onde não estou”, no perfil da
autora inscrito do lado direito da tela e na postagem em primeira pessoa trazendo como pano
de fundo a questão do “não lugar”, o leitor “cão de caça” - que vasculha a trajetória de vida da
autora - pode considerar estar diante de um diário íntimo, validando, assim, o pacto
autobiográfico teorizado por Lejeune. Mas é importante refletir sobre até que ponto as
inscrições do blog não simbolizariam um fingimento do escritor. Segundo a escritora Denise
Schittine (2004):
Num escrito íntimo, existem gradações entre sinceridade absoluta e a mais
pura ficção: pequenas mentiras, falhas de memória, lembranças
entrecortadas. Esses fatores não comprometem totalmente a veracidade dos
fatos, mas influenciam-na fortemente (...). A diferença é que, quando alguém
escreve, principalmente para um público, tenta preencher as lacunas,
completar os fatos, explicar as experiências e, assim, muitas vezes, acaba
interferindo nelas. (SCHITTINE, 2004, p. 117)
Se compreendermos que a primeira pessoa pode servir tanto como fonte de
experiências quanto suporte para a invenção, o pacto autobiográfico pode ser superado. Desse
modo, esse “eu” que se confessa pode ser um personagem criado, uma construção imaginária
de si mesmo para o outro. Como pondera Ana Cláudia Viegas38:
37
Paloma Vidal publicou os livros "A duas mãos" (contos, 7letras, 2003), "Mais ao sul" (contos, língua geral,
2008) e "Algum lugar" (romance, 7letras, 2009). Recentemente, fez o trabalho de tradução da obra: “O espaço
biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea” (2010). Possui o blog “lugares onde não estou”.
Disponível em: < http://www.escritosgeograficos.blogspot.com/> Acesso em 12/01/2011.
38
VIEGAS, Ana Cláudia. O “eu” como matéria de ficção – o espaço biográfico contemporâneo e as
tecnologias digitais. Disponível em http://www.textodigital.ufsc.br/num07/anaclaudia.htm . Acesso em
37
A criação de personagens escamoteia a revelação da intimidade, num
exercício de autoficcionalização. Ao mesmo tempo em que fala do outro
(personagem) para falar de si, este narrador em primeira pessoa também fala
de si com um distanciamento, como um outro.
A teoria de Bakhtin, citada por Leonor Arfuch, permite descartar completamente a
construção de um pacto autobiográfico:
(...) não há identidade possível entre autor e personagem, nem mesmo na
autobiografia, porque não existe coincidência entre a experiência vivencial e
a “totalidade artística”. Essa postura assinala, em primeiro lugar, o
estranhamento do enunciador a respeito de sua “própria” história; em
segundo lugar, coloca o problema da temporalidade como um desacordo
entre enunciação e história, que trabalha inclusive nos procedimentos de
autorrepresentação. (BAKHTIN apud ARFUCH, 2010, p. 55- grifo do autor)
Diante disso, o “eu” que surge na web, ainda que fosse autor, narrador e personagem,
não deixaria de ser uma ficção, principalmente, pelo fato de se construir na linguagem. De
acordo com a pesquisadora Paula Sibilia, O show do eu: a intimidade como espetáculo
(2008), “a experiência vital de cada sujeito é um relato que só pode ser pensado e estruturado
como tal se for na linguagem. Mas assim como ocorre com o personagem principal, esse
relato não representa simplesmente a história que se tem vivido: ele a apresenta” (SIBILIA,
2008, p. 32).
Detectada a falha no modelo instaurado por Lejeune, a melhor opção novamente é
pensar a escrita nos blogs como “espaço biográfico”segundo a teoria de Leonor Arfuch. Para
Arfuch (2010) o espaço biográfico:
...não visa de modo algum à equivalência de gêneros e formas dissimilares,
assinala, no entanto, um crescendo da narrativa vivencial que abarca
praticamente todos os registros – numa trama de interações, hibridizações,
empréstimos, contaminações – de lógicas midiáticas, literárias, acadêmicas
(em última instância, culturais), que não parecem se contradizer demais.
Espaço cuja significância não está dada somente pelos múltiplos relatos, em
maior ou menor medida autobiográficos, que intervêm em sua configuração,
mas também pela apresentação “biográfica” de todo tipo de relatos
(romances, ensaios, investigações, etc.) (ARFUCH, 2010, 63).
Outra importante constatação é que escritores já legitimados pela crítica literária, em
muitos momentos, para atrair leitores podem produzir no blog, predominantemente, algo
distanciado da produção impressa, uma produção mais próxima do gosto das massas. O
escritor Henrique Rodrigues que atualmente utiliza o blog como um espaço de agenda literária
e autodivulgação produzia em seu blog uma produção que supunha humor, mas sem afastar-se
20.06.12.
38
do viés da literatura. Um trecho de sua produção no blog pode ilustrar sua escrita
despretensiosa e divertida:
NARRATIVAS PARA QUEM ESTÁ COM PRESSA – I DOM
CASMURRO
O pessoal me chama de Casmurro porque sou cismado. Mas vê só: Escobar
se dizia meu amigo, estudamos juntos e tal. Ele sabia que eu estava com a
Capitu mas acho que rolou um lance. Como ele morreu, fiquei sem graça de
perguntar pra ela, que ficava sempre me olhando esquisito e depois acabou
morrendo também. Nosso filho era a cara do meu antigo camarada, só que
bateu as botas (todo mundo à minha volta morre, caçamba!) e achei melhor
deixar pra lá. Ou não? Ah, já não sei de mais nada.
Em contrapartida, o poema Limite encontrado em seu livro de poemas A musa diluída
(2006), exemplifica bem a literatura produzida pelo escritor com o intuito da publicação.
LIMITE
Posso dominar o verso, não a vida,
Que não cabe em laço, ou pode ser medida.
Há uma certa complacência nisso tudo,
Porque o verso pode estar assim, desnudo,
Para que eu o vista com o que me convenha.
Já a vida, esguia, não pede contra-senha
Que a revele. Está sempre por ser coberta
Com os véus do livre-arbítrio. E por ser incerta
É que a vida escorre aqui nesta ampulheta
Dos versos, halo tão somente faceta
Que permita termos algo em nossas mãos
Não sei toda a lavoura, deixo-te os grãos
A partir dos exemplos comentados aqui, pretendi mostrar que esse “eu” que fala de si
tanto na cultura da mídia quanto nos blogs não deve ser pensado de forma redutível em ficção
e não ficção - visto que, na contemporaneidade, essas são instâncias escorregadias que ora se
aproximam e ora se abocanham na construção da identidade do escritor.
39
2. FIO DA NAVALHA: “MAS ISSO É LITERATURA?”
O teórico Walter Benjamin, em seu clássico texto “A obra de arte na era da
reprodutibilidade técnica”(1994), discute algumas das transformações ocorridas na arte,
durante o século XX, em decorrência do surgimento de novas técnicas de criação e de
reprodução de imagem. Segundo o teórico alemão, a reprodutibilidade acarretava uma maior
democratização da arte, à medida que “retirava o objeto de seu invólucro”, substituindo a sua
existência única, por uma existência serial, aproximando-o das massas. Em contrapartida, o
culto, a devoção, o valor de sagrado - experiências tão presentes na relação do público com as
artes mais tradicionais, tais como Pintura, Escultura, Arquitetura - são relativizadas.
Com o processo de aceleração na reprodução da imagem e com a reprodução técnica
do som, surgem outras formas de arte, entre elas, a fotografia e o cinema, tornando-se ainda
mais fácil captar “o semelhante no mundo”; a aura, por sua vez, “aparição única de uma coisa
distante, por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, 1994, p. 170) - fica atrofiada.
Com a cultura da imagem se disseminando, o cinema torna-se consagrado e
popularizado, e, mais adiante nos anos 50, a televisão. O lugar que a literatura ocupava na
sociedade e na cultura começa a ser deslocado. A professora Analice Martins, em seu artigo
Literatura para quê39 (2008), mostra que a literatura “obriga o leitor a se deslocar do
comodismo de suas verdades, cospe-lhe na cara (ou talvez, de forma mais nobre, como queria
Bandeira, ‘faz o leitor satisfeito de si dar o desespero’)”. Em contraponto, o cinema que passa
a ocupar os momentos de lazer da sociedade, exige menos do seu interlocutor, sendo
caracterizado por Benjamin como cenário privilegiado da recepção distraída e fragmentada.
(BENJAMIN, 2004, p.194)
O pesquisador Jair Pereira dos Santos, em seu livro O que é pós-moderno, acrescenta
que, “desde a perspectiva renascentista até a televisão, que pega o fato ao vivo, a cultura
39
Disponível em http://www.abralic.org.br/anais/cong2008/AnaisOnline/simposios/pdf/009/ ANALICE _
MARTINS.pdf. Acesso em 20.05.2012
40
ocidental foi uma corrida pelo simulacro perfeito da realidade. Simular por imagens, como na
TV, significa apagar a diferença entre real e imaginário.” (SANTOS, 1994, p.12). Em muitos
casos, o simulacro, fabricado com a utilização das técnicas que intensificam cor, tamanho,
forma representa um “hiper-real”, mais real que a própria realidade (ibid., p.12). Desse modo,
a literatura - que utiliza como recurso para a profusão de imagens a palavra - agindo como
uma janela aberta no imaginário do interlocutor perde espaço numa sociedade imediatista e
massificada.
No século XXI, a literatura se apropria das novas tecnologias digitais, buscando o
vigor e a atenção que lhe eram depositados no início do século passado, quando possuía uma
cultura intelectual literária propícia para o debate de ideias e projetos. Para além de mudanças
nos modos de leitura e escrita (temática abordada no capítulo anterior), a literatura digital
oferece alterações na própria concepção de texto e de literário. O som e a imagem, técnicas
que em conjunto eram associadas ao cinema, passam a integrar os textos.
Em contrapartida, a “atenção distraída e fragmentada”, observada por Benjamin nos
meios de massa, insurge-se nesse ambiente por meio dos links e janelas diversas, que se
abrem e fecham diante dos navegadores. Ao volatizar-se em ambiente digital, a Literatura
fraturou a sua aura - sua aparição singular -, abandonando os rituais que contribuíram para sua
institucionalização, entre eles: a sacralização, a individualização na concepção e produção dos
textos e a cultura do livro, afastando-se do cânone.
Diante das transformações operadas no cenário literário contemporâneo, algumas
questões devem ser levantadas: Quais critérios devem ser utilizados para atribuir à obra o
status de literária? E de canônica? Em que medida o que é produzido no contexto digital se
distancia dos cânones? Frente às modificações surgidas no cenário social e cultural, não
seriam necessários novos paradigmas para análise dessa produção? A Teoria da Literatura
está pronta para avaliar uma produção tão diferente da encontrada na cultura de papel? Essas
são algumas questões que serão discutidas neste capítulo.
2.1. Algumas reflexões sobre a literatura e o seu objeto
Definir ontologicamente literatura e demarcar criteriosamente o seu território vem
sendo um dos grandes desafios dos estudos literários. Apesar dos esforços dos estudiosos na
busca por teorias que dissolvam polêmicas a respeito do tema, o consenso está longe de
existir. Os pressupostos teóricos surgidos são diversificados e em vez de se somarem,
excluem-se. O teórico Antoine Compagnon, em seu livro O demônio da teoria: literatura e
41
senso comum (2003), afirma que isso ocorre porque os estudos literários “não chamam de
literatura, não qualificam como literária a mesma coisa; não visam diferentes aspectos de um
mesmo objeto, mas diferentes objetos” (COMPAGNON, 2003, p. 26).
Para elucidar a problemática na definição do que seja considerado literatura, basearei
minha análise nos conceitos de ficcionalidade (pautados no conteúdo) e literariedade,
desfamiliarização e estranhamento (pautados na forma), resgatados pelos teóricos Antoine
Compagnon (2003) e Terry Eagleton (1983).
O primeiro conceito que sedimentou o objeto e as regras de funcionamento da
literatura foi formulado de acordo com Compagnon por Aristóteles e perdurou até o século
XVIII, ainda sob a denominação de Poética. A literatura na concepção aristotélica era
sinônimo de ficção, compreendida como “imitação ou representação (mimèsis) de ações
humanas pela linguagem” (COMPAGNON, 2003, p. 38). Nessa perspectiva, os gêneros épico
e dramático – escritos em versos - eram exaltados; em contrapartida, o lírico também
construído em verso, mas em 1ª pessoa, era excluído da Poética por não ser considerado
imaginativo e nem fictício.
A partir de meados do século XVIII, as bases tão bem sedimentadas e instituídas pelos
clássicos começam a ruir, o conceito clássico de ficcionalidade passou a ser insuficiente e
visto com desconfiança. Essa insuficiência ocorreu no momento em que os gêneros épico e
dramático abandonaram o verso e se transportaram para a prosa e, por sua vez, o gênero lírico
- antes concebido como gênero menor e excluído da Poética de Aristóteles - tornou-se
sinônimo de toda poesia, ocupando lugar de destaque no cenário literário. Com a divulgação
do pensamento do filósofo Kant, expresso em sua obra Crítica da faculdade do juízo (1790)40,
e o florescimento do Romantismo, um novo critério de conceituação do literário começou a
ser utilizado. Separada da vida, a literatura passou a ser compreendida como um fim em si
mesma.
Essa concepção em parte foi retomada e contribuiu para que, na década de 1920, um
grupo de críticos russos, militantes e polêmicos - os formalistas russos -, lançassem suas
ideias. A literatura se definia para eles não por ser “ficcional” ou “imaginativa”, mas pelo uso
de uma linguagem peculiar em oposição à “fala comum”. Embora não negassem a relação da
arte com a realidade social, a preocupação maior era com os estudos da linguagem e não com
o que ela poderia dizer. O conteúdo, para esses estudiosos, era uma motivação para a forma.
40
Na obra Crítica da faculdade do juízo (1790), o filósofo mostra que o ato de julgar pertence a todo sujeito, é
universal e origina o julgamento estético, especulativo e subjetivo. Portanto a investigação crítica a que Kant se
refere “diz respeito às possibilidades e limitações das faculdades subjetivas que agem sob princípios formulados
e que pertencem à essência do pensamento”. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant#Ju.
C3.ADzo_Est.C3.A9tico_de_Kant. Acesso em 07.06.2012
42
Compagnon mostra que esse conceito proposto pelos formalistas russos tentava tornar o
estudo literário separado do historicismo e do psicologismo aplicado à literatura e opunha-se à
definição da literatura como documento ou como representação do real.
O teórico Terry Eagleton (1983) acrescenta que para os formalistas russos a obra
literária seria resultado de um determinado uso de linguagem, um uso que transformaria e
intensificaria a linguagem comum, produzindo uma “desconformidade entre significantes e
significados” (EAGLEATON, 1983, p. 2) e afastando-se da fala cotidiana:
Os formalistas, portanto, consideravam a linguagem literária como um
conjunto de desvios da norma, uma espécie de violência linguística: a
literatura é uma forma especial de linguagem, em contraste com a linguagem
“comum”, que usamos habitualmente. (ibid, p. 4)
A “linguagem peculiar” e a “desconformidade entre significantes e significados”
configuram-se, em muitos momentos, pela utilização de “artifícios” linguísticos e formais,
que podem incluir som, imagem, métrica, ritmo, sintaxe, rima, certas técnicas narrativas, que
por sua vez, contribuem para dar ao texto literário uma propriedade que o diferencia dos
demais: a literariedade. Os formalistas russos tomavam, como critérios de literariedade, a
desfamiliarização ou o estranhamento:
A especificidade da linguagem literária, aquilo que a distinguia de outras
formas de discurso, era o fato de ela “deformar” a linguagem comum de
várias maneiras. Sob a pressão dos artifícios literários, a linguagem comum
era intensificada, condensada, torcida, reduzida, ampliada, invertida. Era
uma linguagem que se “tornara estranha”, e graças a este estranhamento,
todo o mundo cotidiano transformava-se, subitamente, em algo não familiar.
(ibid, p. 4).
A linguagem “desfamiliarizada” e “estranha” aos sentidos do leitor faz com que ele
redobre a atenção, retarde a leitura, “desautomatize”41 a linguagem, desfaça os “entraves” e os
“retardamentos”, avançando e experimentando a leitura de forma mais intensa.
Seriam os critérios explanados anteriormente condições determinantes para atribuir ao
texto o estatuto de literário? Embora os critérios formais sejam valorizados por grande parte
dos críticos, que continuam julgando o domínio da técnica um valor necessário para a
condição de escritor, as críticas formuladas pelo ensaísta Terry Eagleton provam que tais
critérios não são suficientes. O seu primeiro questionamento se relaciona à definição de
literatura como ficção.
41
O termo “automatizada” criado pelos fomalistas russos se refere à forma percebida automaticamente pelo uso,
a “desautomatização” é, pois, a forma literária que causa estranhamento, devido ao seu caráter pouco usual.
43
Para defender sua posição e a recusa em relação a esse pressuposto, o autor mostra que
obras tradicionalmente entendidas como não-ficcionais podem ser ou vir a ser lidas como
literatura. Desse modo o pesquisador defende que a fronteira entre o factual e o ficcional é
escorregadia. Outro argumento levantando é o fato de essa teoria ignorar a possibilidade de
haver criação e imaginação em obras reconhecidas como não-ficcionais, entre elas: as
históricas, filosóficas e científicas.
A segunda definição de literatura questionada pelo ensaísta, e de forma ainda mais
categórica, diz respeito aos trabalhos dos formalistas russos. Sobre o argumento de que “a
literatura é uma forma ‘especial’ de linguagem, em contraste com a linguagem ‘comum’”,
Eagleton tece algumas ressalvas. Para ele, a língua se realiza de forma muito diferente em
diversos grupos sociais não havendo nada que possa ser chamado de “linguagem comum” ou
“norma”. Se não existe uma única linguagem corrente não há como identificar as
transgressões, a norma da qual se afasta, nem tampouco os “estranhamentos” e a
“desfamiliarização”(ibid, p.5). O que pode ser uma linguagem comum para um determinado
grupo, pode ser estranho a outro. O que representa um desvio linguístico para uma sociedade
numa determinada época, pode não ser para outra numa época diferente, sendo, pois, esse um
argumento insuficiente na distinção entre um texto literário e outro não-literário:
A ideia de que existe uma única linguagem “normal”, uma espécie de moeda
corrente usada igualmente por todos os membros de uma sociedade, é uma
ilusão. (...) Até mesmo o texto mais “prosaico” do séc. XV pode nos parecer
“poético” hoje devido ao seu arcaísmo.” (ibid, p.5)
Eagleton também considera que qualquer texto pode ser lido pragmaticamente ou não,
mesmo não fazendo uso de uma linguagem peculiar. “A definição de literatura fica
dependendo da maneira como alguém resolve ler, e não da natureza daquilo que é lido” (ibid,
p.9). Um texto também pode, por exemplo, ser considerado filosófico, numa determinada
época e, mais tarde, ser considerado literário ou começar como literário e ser valorizado como
histórico, tudo depende da maneira como as pessoas se relacionam com aquilo que leem.
Eagleton (1983) considera que:
(...) podemos abandonar, de uma vez por todas, a ilusão de que a categoria
“literatura” é “objetiva”, no sentido de ser eterna e imutável. Qualquer coisa
pode ser literatura, e qualquer coisa que é considerada literatura, inalterável e
inquestionavelmente – Shakespeare, por exemplo -, pode deixar de sê-lo.
(ibid, p. 11)
44
Diante disso, é possível compreender que a literatura deve ser vista, de forma
funcional e não ontológica, na estando o caráter literário de um texto fundamentado
unicamente no conjunto de indicadores textuais, mas atrelado a contextos sócio-culturais
específicos. Desse modo, importa, para os estudos literários, não apenas a produção material
da obra, mas também a produção de valor que ela sugere, condicionado por elementos
políticos, sociais, econômicos e culturais. Esse argumento de que a literatura não é eterna e
imutável poderia de alguma forma abalar as estruturas dos cânones e da “grande tradição”
literária?
2.2. Literatura Canônica
O escritor Italo Calvino, em Por que ler os clássicos (1993), tenta definir o que seja
clássico, para isso utiliza catorze definições diferentes, que, somadas, contribuem para o
entendimento do conceito. Segundo Calvino (1993):
1. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: Estou
relendo ... " e nunca "Estou lendo ... ".
2. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem
os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem se
reserva a sorte de lê-las pela primeira vez nas melhores condições para
apreciá-las.
3. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se
impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da
memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual.
4. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a
primeira.
5. Toda primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura.
6. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para
dizer.
7. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as
marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que
deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente
na linguagem ou nos costumes).
8. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de
discursos críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe.
9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir
dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos.
10. Chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do
universo, à semelhança dos antigos talismãs.
11. O "seu" clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve
para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele.
12. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos; mas quem leu
antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia.
13. É clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de barulho
de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo.
14. É clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a
atualidade mais incompatível. (CALVINO, 1993, p. 9-16)
45
De acordo com as considerações feitas por Calvino, os clássicos ou cânones literários
são aquelas obras, que independente do momento em que foram escritas - antigas ou
modernas –, são constantemente lidas, relidas, apreciadas, criticadas, reconhecidas e
legitimadas pela crítica especializada e leitores comuns. Por se destacarem alguns pela
superioridade e genialidade, outros pela representatividade de uma época ou até mesmo pelas
ideias inaugurais que projetam, servem como fonte de inspiração, discussão e florescimento
de experiências enriquecedoras para os seres humanos e as sociedades, contribuindo,
inclusive, no desenvolvimento e/ou transformação individual e coletiva. Devido às ideias
relevantes e por terem sempre algo a mais para dizer, os clássicos se mostram sempre atuais,
resistindo à efemeridade do tempo e à diversidade de culturas com as quais dialogam.
Apesar da inquestionável importância das obras de Shakespeare, Camões, Fernando
Pessoa, Machado de Assis, Drummond, entre outros, que persistiram “como rumor mesmo
onde predomina a realidade mais incompatível”, haveria o risco de as sociedades futuras não
atribuírem nenhum tipo de valor às suas obras, levando-os à obscuridade e ao esquecimento?
Eagleton (1983) adverte que:
Todas as obras literárias, em outras palavras, são “reescritas”, mesmo que
inconscientemente, pelas sociedades que as lêem; na verdade, não há
releitura de uma obra que não seja também uma “reescritura”. Nenhuma
obra, e nenhuma avaliação atual dela, pode ser simplesmente estendida a
novos grupos de pessoas sem que, nesse processo, sofra modificações, talvez
quase imperceptíveis. (ibid, 13)
Desse modo, em cada época, as obras podem oferecer leituras diferentes de acordo
com os interesses, ideologias, preocupações da sociedade, ao mesmo tempo em que elementos
podem ser valorizados, outros tantos podem ser ignorados ou combatidos. De acordo com
Eagleton, “‘valor’ é um termo transitivo: significa tudo aquilo que é considerado como
valioso por certas pessoas em situações específicas, de acordo com critérios específicos e à
luz de determinados objetivos” (EAGLETON, 1983, p. 12). Por essa perspectiva, não é
possível atribuir valor de forma aleatória, para que certo cânone deixe de ser valorizado são
necessárias mudanças profundas na história e na sociedade, de modo que a obra que até hoje
perdurou, torne-se insignificante, estranha, totalmente alheia à forma de pensar e sentir de
uma dada sociedade.
O sociólogo polonês Zygmunt Bauman formulou o conceito de “liquidez” para se
referir ao momento vivido na História, em que tudo muda muito rapidamente e se desmancha
como líquido, desde as organizações sociais, até as próprias relações interpessoais. A
instabilidade, a insegurança e as incertezas dominam o homem contemporâneo. Nesses
46
“Tempos líquidos”42, a obsolescência é uma constante, os objetos são construídos para durar
pouco, a televisão, a máquina de lavar, os livros. Em nome da busca pelo novo, a sociedade
despreza em muitos momentos o antigo. Lidar com o efêmero é uma dos desafios da
Literatura contemporânea, afinal tudo que é produzido nesse cenário pode perder
imediatamente seu valor e desmoronar.
Se tal liquidez se intensificar, a sociedade seria capaz de continuar elegendo novos
cânones ou tudo que fosse escrito seria descartado? Os “sólidos” da literatura continuariam
ilesos numa sociedade empobrecida que cultua o presente sendo incapaz de recorrer ao
passado, ou melhor, à tradição literária? Essas são algumas questões cujas respostas somente
o curso da História poderá apontar. Enquanto isso, observamos o presente, que já salienta
algumas das novas configurações da literatura.
2.3. As práticas literárias na internet
Tomemos como ponto de partida para a discussão, a dificuldade observada pelos
críticos em definir as experiências literárias ocorridas no ciberespaço. Heloísa Buarque de
Hollanda43 - na introdução do seu site ENTER - adverte o leitor sobre o que vai encontrar,
fazendo uma dissociação entre a literatura canônica, já legitimada e perpetuada pela crítica
literária, e as “práticas literárias”, que, na maior parte das vezes, surgem na internet como
forma de escritores e aspirantes experimentarem e esgarçarem a palavra, abusando das
possibilidades de criação e da liberdade existentes na rede.
A terminologia “práticas literárias”- empregada por Heloísa Buarque de Hollanda para
nomear esses escritos - é, na verdade, variações ou desdobramentos da inquietude em definir
o que é literatura? Se já era difícil conceituá-la, com o surgimento dos novos meios
eletrônicos, as dúvidas a este respeito cresceram. O suporte tecnológico caracterizado por
mudar a postura de sujeitos envolvidos no processo literário, transfigurar espaço e tempo,
deslocar o “lugar” tradicional da literatura, “desterritorializando-a”, tende também a
desconstruir as noções de texto e literariedade, distanciando-se da literatura canônica.
Ao mesmo tempo em que há esse desdobramento da literatura saindo do papel e indo
para as telas do computador, ela se vê atravessada pela cultura midiática que ocupa uma
42
BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
Heloísa Buarque de Hollanda é professora titular de Teoria Crítica da Cultura da Escola de Comunicação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), coordenadora do Programa Avançado de Cultura
Contemporânea (PACC/UFRJ) e da Biblioteca Virtual de Estudos Culturais (Prossiga/CNPq) e diretora da
Aeroplano Editora Consultoria Ltda. Além disso, também produziu o site ENTER.
43
47
posição de destaque na sociedade44. A pesquisadora Ana Cláudia Viegas, em seu artigo “Uma
aventura literária por novas tecnologias”
45
, considera que “os próprios profissionais de
ensino, bem como os produtores culturais e os críticos são eles mesmos, hoje em dia, de certo
modo, formados pela mídia” (VIEGAS, 2002, p.15).
Assim, que consequências reais essas configurações histórico-sociais podem trazer
para o fazer literário? Antes de pensar tal questão, é necessário fazer uma ponderação, cuja
implicação é diretamente observada nas “práticas” produzidas na internet. Na literatura
impressa as funções dos agentes literários - autor, editor, distribuidor e livreiro - são bem
definidas e separadas. No suporte tecnológico, todas as funções podem ser desempenhadas
somente pelo escritor, responsável pela criação, edição e circulação de seus textos. Assim, em
vez de ficar numa posição de criador isolado à espera de ser reconhecido e legitimado pelos
críticos, ele desce de sua “torre do castelo”, produz sem a necessidade de nenhuma instância
legitimadora e publica. Neste ambiente, toda escrita já é uma publicação.
Essa liberdade de escrever e publicar fora dos circuitos socialmente validados,
associada à tentativa de buscar leitores – alguns afastados pela sedução do controle remoto e
outros que sequer se aproximaram dos escritos literários - faz com que o escritor dialogue
com as diferentes mídias, em vez de se posicionar contra elas, além de aproveitar todos os
recursos disponibilizados na web, aproximando-se das massas. Assim, a produção começa a
se hibridizar caracterizando-se pela remixagem de linguagem, gêneros e suportes. Como
consequência, lado a lado com poesia e prosa de nomes consagrados pelo cânone literário, o
meio digital oferece também um terreno para experimentações e práticas as mais diversas,
através do diálogo com o universo dos games, do cinema, da música e da internet. Para o
professor e crítico literário Sérgio de Sá, em A reinvenção do escritor: literatura e mass
media:
Esses estímulos midiáticos têm sido, em alguns momentos, positivos para a
literatura brasileira contemporânea. Ela saiu da torre do castelo, se interessou
pelo mercado e pelo leitor, deixou um pouco de lado a vontade de ser genial,
percebeu que se não fizesse isso seria completamente engolida. Prestou
atenção às exigências desse novo leitor-espectador. Por, isso esteve presente
na mídia. (SÁ, 2010, p. 19-20)
Entre as “práticas literárias” presentes na antologia digital de Heloísa Buarque de
Hollanda podemos, como ela mesma cita na introdução do site Enter, encontrar “a palavra
44
A televisão domina os momentos de lazer da maior parte da sociedade, e os temas por ela contemplados –
celebridades, jogos, novelas, reportagens – desdobram-se em conversas e discussões cotidianas. Uma cultura
oral e audiovisual é construída em detrimento da formação escolar clássica, letrada (pelo menos teoricamente,
visto que parte significativa da sociedade sequer chegou a desfrutar-se dela)
45
Disponível em: http://www.abralic.org.br/download/revista/Revista_Brasileira_de_Literatura_Comparada__06.pdf - Acesso em 06/06/2002.
48
rimada, a poesia na prosa, a prosa na música, a qualidade indiscutível nas novelas gráficas, a
palavra agilizada no dialeto dos blogs, orkuts e e-mail”. Neste contexto, a literatura dialoga
com a cultura popular, a cultura de massa, mescla os gêneros da ficção com os da não-ficção.
Heloísa Buarque de Hollanda afirma na introdução site Enter:
Outra característica importante das novas práticas textuais é a inédita
facilidade da passagem de um gênero a outro, de uma textualidade a uma
dicção de intensa visualidade ou sonoridade, da cada vez mais frequente
expressão no terreno fértil da convergência de mídias que marca as criações
em base digital. (...) O deslizar ou surfar (o oposto de confrontar e aderir)
entre gêneros, linguagens, suportes e mídias, pode ser definido também
como a expressão textual das formas de subjetividade mais fluidas ou
expandidas que o atual contexto permite e estimula.
Sérgio de Sá, no livro já referido, recorre a Silviano Santiago para mostrar a
interdependência que existe entre os escritores e os mass media “estamos em tempos de
hegemonia da cultura de massa, a literatura deve, necessariamente, levar em conta o desvio
que essa cultura abriu na história das artes no século XX” (SANTIAGO, 2004 apud SÁ, 2010,
p.29) e apresenta três possibilidades diferentes, na concepção do escritor argentino Ricardo
Piglia, que os autores utilizam na contemporaneidade, de acordo com seu afastamento ou
aproximação com as diferentes mídias, para construção de suas obras. (SÁ, 2010, p.31).
Desse modo, avaliarei essas três possibilidades em obras construídas em território digital.
O primeiro desses caminhos é a recusa total à cultura de massa. De fato, esse é um
caminho bem mais difícil de ser encontrado entre os jovens escritores, já que muitos foram
educados numa cultura mais midiática e se valem dela para obter reconhecimento. Até mesmo
nomes consagrados da Literatura estão presentes na mídia. Para elucidar tal questão cito como
exemplo o site Portal Literal, disponível para livre acesso na rede por meio do endereço
eletrônico http://www.literal.com.br. É administrado por Heloísa Buarque de Hollanda e
configura-se como um espaço de produção coletiva que também hospeda sites oficiais de
escritores já consagrados pelo cânone literário brasileiro.
O portal é classificado pela autora como “um projeto que pretende levar à internet o
melhor da produção literária nacional”
46
e armazena informações sobre vida e obra de
escritores consagrados como Ferreira Gullar, Rubem Fonseca, Lygia Fagundes Telles, Zuenir
Ventura, Luis Fernando Veríssimo, dentre muitos outros. Assim, em meio a entrevistas,
vídeos em eventos, bibliografia, fotos, é possível acessar também trechos de diferentes contos
desses escritores, dando ao leitor a chance de conhecer um pouco sobre cada autor, e de certa
46
A entrevista está disponível em: http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/?p=736&cat=11. Acesso em
12.06.2012.
49
forma, despertando o interesse em adquirir suas obras. Rubem Fonseca é conhecido por ser
um típico escritor avesso a mídias, entrevistas, discursos e afins, mas está inserido no projeto
do site.
Ilustração 5: Portal Literal
O segundo caminho que vem sendo utilizado pelos escritores, em suas obras, como
mostra Sérgio de Sá, é o apagamento das marcas limítrofes entre alta e baixa cultura, para
atingir o público leitor que se distanciou da literatura em favor das mídias: “Convoca-se o
popular para dialogar com o erudito, retrabalham-se os formatos mais difundidos pelos meios,
para daí o escritor extrair um caldo equilibrado” (SÁ, 2010, p. 31).
Para ilustrar tal questão, cito como exemplo, a obra da autora Ana Paula Maia e Gog47,
conhecido como poeta do rap nacional, ambos convidados a fazer parte da antologia digital
Enter. A escritora Ana Paula Maia, em sua participação, utilizou trechos de suas obras Entre
rinhas de cachorros e porcos abatidos48- uma novela folhetinesca na internet, escrita em doze
capítulos - além de trechos da obra A guerra dos bastardos (2007) e o conto “Teu sangue em
meus sapatos engraxados”. Ao acessar os textos da autora, o leitor tem a possibilidade de
47
Gog é criador do Só Balanço, primeiro selo independente de um rapper no país. É conhecido pelo discurso
contundente sobre a periferia brasileira e por estreitar laços com a MPB e a literatura.
48
Disponível em www.folhetimpulp.blogspot.com. Acesso em 13.06.2012.
50
escolher o áudio com a própria autora fazendo a leitura do primeiro texto ou o vídeo com a
obra dramatizada do segundo, trabalhando fronteiras imprecisas entre a literatura e o cinema.
Ilustração 6: Site Enter
Já o rapper apresenta três textos e também a possibilidade de áudio e vídeo,
dialogando com a música e o cinema. Eis um exemplo de sua produção disponível na
antologia digital Enter:
Obra incompleta
A mente abre...
Como as compotas de uma grande usina
Gerando....
E liberando energia para carregar a pilha alcalina.
Que abastecerá neurônios.
Começo a enxergar, vultos, animações,
Através do que ainda é...
Uma pequena fresta.
Contatos...
Imediatos...
Na imensa floresta.
A mente do Médium
Em festa,
Infesta.
As peças...
51
Que pregaram uma grande peça.
Começam a se encaixar.
A obra - incompleta.
Está...
A se desenhar.
Terra em Transe
Mundo alheio.
Lá vem...
Ela vem.
E vem!
Psicografada.
A letra não é a minha.
É de alguém que nos contacta.
A caneta só adapta.
Ela vai tomando forma:
Abundante,
Diamante,
Escaldante.
Compacta
Repleta.
O fio condutor...
O potente transmissor...
Se desconecta.
Despede-se do Poeta.
Eis que a obra está:
- COMPLETA!
(GOG)
A terceira saída apontada por Sérgio de Sá diz respeito a inserir material nãoficcional, testemunhos, reportagens, autobiografias na literatura. Essa tendência é muito
praticada nos blogs em que há uma certa proliferação de narrativas autobiográficas e/ou
ficcionais como imitação da realidade (assunto já comentado no capítulo 1)
Certas práticas literárias que surgem na web, ainda timidamente, não pouparam a
poesia de experimentalismos diversos, por parte de alguns escritores. Como consequência, ela
começa a adquirir formatos próprios em meio digital, aproveitando todas as possibilidades
que o suporte tecnológico oferece tais como: hipertextualidade, multiplicidade, interatividade
e escrita compartilhada. O processo criativo de uma poesia no ciberespaço passa a não ser
condicionado a algo, exclusivamente, literário, há a possibilidade de o escritor pensar um
modo diferente de o leitor brincar com as palavras e construir sentido, unindo as diversas
formas de linguagem artísticas que convivem hibridamente em tal ambiente: artes visuais,
52
música, fotografia, cinema, pintura. Desse modo, o efeito estético de uma poesia “digital”
impõe uma dimensão artística que extrapola a sua convencional dimensão literária.
Para elucidar algumas práticas envolvendo a escrita poética, cito, como exemplo, a
poesia interativa “Oratório”, escrita por André Vallias49, que mistura textos, imagens e sons,
levando o leitor para diversos caminhos de navegação. Um deles nos leva a fazer uma viagem
diferente até o Rio de Janeiro e alguns lugares como o Sambódromo, o Corcovado e a
Rocinha. Quando os pontos são clicados, surge uma poesia. Se o leitor decidir ir até o final,
encontrará a sobreposição dos versos. A poesia só se concretiza com a interação do leitor que,
por meio dos cliques, constrói o poema.
Ilustração 7: Poesia interativa “Oratório”
Outra prática literária registrada na web é a criação colaborativa e a escrita
compartilhada, em que a obra vai sendo construída com a ajuda dos leitores por meio da caixa
de comentários. O blog Wikesia50 foi produzido por alunos do curso de Comunicação Social
da Universidade Federal do Pará, que, em 2007, realizavam um trabalho sobre ciberpoesia e
49
50
Disponível em http://www.andrevallias.com/oratorio/. Acesso em 14.06.2012.
Disponível em http://wikesia.blogspot.com. Acesso em 14.06. 2012
53
gostariam de ter a experiência de construir uma poesia de forma colaborativa no próprio
ciberespaço. Ao acessar o blog, é possível encontrar de imediato a proposta feita aos leitores:
O que você acha de construir uma poesia a quatro, cinco, seis, 'n' mãos? Essa
é a proposta deste blog. A ideia é criarmos poesias de forma colaborativa,
onde cada leitor poderá sugerir a próxima palavra, verso, estrofe, frase, etc.
É claro que poesias são profundas expressões sentimentais do autor, portanto
individuais. Mas a proposta é exatamente quebrar essa individualidade. Para
cada poesia teremos uma "fonte inspiradora" que poderá ser uma imagem,
frase, texto, trecho de uma ou outra poesia.
A imagem postada evidencia o convite para a colaboração dos leitores na produção de
uma poesia coletiva. Foram seis comentários, contendo, entre agradecimentos dos
idealizadores do projeto, contribuições de leitores que foram, imediatamente, agregadas ao
corpo do texto. Eis o resultado:
Ziraldo não me desenhou
Não sou o Menino Maluquinho
Sou de um povo que não vingou
Um povo sem carinho
A fila é longa
A realidade assombra
Por que este castigo?
Melhor não ter nascido
Nascido num mundo de sombras
Onde brincar não tem sentido
54
Não para nossas crianças
Que não tem nem um leite vivo
As ruas é a minha casa,
O verde a minha distração
Quando a fome aperta
Num caminho sem direção
Meus pés descalços podem chamar sua atenção
Minha barriga vazia, pode fazer você ter alguma ação
Mas meu desespero é maior que qualquer imensidão.
Longe de atribuir qualquer tipo de valor às práticas aqui descritas, este tópico
pretendeu fazer um breve mapeamento das diferentes práticas literárias presentes na web, que,
de certa forma, surgem pelo impacto das diferentes mídias e do efeito da mídia eletrônica.
Algumas dessas práticas ainda aparecem esporadicamente, outras, por sua vez, já constituem
uma certa tendência na literatura contemporânea. Como avaliar tais práticas? Quem é
responsável por dar a chancela a essa nova produção? Como se comportam os críticos frente a
essa literatura? Essas questões serão desenvolvidas no tópico seguinte.
2.4. Valor estético em tempos digitais
No dia 04.04.2011, o blog do Instituto Moreira Salles51 publicou um debate entre os
críticos Alcir Pécora52 e Beatriz Resende53. As declarações de ambos sobre a literatura
brasileira contemporânea provocaram reações diversas entre críticos e escritores. A discussão
tomou uma proporção ainda maior quando Alcir Pécora escreveu semanas depois o artigo “A
hipótese da crise” publicado no suplemento literário “Prosa & Verso” do jornal O Globo do
dia 23.04.2011. Neste artigo, Pécora chamou a atenção do leitor para uma situação de crise
que vive hoje o campo literário, observável pela relativa perda da capacidade da literatura de
se mostrar relevante. Segundo o crítico:
Escrever literatura, para mim, entretanto, é um gesto simbólico que traz uma
exigência: a de ser de qualidade [...] A literatura, como toda a arte, é em
primeiro lugar techné, técnica, produção objetiva. Não basta ser
conhecimento, tem de produzir o que não é, o que não há. (grifos meus)
Assim como Pécora, parte dos críticos não vê positivamente a produção
contemporânea, ignora o presente ou é relutante em relação a se aventurar pela literatura
51
Disponível em http://blogdoims.uol.com.br. Acesso em 10.09.2011.
Alcir Pécora é professor da Unicamp e crítico literário.
53
Beatriz Resende é professora, ensaísta e também pesquisadora do PACC – Programa Avançado de Cultura
Contemporânea da UFRJ.
52
55
abrigada na web. Cito o artigo Os burros e os pavões: a e-literatura precisa de críticos sem
medo do crítico Arnaldo Jabor, publicado no “Segundo Caderno” do jornal O Globo de
27.03.2012. Aberta e ironicamente, Jabor critica a produção literária em meios digitais.
Segundo ele,“estamos numa fase de exaltação de ‘quantidade’, como se a profusão de temas e
criações substituíssem a velha categoria da ‘qualidade’”.
A recusa dos críticos literários se deve, em parte, pelo fato de não aceitarem que o
invólucro que abrigava a literatura tenha sido rompido. O “lugar” da literatura em território
digital passa a ser “lugar de todos”. O fazer literário - marcado pela aura do sagrado e
individualização da produção - é desconstruído. A literariedade, critério que desde os
formalistas russos é considerado importante para a “qualidade” da obra, vem sendo
relativizado em nome do contexto em que a obra está inserida. O escritor que era, no passado,
considerado o mestre da palavra, alguém superior, é desnudado com suas aparições na mídia e
aproximação com leitores. Esses fatores, somados ao hibridismo de gêneros, linguagens e
suportes a que a literatura vem sendo submetida, contribuem para um afastamento em relação
à literatura canônica - parâmetro tido por eles de valor e qualidade.
Concomitantemente, alguns críticos assumem uma postura avessa à produção literária
da web, por considerarem que não há por parte dos escritores um trabalho pertinente com a
linguagem, faltando, inclusive para alguns, o domínio da língua, considerando que eles não
fazem literatura. Além disso, outra crítica gira em torno da condição de muitos não terem a
formação literária, desconhecendo os autores clássicos e a própria tradição da literatura.
Diante desse contexto de negativas, busquei como estratégia metodológica uma
pesquisa de observação participante (assunto em que me deterei no próximo capítulo), em que
pude analisar os ambientes por onde circula a literatura, especialmente, sites e blogs literários.
A partir dessa análise, elegi blogs de autoria de escritores já legitimados pela crítica e com
obras impressas e enviei por email uma entrevista. Entre outros objetivos, queria compreender
a relação que mantinham com os cânones literários. As respostas colhidas são de extrema
importância para a discussão empreendida nesse capítulo e me valerei delas para confrontar
com a visão negativa dos críticos em relação às práticas literárias da web. Ao ser questionado
sobre a relação que possuía com os cânones e se considerava a leitura canônica importante
para a condição de escritor André de Leones54 afirma:
54
André de Leones possui quatro livros impressos: Hoje está um dia morto (romance, Record), Paz na Terra
entre os monstros (contos, Record), Como desaparecer completamente (romance, Rocco) e Dentes negros
(romance, Rocco). Possui o blog Perdiídiche. Disponível em http://vicentemiguel.wordpress.com/. Acesso em
03.05.2012
56
(...) Ler os clássicos é imprescindível. Porque são clássicos, isto é, obras cuja
relevância e interesse são atemporais, eles nos oferecem visões únicas sobre
a nossa condição, não importa onde estejamos. (...) É uma obrigação do
escritor conhecer os autores que fizeram da literatura o que ela é. Não
consigo, por exemplo, imaginar um bom cineasta que não conheça a fundo a
história do cinema ou um bom músico que não ouça as obras dos grandes
compositores. Não poderia ser diferente com a literatura. (Ver ANEXO E)
Os escritores e, ao mesmo tempo, blogueiros Alice Sant’anna, Cecília Gianetti55 e
Alexandre Inagaki56, que participaram da antologia digital Enter com suas práticas literárias,
também deram seus depoimentos:
Há os cânones respeitados, que parecem distantes e impõem seriedade. Mas
há os cânones que escolhemos como nossos preferidos. Eles nos inspiram a
escrever, ao mesmo tempo em que nos paralisam, porque desenham uma
linha inatingível, e é impossível “chegar lá”.(...) Com certeza é importante,
para conhecer melhor seu terreno, saber onde se está pisando. No entanto,
como falei, cada poeta elege seu cânone, seu paideuma, e podemos ter como
canônicos escritores de 20 anos, que respeitamos tanto quanto os já
consagrados. Não consigo muito ver essa distinção entre os canônicos já
extensamente aclamados e os da nossa própria geração. (Resposta de Alice
Sant’anna, Ver ANEXO D).
Eu preciso lê-los, como todo escritor, mas cada leitor possui seus cânones.
Não peguei uma lista pronta de cânones para seguir. (Resposta de Cecília
Gianette, Ver ANEXO G)
Já fui um leitor mais contumaz dos cânones. Quando tinha mais tempo livre,
li Machado, Goethe, Shakespeare, Mann, Faulkner, Borges, Baudelaire,
Melo Neto e diversos outros mestres que foram fundamentais na minha
formação. (...) Os cânones não ganharam a condição de clássicos à toa.
(Resposta de Alexandre Inagaki, Ver ANEXO C)
Diante dessas respostas, é possível rebater o preconceito existente no mundo
acadêmico em relação à falta de bagagem e formação literária existente por parte de escritores
da web. Desse território digital, vem surgindo nomes que se destacam e, pela visibilidade e
número de acessos que possuem, logo são convidados a fazer parte de sites, revistas literárias
ou mesmo antologias digitais como a proposta por Heloísa Buarque de Hollanda. Os próprios
depoimentos aqui citados demonstram que existem escritores que produzem na web e que são
leitores refinados, conhecedores da tradição literária, que são, por essa razão, capazes de
55
Cecília Gianetti é escritora. Publicou o romance Lugares que não conheço, pessoas que nunca vi, que foi
publicado pela Ediouro/Agir em 2007. Foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2008. Foi coautora da
minissérie Afinal o que querem as mulheres, da TV Globo, do Núcleo Luiz Fernando Carvalho, em 2010. Possui
o blog Escreveescreve. Disponível em: http://escrevescreve.wordpress.com/. Acesso: 06.05.2012.
56
Alexandre Inagaki é jornalista e escritou. Participou de duas coletâneas impressas de contos, nos livros Blog
de Papel (Editora Gênese, 2005) e Retratos Japoneses no Brasil (Editora Annablumme, 2010). Possui o blog
Pensar Enlouquece, Pense Nisso. Disponível em: http://pensarenlouquece.com/. Acesso em: 06.05.2012
57
eleger seus próprios cânones, suas preferências literárias, incluindo até mesmo seus
contemporâneos, que contribuem para sua formação enquanto escritor.
Após fazer esses apontamentos, é importante salientar, contudo, que, como foi
mencionado no tópico anterior, as gerações que convivem em meio digital também se
mostram absorvidas pela mass media. Para Sérgio de Sá (2010), “a decisão de ser escritor não
vem mais da descoberta da fantasia nas páginas dos livros. O cinema e a televisão concorrem
com o que Sylvia Molloy chama de ‘a cena da leitura’, momento epifânico de contato com o
livro e mais adiante, com a escritura” (2010, p.30). As próprias referências para construção da
obra literária não são buscadas somente nos cânones, ou preferências literárias, mas também
na cultura de massa como é o caso do já citado escritor e blogueiro Wilton Cardoso:
(...) No meu caso, por exemplo, alguns compositores de rock, como Raul
Seixas, Humberto Gessinger, Lobão e Renato Russo são muito importantes
para a minha poesia, mesmo que sejam ingênuos e toscos em suas
composições. Suas músicas têm uma energia e uma revolta que eu gosto
muito. Acho que eles fazem, para mim, o papel que as cantigas e artistas
populares fizeram para os poetas do modernismo. São a fonte pop onde
bebo. (Ver ANEXO N)
Se tomarmos como pressuposto que a literatura está cada dia mais condicionada ao
mundo em que vivemos e fortemente influenciada por meios que até então não existiam fica
evidente a necessidade de avaliá-la sob outros critérios que não somente os literários, visto
que outras variantes começam a compor a produção. É preciso ferramentas diferentes para
analisar uma literatura cada vez mais condicionada por outros fatores que não apenas os
livrescos, da cultura impressa.
Desse modo, embora possuam o domínio da linguagem, muitos dos escritores da web
não conseguem abster-se das influências operadas na sociedade pela cultura midiática e pelo
repertório de possibilidades trazido pelas novas tecnologias. Assim, por que preservar a
literatura ao confinamento de uma única linguagem artística? Por que ainda “torcer o nariz”
para quem toma partido de outras mídias, suportes e tecnologias na produção de suas obras?
Por que as fronteiras entre os gêneros devem ser tão bem delimitadas, se a tendência do leitor
hipertextual da web é justamente o deslizar e o “surfar” por entre textos e gêneros os mais
diversos? Será que já não é hora de substituir a pergunta “O que é literatura?”, de caráter
exclusivamente formalista, por uma perspectiva mais pragmática considerando o momento
histórico-social em que vivemos? Não seria melhor refletirmos sobre “O que é considerado
literário”? E em que circunstâncias?
58
Para Maira Purula57, a leitura dos cânones é importante “até para aprender e fugir
deles, em busca de um estilo próprio”, como mostra o ANEXO J. Esse estilo foi o que levou o
escritor Marcelino Freire (2008) citado pelo pesquisador Karl Erik Schollhammer, em sua
obra Ficção brasileira contemporânea (2009), a comentar: “De fato escrevo curto e sobretudo
grosso. Escrevo com urgência. Escrevo para me vingar. E esta vingança tem pressa não tenho
tempo para nhenhenhéns. Quero logo dizer o que quero e ir embora” (FREIRE, 2008 apud
SCHOLLHAMMER, 2009, p.10) . Essa posição é reiterada no blog do escritor Marcelino
Freire, na postagem do dia 28.05.2012, demonstrando sua relação com linguagem:
Escrever bonito é uma merda. Não queira esse elogio de ninguém. Soa tipo
essa: você escreve tão bem. Você nos toca. Ave nossa! Fuja dessa mentira.
Dessa falácia! Não procure palavras gloriosas. Maquiagens pesadas. Botox
nas frases. Bom é verbo velho. Enrugado. O peso exato de cada parágrafo.
Nem mais nem menos. Fique longe, sempre digo, de qualquer sentimento.
Releia, agorinha, aquele seu conto. Ponto por ponto. Se, aqui e ali, você
parar a leitura para suspirar. Jogue fora o suspiro. Tudo que for adjetivo
elevado. Enganoso. Xô, ao lixo! Não presta para a poesia o que é
cerimonioso. Solene. Também não invente termos acadêmicos. Gregos
pensamentos. Arrodeios na língua. Lembre-se: todo livro nasce falido.
Raquítico. Você critica tanto o discurso político. E faz o mesmo na hora de
escrever. Usa gravata para parecer ser. E não fica sendo, nem um tiquinho,
parecido com você. Esta pobre imagem que avistaremos no espelho. Antes
de morrer. Nosso! Faz tempo que eu não falava assim tão bonito. Que
merda! Pode crer.
O pesquisador Karl Erik Schollhammer (2009) mostra que as palavras “urgência” e
“vingar” empregadas por Marcelino Freire se relacionam à necessidade de a escrita se impor e
atingir seu alvo, não significando simplesmente pressa ou alvoroço. “O essencial é observar
que essa escrita se guia por uma ambição de eficiência e pelo desejo de chegar a alcançar uma
determinada realidade (...)” (SCHOLLHAMMER, 2009, p.11). Portanto, é possível perceber
que o modo encontrado pelo escritor para tentar lidar e intervir na realidade presente
conturbada é valendo-se da linguagem desnudada de desfamiliarização e estranhamentos.
A professora e pesquisadora Giovanna Dealtry58 publicou o artigo “A crítica como
exploração” no suplemento literário “Prosa & Verso” do jornal O Globo do dia 30.04.2011
em resposta às considerações feitas pelo crítico Alcir Pécora. Nele, Dealtry demonstrou um
olhar diferente em relação aos escritores contemporâneos, ao considerar que parte deles inova
57
Maira Parula é escritora. Nos anos 1970 e 1980, participou da poesia marginal, tanto pelos temas
abordados, como pelos meios de produção. Possui uma obra impressa publicada pela editora Rocco
Não feche seus olhos esta noite. Mantém o blog de literatura e arte Prosa Caótica. Disponível em
http://prosacaotica.blogspot.com.br/. Acesso em 06.05.2012.
58
Giovanna Dealtry é professora da PUC-Rio e organizadora com Stefania Chiarelli e Masé Lemos do livro
Alguma Prosa – ensaios sobre literatura brasileira contemporânea.
59
ao tentar reinventar a própria tradição do literário e questionar a técnica, principalmente a
estrutura romanesca formalizada no século XIX, que permanece sendo o grande modelo
narrativo até os dias atuais. Talvez seja o que alguns escritores surgidos no meio digital
estejam fazendo. Sem desconsiderar os cânones e sem ignorar o tempo em que vivem, tentam
imprimir um olhar diferenciado às suas produções.
Ao ser questionado, em entrevista disponível no ANEXO Q, sobre a existência de
blogueiros sendo bons aspirantes a escritores, o escritor Fabrício Carpinejar59 comenta:
“Considero parte de blogueiros como escritores. Depende de qual a bagagem, da constância,
da densidade da linguagem. Não podemos confundir expiação com literatura. Literatura não é
exorcismo, mas quando o demônio fica”. A imagem utilizada pelo escritor do “demônio que
fica” é o que deve mover qualquer parâmetro de julgamento em ambiente digital - parâmetros
esses que obviamente não negligenciem técnicas literárias e de linguagem - inclusive, para
desconstruí-las e produzir “o que não é, o que não há”, como ponderou Pécora - mas sem se
restringir somente a elas. O leitor, independente do suporte, dos hibridismos, dos diálogos
estabelecidos com outros meios deve se sentir rendido, possuído, dominado e envolvido pela
leitura, como num efeito de “nocaute”.
No Jornal do Brasil de 27.11.2004, os professores, críticos literários e ficcionistas
Flávio Carneiro e Italo Moriconi discutem a relação com a produção literária contemporânea e
a literatura canonizada. Para Flávio Carneiro:
Não há mais uma nova Clarice ou um novo Rosa porque já não cabe, hoje,
uma escrita tão personalizada quanto a deles. Clarice e Guimarães são os
últimos remanescentes das vanguardas do século 20. Criaram, cada qual à
sua maneira obras de forte experimentação de linguagem, às vezes,
chocando ou pelo menos incomodando seus contemporâneos. Hoje já não há
espaço para isso. O que é muito bom. (...) O que vejo hoje é algo que
costumo chamar de transgressão silenciosa. Uma transgressão que evita o
estardalhaço, que não chama a atenção, que vai roendo por dentro. Quem
reclama da falta de uma nova Clarice ou de um novo Guimarães Rosa deve
rever seus conceitos de originalidade, de inovação. Há muita coisa original
na ficção brasileira dos últimos anos, e os melhores autores, na minha
opinião, são justamente aqueles que enveredam por uma transgressão
silenciosa.
A “transgressão silenciosa” citada por Flávio Carneiro nos faz refletir sobre o
argumento de críticos e acadêmicos que consideram que na contemporaneidade não é possível
59
Fabrício Carpinejar - jornalista, poeta, mestre em Literatura Brasileira pela UFRGS e escritor de diversas
obras impressas, entre elas: Caixa de Sapatos (Companhia das Letras, 2003), Filhote de cruz credo (A GIRAFA
EDITORA, 2006), Meu filho, minha filha (Bertrand Brasil, 2007), Diário de um apaixonado: sintomas de um
bem incurável (Mercuryo
Jovem, 2008). Possui o blog Carpinejar. Disponível em:
http://www.carpinejar.com.br/home.htm. Acesso em 06.05.2012.
60
criar nada novo, com vitalidade que sobreviva ao tempo, tal qual sobreviveram os clássicos
por eles venerados. Eis o contra-argumento: Quando Fernando Pessoa era jovem já existiam
Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, se ele deixasse de produzir por acreditar que tudo já
tinha sido escrito, não seríamos agraciados com seus heterônimos. A utilização de elementos
de um período anterior, para julgar a qualidade e menosprezar o posterior, se fosse
procedimento efetivo, não teria proclamado Pessoa como um grande escritor.
O grande problema é a indiferença dos críticos, como aconteceu em grande parte da
história literária, em que escritores começaram a ser lidos e prestigiados depois de mortos.
Muitos nem sequer se tornaram conhecidos, tendo seus escritos perdidos pelo efeito do
tempo. A internet, nesse sentido, permite que todos possam vir a ser lidos, indistintamente. Os
melhores serão proclamados e arquivados em sites tal como o Portal Literal, já faz com alguns
contemporâneos. Outros serão esquecidos como um livro na estante, empoeirado e com
traças, mas poderão também ser resgatados a qualquer momento pelas gerações futuras.
Compagnon (2003) mostra que para Adorno a inovação precedente só é
compreendida, posteriormente, à luz da inovação seguinte: “O afastamento no tempo
desembaraça a obra do seu quadro contemporâneo e dos efeitos primários que impediam que
ela fosse lida tal como é em si mesma”. (COMPAGNON, 2003, p.252)
Enquanto esperamos os efeitos do tempo, sugiro uma análise nos novos modos de
produção da literatura.
61
3. MODOS DE PRODUÇÃO DA LITERATURA NA INTERNET
Percorremos alguns caminhos tentando desbravar as facetas da literatura inserida nesse
território novo e complexo que é o ciberespaço. Até o momento, foi possível constatar que
alguns instrumentos possíveis no suporte digital ou potencializados por ele – hipertexto e
interatividade - alteram profundamente as relações entre autor/leitor e leitor/obra. As práticas
literárias representando toda a pluralidade e heterogeneidade das experiências literárias,
também tendem a modificar as relações entre autor/obra, alterando também o processo de
criação e produção da literatura.
Assim, as indagações desenvolvidas nesse capítulo seriam relacionadas ao próprio
circuito literário em rede. Compreender, por exemplo, por qual razão um escritor decide
produzir em rede. Estariam os autores absorvendo as potencialidades do suporte na produção
digital? O leitor consegue utilizar seu poder e interferir realmente na produção? Quais são as
reais mudanças que o suporte trouxe, até o momento, para a literatura? Quem é agência que
chancela a qualidade da produção na Grande Rede?
3.1. Reflexões sobre uma literatura linkada
Webliteratura, ciberliteratura, literatura eletrônica, literatura digital, diferentes são as
denominações para as práticas literárias que surgem em ambiente digital. Muitos escritores e
aspirantes, todavia, confundem divulgação e produção na web. O suplemento literário “Prosa
& Verso” do jornal O Globo de 04.09.2010 publicou o artigo “Autor à deriva: ciberliteratura
62
borra fronteiras entre escritor e leitor, testando limites das narrativas tradicionais”. Nele são
discutidas, entre outras questões, o que de fato diferencia a “ciberliteratura” da “literatura
convencional”. Segundo a jornalista Adriana Barsotti:
A singularidade das obras do gênero reside no fato de terem sido
especificamente criadas para o formato digital, explorando todas as suas
funcionalidades. Por isso, estão excluídas desse conceito obras
originariamente criadas para o suporte impresso e que foram e vêm sendo
publicadas por jovens autores na internet ou digitalizadas para serem
vendidas em lojas virtuais de e-books.
Assim, o que diferencia a literatura que se apropria do suporte tecnológico da impressa
não é o meio por onde ela é distribuída – web, ciberespaço, blogs, e-readers, por exemplo mas a forma como é produzida, é necessário, pois, que possua elementos que remetam ao
formato digital, explorando todas as suas especificidades. As narrativas dos meios digitais
devem adquirir formatos próprios, utilizando-se de recursos que o impresso não comporta.
A literatura no formato propriamente digital é, fundamentalmente, pautada no
hipertexto, que embora seja também um recurso utilizado de maneira impressa, de forma não
obrigatória, é potencializado pelo suporte digital, envolvendo não somente a palavra, mas o
som e a imagem. O hipertexto, em ambiente digital, vale-se dos links que são percorridos pelo
leitor para a atualização e concretização da leitura. Literatura linkada é um termo que não
sugere somente um espaço propriamente, mas a especificidade daquilo que ali deve ser
produzido. Diante disso, a preferência por optar por esse termo, desse momento em diante,
quando mencionar essas práticas literárias produzidas, exclusivamente, na internet.
A jornalista Adriana Barsotti apresenta, ainda, nesse mesmo artigo do suplemento
literário “Prosa & Verso”, uma das problemáticas que circundam a literatura linkada, gerada
pela proximidade entre leitor e escritor no aparato tecnológico, embaralhando, em alguns
momentos, suas funções e trazendo implicações para o fazer literário. Na literatura impressa o
papel do leitor sempre foi importante: imaginando personagens, dando sentido à obra com
seus conhecimentos prévios, ligando os elos em uma narrativa hipertextual impressa. Sua
atitude não era passiva. O que ocorre é que em certas narrativas construídas em ambiente
digital - a ficção interativa, por exemplo, - busca-se uma interferência maior do leitor,
colocando em xeque a própria questão da autoria.
A professora norte-americana Janet Murray, referência no que diz respeito à narrativa
interativa, comenta que “autores continuam tendo controle sobre suas histórias, mas num
nível diferente. Eles controlam as regras pelas quais os leitores podem se mover em seus
63
romances e o que podem fazer dentro do universo ficcional criado por eles”. O livro
“Façade”60, dos americanos Andrew Stern e Michael Mateas (2005), resenhado por Adriana
Barsotti, no suplemento “Prosa & Verso” do jornal O Globo de 04.09.2010, é um caso
exemplar:
(...) é uma ficção sobre um casal que discute às vésperas de completar dez
anos de casamento. Baseadas nas opções do leitor/jogador, a história segue
por diferentes desfechos. Se o leitor faz comentários sexuais provocativos,
enerva o marido e a mulher, fazendo-os interromper a discussão. Se oferece
palavras de consolo, pode tomar partido de um ou de outro. Embora seus
autores o definam como um drama interativo, a crítica tratou-o como game.
O jornal O Globo online61 acompanhou a mesa redonda A tecnologia que interfere nos
caminhos da literatura, ocorrida no Café Literário da Bienal do Livro 2011 do Rio de Janeiro,
colhendo, inclusive, entrevistas com os escritores. O evento reuniu a jornalista Cristiane Costa
e escritores, entre eles Paulo Scott62 e Simone Campos63, que conversaram sobre a
interferência da tecnologia na transformação dos caminhos da literatura contemporânea. Os
autores comentaram suas obras e partilharam suas experiências criativas, mostrando projetos
literários que extrapolam as páginas escritas através do diálogo com o universo dos games, do
cinema, da música e da internet.
A autora Simone Campos transita entre o livro-jogo e a ficção interativa, cuja premissa
é fazer o leitor interagir com a história e determinar seus rumos. Neste modelo, desenrola-se
seu novo livro Owned – um novo jogador. A história de um técnico de informática viciado em
games conta com 274 páginas e 17 desfechos possíveis. Na história, a cada capítulo, o leitor
decide qual caminho o protagonista deve tomar. A cada opção, o leitor cumpre uma das
possíveis histórias da trama em aberto idealizada por Simone, que mantém também uma
plataforma on-line, que permite ao leitor gravar os passos que determinou ao personagemguia da história. Para a já citada pesquisadora Cinthya Costa Santos:
O aparato tecnológico desestabiliza o sujeito, problematiza a subjetividade,
desenraiza o tempo e o espaço [...] A representação é substituída pela
simulação, a obra torna-se interativa e o autor, a quem já foi atribuído o
estatuto de fonte e origem da literatura, é questionado como proprietário
privado do texto. (SANTOS, 2002, p. 2)
60
Disponível em http: // www.interactivestory.net/. Acesso em 05/09/2010.
Disponível em: http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/. Acesso em 16/09/2011.
62
Paulo Scott é escritor autor de Ainda orangotangos (2003) e Voláteis (2005), que será adaptado para o cinema.
63
Simone Campos é autora do romance No shopping (2000), publicado quando ela tinha apenas 17 anos, e com
textos incluídos em coletâneas de contos como Geração 90: os transgressores e 25 mulheres que estão fazendo a
nova literatura.
61
64
Heloísa Buarque de Hollanda faz certas restrições a práticas como essas em que vários
desfechos são possíveis dependendo das escolhas do público. Segundo a crítica64:
O papel do leitor já é levado em conta há pelo menos 40 anos, desde Jorge
Luis Borges e Italo Calvino, que geraram uma atitude menos convencional
de leitura. Mas, o autor legitima, dá valor à obra. (...) O fim é fundamental
para o paradigma a que estamos acostumados. Sem ele, não sei como será a
experiência literária. Não consigo me deliciar com romances digitais. Falta
mais autor neles.
Além da ficção interativa, outra prática utilizada que embaralha as funções de autores
e leitores diz respeito à escrita colaborativa. No capítulo anterior foi mostrado um exemplo de
poesia colaborativa no blog Wikesia. É importante ressaltar que experiências envolvendo a
escrita coletiva não são novidades da literatura linkada, experimentos nesse formato já
ocorreram em obras impressas. O suporte somente facilita por conter elementos – caixa de
comentários, email, scraps - que favorecem a escrita a várias mãos. A jornalista Adriana
Barsotti noticiou em seu artigo a experiência feita pelo escritor Neil Gaiman que se envolveu
numa escrita colaborativa, ao dar o pontapé inicial na construção de um conto, postando uma
frase de 140 caracteres no twitter, que, por sua vez, foi complementado pelos seguidores
cadastrados.
Diante dessas práticas, faz-se necessário um estudo mais detalhado do ambiente
digital para observar o circuito da produção e compreender a maneira como os escritores se
valem das possibilidades do suporte.
3.2. Uma literatura linkada? Ponderações sobre a produção da literatura na internet
Para avaliar se os escritores estão modificando os modos de produção em decorrência
das potencialidades do suporte e criando, com isso, uma literatura diferenciada do formato
impresso, decidi, como primeiro procedimento metodológico, investigar sites e blogs
literários. Como o universo dos blogs é muito grande, foi necessário fazer categorização para
restringir o meu objeto de pesquisa.
Por meio de diferentes visitas, pude separá-los em três categorias: a primeira referente
a blogs de autoria de escritores já legitimados pela crítica e com obras impressas; a segunda
formada por blogs mantidos por pessoas que estão fora do circuito literário tradicional65, mas
que possuem pretensões literárias, publicando na internet; e a terceira enquadrando os blogs
64
65
Disponível no suplemento literário “Prosa & Verso” do jornal O Globo de 04.09.2010
Chamo de “circuito literário tradicional” a condição de ter livro impresso.
65
de pessoas que encontram na rede um canal para externar, por meio da palavra, suas emoções,
sentimentos e desabafos, com o fim em si mesmo, sem pretensões literárias.
Para a discussão aqui estabelecida, interessa-me, prioritariamente, aqueles de autoria
de escritores já legitimados pela crítica e com obras impressas, além daqueles mantidos por
pessoas que, embora sem obra impressa, possuem pretensões literárias e publicam na rede.
Alguns desses blogs já visitava constantemente, desde que os descobri em 2005 e 2006, ao
realizar uma pesquisa sob orientação da professora Analice Martins. Naquele momento,
investigava para compreender, entre outras questões a condição de escritor assumida pelo
autor do blog, a escolha dos criadores pelo suporte digital e se a utilização do computador
provocava alterações nos processos criativos dos escritores blogueiros.
Além dos blogs selecionados em pesquisa anterior, elegi outros de escritores com
obras impressas que participaram de algum tipo de projeto na internet, por exemplo: Amores
Expressos e Enter. Também selecionei escritores com publicação impressa, que, apesar de
não utilizarem blogs, valiam-se de alguma ferramenta ou rede social, como sites literários
e/ou Facebook. A partir daí, enviei por email uma entrevista. Apesar de nem todos terem
estabelecido contato, recebi catorze respostas, que, somadas a outras duas entrevistas
realizadas em 2005/2006, deram um panorama sobre o processo de criação e produção
empregado por escritores em ambiente digital, assim como a relação que mantinham com os
cânones literários (assunto já abordado no capítulo 2).
O primeiro ponto importante a ser mencionado diz respeito a uma das possibilidades do
suporte: a interatividade. Estariam os comentários deixados pelos leitores em scraps ou caixa
de mensagem do blog, influenciando, de algum modo, o processo de escrita do seu criador?
Para André de Leones, Ana Paula Maia, Josely Bittencout, Maira Purula, Bruno Goularte66,
Cecília Gianetti e Alexandre Inagaki - todos escritores e blogueiros - os comentários de
leitores nunca interferiram em seus processos criativos. Bruno Goularte afirma:
Em blogs, por exemplo, comentários costumam ser muito vazios, os de amor
e os de ódio. Também se resume muito ao "Curti" e "Não curti". E, pelas
estatísticas, a maioria dos leitores não comenta, é silenciosa. Claro que já
recebi muitos comentários ou e-mails elaborados que gostei de ler. Mas não
mudaria nada mesmo assim. (Ver ANEXO F)
O depoimento dado por Ana Paula Maia ao suplemento “Ideias”, do Jornal do Brasil, em
26.01.2008, acentua o isolamento do escritor, diante da criação, mesmo em ambiente tão
66
Bruno Goularte é escritor e blogueiro. Possui contos e poemas em diferentes sites literários (Germina
Literatura, O Bule, Clitoris, Língua Pop, Antologia Bronson...). Possui texto impresso publicado na edição
número 8 da revista Granta.
66
invasivo e propício a trocas e coautorias:
O blog foi lançado para que eu pudesse escrever sem compromisso após a
publicação do meu romance A guerra dos bastardos. Depois parti para os
folhetins pulp. Mas na internet o leitor não influencia meus textos. Meu
processo criativo está bem seguro no alto de uma torre.
Em contrapartida, os escritores Daniel Galera e Pedro Lyra veem com naturalidade a
interferência dos leitores. Para Daniel Galera, os comentários de leitores já contribuíram para
revisão da obra:
Isso acontecia às vezes quando eu publicava na web, principalmente nos
contos que publiquei no mail-zine "Cardosonline" (1998-2001), do qual era
colaborador fixo. Os leitores opinavam bastante sobre os contos e
eventualmente eu os revisava com base em alguma crítica ou sugestão. A
internet permite isso, muito mais que os meios impressos. (Ver ANEXO H)
O escritor Pedro Lyra pondera uma situação em que um comentário de uma leitora no
Orkut foi determinante para redirecionar sua escolha por um sintagma em substituição a
outro. Segundo o autor:
Tive um caso. Na 1ª edição de Desafio – uma poética do amor (Rio, Tempo
Brasileiro, 1991), o “Soneto de constatação-XXVI” termina assim (p.194):
Mas na hora mais densa opaca íntima
em que um espelho cego cobra o sendo
nem glória
nem riqueza
nem poder:
– só interessa mesmo o que lhe falta.
Na 2ª edição, 10 anos depois (Fortaleza/Rio, Ed.UFC/Topbooks, 2001), com o
número VII, termina assim (p.233):
Mas na hora mais densa
opaca
íntima
em que um espelho aceso cobra a prova
nem riqueza
nem glória
nem poder:
– só interessa mesmo o que lhe falta.
As emendas “espelho aceso” e “cobra a prova” seriam mantidas na 3ª edição
(reprodução da 2ª, um ano depois). Mas um dia, “passeando” pelo Google,
deparei-me com um comentário de uma menina no Orkut sobre o soneto, em
que ela destacava com um elogio o sintagma “espelho cego”. Fui conferir com
o livro e percebi que minha emenda tinha sido um erro: que, aplicado a
espelho, o adjetivo “cego”, por lhe negar o seu atributo essencial (“ver” =
deixar ver), é, por essa negatividade, muito mais expressivo do que “aceso”,
com toda a sua positividade, que configura apenas um reforço (“ver mais”).
67
Restaurei na hora o sintagma original. E agora, outros exatos 10 anos depois,
o soneto reaparece no mencionado Ideações (p.19) com o número VIII, o
subtítulo de “Contra o destino” – e com o “cego” no lugar do “aceso”. Queria
agradecer a essa menina, porém não mais a encontrei. (Ver ANEXO M)
Quando perguntados, se conseguiriam abdicar da autoria em favor de uma escrita
coletiva - uma das práticas literárias no ciberespaço, que refletem a tendência da
contemporaneidade na busca de interatividade - algumas respostas mostraram-se bem
confluentes:
Não. Não vejo sentido nisso. A literatura tal e qual praticamos ainda hoje é
uma invenção burguesa e, portanto, expressão de uma individualidade.
Escrita coletiva não faz, para mim, o menor sentido, não vejo como poderia
dar certo. (Entrevista André de Leones - ANEXO E)
Nem pensar. Mas a culpa, a ignorância e o fardo são meus. Sou um cara
solitário e acredito que escritores, assim como boxistas, devem se manter
assim. (Entrevista Bruno Goularte – ANEXO F)
Jamais. Isso é brincadeira herdada do dadaísmo e nunca gerou um texto
aproveitável. A poesia é a expressão mais profunda do eu e por isso não
admite parceria séria. Mais que da Net, é uma prática característica da
juventude. (Entrevista Pedro Lyra – ANEXO M)
Acho que não. Já tive uma experiência de escrita a quatro mãos e mesmo
tendo sido um roteiro de cinema foi muito difícil. (Entrevista Adriana Lisboa
– ANEXO B)
Daniel Galera, em seu depoimento, também revelou ter participado de um projeto
coletivo, assim como o de Adriana Lisboa, mas de romance, que foi escrito por vários autores
gaúchos, cada um encarregado de um capítulo. Pata maldita foi, inicialmente, publicada na
internet e, depois, tornou-se uma obra impressa. No site da editora Armazém Digital,67 há a
seguinte informação sobre o livro:
Se o autor não existe, então tudo é permitido. E tudo é permitido, desde que
seja de forma criativa. É mais ou menos o que acontece nessa história,
escrita por quinze autores. Ou melhor, por quinze personagens. Porque
autores e personagens se revezam na trama que avançou pela Internet
durante quase dois anos, todos os caminhos se bifurcando. Um pouco como
se a Internet, que serviu de suporte inicial para os acontecimentos, se
infiltrasse dentro da narrativa, botasse ovos eletrônicos, dando à luz uma
estrutura labiríntica. (Sergio Capparelli)
Para o autor a experiência com a escrita coletiva foi terrível e acrescenta que “A
Literatura se beneficia de subjetividades trabalhando isoladas e entra em terreno bastante
67
Disponível em: http://www.armazemdigital.com.br/v2/ad.php?idmenu=5. Acesso em 02.05.2012
68
instável nas criações coletivas”. Uma das autoras participantes desse mesmo projeto foi Clara
Averbuck, embora não tenha conseguido uma entrevista completa, recebi, por Facebook, um
comentário sobre sua participação na escrita coletiva da obra Pata Maldita. Segundo a autora:
“(...) ainda estava aprendendo a escrever (quer dizer, até hoje estou aprendendo), mas acho
uma ideia complicada essa de misturar autores e estilos numa só história”.
Como a questão da autoria compartilhada estava sendo vista com resistência pelos
escritores já legitimados, decidi como estratégia metodológica me associar a comunidades
literárias no Orkut, entre elas: “Prosa Contemporânea 2.0”, “Clube dos escritores anônimos”,
“Novos escritores do Brasil”, “Eu quero escrever um livro”, “Jovens escritores do Brasil” e
verificar se os aspirantes a escritores também viam com restrição tal prática. O objetivo era
criar um tópico e lançar a proposta de conto coletivo, para avaliar o modo como pessoas que
assumem a condição de escritores nessa rede social se comportariam diante de uma proposta
de escrita compartilhada, em que cada um seria responsável por dar continuidade ao que o
anterior produziu.
Das cinco comunidades nas quais lancei a proposta, somente duas responderam ao
convite do conto coletivo: “Jovens escritores do Brasil” e “Prosa contemporânea 2.0”. Na
primeira comunidade composta, até o momento da pesquisa por 7.259 membros, somente um
membro deu continuidade ao conto68. O conto ficou esquecido e inacabado em meio a tantos
outros tópicos surgidos. Já na segunda comunidade, houve maior aderência, no total de
catorze postagens69. Entretanto, o texto adquiriu um tom totalmente despretensioso, derivando
para deboche e pornografia.
A partir dos depoimentos dos escritores, das visitas aos blogs e dessas verificações nas
comunidades do Orkut, torna-se possível fazer algumas considerações: embora os circuitos
digitais que hospedam a literatura linkada – entre eles os blogs e orkuts - apresentem-se como
instrumentos comunicativos com propósitos e características específicas, dentre as quais a de
possibilitar a comunicação e a circulação de formas simbólicas diferenciadas, criadas, até
mesmo de maneira colaborativa, parte dos escritores que produz em ambiente digital, ainda
encontra grande apego em relação aos protocolos existentes na literatura impressa e, mesmo
com a vantagem da interatividade, ignora a possibilidade da escrita coletiva e, até mesmo, a
68
O conto inacabado pode ser encontrado em: http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=142025
Acesso em 20.06.2012
69
O resultado do conto pode ser encontrado em : http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=22960188.
Acesso em 20.06.2012
69
influência dos comentários em seus processos criativos. A escrita coletiva é vista como algo
despretensioso, sem legitimidade, um “desafio lúdico” como sugere Henrique Rodrigues ou
uma “diversão” como considera Cecília Gianetti.
O escritor Fabrício Carpinejar, num depoimento dado ao suplemento “Prosa & Verso”
do jornal O Globo em 04.09.2010, reitera a posição de grande parte dos escritores ao
considerar: “Partilho da concepção do corpo fechado. Vou escrever o início, meio e o fim da
obra, o que não me impede de interagir com os leitores. Ser influenciado é diferente de ser
orientado pelo leitor (…) Não posso abdicar da autoria”.
Uma comprovação de que a escrita compartilhada ainda está longe de ser uma busca
dos escritores que utilizam a web é o fato de o blog Wikesia (mencionado no capítulo
anterior), ter sido criado em 2007 e, mesmo com o esforço dos alunos do curso de
Comunicação Social da Universidade Federal do Pará, que queriam construir poesias
coletivas no suporte digital, o blog só recebeu suas primeiras colaborações dois anos depois,
em 2009. A maneira como foi elaborada, com a colaboração dos leitores e a mediação do
autor do blog, demonstrou claramente a dimensão da interatividade que é própria da escrita no
ciberespaço, mas poucas foram as experiências realizadas e, desde agosto de 2010, o blog em
questão permanece desatualizado.
Outra importante constatação é a questão do leitor, que, no suporte digital, funciona
como crítico não-profissional, mas colaborativo, que, em certos momentos, consegue
contribuir com o autor na reformulação do texto.
Para o jornalista e escritor Marcelo
Moutinho70, os comentários deixados pelos leitores e críticos não determinaram exatamente a
modificação de um texto em produção, mas comentários são importantes para a maturação da
obra: “Algumas das observações feitas em resenhas sobre meu primeiro livro, com as quais
concordei, foram levadas em conta por mim na produção do segundo” (Ver ANEXO L).
Diante disso, observa-se que os leitores, que antes tinham um valor quantitativo, pela
quantidade de exemplares comprados, hoje apresentam valor qualitativo, pela contribuição
crítica à obra. Heloísa Buarque de Hollanda afirmou no caderno “Prosa & Verso” do jornal O
Globo de 08.12.2007, que “o novo escritor sempre falou com o velho crítico ou o velho
escritor. Hoje, o escritor já fala de imediato com sua geração. Isso produz uma troca muito
importante”.
Em contrapartida, há escritores que ignoram a interferência de uma crítica não
profissional, legitimando somente os comentários de leitores mais apurados como críticos e
70
Marcelo Moutinho é jornalista e autor de Memórias dos barcos (7 Letras, 2001), Somos todos iguais nesta
noite (Rocco, 2006) e A palavra ausente (Rocco, 2011). Também organizou diferentes antologias. Possui o blog
Pentimento. Disponível em: http://www.marcelomoutinho.com.br/blog/. Acesso em 02.05.2012.
70
outros escritores de obras impressas. A escritora Alice Sant’anna cita, como ilustra o ANEXO
D, a interferência do escritor de obras impressas e ganhador do prêmio Jabuti, Armando
Freitas Filho em seus escritos e declara:
O Armando Freitas Filho já me ajudou muito nisso: essa parte não está boa,
corte esse final. São sugestões, sempre muito bem-vindas. Gosto muito de
ouvir opinião de quem admiro para melhorar o poema, já que às vezes nossa
proximidade é tanta que não conseguimos afastar o rosto da página, e não
encontramos solução. Já as críticas agressivas, gratuitas – a internet, nesse
sentido, pode ser bem traiçoeira também –, são difíceis de levar.
Se experiências com a escrita colaborativa são descartadas por grande parte dos
escritores na rede, estaria existindo propriamente uma literatura linkada? Quais as alterações
reais que estão sendo absorvidas pelos escritores em suas produções digitais?
3.3. Modos de produção da literatura na rede
Como vimos no tópico anterior, experiências envolvendo a interatividade são isoladas,
casos específicos, não significando uma tendência ou norma. Diante disso, seria importante
pensarmos: se a interatividade, que é uma marca particular da literatura linkada, não tem
surtido tanto efeito na criação das produções, em que medida o suporte vem interferindo na
literatura? Para isso, além das análises dos blogs já citados, recorrerei novamente às
entrevistas realizadas com escritores que utilizam o meio digital.
Quando perguntados se o suporte tem incidido em mudanças em sua produção, tive
uma intrigante surpresa: dos catorze entrevistados somente a escritora Josely Bittencourt
mostrou que o computador influencia em sua escrita, por meio dos elementos próprios que
oferece e que auxiliam em seu fazer literário. Segunda a autora blogueira:
Como para mim a produção de textos é brincar, a internet favoreceu
bastante, porque aumentou a diversão. Se o texto é um brinquedo que se
monta e desmonta, a internet é um playground infinito, onde a gente brinca,
brinca e nunca acaba o encantamento. Essa característica de usar inúmeras
ferramentas de tocar, olhar, ouvir e imaginar estimula o texto as suas formas
diversas e assim se potencializa o gesto de leitura. Escrever e ler são
atividades inseparáveis e com certeza a internet possibilitou maior alcance a
minha produção. (Ver ANEXO I)
A grande maioria dos escritores entrevistados ressaltou em suas respostas que na
produção em si a influência do suporte era muito pequena, a importância principal estava
71
centrada na questão da divulgação da produção ou até mesmo, pós-produção, como apontam
Bruno Goularte, Marcelo Moutinho e André de Leones:
Eu produziria sem internet os mesmos contos e peças e roteiros e esboços de
romance. O que ela facilita é a pós-produção. Contatos, envio rápido, chance
de publicar fragmentos, diálogo com outros escritores, essas coisas. E os
textos do blog, que são mais diário mesmo, aí sim, alguns só existem devido
ao formato que a internet possibilitou através dos blogs. (Entrevista Bruno
Goularte – Ver ANEXO F)
Para a produção em si, muito pouco. Contribui mais para a divulgação dos
livros e para o diálogo com outros escritores. (Entrevista Marcelo Moutinho
– Ver ANEXO L)
Acontece de eu publicar, em meu blog (vicentemiguel.wordpress.com),
trechos de algo que venha escrevendo, alguns contos e poemas. Nunca
aconteceu de eu começar a escrever algo para o blog e, depois, desenvolver
isso da maneira tradicional, para um livro. Publicar trechos de um romance
no qual trabalho é uma forma de divulgá-lo. Quando o livro é impresso e
lançado, os leitores já estão um pouco familiarizados. (Entrevista André de
Leones – Ver ANEXO E)
Para os que não possuíam obra impressa e hoje possuem diferentes livros em papel,
começar a publicar na web foi um passo importante, pelo fato de o suporte contribuir de
várias formas: possibilitando uma publicação de forma gratuita e sem intermediários, o
diálogo com o leitor, inclusive, com a formação de um público leitor para a obra impressa e a
participação no circuito literário virtual e impresso, estabelecendo contato com outros
escritores e críticos literários. Conforme ANEXO D, a escritora Alice Sant’anna afirma que:
A internet foi, e é, essencial na medida em que permite trocas. Parece clichê,
já que qualquer lugar permite trocas. Por isso mesmo, a internet é como se
fosse uma praça numa cidade do interior, onde você pode jogar xadrez com
amigos e desconhecidos (futuros amigos, quem sabe). Comecei publicando
na internet, e digo que ela foi fundamental porque passei a ter contato com a
produção de muita gente: o que as pessoas da minha geração estão
produzindo? Foi o jeito de tomar conhecimento disso e entender o que eu
estava fazendo, com quem me identificava, com quem não me identificava.
Daniel Galera também foi outro escritor que começou a publicar na web, entre 1997 e
2001. Segundo ele, o suporte foi essencial para que começasse a publicar sem custo e com
alcance virtualmente global, experimentasse mais livremente o estilo e adquirisse um pequeno
público leitor inicial. A partir do momento que teve a sua publicação impressa, passou a
publicar somente em livro impresso, primeiro por uma editora independente que criou com
amigos, a Livros do Mal, e depois pela editora Companhia das Letras.
72
A escritora Ana Paula Maia - que publicou na internet em 2006 o Folhetim Pulp –
Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos, uma obra em 12 capítulos - mostra que,
inicialmente, não tinha a intenção de ver seus folhetins impressos em livro, já tinha um
romance impresso - embora muito pouco divulgado e lido - queria apenas testar a internet na
intenção de que sua obra fosse lida por um maior número de pessoas, mas o público legitimou
seus escritos, a quantidade de acessos foi grande, bem maior que o do primeiro romance. O
pensamento inicial da autora de ficar tão somente na web foi alterado. A própria autora, como
forma de atrair leitores para a fase impressa, afirmou, naquele momento, que o desfecho do
livro, último capítulo, não apareceria na internet, apenas existiria na versão impressa.
Atualmente, o folhetim não está mais disponível na web, somente fragmentos de suas obras
em seu site. O suporte, dessa forma, contribuiu para criação de um público leitor que
acompanhava a escritora por meio da tela do computador.
Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos71, de Ana Paula Maia, foi publicado em
livro impresso, mantendo o mesmo conteúdo, porém não mais tão picotado. Os doze
capítulos, utilizados para facilitar a leitura no computador, transformaram-se em cinco.
Henrique Rodrigues afirma que usa a internet para mandar poemas para uma lista de amigos
ou para salpicar um texto pequeno, pois a internet não é tão boa para ler textos longos.
Para o pesquisador Karl Erik Schollhammer, “o uso de formas breves, a adaptação de
uma linguagem curta e fragmentária e o namoro com a crônica” são algumas das tendências
da contemporaneidade. (SCHOLLHAMMER, 2009, p.14-15). Marcelino Freire, entre os
escritores da literatura do século XXI, foi quem incentivou a escrita do microconto, propondo
a uma série de autores um desafio de escrever um conto com menos de 50 letras, o que
resultou no livro Os cem menores contos do século (2004), baseado no mais famoso
microconto do mundo, de Augusto Monterroso: “Quando acordou, o dinossauro ainda estava
lá”.
Percebe-se que esta tendência está relacionada ao suporte digital, que determina o
tamanho da produção. Os escritores da web veem sua produção ser determinada pelos espaços
que, por sua vez, não podem ser ultrapassados, seja na postagem do blog, no scrap do orkut,
no site ou na mensagem de 140 caracteres do twitter. É a tendência do minimalismo, da
escrita que se vale do instantâneo e da visualização repentina. Como consequência, a
brevidade influencia diretamente na construção da obra, principalmente, poemas e contos, que
em alguns momentos mostram-se irrelevantes por faltar desenvolvimento de ideias; mas, já
71
Disponível em www.folhetimpulp.blogspot.com acesso em 20/11/2006
73
em outros textos, podem funcionar de forma intensa e inesperada, levando o leitor ao
pensamento e a recobrar os sentidos sobre alguma questão.
Diante da brevidade em muito do que é produzido, alguns mais eufóricos já utilizam o
termo tuiteratura para representar, entre outras coisas, “enunciados telegráficos com criações
originais...” feitas no twitter, como apresenta o jornal O Globo, 17.04.2010. O jornalista
Zuenir Ventura, por sua vez, questiona tal atitude ao indagar “querer fazer literatura com
palavras de menos não é pretensão demais”?
De fato, não é uma tarefa fácil unir brevidade e intensidade de ideias. Apesar disso, há
quem consiga fazer com profundidade, escrevendo o mínimo e transmitindo o máximo, e
ainda destacar-se por estar bem à frente do seu tempo. Cito a prosa Machado de Assis.
Enquanto os demais escritores do século XIX procuravam descrever ao máximo a realidade,
nos seus mínimos detalhes, o escritor cultivou o elíptico, o fragmentário, de modo a sugerir o
todo pelo fragmento, a estrutura pela elipse e a emoção pela ironia.
Na poesia, temos o caso de Pedro Lyra. Reconhecido adepto do poema longo (ele
mesmo autor de um épico como Errância – uma alegoria trans-histórica, de 1996) e crítico
contumaz do minimalismo, diante da crise do poema-livro, que se distancia cada vez mais da
grande massa, principalmente pela linguagem que absorve um certo tempo para “parar,
respirar e imaginar”, numa leitura “asmática” 72, ele sugere o Poema-Postal. Lançado em
1970, definiu-se como precursor da Mail Art, hoje divulgado justamente pela rede. Os
primeiros consistiam num poema concreto fundido com imagem, porém os mais recentes,
com fragmentos do seu livro Argumento – poemythos globais, de 2006, são breves textos
poéticos, que funcionam muitas vezes como legenda, associada à imagem escolhida – como
forma de colocar a poesia mais próxima do público leitor, visando “à sua popularização” e à
“harmonização da arte com a realidade”.73
É necessário, pois, mencionar que a internet é um espaço preferencial para poesia em
detrimento da prosa. Heloísa Buarque de Hollanda comprova esta afirmação em seu artigo
“Vida literária na web” ao mostrar que uma das ferramentas de busca, o Cadê, em novembro
de 1999, já registrava 702 sites de poesia hospedados na rede74. Adriana Lisboa afirma: “Já
publiquei no meu blog textos despretensiosos, "instantâneos," poemas em prosa que depois
aproveitei em algum livro”. (Ver ANEXO B)
72
Termos utilizados por José Castello no caderno “Prosa e Verso” do Jornal O Globo de 10.04.2010.
Retirado do depoimento “Nos 15 anos do Poema-Postal”. Rio de Janeiro, Edições Lira, 3ª impressão, 2009.
74
Artigo disponível em http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/?p=650&cat=3. Acesso em 02.05.2012.
73
74
Além do minimalismo, outra importante constatação é que escritores começam a
utilizar as ferramentas auxiliares do suporte, entre elas som e imagem, na criação de seus
projetos. Todavia suas obras não estão condicionadas a elas. Para Cecília Gianetti:
O Word é uma folha de papel. Uma folha de papel digital com possibilidades
magníficas, como adicionar arquivos de som e de imagem - para lembrarmos
de sons e imagens que associamos a determinadas passagens que desejamos
incluir em nossos livros. E a internet é uma excelente fonte de pesquisa,
basta saber usar, e principalmente em quais sites confiar. São apenas
ferramentas auxiliares, elas não dominam a mente e a criatividade do autor.
Todos nós adoramos nossas máquinas e gadgets, somos fascinados por eles,
mas no final das contas ainda somos nós quem mandamos . (Ver ANEXO
G)
Diante do quadro aqui exposto, cabe ainda uma apressada constatação, visto que ainda
é cedo para mensurarmos as reais transformações operadas na literatura que se apropria do
suporte. Uma literatura transformada requer um escritor também modificado, com novas
pretensões e um novo olhar em relação à literatura. Nesse momento atual do início o século
XXI, o escritor ainda está tateando e experimentando lentamente todo o repertório da web. O
suporte oferece condições para realmente transformar a literatura. Todavia o escritor ainda
imprime à sua produção praticamente a mesma configuração do suporte impresso, quase não
modificando os modos de produção, eles não abdicaram da relação íntima e individual com as
obras. Muitos são amantes da literatura impressa (como foi comprovado no capítulo anterior
ao contemplar a questão do cânone) e recorrem ao suporte digital, não para produzir uma
literatura linkada, mas por ser mais disponível e de fácil divulgação. Daniel Galera comenta:
não concordo muito com essa expressão "surgido na web". Os autores iniciantes publicam na
web sobretudo porque está disponível, não porque tenham eleito a web como meio de
publicação principal ou algo assim”. (Ver ANEXO H)
Desse modo, os escritores que produzem na web, mais do que um meio de expressão,
percorrem uma etapa no processo de publicação e desejam ser vistos por leitores, outros
escritores e críticos. Ana Paula Maia considera, conforme ANEXO O, que o escritor “para
consolidar carreira precisa publicar obra impressa” e, talvez, seja esse ainda o desejo que
seduz alguns dos escritores iniciantes a publicarem na web.
3.4. O circuito literário em ambiente digital
No suplemento literário “Prosa & Verso” do jornal O Globo de 08.12.2007, o
jornalista Miguel Conde mostra que nos Estados Unidos a proliferação de blogs e o
75
cancelamento de suplementos literários em jornais colocam em discussão o futuro da crítica
de livros. Já no Brasil, os novos escritores foram os que primeiro exploraram as possibilidades
da internet segundo o jornalista, embora aqui também comecem a ganhar relevância blogs
voltados para comentários sobre a literatura. O mesmo suplemento literário, no dia
01.05.2010, publicou o artigo “A crítica de mal com a literatura” em que o jornalista e escritor
Sérgio Rodrigues apontava para o isolamento da crítica universitária de fôlego, que, em sua
maioria, retirava-se das discussões sobre a literatura contemporânea.
Diante desse panorama, em que a crítica literária se mostra indiferente à produção
contemporânea, a internet para além de um bom recurso para captação de leitores e
divulgação de escritores, vem se consolidando como um canal legítimo de crítica e debate
literário. Diferentes blogs surgem assumindo um importante espaço para discussão da
literatura, e seus criadores assumem o papel “da crítica autorizada”, de intelectuais
legitimados pelo público leitor, com um canal de diálogo mais abrangente para falar. O
pesquisador Francis Wollf, no artigo “Dilemas dos intelectuais” (2006), afirma que “para
tornar-se um intelectual no sentido estrito, é preciso que ele possa falar a todos, e, portanto,
abandone seus próprios objetivos particulares (...)” (WOLLF, 2006, p. 62). Para o filósofo
Edward Said, em seu prestigiado livro Representações do intelectual: as conferências de
Reith de 1993 (2005), o intelectual deve ser entendido como:
[...] um indivíduo com papel público na sociedade, que não pode ser
reduzido simplesmente a um profissional sem rosto, um membro competente
de uma classe, que só quer cuidar de suas coisas e de seus interesses. A
questão central para mim, penso, é o fato de um intelectual ser um indivíduo
dotado de uma vocação para representar, dar corpo e articular uma
mensagem, um ponto de vista, uma atitude, filosofia ou opinião para (e
também por) um público (SAID, 2005, p. 25).
A crítica literária Heloísa Buarque de Hollanda se enquadra bem no perfil de
intelectual, por conhecer e se envolver em diferentes projetos referentes à literatura na
contemporaneidade, por estar sempre sendo solicitada a dar entrevistas e a falar em
congressos e eventos para um público. O jornalista e escritor Sérgio Rodrigues também
assume a condição de intelectual, e o seu blog Todo Prosa75 se destaca por ser aberto ao
debate sobre a literatura propriamente – escritores e obras - e seus contornos. Esses
intelectuais, em muitos momentos, são os responsáveis por dar legitimidade a autores que
surgem no território digital.
75
Disponível em http://veja.abril.com.br/blog/todoprosa/. Acesso em 15.06.2012.
76
O caderno “Ideias” do Jornal do Brasil, 26.01.2008, afirma que a função principal do
blog dos escritores consagrados pela crítica literária, e que já possuem livros impressos, hoje
já não é a mesma de quando surgiu, pois ao invés do exercício da escrita e de testar os textos
junto ao público leitor, a ferramenta é utilizada com o intuito de promover debate,
informação, comentário sobre a literatura e agenda literária. Henrique Rodrigues que, em
2006, fazia em seu blog uma brincadeira com a literatura, exercitava a escrita sem pretensões,
fazendo paródias e mimetizando registros, como por exemplo, de Guimarães Rosa, Raduan
Nassar, Clarice Lispector, utiliza-o atualmente para divulgação e promoção dos seus livros
impressos. Segundo o escritor: “Eu uso a internet mais como um canal de divulgação. Tenho
um site/blog, twitter, facebook, orkut, essas coisas todas. É preciso estar plugado. Isso permite
o contato com leitores e a produção de outros autores. A postagem abaixo, em que foi
divulgado o seu livro Como se não houvesse amanhã, ilustra bem essa condição assumida em
certos blogs.
21.4.10
Como se não houvesse amanhã está na segunda edição, três semanas
depois de lançado.
O editor Paulo Roberto Pires considera que “a internet está no centro da reconstrução
da vida literária nacional”76. Em decorrência disso, o mercado editorial tenta, de alguma
forma, acompanhar a efervescência provocada pela web e busca, inclusive em blogs, sites e
revistas literárias, a aparição de novos escritores. Na web, portanto, acontece uma alteração na
equação da vida literária, pois quem dá primeiro o aval ao que foi escrito não é a editora que
aceita a publicação do livro ou o crítico literário que escreve na orelha da obra, mas os
leitores, pelo número de acessos em um blog, mensagens em twitter ou orkut. Há, portanto,
com o novo suporte, uma fragilização de mediadores como críticos e editores. Desse modo, a
equação escrever-publicar-ler-criticar é alterada para escrever-ler-criticar-publicar.
76
Depoimento extraído do suplemento literário “Prosa & Verso” do jornal O Globo de 08.12.2007
77
4. MODOS DE CIRCULAÇÃO DA LITERATURA
Nesse início do século XXI, quase todas as funções e atividades humanas estão
atreladas ao computador. As próprias atividades culturais também começam a se apresentar
em formato digital, entre elas a literatura. Ana Cláudia Viegas, no artigo “Quando a técnica se
faz texto ou a literatura na superfície das redes”77, argumenta que “pensar as mudanças sociais
trazidas pelos novos meios implica não pensá-los como fontes de inovações em si, mas, sim, a
interação entre essas novas práticas de comunicação e as transformações sociais”. Nessa
perspectiva, os escritores que utilizam o suporte do computador possuem elementos que
podem contribuir e muito para o cenário da literatura, à medida que a web se torna a nova fase
do livro, assegurando a qualquer um, com acesso ao computador, a possibilidade da leitura de
livros diversos de forma gratuita ou por preço simbólico.
Nunca o acesso ao literário esteve tão facilitado. A potencialidade de armazenamento
na rede vem transformando a web num importante espaço para circulação da literatura, sendo
abarrotada por romances, contos, poesias, biografias, de diferentes autores e estilos, muitos
disponibilizados gratuitamente para download. Sem contar o que é produzido em blogs e
redes sociais.
Toda essa revolução provoca modificações em hábitos fundamentados na cultura do
livro impresso. Os escritores, por exemplo, que antes tinham, como espaço de troca com o
leitor e outros escritores, a carta, o bar, a livraria, a edição do jornal, até mesmo para pensar
77
Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/article/view/1285/992. Acesso em
25.06.2012.
78
seus projetos, veem, preferencialmente, na internet um “ponto de encontro” e de diálogo. O
escritor e blogueiro, Alexandre Inagaki, comenta que a internet “é uma imensa mesa de bar
virtual, na qual basta puxar uma cadeira para trocar ideias com outras pessoas que
compartilham suas leituras, autores favoritos, paixões, discordâncias e idiossincrasias,
fomentando ideias para novos textos”. (Ver ANEXO C)
Teses, dissertações, artigos e ensaios, antes dispostos no espaço físico das bibliotecas
das universidades, são em grande parte disponibilizados na internet ao alcance de um clique.
Estando na rede, pode-se, ainda, participar de fóruns e comunidades as mais diversas,
abrangendo um leque muito grande de escritores, livros, estilos literários e, até mesmo, da
literatura em diálogo com as outras artes, trocando informações e construindo o
conhecimento. A busca por obras em livrarias instaladas fisicamente nas cidades dá lugar, em
muitos momentos, à facilidade da compra do livro impresso em livrarias virtuais ou à leitura
do livro digital ao fazer o download e abaixar o arquivo.
Mas quais são as especificidades do livro digital? Quais são suas vantagens e
desvantagens? Como se comportam as editoras diante do suporte eletrônico? Como a geração
de leitores mais jovens reage frente a um suporte diferente do canônico?
4.
4.1. O suporte livro em tempos digitais
A pesquisadora Rosiane Lúcia Ribeiro, no ensaio “E-book – a transfiguração do texto: de
fixo no papel à manipulação na tela” (2009), apresenta os estágios pelos quais o objeto livro
passou até sua configuração atual, refletindo em cada fase as características socioeconômicas
e culturais de suas épocas. Segundo a autora, desde os primórdios de nossa civilização, o
homem já deixava suas marcas no interior das cavernas, utilizando pedra e materiais
orgânicos e inorgânicos à base de tintas minerais e vegetais. E acrescenta:
Ao longo da história, observa-se que cada povo desenvolveu o seu suporte
para armazenamento de suas ideias: os indianos faziam seus livros em folhas
de palmeiras; os maias e os astecas, antes do descobrimento das Américas,
em material macio existente em casca das árvores e madeira; os romanos
escreviam com estilete em tábuas de madeiras cobertas com cera, que
serviam para os mais variados fins (...). E os chineses, por sua vez,
utilizavam rolos de seda para fazer seus livros. (RIBEIRO, 2009, p.50)
A partir do ano 2.200 a.C., um novo material começou a ser utilizado no Ocidente,
primeiramente, no Egito: o papiro. Extraído da parte interna, branca e esponjosa, do caule
79
dessa planta, ele era cortado em finas tiras posteriormente molhadas, sobrepostas, cruzadas
para aumentar a espessura e a resistência do produto. A folha era polida com óleo e posta para
secar, formando uma longa fita que era depois enrolada.
Foi com substituição do papiro pelo pergaminho – feito a partir de couro animal - que
se tornou possível a confecção de livros bem próximos dos que conhecemos hoje. As folhas
de pergaminho passaram a ser agrupadas de forma sequenciada, costuradas e amarradas a
tábuas de madeira, que funcionavam como capa. Esse foi o principal suporte de escrita
durante toda a Idade Média. No entanto o acontecimento que marcou a história do registro
gráfico se dá, aproximadamente, em 1454, quando Johannes Gutenberg cria os tipos móveis
de metal ou a prensa de tipos móveis, substituindo os manuscritos - que eram o método até
então existente de produção de livros na Europa. A velocidade de produção dos registros
torna-se superior à dos manuscritos e de melhor qualidade.
Com o advento da internet, o mundo literário se insere no contexto das novas
tecnologias, o livro conhece sua versão eletrônica, ao desvincular-se do suporte papel. Livros
digitais, livros eletrônicos ou e-books são publicações digitais ou livros eletrônicos que estão
disponíveis na web em vários formatos, podendo ser descarregados para o computador através
de downloads. O e-book pode ser lido na tela do computador, em celular ou em aparelhos
portáteis com capacidade de armazenar milhares de obras simultaneamente, os chamados ereaders. Segundo Roseane Lúcia Ribeiro (2009):
O livro eletrônico, da forma como é apresentada ao leitor comum, pode – por
ter sido idealizado para leitura em computador – sofrer restrições quanto à
impressão propriamente dita, pois não apresenta menus que permitam alterar
ou imprimir seu conteúdo. Mesmo usuários mais experientes enfrentarão
dificuldades para realizar algumas dessas tarefas, pois os arquivos são
encriptados, isto é, protegidos eletronicamente contra violação. (RIBEIRO,
2009, p. 58)
4.2. Vantagens e desvantagens do livro digital
Algumas são as vantagens do livro digital em relação ao livro em papel. Dentre elas
está a portabilidade, pois – por se encontrarem num formato digital – podem ser transmitidos
rapidamente pela internet. O preço também é muito menor que o de um livro impresso ou até
mesmo gratuito, por haver um custo de produção e de entrega bem mais baixo. O suporte
permite a interatividade e a incorporação de recursos de áudio e vídeo. Além de haver uma
80
facilidade muito maior de transporte, pelo fato de ser possível levar vários e-books utilizando
somente pen-drive ou e-reader. De acordo com Rosiane Lúcia Ribeiro (2009):
Ao contrário do livro tradicional, o livro eletrônico igualmente incorpora
todas aquelas facilidades intrínsecas à informática, quais sejam: localização
instantânea de páginas, tópicos, palavras, quadros, tabelas, fazer anotações,
realçar e sublinhar palavras ou trechos, enfim, todas aquelas facilidades que
não existem e/ou que prejudicariam o livros, quando tradicionalmente
impresso. (ibid, p. 56)
Outro fator que atrai escritores e leitores diz respeito à nova fase do livro. Nos Estados
Unidos e em outros países, por exemplo, o livro possui diversas tiragens: uma mais completa,
com orelha, capa dura e material mais apropriado; outras em que a obra é impressa em folhas
mais simples, sem orelha; e ainda a fase do livro em que as folhas são feitas de material
reciclável. Isso dá ao leitor um leque de opções dentro de suas possibilidades econômicas. No
Brasil, isso quase não ocorre: o livro, principalmente, dos escritores contemporâneos tem
apenas uma tiragem – na maior parte das vezes, a que o encarece, afastando em muitos casos
o leitor da obra. Neste contexto, a web pode contribuir e muito com a literatura, à medida que
se torna a nova fase do livro.
Todas essas possibilidades do livro digital vêm atraindo escritores que começam a
fazer a versão eletrônica de suas obras. O escritor Henrique Rodrigues comenta conforme
Anexo P: “Vou organizar uma antologia de contos que deve sair ano que vem, e dessa vez
vou pedir que já seja feita uma edição eletrônica, com um hotsite e tudo o mais. Acho que por
enquanto essas possibilidades se somam aos métodos tradicionais de escrita e publicação”.
Neste contexto, grupos editoriais do Brasil começam a aderir ao digital, como Record
e Ediouro, entrando na era tecnológica com máquinas que diminuem os custos de tiragens
pequenas e viabilizam até tiragens unitárias. Dessa forma as editoras tornam-se mais livres
para investir em outros autores, inclusive os novos, sem o risco de um prejuízo no caso de
rejeição pelos leitores. Livrarias digitais também começam a surgir, como por exemplo a
Gato Sabido, trazendo para o Brasil um leitor de e-books, já com títulos de obras nacionais e
mais de 100 mil estrangeiras. Segundo reportagem do Jornal do Brasil de 28.03.2010, nos
Estados Unidos, em 2008, o livro digital movimentou mais US$ 100 milhões, onde mais de
80 editoras já atuam no segmento.
Ao compararmos as formas de publicação dos meios eletrônicos com as dos meios
impressos, chegamos inevitavelmente à questão ecológica, visto que um ponto positivo do
livro eletrônico sobre o impresso é a não utilização de recursos naturais, evitando o sacrifício
81
de árvores e de água, o que os torna ecologicamente corretos. No entanto convém enfatizar
que a utilização do livro impresso não necessita de tanta energia quanto o livro digital.
Agora, pensemos algumas desvantagens do livro eletrônico. Na obra Não contem com
o fim do livro (2010), os teóricos e colecionadores de livros raros, Jean-Claude Carrière e
Umberto Eco, tecem um debate sobre as ferramentas eletrônicas de leitura e evocam as
qualidades do livro impresso, considerando-o algo insuperável. Muitos são os apaixonados
pelo suporte de papel, que revelam um grande prazer em manuseá-lo, folheá-lo, sentir seu
cheiro, fazer anotações (impressões) e ler os vestígios deixados por outras pessoas. Umberto
Eco comenta: “Tenho livros que adquiriram certo valor para mim menos por causa do
conteúdo ou da raridade da edição do que em função dos vestígios nele deixados por um
desconhecido, sublinhando o texto (...), escrevendo notas na margem.” (ibid, p. 97). E
acrescenta que as variações, em mais de quinhentos anos, em torno do livro, nunca
modificaram sua função e nem sua sintaxe, desse modo, não podem ser aprimorados.
O livro venceu seus desafios e não vemos como, para o mesmo uso,
poderíamos fazer algo melhor que o próprio livro. Talvez ele evolua em seus
componentes, talvez as páginas não sejam mais de papel. Mas ele
permanecerá o que é. (CARRIÈRE & ECO, 2010, p.17)
Diante disso, é possível notar que muita resistência existe em torno da utilização do
livro eletrônico. A queixa mais comum dos leitores de e-books diz respeito ao cansaço e
desconforto de ler na tela, tornando-se uma tarefa difícil. Essa dificuldade de leituras longas
vem trazendo consequências: a poesia, o conto e a crônica, gêneros textuais mais concisos,
conseguem sobreviver bem em formato digital. Mas o romance, pela extensão e dificuldades
observadas na leitura digital, pode provocar efeito contrário, afastando os leitores da obra. O
escritor Wilton Cardoso reitera essa questão, conforme anexo N, ao afirmar que “o modo de
ler na internet talvez prejudique o romance, que exige dias de mergulho no seu universo
ficcional”. Os e-readers poderiam amenizar o problema do incômodo da leitura, mas o custo
pelo aparato tecnológico é alto, em decorrência disso, muitos optam pelo suporte impresso.
Apesar dos problemas identificados no livro digital, sabemos que o mercado tenta
incessantemente aprimorá-lo com a apresentação de leitores eletrônicos cada vez mais
sofisticados, possibilitando comodidade e ações que o livro impresso não abarca, tais como a
vantagem de integrar elementos lúdicos e interativos aos textos. Embora vivamos um período
de adaptação com a novidade, não estaria o livro digital em consonância com o tempo em que
vivemos, cumprindo a importante função de captação de leitores? Os mais jovens já tão fiéis
às tecnologias não estariam seduzidos pela praticidade das obras digitais em detrimento do
82
suporte em papel? Ou estariam, mesmo com todos os estímulos tecnológicos, descartando o
novo e preferindo o suporte convencional da literatura?
4.3. Na corda bamba: livro impresso ou digital?
Muitas são as polêmicas instauradas em torno do livro digital. O fato é que novas
técnicas sempre são vistas com desconfiança, e em se tratando do livro impresso, objeto
sagrado e de devoção entre os amantes da literatura, as discussões se avolumam.
Questionamentos do tipo “O e-book matará o livro impresso?” são constantes. Todavia, esse
não é o foco da investigação aqui traçada, por considerar que possa existir uma convivência
pacífica entre os suportes, em que o canônico e o novo se complementam. Jean – Philipe de
Tonnac, responsável pelo prefácio da obra Não contem com o fim do livro (2010), considera
que “os usos e costumes coexistem e nada nos apetece mais do que alargar o leque dos
possíveis” (CARRIÈRE & ECO, 2010, p.8).
A investigação aqui retratada gira em torno de compreender se os livros digitais vêm
sendo objeto de busca e utilização por parte da geração mais jovem ou se, por sua vez, mesmo
com os diferentes estímulos eletrônicos e atividades realizadas na internet, as leituras de obras
continuam circunscritas aos livros impressos. Para isso, decidi, como estratégia metodológica,
fazer uma pesquisa exploratória e quantitativa, envolvendo universitários, por entender que
fazem uso intenso e com bastante frequência de material bibliográfico, ao mesmo tempo em
que possuem conhecimentos e acesso ao uso das tecnologias computacionais por exigência do
sistema educacional do qual fazem parte. Os questionários78 por eles respondidos
contribuíram para fazer algumas importantes considerações sobre a relação estabelecida entre
os leitores e os livros impressos e digitais, especificamente, na cidade de Campos dos
Goytacazes.
De acordo com MEC/INEP CENSO 200979, o quantitativo de alunos que frequenta os
cursos universitários no município de Campos dos Goytacazes é de 17.368. Devido ao tempo
e aos recursos disponíveis, optei por aplicar o questionário somente a uma amostra da
população a ser calculada para uma margem de erro80 de 5%, um nível de confiança81 de 95%,
chegando à dimensão amostral de 376 entrevistas, que foram aplicadas de forma aleatória a
estudantes das seguintes instituições: UNIFLU FAFIC, UNIFLU Odonto, UENF, UCAM,
78
ANEXO S
O Censo 2009 do MEC/INEP foi escolhido por ser o mais recente com dados disponíveis.
80
A margem de erro revela o valor de erro que pode existir.
81
Nível de confiança diz respeito ao grau de precisão da resposta.
79
83
UNIVERSO e ISECENSA. Isso me possibilitou fazer uma representação do perfil dos
universitários campistas.
A primeira questão abordada, no questionário (gráfico 1), diz respeito ao
envolvimento dos universitários com a internet, partindo da observação do tempo em que
estão conectados a ela. De acordo com a verificação, 35% dos investigados ficam quatro
horas ou mais envolvidos diariamente com o aparato tecnológico, 15% se conectam por até 3
horas diárias, 23% ficam por até 2 horas no computador, 13% por até 1 hora, restando aos
14% uma dedicação menor que 1 hora por dia. Esses dados são importantes para
constatarmos, sem dúvida nenhuma, o potencial de público leitor, jovem e instruído, que
navega pela internet, e independente daquilo que busca nesse espaço, pode vir a consumir a
literatura que ali emerge.
Gráfico 1: Tempo de utilização da Internet
(Elaboração própria a partir de dados da pesquisa de campo)
Outra questão observada diz respeito ao suporte onde os graduandos registram com
mais frequência seus textos e trabalhos (gráfico 2). Dos investigados, 59% ignoram o papel,
produzindo diretamente na tela. 39% ainda precisam do suporte do papel para primeira
escrita, antes de passar para o computador. Somente 2% demonstram pouca aptidão com as
técnicas da escrita em ambiente eletrônico, necessitando de terceiros para digitalizar os textos.
Essa questão nos remete ao bom domínio que mais da metade dos investigados possuem em
relação ao suporte tecnológico. Por sua vez, por terem sido alfabetizados utilizando o papel,
muitos ainda não conseguem se desvencilhar totalmente dele.
84
Gráfico 2: Escrita de textos
(Elaboração própria a partir da pesquisa de campo)
Outro dado importante a ser referendado gira em torno da busca por informações em
ambiente digital, que supera em grande parte a pesquisa feita em obras impressas (gráfico 3).
Dentre os universitários, somente 11% se dedicam à leitura dos livros impressos para fazer
algum tipo de trabalho. A partir dos dados coletados, surge uma curiosa questão: tanto o livro
impresso, quanto o livro digital aparecem como a opção escolhida somente por uma pequena
parcela dos alunos. Isso revela o imediatismo e a busca pela facilitação do conhecimento. O
livro das mais diferentes áreas do conhecimento, independente do suporte, disputa a atenção
dos leitores, que se veem, em muitos momentos, perdidos com a enxurrada de informações
despejadas na web.
85
Gráfico 3: Busca de informação
( Elaboração própria a partir de dados da pesquisa de campo)
Pelo caminho percorrido até o momento, é possível perceber que os universitários,
quase que em sua totalidade, conseguem se relacionar satisfatoriamente com o suporte digital,
compreendendo suas funções e interagindo com ele em diferentes situações, atendendo às
suas necessidades. Mas como esse relacionamento ocorre mediante a leitura de uma obra
digital?
Em relação ao modo como os graduandos procedem em relação ao livro digitalizado, foi
possível avaliar que 56% optam pela leitura na tela do computador, 32% preferem imprimir a
obra antes de começar a ler e 12% ignoram o livro em formato digital, buscando a obra
impressa (gráfico 4). Embora mais da metade da população investigada opte pela leitura no
próprio suporte eletrônico, a porcentagem de pessoas que continuam buscando como objeto
de leitura o suporte físico é expressiva. Esse resultado serve para compreendermos que apesar
de a geração mais jovem ser considerada aquela que domina a tecnologia, muitos ainda estão
presos à cultura do livro impresso, necessitando manter com ele um contato íntimo.
Os estudantes que experimentaram a leitura na tela do computador divergem em relação
às suas impressões. Alguns veem a leitura na tela de forma positiva, tendo registrado nos
questionários os seguintes comentários: “ótima”, “igual a um livro ‘normal’”, “interessante”,
“tranquila”, “boa”, “gostei”, “mais rápida que um livro ‘convencional”, “mais econômica” e
“prática”. Outros, por sua vez, encontraram uma série de dificuldades, revelando os pontos
desvantajosos da leitura do livro digital: “é cansativa”, “deu dor de cabeça, nas costas”,
86
“desgastante”, “estressante”, “diferente”, “estranha”, “prefiro livros ‘de verdade’, gosto de
manuseá-los”, “não foi boa, porque incomoda a visão”, “menos atraente”.
Gráfico 4: Como procede quando encontra um livro digitalizado
(Elaboração própria a partir de dados da pesquisa de campo)
Quando perguntados sobre o que costumam fazer ao receber uma indicação
bibliográfica (gráfico 5), 53% do universitários mostram que costumam recorrer ao dowload
da obra na internet. 39%, por sua vez, demonstram a preferência pelo livro impresso buscado
na biblioteca e 8% apontaram a compra do livro impresso como opção. Essa
representatividade na escolha pela obra digital demonstra que esses alunos universitários já
começam a pensar no livro eletrônico como mais uma opção, principalmente pela facilidade
do acesso. Em contrapartida, se considerarmos tanto o livro buscado na biblioteca quanto o
livro adquirido como obras impressas, teremos um somatório de 47% de pessoas ainda
ligadas ao suporte canônico. Isso demonstra que há na sociedade atual leitores para os
diferentes formatos. O leitor, por sua vez, deve ter a liberdade para escolher aquele que se
adpte melhor às suas necessidades.
87
Gráfico 5: Ao receber uma indicação bibliográfica o que costuma fazer?
( Elaboração própria a partir de dados da pesquisa de campo)
4.4. Considerações sobre a leitura digital
A pesquisa desenvolvida foi importante para pensarmos que uma técnica nova não
necessariamente exclui a outra, sendo possível presumir que a possibilidade de com o livro
acontecer o mesmo que aconteceu com indústria fonográfica – o vinil que deu lugar à fita,
depois ao CD e que rapidamente perdeu espaço para arquivos em mp3 – dificilmente
ocorrerá. O mecanismo oferecido pela web não implica necessariamente no desaparecimento
do livro de papel - até porque as tecnologias contemporâneas não conseguiram desqualificálo.
Destarte, a sociedade atual está vivendo um momento de adaptação ao novo suporte e
a aderência ao digital será cada vez maior, principalmente, pelo fato de as futuras gerações já
nascerem num ambiente tecnológico. Isso pode ser notado já no cenário atual, em que os
recursos tecnológicos provocam grande atração nas crianças. Cada vez mais novas, elas fazem
uso de celulares e computadores com total autonomia. Até aqueles que mal sabem ler e
escrever se relacionam quase que, instintivamente, com as tecnologias.
Para que a leitura digital conquiste cada vez mais adeptos, é necessário, pois, que
sejam desenvolvidas competências de leitura para garantir uma eficiente compreensão daquilo
que está disponível em formato digital. O site Brasilien82 apresenta um importante estudo
feito pela empresa de consultoria em internet Miratech para apurar a interferência do suporte
na recepção dos textos. Segundo a pesquisa, as pessoas que leram um artigo de jornal em
82
Disponível em http://www.goethe.de/ins/br/lp/kul/dub/ske/pt8118466.htm. Acesso em 29.06.2012
88
formato digital foram capazes de reproduzir 90 por cento de seu conteúdo, enquanto aquelas
que leram o texto no iPad só retiveram 70 por cento dele. Outro estudo noticiado pelo mesmo
site foi desenvolvido pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) de 2009.
Na comparação da compreensão da leitura em mídias eletrônicas com a de textos impressos,
as diferenças foram significantes. Em sete dos dezenove países participantes, os alunos
obtiveram resultados claramente piores lendo em formatos eletrônicos do que em mídias
impressas. Para o escritor Henrique Rodrigues, “os textos estão cada vez mais velozes. O
novo leitor é menos reflexivo e mais processador. Mas estamos numa fase de transição”. (Ver
anexo P)
CONSIDERAÇÕES FINAIS: LITERATURA NA INTERNET - UMA ALTERNATIVA
Mesmo com toda a temeridade que há em se trabalhar com um tema que não nos
permite certezas, busquei, com esta pesquisa, de alguma forma, colocar-me diante daquilo que
investiguei e comentar aquilo que, performaticamente, está em processo, em curso, pois a
89
literatura, com o suporte do computador, mesmo já trazendo consigo modificações reais no
que tange à democratização da produção, à interação leitor e escritor, à divulgação e à
circulação da produção, inclusive, com a facilitação de acesso aos livros por meio de
download, ainda promove indagações sobre seus rumos. Em um tempo não tão longínquo,
quem sabe, podemos encontrar embaralhadas, radicalmente, as funções entre autor/ leitor, ou
mesmo uma literatura linkada – totalmente diferenciada do papel, tendo sua existência
atrelada às telas dos computadores e e-readers. Sem contar que os livros, como julgam os
apocalípticos, poderão se tornar peças de museus e de colecionadores.
O que se pôde apurar de fato é que a internet vem se consolidando como um canal
legítimo de debate literário, além de possibilitar que pessoas comuns, completamente fora da
mídia, dispondo de acesso ao computador, comecem a exibir o que antes ficava escondido nas
gavetas ou aquilo que era rejeitado pelas editoras. Atualmente, os escritores que produzem na
web, mais do que um meio de expressão, encontram nela uma etapa no processo de
publicação, podendo ser vistos por leitores, outros escritores e críticos. Em decorrência disso,
o mercado editorial tenta acompanhar essa efervescência e busca, inclusive em blogs, sites e
revistas literárias, a aparição de novos escritores. Isso demonstra que esse ambiente propício à
literatura não pode ser ignorado. A crítica que parece estar “de mal com a literatura” deve
começar a pensar em projetos, que, de alguma forma, possibilitem o seu eterno ritmo de fazer,
desfazer, reciclar...
A rede também tem se mostrado como um bom meio para captação de leitores
interassados na literatura contemporânea. Todavia faz-se necessária uma consideração. A
leitura em ambiente digital repleta de links, numa multiplicidade de janelas que se abrem e
fecham, torna-se mais veloz e menos reflexiva. Esse é o momento em que leitores e escritores
começam a conhecer as reais possibilidades da web, tentam se adaptar às inovações e
exigências do suporte, transformando-se em leitores e escritores linkados e não somente
operadores de máquinas.
O escritor linkado é aquele que cria aproveitando as vantagens do veículo,
compreendendo seu caráter rizomático e híbrido. Já o leitor linkado é criativo e privilegiado
em termos de conhecimento, conseguindo navegar pelo mar digital e pelo labirinto
hipertextual presente na internet, decifrando as ligações e “urdindo” a trama que lhe é
proposta. Caso leitores e escritores não adquiram tais habilidades, o suporte - cuja proposta é
a democratização - pode acarretar um retrocesso na literatura, afastando ainda mais os leitores
dos textos ali produzidos.
90
Esta pesquisa, por sua vez, não se encerra aqui. O que fiz foi tentar analisar este
momento presente, colocando- me no lugar do crítico, desejoso de conhecer e entender
melhor um tema que ainda vive seu processo de gestação. Não quero, porém, dar um caráter
conclusivo às questões aqui tratadas, principalmente, pela necessidade de continuar o
processo investigativo de um tema cuja volatilidade impossibilita o aprisionamento das
certezas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
91
ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea; tradução
Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.
BABO, Maria Augusta. As transformações provocadas pelas tecnologias digitais na
instituição literária. Disponível em <http//bocc.ubi.pt/pag/babo-maria-augusta-tecnologiasliteratura.html>Acesso em 20/11/2009.
BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. São Paulo:
Hucitec, 1988.
BARSOTTI, Adriana. Novas regras para o jogo literário. O Globo, Rio de Janeiro, 04 set
2010, Prosa & Verso, p. 1 - 2.
BARTHES, Roland. “A morte do autor”. In: O rumor da língua. Trad. Mario Laranjeira. 2ª
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica” IN: Obras
escolhidas: Magia e técnica, arte e política. 7ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
BOSCHINI, Rosely. É preciso conviver com as transformações. Jornal do Brasil, São Paulo,
28 mar 2010. Mercado, p.6.
CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos?; tradução Nilson Moulin – São Paulo: Companhia
das Letras, 1993.
CARDOSO, Carla; MELO, Olívia. Ciberliteratura: O (não) lugar da literatura no
Ciberespaço. Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro. out. - dez. – nº 179, p. 107-116, 2009.
CARNEIRO, Flavio; MORICONE, Italo; Blogueiros na berlinda. Jornal do Brasil São Paulo,
27 nov, 2004, Ideias.
CARRIÈRE, Jean-Claude; ECO, Umberto. Não contem com o fim do livro. Rio de Janeiro:
Record, 2010.
CASTELO, José. Visita à caverna. O Globo. Rio de Janeiro, abr 2010, Prosa & Verso, p. 4 10.
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador: conversações com Jean
Lebrun. Trad. Reginaldo C. Corrêa de Moraes. São Paulo: UNESP, 1999. (Col. Prismas).
CLÉMENT, Jean. “Do livro ao texto”. In: SÜSSEKIND, Flora (org.). Historiografia literária
e as técnicas da escrita: do manuscrito ao hipertexto. Rio de Janeiro: Vieira e Lent, 2004.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da Teoria: Literatura e senso comum; tradução de
Cleonice Paes Barreto Mourão, Consuelo Fortes Santiago – Belo Horizonte: Ed. UFMG,
2003.
92
CORRAL, Milagos Del. O livro tem futuro? A cultura do livro na era da globalização.
Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, jul.-set. – nº 142, p.125- 134, 2000.
CONDE, Miguel. Internet, botequim literário: Blogs e o torneio virtual democratizam e
animam debate sobre livros. O Globo. Rio de Janeiro, 08 dez 2007, Prosa & Verso.
DARNTON, Robert. A questão dos livros: Passado, presente e futuro. São Paulo: Companhia
das Letras, 2010.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol.1. Rio de
Janeiro: Ed. 34, 1995.
DEALTRY, Giovanna. A crítica como exploração. O Globo. Rio de Janeiro, 30 abr 2011,
Prosa & Verso.
EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: uma introdução, São Paulo: Editora Martins
Fontes, 1983.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da
Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
JABOR, Arnaldo. Os burros e os pavões: A e-literatura precisa de críticos sem medo. O
Globo. Rio de Janeiro, 27 mar 2012, Segundo Caderno, p.10.
KLINGER, Diana Irene. Escritas de si, escritas do outro: autoficção e etnografia na narrativa
latino-americana contemporânea. 2006. 204 f. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de
Pós-Graduação em Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet. Belo Horizonte:
UFMG, 2008.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.
__________. O que é o virtual? São Paulo: Ed. 34, 1996.
LYRA, Pedro. Nos 15 anos do poema-postal. Rio de Janeiro. 3ª ed. Edições Lira, 2009.
MARTINS, Analice. Modos de produção e circulação na WEB: Algumas notícias da atual
literatura brasileira. Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro. out. - dez. – nº 179, p.93-105,
2009.
_________________. XI Congresso Internacional da ABRALIC: Tessituras, Interações,
Convergências, 2008. São Paulo. Literatura para quê?
OLIVEIRA, Bruno Lima. O retorno do autor na literatura contemporânea. Disponível em
<http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/pt/arquivos/gt_lt16_artigo_5.pdf.>
Acesso
em
24.06.2012
PÉCORA, Alcir. A hipótese da crise. O Globo. Rio de Janeiro 23 abr, Prosa & Verso 2011.
PIRES, Luciana Pessanha. Discutindo Literatura: Uma “ágora” virtual da cultura
contemporânea. Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro. abr.- jun. – nº 185, p.5-7, 2011.
93
RANGEL, Vivian. Adeus, egotrip!. Jornal do Brasil, São Paulo, 26 jan 2008, Idéias.
RIBEIRO, Rosiane Lúcia. e-book – a transfiguração do texto: De fixo no papel à manipulação
na tela. Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro. out. - dez. – nº 179, p. 49-62, 2009.
RODRIGUES, Sérgio. A crítica de mal com a literatura. O Globo. Rio de Janeiro.
01/05/2010.
SÁ, Sérgio Araujo de. A reinvenção do escritor: literatura e mass media. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2010.
SAID, Edward W. Representações do intelectual: as conferências de Reith de 1993. São
Paulo: Companhia das Letras, 2005.
SANTOS, Cinthya Costa. “Literatura Digital: Intertexto, Intratexto e Hipertexto”. In: 2º
Encontro de Ciência da Literatura, da Faculdade de Letras da UFRJ, 21 a 23 de outubro de
2002. Disponível em http://www.letras.ufrj.br/ciencialit/index_encontro.htm, Acesso em
23/06/2011.
SANTOS, Jair Ferreira. O que é pós-moderno. ed. 12ª. São Paulo: Editora brasiliense, 1994
SIBILA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2008.
SCHITTINE, Denise. Blog: Comunicação e escrita íntima na internet. Rio de Janeiro.
Civilização Brasileira, 2004
SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro.
Civilização Brasileira, 2009.
VENTURA, Zuenir. Uma tuiteratura? O Globo. Rio de Janeiro, abr 2010, p.7.
VIEGAS, Ana Cláudia. “A ficção brasileira contemporânea e as redes hipertextuais”. IN:
Revista brasileira de literatura comparada, vol. 9. RJ: Abralic, 2006.
___________________. O “eu” como matéria de ficção: o espaço biográfico contemporâneo
e as tecnologias digitais. IN: Revista Texto Digital, ano 4 n.2. Santa Catarina, 2008.
Disponível em http://www.textodigital.ufsc.br/ Acesso em 01/02/2010.
___________________. Quando a técnica se faz texto nas superfícies da rede. Disponível em
Disponível em: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/article/view/1285/992.
Acesso em 25.06.2012.
____________________. Uma aventura literária por novas tecnologias. Disponível em:
http://www.abralic.org.br/download/revista/Revista_Brasileira_de_Literatura_Comparada__06.pdf - Acesso em 06/06/2002.
VILLAÇA, Nízia. Impresso ou eletrônico: um trajeto de leitura. RJ. Mauad, 2002.
94
WOLFF, Francis. Dilemas dos Intelectuais. In: O silêncio dos intelectuais. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006. pp. 45-68.
ZILBERMAN, Regina. Fim dos livros, fim dos leitores? São Paulo: Senac, 2001.
ANEXO A - Perfil da Amostra
Total de entrevistas: 376
95
Universidades Selecionadas Aleatoriamente
UENF
UNIFLU
(FAFIC)
UNIFLU
(ODONTO)
UNIVERSO
UCAM
ISE
85
31
30
74
54
98
PERFIL DA AMOSTRA POR IDADE
16-20
117
21- 25
161
26-30
42
31 -35
27
36-40
10
41-45
7
46-50
11
51 ou mais
1
PERFIL DA AMOSTRA POR CURSO DE GRADUAÇÃO (ALUNOS SELECIONADOS AO AZAR)
Administração
27
Agronomia
17
Arquitetura
20
Artes Visuais
6
Biologia
11
Ciências Contábeis
10
Ciências Sociais
2
Computação
8
Comunicação
3
Direito
29
Educação Física
12
Enfermagem
10
Engenharia
77
Física
6
Fisioterapia
6
96
Jornalismo
4
Matemática
9
Odontologia
30
Pedagogia
55
Psicologia
6
Relações Internacionais
6
Secretariado
6
Tecnologia Logística
6
Veterinária
4
Zootecnia
6
ANEXO B - Entrevista com a escritora Adriana Lisboa
97
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Possuo dez livros impressos. Comecei a publicar em 1999, pela editora Rocco, e de lá para cá
lancei no total cinco romances, um livro de contos/poemas em prosa, e quatro livros infantojuvenis.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
Nunca usei a internet para minha produção. Mantive um blog durante alguns anos mas ele
nunca fez parte do meu processo criativo. Às vezes eu publicava ali alguns textos breves
inéditos, mas não com frequência. Não era o motivo principal de manter o blog, muito mais
voltado para textos de não-ficção, sobre temas diversos - desde literatura até direitos animais e
ecologia - e fotos.
3- Qual sua relação com os cânones?
Sempre fui uma leitora desorganizada e impulsiva, que lê aquilo que gosta. Então, se leio os
autores canônicos é porque tenho prazer com isso. Mas em geral as obras que sobreviveram
ao crivo do tempo, como os escritos de Cervantes ou Machado de Assis, definitivamente têm
algo a dizer ao leitor comum e muito a ensinar aos escritores.
4- Quem está lendo?
Toni Morrison, seu último romance, chamado "Home."
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de
escritor?
Sim. Do mesmo modo como um compositor estuda e ouve os seus antecessores, e como um
pintor vê e estuda os mestres do passado, acho importante conhecer a minha tradição. Mas é
claro que o conceito de cânone é elástico. Podemos nos referir só ao cânone ocidental,
podemos estendê-lo aos mestres de outras partes do mundo que têm uma história distinta da
98
nossa. No meu caso, li e leio autores clássicos japoneses, chineses. E não li tanto os alemães,
por exemplo. De modo que o meu cânone é o meu cânone.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
Sim. O problema não é a gente ser considerado escritor ou não, mas o empenho no trabalho e
a qualidade do que faz. Quando publiquei meu primeiro livro e comecei a me considerar
escritora, primeiro achei que tinha chegado a algum lugar. Depois vi que o caminho estava
apenas começando.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Não tenho acompanhado.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Como não publico trechos de romances ou contos que esteja escrevendo na web, isso nunca
aconteceu. As sugestões vêm de amigos a quem peço o favor da leitura.
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso? (Somente para quem possui obra
impressa).
Já publiquei no meu blog textos despretensiosos, "instantâneos," poemas em prosa que depois
aproveitei em algum livro.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Acho que não. Já tive uma experiência de escrita a quatro mãos e mesmo tendo sido um
roteiro de cinema foi muito difícil.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Não estou acompanhando isso de perto, mas pelo que posso observar, não.
Pode ser que haja casos específicos em que isso ocorra, mas mais uma vez não estou a par.
ANEXO C- Entrevista com o escritor Alexandre Inagaki
99
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Participei de diversos grupos de discussão literária no começo da minha trajetória na internet,
em meados de 1997. Através desses grupos, conheci muita gente talentosa, que me estimulou
a criar um fanzine virtual distribuído por e-mail, o SpamZine, que reunia semanalmente
contos, crônicas e poemas de autores que conheci na internet, e que convidei para
colaborarem nas edições. O SpamZine circulou de 1999 a 2001, chegando a ter mais de 3.000
assinantes cadastrados no site, publicando textos de muitos blogueiros e escritores da
chamada Geração 00, como Cecília Giannetti, João Paulo Cuenca, Augusto Sales e Cardoso
Czarnobai.
Depois que o mailzine acabou, passei a publicar meus textos em meu blog pessoal, "Pensar
Enlouquece, Pense Nisso", no ar desde agosto de 2002. Por causa dos meus textos e das
minhas atividades na web, fui convidado para participar da 1a. Oficina Literária Veredas da
Literatura, em 2004, que foi ministrada pelo escritor amazonense Milton Hatoum na 2a.
edição da FLIP. Fui convidado para integrar duas coletâneas impressas de contos, nos livros
"Blog de Papel" (Editora Gênese, 2005) e "Retratos Japoneses no Brasil" (Editora
Annablumme, 2010), além de ter participado da antologia digital "Enter" (2009), organizada
por Heloísa Buarque de Hollanda. Também sou o autor dos prefácios dos livros "Vestido de
Flor", de Carlos Eduardo Lima, e "Meias Vermelhas & Histórias Tristes", de Marcos
Donizetti.
Mas confesso que deixei a literatura de lado há tempos, devido à profusão de atividades
profissionais nas quais me envolvi ao longo destes anos. Sou jornalista, mas o que realmente
me ocupa o tempo são as muitas consultorias de comunicação em mídias digitais que dou para
agências de publicidade e empresas como Bradesco e Coca-Cola, além das curadorias de
eventos de cultura digital como Campus Party Brasil, youPIX Festival e Desencontro.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
100
A internet é um belíssimo laboratório online para autores que querem experimentar novos
formatos literários, recebendo o feedback quase imediato de seus leitores. Além disso, é uma
imensa mesa de bar virtual, na qual basta puxar uma cadeira para trocar ideias com outras
pessoas que compartilham suas leituras, autores favoritos, paixões, discordâncias e
idiossincrasias, fomentando ideias para novos textos.
3- Qual sua relação com os cânones?
Já fui um leitor mais contumaz dos cânones. Quando tinha mais tempo livre, li Machado,
Goethe, Shakespeare, Mann, Faulkner, Borges, Baudelaire, Melo Neto e diversos outros
mestres que foram fundamentais na minha formação. Mas, hoje, infelizmente mal tenho
tempo para leituras que não sejam estritamente ligadas à minha área de atuação.
4- Quem está lendo?
Estou lendo atualmente um livro de Nicholas Carr, jornalista que trabalhou em publicações
como New York Times e The Guardian, bastante apropriado para os tempos atuais: "A
Geração Superficial: O que a internet está fazendo com o nosso cérebro".
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
Sim, sem dúvida nenhuma. Os cânones não ganharam a condição de clássicos à toa.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
Claro. Livros são o suporte mais tradicional, mas grandes prosas e versos ganham vida pelo
seu conteúdo, independente de usarem como interface um papel, uma tatuagem, um tronco de
árvore ou bits e bytes.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Sim. Dos autores que foram revelados pela internet e migraram para os livros impressos,
destaco os nomes de Joca Reiners Terron, João Paulo Cuenca, Daniel Galera, Cecília Gianetti,
Daniel Pellizzari, Ana Guadalupe e Daniela Abade.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Não. Creio que meu superego é o leitor mais exigente que tenho, e que constantemente faz
com que eu mexa em meus textos.
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso? (Somente para quem possui obra
impressa).
Embora eu só tenha tido alguns contos publicados (que, publicados originalmente na web,
sofreram algumas pequenas modificações ligadas ao contexto histórico de algumas situações),
aproveito essa pergunta para fazer o seguinte comentário: embora já tenha sido convidado por
algumas editoras para publicar um livro, declinei de todas as sondagens porque eu
sinceramente não tenho a menor pressa de fazer isso. Os anos nos quais cursei Letras na USP,
101
com professores como Alfredo Bosi e Davi Arrigucci Jr., me fizeram ver que literatura não
pode ter pressa. Estou esperando meus textos envelhecerem, a fim de saber se sobreviverão
bem como os melhores vinhos, ou se não passam de vinagre.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Sim. Tendo bons parceiros, seria um prazer se envolver em um projeto escrito por várias
mãos.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Sim. A literatura traduz o mundo em que vivemos, e o fato é que a internet mudou
irremediavelmente a nossa realidade. A língua portuguesa já está vivenciando diariamente as
influências de toda uma série de neologismos, estrangeirismos e abreviações trazidas pela
linguagem usada na web, e temas como (evasão de) privacidade, a esquizofrenia virtual das
várias personas que vivemos em cada rede social que frequentamos, e a globalização
acelerada pelo universo de fronteiras dissipadas pela internet são constantemente abordados
na literatura de nossos dias.
ANEXO D – Entrevista com a escritora Alice Sant’anna
102
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Preparei um livrinho “amostra grátis” em julho de 2007, Pra não ficar na gaveta, numa
tiragem de 100 exemplares, grampeados a mão. Lancei depois, em agosto de 2008, pela 7
Letras, Dobradura, que por enquanto é meu único livro publicado. Em 2009, escrevi o
Bichinhos de luz, um poema longo que meu amigo Rodrigo Leme ilustrou
(http://rleme.com/index.php?/port/bl/), numa tiragem artesanal de 120 livrinhos, que
distribuímos entre amigos. Comecei publicando na internet, em adobradura.blosgpot.com,
blog que mantenho até hoje, embora não tenha postado muito (por não estar produzindo
muito). Vou lançar meu segundo livro “pra valer” no fim de 2012.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
A internet foi, e é, essencial na medida em que permite trocas. Parece clichê, já que qualquer
lugar permite trocas. Por isso mesmo, a internet é como se fosse uma praça numa cidade do
interior, onde você pode jogar xadrez com amigos e desconhecidos (futuros amigos, quem
sabe). Comecei publicando na internet, e digo que ela foi fundamental porque passei a ter
contato com a produção de muita gente: o que as pessoas da minha geração estão produzindo?
Foi o jeito de tomar conhecimento disso e entender o que eu estava fazendo, com quem me
identificava, com quem não me identificava.
3- Qual sua relação com os cânones?
Há os cânones respeitados, que parecem distantes e impõem seriedade. Mas há os cânones
que escolhemos como nossos preferidos. Eles nos inspiram a escrever, ao mesmo tempo em
que nos paralisam, porque desenham uma linha inatingível, e é impossível “chegar lá”.
4- Quem está lendo?
103
Neste exato momento, coisas para o mestrado: Barthes, Agamben, Calvino e dois japas
(Junihiro Tanizaki e Kenya Hara).
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
Com certeza é importante, para conhecer melhor seu terreno, saber onde se está pisando. No
entanto, como falei, cada poeta elege seu cânone, seu paideuma, e podemos ter como
canônicos escritores de 20 anos, que respeitamos tanto quanto os já consagrados. Não consigo
muito ver essa distinção entre os canônicos já extensamente aclamados e os da nossa própria
geração.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
Claro, até porque “escritor” não precisa carregar nossa avaliação, se é bom ou ruim, se
gostamos ou não: pode ser um bom escritor de internet, e o outro pode ser um mau escritor
publicado.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Duas grandes amigas que conheci em blogs: Bruna Beber, que me deu força para publicar, em
2008, e Ana Guadalupe, para quem eu dei força para publicar, no ano passado. Sigo as duas,
troco com as duas, me sinto próxima delas.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Sim, várias vezes. O Armando Freitas Filho já me ajudou muito nisso: essa parte não está boa,
corte esse final. São sugestões, sempre muito bem-vindas. Gosto muito de ouvir opinião de
quem admiro para melhorar o poema, já que às vezes nossa proximidade é tanta que não
conseguimos afastar o rosto da página, e não encontramos solução. Já as críticas agressivas,
gratuitas – a internet, nesse sentido, pode ser bem traiçoeira também –, são difíceis de levar.
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso? (Somente para quem possui obra
impressa).
Aproveito, com certeza. A internet pode ter a função de caderno, rascunho, que você
reescreve, faz várias versões. A que sai no livro é a final. Meu livro foi todo publicado na
internet antes, não vejo nenhum problema nisso.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Sim, se o projeto for interessante.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
104
Transformar a literatura, não sei, é difícil dizer. Acho que tem transformado as relações, os
caminhos, tem produzido novas etapas e novos procedimentos. O autor agora não fica mais no
castelo e dá as caras apenas a cada 4, 5 anos, quando publica livro. O autor está logo ali, no
blog, email e facebook, e qualquer um – leitores e outros autores – pode sentar no banco de
praça e trocar uma ideia. A internet aparece mais como novo suporte, acho, como ponto de
encontro. Não vejo tanto uma mudança na literatura em si. Mas também é possível que, de
novo, eu esteja com os olhos colados demais à tela e tenha dificuldade de ver essa
transformação.
ANEXO E – Entrevista com o escritor André de Leones
105
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Tenho quatro livros publicados: "Hoje está um dia morto" (romance, Record), "Paz na Terra
entre os monstros" (contos, Record), "Como desaparecer completamente" (romance, Rocco) e
"Dentes negros" (romance, Rocco). Antes, contudo, de publicar o primeiro deles, eu usava a
internet como forma de divulgar o meu trabalho, então por meio de um blog (que mantenho
até hoje) e também colaborando com revistas virtuais.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
A internet é um tremendo instrumento de pesquisa e também de divulgação.
3- Qual sua relação com os cânones?
A melhor possível. Ler os clássicos é imprescindível. Porque são clássicos, isto é, obras cujas
relevância e interesse são atemporais, eles nos oferecem visões únicas sobre a nossa condição,
não importa onde estejamos.
4- Quem está lendo?
Este tem sido um ótimo ano. Li a nova tradução do "Guerra e Paz", de Liev Tostói, "A
Educação Sentimental", de Flaubert, estes pela primeira vez, e também reli um romance do
meu autor predileto, Thomas Pynchon, "Contra o Dia". Ao mesmo tempo, tento ficar
conectado à produção contemporânea. Assim, também li "Bonsai", de Alejandro Zambra, e
estou quase terminando "A Visita Cruel do Tempo", de Jennifer Egan. A nova tradução do
"Ulysses", de James Joyce, certamente me levará de volta a Dublin (li as duas traduções
anteriores, e torço para que saiam outras).
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
Como eu disse antes, é imprescindível. É uma obrigação do escritor conhecer os autores que
fizeram da literatura o que ela é. Não consigo, por exemplo, imaginar um bom cineasta que
106
não conheça a fundo a história do cinema ou um bom músico que não ouça as obras dos
grandes compositores. Não poderia ser diferente com a literatura.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
Sim, claro. Escritor é quem escreve.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Sim. Alguns já publicaram livros a essa altura, mas ainda acompanho as publicações virtuais
de
Maira
Parula
(http://prosacaotica.blogspot.com.br/),
Wilton
Cardoso
(http://minutosdefeiticaria.wordpress.com/),
Bruno
Bandido
http://brunobandido.wordpress.com/), dentre outros.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Que eu me lembre, não.
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso?
Acontece de eu publicar, em meu blog (vicentemiguel.wordpress.com), trechos de algo que
venha escrevendo, alguns contos e poemas. Nunca aconteceu de eu começar a escrever algo
para o blog e, depois, desenvolver isso da maneira tradicional, para um livro. Publicar trechos
de um romance no qual trabalho é uma forma de divulgá-lo. Quando o livro é impresso e
lançado, os leitores já estão um pouco familiarizados.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Não. Não vejo sentido nisso. A literatura tal e qual praticamos ainda hoje é uma invenção
burguesa e, portanto, expressão de uma individualidade. Escrita coletiva não faz, para mim, o
menor sentido, não vejo como poderia dar certo.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Por enquanto, não vejo ninguém escrevendo diferente em função do suporte. O que eu vejo é
gente se apropriando de certas formas (blog, por exemplo) e as utilizando no corpo de um
romance. Agora, não vi nada como uma nova forma de escrita nascendo em função dos novos
suportes.
ANEXO F – Entrevista com o escritor Bruno Goularte
107
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Comecei a escrever em blogs e em uma coluna do extinto site Arteweb Brasil. Eram textos
sem pretensões literárias. E, ao mesmo tempo, sempre escrevi contos, peças, roteiros e
esboços de romance, mas não os publico em blog (meu blog, em maioria, são textos que
escrevo na hora, quase todos sem revisar, geralmente bêbado). Alguns sites literários
(Germina Literatura, O Bule, Clitoris, Língua Pop, Antologia Bronson...) possuem contos ou
poemas meus. E, por ler minhas coisas, uma editora da Objetiva me chamou pra participar da
edição Número 8 da revista Granta - é meu único texto publicado impresso.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
Para minha produção, de modo nenhum. Eu produziria sem internet os mesmos contos e peças
e roteiros e esboços de romance. O que ela facilita é a pós-produção. Contatos, envio rápido,
chance de publicar fragmentos, diálogo com outros escritores, essas coisas. E os textos do
blog, que são mais diário mesmo, aí sim, alguns só existem devido ao formato que a internet
possibilitou através dos blogs.
3- Qual sua relação com os cânones?
Foram os primeiros que li (embora 'cânone' seja subjetivo às vezes). Ainda falta entrar fundo
em alguns. Em outros, mesmo sabendo que são bons, nunca vou entrar. Li os clássicos e
quase todo o resto de escritores como: Kafka, Dostoievski, Hemingway, Cortázar, Camus - os
grandes que prefiro. E, no altar aqui do apartamento, o maldito Céline é rei e o vilipendiado
Charles Bukowski segue ganhando brigas.
4- Quem está lendo?
Ando lendo Borges, Junichiro Tanizaki, Mempo Giardinelli, Ricardo Carlaccio e biografias
dos Rolling Stones.
108
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
Eu acho que ajuda. Tudo tem seu tempo. Se você é um leitor jovem e tá difícil encarar um
Crime e Castigo ou Irmãos Karamazov, tente Notas do Subterrâneo. Se Shakespeare não te
pegou, desencana e lê Salinger. Tudo tem seu tempo. O importante é achar sua turma, quem
fala sua língua, e ter uma visão crítica sobre ela. O importante é ler e saber separar qualidade
de gosto. Se você acha Graciliano Ramos um saco, isso não quer dizer que ele seja ruim. Se
você acha On The Road um livro de mal gosto ou juvenil, isso não quer dizer que ele não
presta. Tanto Graciliano como Kerouac são ótimos escritores, por exemplo. O fato de você
gostar ou não, não vai mudar nada.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
Considero. Se ele escreve qualquer tipo de literatura na internet, não precisa de um livro
impresso pra consumar qualquer coisa. De novo, a qualidade não entra nesse mérito também.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Diego Moraes, Camila Fraga e Cardoso são três deles.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Não. Em blogs, por exemplo, comentários costumam ser muito vazios, os de amor e os de
ódio. Também se resume muito aou "Curti" e "Não curti". E, pelas estatísticas, a maioria dos
leitores não comenta, é silenciosa. Claro que já recebi muitos comentários ou e-mails
elaborados que gostei de ler. Mas não mudaria nada mesmo assim.
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso?
Os textos que escrevo no blog só caberiam no blog, mas isso é uma opinião particular. Muitos
dizem que eu devia lançar um livro com os melhores que já postei ali. Alguns escritores já me
disseram isso, inclusive. Eu acho que não. São textos rápidos e bêbados. Mas, quando me
pedem um conto para uma revista virtual, por exemplo, o fato de ser virtual não muda muita
coisa. Só procuro não mandar algo grande demais, além de leitura na tela do computador
cansar muitas pessoas, tá cada vez mais difícil ler algo grande na internet e, acho que, fora
dela. Twitter, Facebook, eles venceram - é claro.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Nem pensar. Mas a culpa, a ignorância e o fardo são meus. Sou um cara solitário e acredito
que escritores, assim como boxistas, devem se manter assim.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Suponho que sim. Não cabe a mim listar todos aspectos (nem saberia). Mas ela tem
transformado a literatura porque tem transformado leitores. O jeito que você recebe cultura e
109
informação - mesmo que inútil - mudou, e é mais rápido (o papo de twitter, facebook e etc).
Percebo que ter atenção pra ler um livro inteiro antigo e pesado é cada vez mais difícil nessa
nova geração. E, assim como os comentários de blog são vazios, os fora dele também tão se
tornando assim. Portanto, grande parte dos escritores dessa nova geração - já que lêem e
recebem suas informações de um modo novo e diferente - vão começar a escrever suas coisas
de um jeito diferente também, mais rápido, talvez até mais ágil, só não sei se melhor ou pior.
No cinema de massa, por exemplo, isso já é bem claro. Basta comparar o ritmo dos
blockbusters e filmes infantis de hoje com os dos anos 80.
ANEXO G - Entrevista com a escritora Cecília Giannetti
110
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Escrevi o romance Lugares que não conheço, pessoas que nunca vi, que foi publicado pela
Ediouro/Agir em 2007 e foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2008. Tenho contos
em antologias da Ediouro, Record, Casa da Palavra, Flanêur, Scipione e La Nuova Frontiera e
vou publicar um agora na Alemanha, também em antologia. Fui co-autora da minissérie
Afinal o que querem as mulheres, da TV Globo, do Núcleo Luiz Fernando Carvalho, em
2010.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
Utilizo internet para pesquisas, tenho utilizado pouco o meu blog e as redes sociais mas por
falta de tempo, pretendo voltar a trabalhar com eles para ajudar a divulgar meu trabalho, como
eu sempre fiz.
3- Qual sua relação com os cânones?
Eu preciso lê-los, como todo escritor, mas cada leitor possui seus cânones. Não peguei uma
lista pronta de cânones para seguir.
4- Quem está lendo?
Roberto Bolaño.
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
Essencial.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
111
Certamente. Se escrevem, publicam e são lidos e comentados, como dizer que não são
escritores?
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Não acompanho.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Não.
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso? (Somente para quem possui obra
impressa).
Na produção do primeiro romance, alguns trechos dele haviam sido publicados antes em um
antigo blog meu; então eu alterei, reescrevi mil vezes e foram parar no livro.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Se sobrasse tempo e eu estivesse me divertindo, sim, por que não?
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Admitir que o suporte vá transformar a literatura é dizer que temos um escritor transformado
também. Ou transtornado. Talvez alguém que não consiga, por exemplo, se desligar dos
comunicadores como Gtalk e MSN na hora de produzir conteúdo para seu livro e não tenha a
atenção 100% voltada para o romance ou conto ou poesia. Aí é um estrago. Eu não acredito
nesse indivíduo como escritor. Portanto, não acredito que o suporte interfira tanto assim na
formação dessa literatura. Fora isso, o Word é uma folha de papel. Uma folha de papel digital
com possibilidades magníficas, como adicionar arquivos de som e de imagem - para
lembrarmos de sons e imagens que associamos a determinadas passagens que desejamos
incluir em nossos livros. E a internet é uma excelente fonte de pesquisa, basta saber usar, e
principalmente em quais sites confiar. São apenas ferramentas auxiliares, elas não dominam a
mente e a criatividade do autor. Todos nós adoramos nossas máquinas e gadgets, somos
fascinados por eles, mas no final das contas ainda somos nós quem mandamos.
ANEXO H – Entrevista com o escritor Daniel Galera
112
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Comecei publicando na web, entre 1997 e 2001, e a partir disso passei a publicar somente em
livro impresso, primeiro por uma editora independente que criei com amigos, a Livros do
Mal, e depois pela editora Companhia das Letras. Publiquei um livro de contos, três romances
e uma história em quadrinhos.
2- De que modo a internet contribui para sua
produção?
Nos primeiros anos, foi essencial para que eu começasse a publicar sem custo e com alcance
virtualmente global, experimentasse mais livremente com o meu estilo com o intuito de
aprimorá-lo e adquirisse um pequeno público leitor inicial.
3- Qual sua relação com os cânones?
Não entendi.
4- Quem está lendo?
Agora estou lendo "The Bodhisattva's Brain: Buddhism Naturalized", de Owen Flanagan.
Antes disso li "Bonsai", de Alejandro Zambra, e "Guia de ruas sem saída", de Joca Reiners
Terron.
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
Sim.
113
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
Se a qualidade da obra e o comprometimento com a escrita forem consistentes, sim.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Hoje em dia leio muito pouca ficção na web. De todo modo, não concordo muito com essa
expressão "surgido na web". Os autores iniciantes publicam na web sobretudo porque está
disponível, não porque tenham eleito a web como meio de publicação principal ou algo assim.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicara?
Isso acontecia às vezes quando eu publicava na web, principalmente nos contos que publiquei
no mail-zine "Cardosonline" (1998-2001), do qual era colaborador fixo. Os leitores opinavam
bastante sobre os contos e eventualmente eu os revisava com base em alguma crítica ou
sugestão. A internet permite isso, muito mais que os meios impressos.
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso? (Somente para quem possui obra
impressa).
Não produzo na web.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Não. Tive uma única experiência com escrita coletiva uma vez e foi terrível. A literatura se
beneficia de subjetividades trabalhando isoladas e entra em terreno bastante instável nas
criações coletivas.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Não. Quando a internet se popularizou, houve muitas previsões de que a literatura se
transformaria de acordo com as características desse novo meio, rumo a um estilo mais
condensado e fragmentado, por exemplo, ou que incorporasse o hipertexto e os recursos
multimídia. O que se vê é que a literatura não vingou na internet. A internet é um espaço de
ampla discussão sobre literatura, sobre livros, mas não de publicação de literatura em si, que
continua tendo os livros (impressos e eletrônicos) como suporte principal. Os gêneros
clássicos -- conto, romance, poesia -- não sofreram nenhuma modificação radical em função
da web e sua evolução tem acontecido independentemente dela.
114
ANEXO I – Entrevista com a escritora Josely Bittencourt
1-Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Acerca da “trajetória literária”, sempre escrevi, desde guria, em cadernos, blocos, parede,
mesa, pele, pedacinho de papel ou pano, enfim. A plataforma virtual e suas inúmeras
possibilidades é uma diversão também, especialmente quando posso ver o texto postado, olhar
a tela com o texto é muito prazeroso. Impresso foi apenas um conto pela editora record, num
concurso da fundação Oldemburg em homenagem a Drummond. Embora a vontade do livro
seja algo boboca que algumas vezes ainda me sonda. (Boboca, porque é livro demais, poesia
demais, texto demais, besteira demais pelo mundo...) Já na web, esse “demasiado boboca” se
dilui no demasiado tudo da rede, onde há uma espécie de fluidez que acaba preterindo a
vontade do impresso.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
Como para mim a produção de textos é brincar, a internet favoreceu bastante, porque
aumentou a diversão. Se o texto é um brinquedo que se monta e desmonta a internet é um
playground infinito, onde a gente brinca, brinca e nunca acaba o encantamento. Essa
característica de usar inúmeras ferramentas de tocar, olhar, ouvir e imaginar estimula o texto
as suas formas diversas e assim se potencializa o gesto de leitura. Escrever e ler são atividades
inseparáveis e com certeza a internet possibilitou maior alcance a minha produção.
3- Qual sua relação com os cânones?
Escrita é reescrita sempre, colagem, palimpsesto, composição de inúmeras vozes... Logo, a
relação com os cânones é não só recorrente como impossível de se calar, por crítica ou tributo
a cada vez que escrevo de algum modo o referencial significa o cânone.
115
4- Quem está lendo?
O que: O mal de montano. De quem: Enrique Vila-Matas.
5- Em sua opinião a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
Certamente, é formação ou deformação depende do contato, ou seja, do modo como foi
estimulado no processo de leitura de cânones ou não, mas é sempre pertinente.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
Sim, considero que a celulose não é um lugar indispensável à formação de escritores,
considerados bons ou não pela crítica. Leitura, talvez seja.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Escritor local, o Herbert Farias dono do blog Graphorrotor e autor de “Itinerário de uma
ausência” e “Mecanismos precários”. A carioca Adriana Lisboa também utilizou bastante a
web, dona do blog Caquis caídos e Amore expressos, entre outros sites, autora de vários livros
entre eles o “Caligrafias”.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Prefiro retirar a ferramenta de comentários, normalmente me enviam e-mails e isso é
interessante para o ego, mas qualquer mudança em meu modo de escrita se deve mais ao meu
momento de leitura.
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso? (Somente para quem possui obra
impressa).
Sim, o que publico na web é parte do que escrevo.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Sim. Mesmo porque já considero a escrita sempre coletiva, na web ou no impresso.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Sim, em inumeráveis aspectos, já que os códigos específicos a princípio da internet se
difundiram tanto, que o uso da língua se modifica rapidamente. Por isso, os processos de
leitura e de escrita exigem outros modos de percepção, portanto a mudança no suporte
interferiu profundamente na realidade, uma vez que transformou em especial o leitor, que se
tornou seu usuário. Assim, no que tange a área acadêmica específica da linguagem, em muitas
universidades o suporte virtual é um tema que fundamenta cursos de linguística, literatura e
pululam livros (impressos e e-books), que se determinam a tratar da linguagem aderindo ao
116
aparato criado pela web e consequentemente da escrita como hipertexto, ou seja, há que se
perguntar se ainda resta algum aspecto que o suporte virtual não tenha sido modificado.
117
ANEXO J - Entrevista com a escritora Maira Parula
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Nos anos 1970 e 1980, participei do que então chamava-se poesia marginal, tanto pelos temas
abordados, como pelos meios de produção. Eram publicações coletivas e independentes, fora
do circuito das grandes editoras. Com a internet, criei o blog de literatura e arte Prosa Caótica
para divulgar meus textos e os de autores pouco conhecidos. Tenho um livro publicado pela
ed. Rocco chamado "Não feche seus olhos esta noite" e continuo publicando pela web.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
Contribui para a divulgação do trabalho e o fácil acesso só aumenta a vontade de escrever.
3- Qual sua relação com os cânones?
A melhor possível. Sempre volto a eles.
4- Quem está lendo?
Não tenho uma disciplina rígida. Leio vários autores ao mesmo tempo. Paul Bowles é um
escritor que me influencia muito no momento.
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
118
Para a formação de um escritor, sim. Até para aprender e fugir deles, em busca de um estilo
próprio.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
Sim. A web é um veículo igualmente relevante e ainda tem um plus: dá mais liberdade de
criação.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Sim. Alguns deles que me lembro agora, Marcelo Mirisola, André de Leones, Bruna Beber,
Angélica Freitas. Observo mais os poetas.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Não.
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso? (Somente para quem possui obra
impressa).
Não diferencio produção impressa da virtual. Para a impressa talvez o filtro seja mais
apurado, apenas isso.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Sim.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Creio que sim. Mas é uma faca de dois gumes. Pode transformar para pior ou melhor. Para
pior no sentido de todos passarem a escrever sobre as mesmas coisas, com temas recorrentes e
usando uma linguagem homogênea demais, sem idiossincrasias ou estilo próprio marcante, o
que conformaria uma literatura massificada. Para melhor, no sentido dos amplos recursos
disponíveis, tanto para pesquisa como para experiências audiovisuais e com vídeo, além do
intercâmbio de ideias e o acesso à literatura de outros países.
119
ANEXO L - Entrevista com o escritor Marcelo Moutinho
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Publiquei meu primeiro livro, “Memórias dos Barcos” (7Letras), em 2001. Depois dele,
vieram “Somos todos iguais nesta noite” (Rocco), em 2006, e “A palavra ausente” (Rocco),
em 2011. Também organizei as antologias “Prosas Cariocas – Uma nova cartografia do Rio”
(com Flávio Izhaki, Casa da Palavra, 2004), “Contos sobre tela” (Pinakotheke, 2005) e
“Dicionário Amoroso da Língua Portuguesa” (com Jorge Reis Sá, Casa da Palavra, 2009), e o
livro de ensaios “Canções do Rio – A cidade em letra e música” (Casa da Palavra, 2010). Isso,
além de participações em várias antologias.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
Para a produção em si, muito pouco. Contribui mais para a divulgação dos livros e para o
diálogo com outros escritores.
3- Qual sua relação com os cânones?
Uma relação respeitosa, mas não subserviente.
4- Quem está lendo?
Acabei de ler “O filho de mil homens”, de Valter Hugo Mãe, e “Bonsai”, de Alejandro
Zambra. Estou nas primeiras páginas de “O inventário de Julio Reis”, de Fernando Molica.
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
120
Sim, na medida em que é importante conhecer o que já foi escrito. Se não, como bem disse o
crítico Harold Bloom, o escritor corre o risco de se achar o próprio Adão, de manhã cedo, no
primeiro dia do Paraíso.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
Claro que sim.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Sim. Quando organizei, com o Flávio Izhaki, o livro “Prosas Cariocas”, o mapeamento de
novos autores incluiu a internet, de onde colhemos o Miguel Conde, a Cecília Giannetti e Ana
Beatriz Guerra.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Não exatamente para a modificação de um texto em produção, mas comentários de leitores, e
também de críticos, são importantes para a maturação da obra. Algumas das observações
feitas em resenhas sobre meu primeiro livro, com as quais concordei, foram levadas em conta
por mim na produção do segundo.
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso? (Somente para quem possui obra
impressa).
Não diferencio, não. Já publiquei em livro impresso contos veiculados originalmente na
internet.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Não.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Acho cedo para mensurarmos isso, embora concorde que o suporte possa vir a ter, sim,
influência na forma. Mas é cedo ainda.
121
ANEXO M - Entrevista com o escritor Pedro Lyra
Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na Web?
Como a entrevista é coletiva, justifica-se a pergunta, pois você conhece minha trajetória.
Estreei como poeta por conta própria em Fortaleza aos 22 anos em 1967 (Sombras – Poesia
da dúvida), portanto antes não apenas da era do computador mas até do xerox. De lá pra cá,
são 9 livros de poesia, 4 de crítica e 5 de ensaio, alguns reeditados e premiados, além de 3
antologias pessoais. Na Net, tenho publicado apenas poesia – e isso reflete um dos problemas
do ciberespaço e dos livros eletrônicos. Formada no livro, na revista e no jornal, a minha
geração (a de 60) não se adaptou bem à leitura do texto longo (uma epopéia... um romance...
uma tese...) numa telinha de monitor, de celular ou de algum tablet. O texto breve, sim: é
ideal. Então, é um espaço perfeito para a difusão do poema curto, como o soneto – e a Net
vem fazendo pela poesia muito mais do que a mídia impressa jamais fez.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
Para a produção, não; mas, para divulgação e permanência, contribui de maneira muito
eficiente. Por 3 características próprias: é uma ação independente (não depende de um
terceiro), gratuita (não custa senão tempo) e doméstica (não se precisa sair à cata de um
intermediário). E permanece ao alcance de qualquer leitor, em qualquer ponto, a qualquer
momento. No jornal ou na tevê, o poema só é receptível no dia ou na hora e só permanece
acessível para quem fizer o recorte ou o vídeo. No começo, relutei em postar textos inéditos
em livro, com receio de apropriação, mas esse receio aos poucos se dissipou, e hoje já conto
com uma quantidade considerável de poemas postados, todos eles com resposta imediata de
leitores os mais diversos. Hoje, os grandes jornais e revistas (como depois a tevê)
simplesmente não publicam poesia. Nos impressos, são basicamente problemas de custo; mas
no caso da tevê, creio que é mesmo por receio ideológico, portanto autocensura: a tevê tem
medo da poesia – do vigor da mensagem poética.
122
3- Qual sua relação com os cânones?
Quais? Há diversos tipos de cânone. Uma compreensão reducionista o considera apenas como
um elenco de nomes ou textos superiores. Mas há também um cânone do programático, do
inaugural e do representativo. Gosto de todos: são a essência das literaturas. Quanto ao
primeiro, que seria um cânone legitimamente elitista, é uma relação íntima: releio
constantemente os gênios clássicos e sustento que a Modernidade só produziu 2 poetas no
nível deles – Pessoa e Maiakovski. É um fenômeno que aliás se repete em todas as artes e
talvez apenas a arquitetura (Niemayer) e a pintura (Picasso) apresentem nomes do mesmo
nível. Os outros 3 se vinculam mais diretamente às minhas atividades também de crítico, de
ensaísta e de professor de Poética: na crítica, temos que apontar o texto inaugural; no ensaio,
que identificar o texto representativo; no magistério, que utilizar o texto programático –
evidente que sem exclusão. Portanto, é uma relação diária, ao longo de toda uma vida.
4- Quem está lendo?
O único autor que li com exclusividade foi Alencar, no final da adolescência: não admitia
misturar os seus romances com os de nenhum outro autor. Depois, estive sempre lendo uns 3
ao mesmo tempo. Como agora: estou lendo tudo que tenho de e sobre Omar Khayyam. Na
minha biblioteca, há uma prateleira exclusiva para ele, com nada menos que 50 edições do
Rubayat, em 5 línguas. Isso, para escrever uma introdução a uma recriação que fiz desse que é
um dos maiores livros de poesia de todos os tempos. Não digo “tradução”, pois entre aquelas
5 línguas não se encontra o persa.
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
Mas claro: é preciso conhecer todos eles. Não há grande escritor que não tenha sido antes – e
continue paralelamente a ser – um grande leitor. Pode ser essa uma das causas do nível
insatisfatório da poesia pós-moderna: a juventude de hoje lê muito pouco e quase
exclusivamente os contemporâneos. Sem conhecimento dos clássicos, jamais vão produzir
uma obra equivalente à deles, o que se revela particularmente no domínio da forma: o poema
tipicamente pós-moderno é simplório, sem recursos estilísticos. Nesse nível, vão desaparecer,
ou ficar apenas em registros históricos coletivos, não como obras individualizadas. Os
clássicos permanecem.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na Web?
Naturalmente: a diferença está apenas no veículo. É possível que, num futuro muito próximo,
o livro on-line venha a ter um número de leitores superior ao do livro de papel, o que pode
acarretar uma redução progressiva da dimensão do texto – e venhamos a ter o romance de 20
páginas, como já temos o poema de 140 caracteres ou o conto de uma linha... Com isso, a
literatura vai perder em abrangência da abordagem dos problemas tematizados, em
aprofundamento de dramas e em desenvolvimento de ideias. E pode ser banida da civilização,
como produto insignificante. Para quem ainda vier a ler, nesse futuro robotizado, restarão
justamente os clássicos. Ou algum novo autêntico escritor.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
123
Não muitos. Você pode até me acusar de narcisista (todo artista é!), mas normalmente só leio
o que me enviam. Como é concomitante, vou citar uma jovem carioca que conheci na mesma
semana em que você me solicitou esta entrevista: Daniela Reetz. Ela tinha lido um soneto de
Ideações – Sonetos conceptuais (Rio, Ibis Libris, 2012) no recital de lançamento que
apresentei no “Corujão da Poesia” de 15.5.2012, e no dia seguinte postou um poema que
considerei “forte”. Então mandei um recado a ela pelo Facebook, com esta breve apreciação:
“Forte poema”. Ela agradeceu, postou outro do mesmo nível e procurei estimulá-la para a
estreia. Vamos aguardar. Pode ser um novo nome que esteja surgindo na nossa poesia.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Tive um caso. Na 1ª edição de Desafio – Uma poética do amor (Rio, Tempo Brasileiro,
1991), o “Soneto de constatação-XXVI” termina assim (p.194):
Mas na hora mais densa opaca íntima
em que um espelho cego cobra o sendo
nem glória
nem riqueza
nem poder:
– só interessa mesmo o que lhe falta.
Na 2ª edição, 10 anos depois (Fortaleza/Rio, Ed.UFC/Topbooks, 2001),
com o número VII, termina assim (p.233):
Mas na hora mais densa
opaca
íntima
em que um espelho aceso cobra a prova
nem riqueza
nem glória
nem poder:
– só interessa mesmo o que lhe falta.
As emendas “espelho aceso” e “cobra a prova” seriam mantidas na 3ª edição (reprodução da
2ª, um ano depois). Mas um dia, “passeando” pelo Google, deparei-me com um comentário de
uma menina no Orkut sobre o soneto, em que ela destacava com um elogio o sintagma
“espelho cego”. Fui conferir com o livro e percebi que minha emenda tinha sido um erro: que,
aplicado a espelho, o adjetivo “cego”, por lhe negar o seu atributo essencial (“ver” = deixar
ver), é, por essa negatividade, muito mais expressivo do que “aceso”, com toda a sua
positividade, que configura apenas um reforço (“ver mais”). Restaurei na hora o sintagma
original. E agora, outros exatos 10 anos depois, o soneto reaparece no mencionado Ideações
(p.19) com o número VIII, o subtítulo de “Contra o destino” – e com o “cego” no lugar do
“aceso”. Queria agradecer a essa menina, porém não mais a encontrei.
9- Costuma aproveitar o que produz na Web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso? (Somente para quem possui obra
impressa).
124
Não, porque nunca produzo diretamente na ou para a Web. Escrevo na tela ou no papel e logo
introduzo esse poema no livro a que ele pertencerá. Só depois jogo no ciberespaço. Como
pretendo fechar minha obra poética em 10 títulos (o 10º é um épico em elaboração há anos:
Plenidade – Poema-construção, de que incluí alguns excertos na antologia Visão do Ser. Rio,
Topbooks, 1998), todos os poemas que ainda venha a escrever serão incluídos nas próximas
edições de outros livros: social, em Argumento – Poemythos globais (Rio, Ibis Libris, 2006);
lírico, em Contágio – Poesia do desejo (Rio, Tempo Brasileiro, 1993), que já está com o
dobro do volume original.
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na Net?
Jamais. Isso é brincadeira herdada do dadaísmo e nunca gerou um texto aproveitável. A
poesia é a expressão mais profunda do eu e por isso não admite parceria séria. Mais que da
Net, é uma prática característica da juventude.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Tem, mas para pior. As únicas superioridades do livro eletrônico sobre o livro de papel são a
portabilidade e o compartilhamento: através de um e-reader, pode-se dispor de todos os
grandes livros onde se esteja, sem precisar carregá-los, e transmitir todo um livro a um leitor,
sem precisar correr o risco de emprestá-lo. O efeito negativo é sobre a criação: o limite de
caracteres e dos retângulos do ciberespaço vem confinando a nova geração – que, num artigo
publicado numa revista portuguesa, chamei de Virtualista – no minimalismo, que já era um
traço marcante da geração anterior (que, em Sincretismo – A poesia da Geração-60: Rio,
Topbooks, 1995, chamei de Performática). Só reconheço 2 grandes poetas universais em
formas mínimas, com quase um milênio de intervalo entre eles: Omar Khayyam, no século
XI, com as geniais quadras do seu Rubayat, e Ricardo Reis, com as suas breves Odes
igualmente geniais, no século XX. O resto é brincadeira, poesia de circunstância, de diversão,
de recado, de emoção ligeira – jamais de pensamento, que continua sendo a forma poética
mais profunda e mais elevada, situando a arte no mesmo paradigma da Filosofia e da Ciência,
como as 3 formas culturais de conhecimento. E acima delas, por abrigar o componente
emocional.
125
ANEXO N – Entrevista com o escritor Wilton Cardoso
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Comecei a tornar minha poesia pública em 2002, quando publiquei um e-book chamado
marjnau. Na época eu não fazia ideia de como publicar e recebia, por e-mail, muitos slides
com mensagens religiosas, cômicas ou de auto-ajuda. Então resolvi fazer uma espécie de
apresentação de slides com poemas para enviar por e-mail também. A partir daí editei e
publiquei vários e-books de poesia e um de ensaios. Neste tempo participei, junto com alguns
poetas
e
artistas
de
Goiânia,
da
revista
eletrônica
Ruído
branco
(http://wsmartins.net/ruidobranco/)
e
do
blog
coletivo
vida
miúda
(http://vidamiuda.blogspot.com.br), que coordenei até o início deste ano. Todos os e-books
que publiquei são copyleft e estão disponíveis para baixar no vida miúda e no meu blog
pessoal minutos de feitiçaria (http://minutosdefeiticaria.wordpress.com). Possuo apenas uma
obra impressa, o nAve aleatória, livro de poesia publicado num projeto de incentivo cultural
de Goiânia. Mas este livro impresso é, na verdade, uma versão do e-book, que é mais
completo e melhor acabado visualmente. A impressão deste livro foi uma casualidade na
minha obra.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
Como só publico em blogs e e-books, a internet é, ao mesmo tempo, o meio de criação, o
suporte de publicação, o canal de divulgação e distribuição, além de ser a biblioteca/livraria
de minha obra. O canal de contato do leitor com minha escrita é quase que exclusivamente a
rede, pois estou fora do circuito literário tradicional.
3- Qual sua relação com os cânones?
Acho que a mesma de todos os escritores. O cânone, ou parte dele, foi importante para minha
formação como poeta, na medida em que me fez um leitor/escritor mais crítico e autocrítico.
126
E também porque alguns poetas do modernismo brasileiro e português acabaram por se tornar
meus mestres de poesia.
4- Quem está lendo?
4. Guimarães Rosa.
5- Em sua opinião, a leitura dos cânones é importante para a condição de escritor?
Sim, mas não só isto. No meu caso, por exemplo, alguns compositores de rock, como Raul
Seixas, Humberto Gessinger, Lobão e Renato Russo são muito importantes para a minha
poesia, mesmo que sejam ingênuos e toscos em suas composições. Suas músicas têm uma
energia e uma revolta que eu gosto muito. Acho que eles fazem, para mim, o papel que as
cantigas e artistas populares fizeram para os poetas do modernismo. São a fonte pop onde
bebo.
6- Você considera escritor quem não possui obra impressa e publica somente na web?
Sim, acredito, afinal o que conta é o texto escrito e não o suporte. Mas creio que a questão é
se as pessoas consideram escritor quem não publica por editoras. Porque o que pega é você
não ter a chancela de uma editora grande ou respeitável e, em consequência, estar fora da
mídia, da universidade e do circuito de eventos literários, como festas e concursos. O lado
bom disso é que esta vida literária me parece chata, o ruim é que ninguém me conhece e,
portanto, não lê. Como publico só em blogs e e-books que eu mesmo edito, sou uma espécie
de escritor clandestino: mais um em meio aos milhões que publicam seus diários sentimentais
de poesia em forma de blogs. Este é o desafio da internet: qualquer um pode publicar e o filtro
de qualidade será posterior. No circuito tradicional é o contrário: a editora filtra e entrega a
obra (impressa ou em bytes) ao público. Em todo caso, prefiro o jeito informal que a internet
funciona, porque as pessoas têm mais chances de publicar. Os leitores e, principalmente, os
críticos terão que se acostumar com isto e encontrar meios para garimpar bons autores na
internet, porque tenho a impressão que vai aparecer cada vez mais escritores 'informais' na
rede.
7- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Quase não acompanho a novíssima literatura, nem a que surge na internet, nem por meio do
livro impresso. Dos novos, conheço apenas os que participaram comigo da revista Ruído
branco e do blog vida miúda, como a Dheyne de Souza, Jamesson Buarque, André de Leones
e Wesley Peres. Atualmente eles estão todos no ótimo blog Mallamargens
(http://mallarmargens.blogspot.com.br/), coordenado pelo Wesley.
8- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto que publicou?
Quando eu fazia os móbiles, ia publicando os poemas no meu blog, à medida que os criava.
Um leitor me disse as poesias estavam meio repetitivas. Eu achei que ele tinha razão e mudei:
acho que foi uma boa decisão, pois me obrigou a experimentar mais.
127
9- Costuma aproveitar o que produz na web em sua obra impressa ou possui uma
produção diferenciada para o formato impresso? (Somente para quem possui obra
impressa).
10- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Acho a escrita coletiva chata, de se fazer e de se ler. Por outro lado, toda escrita é coletiva,
mesmo que afixemos nela nossa autoria, nisto concordo com Barthes. O escritor sempre cria a
partir de outras obras (literárias ou não) e o leitor, para vivenciar a obra, tem sempre que
recriá-la para si, se apoderar dela. Depois que escrevo é como se o poema não fosse mais meu
e eu deixasse de ser poeta - é o leitor que reescreve o poema para si.
11- Para você, a mudança no suporte tem transformado a literatura? Se sim, em que
aspecto?
Toda nova mídia transforma as artes de uma sociedade. As mídias elétricas audiovisuais
analógicas (telefone, rádio, tv, cinema) já interferiram muito na literatura. Creio que a internet
vai transformá-la ainda mais, pois além de ser uma síntese e superação das mídias elétricas,
ela também absorve a escrita no meio digital. Acho que o livro, principal suporte da obra
literária até hoje, está com os dias contados. Isto tem implicações importantes. O ensaio, o
conto e a poesia lírica, por exemplo, não precisam do formato livro para serem publicados:
eles saíam em livros por uma questão econômica. Alguns gêneros também podem sair
perdendo. O modo de ler na internet talvez prejudique o romance, que exige dias de mergulho
no seu universo ficcional. Se a sensibilidade do público formado na TV já era avessa a este
tipo de concentração, imagine os meninos que se formam no universo instável dos links da
internet... Por outro lado, acho que a poesia, apesar de ser menos lida que o romance, tem
mais chances na internet do que o romance - um poema lírico quase sempre cabe inteiro numa
tela.
Outra questão é que a internet coloca todas as mídias (escritas, visuais, auditivas e
audiovisuais) no mesmo suporte e num mesmo código (digital). É como se estas mídias
fossem as mutações de uma mesma escrita elétrica. E de fato, um filme (ou música) na
internet está à disposição como um livro na biblioteca e pode ser fruído como a escrita: posso
voltar atrás numa cena, pausá-la ou vê-la em câmera lenta, assim como posso rever o filme
quando quiser. Sons, imagens e verbo são agora dimensões de uma única escrita elétrica. A
consequência disso é que a escrita poderá interagir mais ainda com o audiovisual e com a
interatividade (Arnaldo Antunes e Eduardo Kac já fazem isto): isto certamente irá modificar a
literatura.
128
ANEXO O – Entrevista com a escritora Ana Paula Maia
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária. Possui obras impressas? Publica
somente na web?
Obras impressas publicadas:
- O habitante das falhas subterrâneas (2003)
- A guerra dos bastardos (2007)
- Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos (2009)
- Carvão animal (2011)
Publicação na web:
- Folhetim pulp – Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos (2006) – Em 12 capítulos.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
Ajudou a divulgar a minha literatura e estabelecer comunicação com outros escritores.
3- Você considera escritor quem publica na web e não possui obra impressa?
Considero, mas para consolidar carreira precisa publicar obra impressa.
4- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Não costumo acompanhar.
5- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de poema,
conto ou outro tipo de texto?
Não.
129
6- A mudança no suporte tem incidido em mudanças reais nos modos de produção da
literatura?
Quando publiquei na web, dividi os capítulos para ficarem mais curtos. Não eliminei
conteúdo, somente dividi em mais partes.
7- Possui uma produção diferenciada para web e para o formato impresso? Algo que
produziu na web foi aproveitado em algumas de suas produções impressas? (Somente
para quem possui obra impressa).
Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos foi publicado na web e depois em livro impresso,
mantendo o mesmo conteúdo. Porém, no livro impresso, são 5 capítulos, o formato original.
8- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Não.
130
ANEXO P - Entrevista com o escritor Henrique Rodrigues
1- Comente um pouco sobre sua trajetória literária.
Após demonstrar vocação para a escrita, decidi ser escritor aos 18 anos, quando entrei para a
faculdade de Letras. Embora se diga por aí que o curso de Letras não é bom para formar
autores, comigo foi assim. Mas foi tudo bem devagar, com muito estudo e experimentação.
Foz pós em jornalismo cultural e mestrado em literatura, e só aos 30 anos lancei meu primeiro
livro, "A musa diluída", pela Record. A partir daí, tenho publicado pelo menos um livro por
ano, entre infantis, juvenis e contos.
2- De que modo a internet contribui para sua produção?
Eu uso a internet mais como um canal de divulgação. Tenho um site/blog, twitter, facebook,
orkut, essas coisas todas. É preciso estar plugado. Isso permite o contato com leitores e a
produção de outros autores.
3- Você considera escritor quem publica na web e não possui obra impressa?
O livro impresso ainda (se é que se pode dizer assim) é o que há de melhor. Eu uso a internet
para mandar poemas para uma lista de amigos, por exemplo. Ou então salpicar um texto
pequeno - a internet não é tao boa para ler textos longos - no site.
4- Você costuma acompanhar alguns dos nomes surgidos na web? Cite algum que para
você possui maior constância.
Olha, uma das coisas que a web permite é a possibilidade de que todo mundo seja escritor. Ou
pelo menos dublê de escritor. Então tem muita coisa ruim. É o preço do espaço democrático.
Mas alguns autores de fato utilizaram a web há uns anos e e tornaram escritores reconhecidos
e com obra regular. Como Ana Paula Maia e João Paulo Cuenca, cujos primeiros livros foram
escritos na internet. Mas o interessante é que eles saíram de lá para o mundo real. Hoje
131
publicam seus livros em editora grande, impressos e com distribuição em livrarias. A internet
me parece, pelo menos nesses últimos anos, mais um meio que um fim.
5- Algum comentário de algum leitor já foi determinante para modificação de sua
produção?
Os leitores sempre me dão ótimas respostas. Ainda mais as crianças, pois tenho ido muito a
escolas fazer leitores e outras atividades. Talvez essa seja um grande modificação: estou
apaixonado por escrever para crianças.
6- A mudança no suporte tem incidido em mudanças reais nos modos de produção da
literatura?
Olha, talvez sim. Acho que os textos estão cada vez mais velozes. O novo leitor é menos
reflexivo e mais processador. Mas estamos numa fase de transição. As editoras mesmo ainda
não estão certas de como e quanto os livros digitais vão ocupar o espaço da leitura. Vou
organizar uma antologia de contos que deve sair ano que vem, e desse vez vou pedir que já
seja feita uma edição eletrônica, com um hotsite e tudo o mais. Acho que por enquanto essas
possibilidades se somam aos métodos tradicionais de escrita e publicação.
7- Possui uma produção diferenciada para web e para o formato impresso? Algo que
produziu na web, foi aproveitado em algumas de suas produções impressas.
Poemas sim. A internet é melhor para a poesia que para a prosa. Mas em prosa, tudo o que
escrevi e foi publicado foi mesmo para o formato impresso.
8- Você abdicaria da autoria e se envolveria numa escrita coletiva, característica
possível na net?
Claro. Isso é divertido e um desafio lúdico que sempre uso em oficinas de escrita criativa.
Todos os professores de redação deveriam fazer isso com seus alunos, e colocar o resultado
num blog.
132
ANEXO Q – Entrevista com o escritor Fabrício Carpinejar
1- Quando e por que você teve a ideia de fazer um blog?
Em 2003, porque percebi que nem todos os leitores tinham condições de comprar um livro. É
um espaço gratuito, em que leio os comentários como continuação do meu texto.
2- Seu blog é bem visitado? A que motivo você atribui esse número de visitação?
Identificação, empatia. A comunidade percebe que escrevo com vontade, alegria, prazer, que
não sou um bicho empalhado para despertar complacência.
3- Você costuma visitar outros blogs? A curiosidade em visitá-los deve-se ao fato de
terem sido recomendados por alguém (jornais, críticos, blogueiros)?
Sim, visito vários blogs por dia, tenho os fixos de amigos, leio os jornais, mas gosto de espiar
novos autores, acompanhar a evolução da linguagem, participar com os ouvidos, como voyeur
da audição.
4- Você considera seu blog literário? O que costuma produzir?
Sim, é literatura, o suporte é de menos. Faço literatura na internet, não faço internet na
literatura.
5- Você acha que alguns blogueiros são bons aspirantes a escritores?
Considero parte de blogueiros como escritores. Depende de qual a bagagem, da constãncia, da
densidade da linguagem. Não podemos confundir expiação com literatura. Literatura não é
exorcismo, mas quando o demônio fica. Descobri na rede, por exemplo, Lúcia Carvalho
(Frankamente). É uma escritora pronta, com humor delicioso. Nunca publicou nada, mas já
tem uma consistência de público e um estilo todo pessoal.
133
6- Mesmo tendo publicado livros, seu blog não foi desativado. Há alguma pretensão em
aproveitar seus escritos em projetos posteriores?
O blog não é trampolim. O blog é um espaço puro de interação, troca e estímulo de
experiências da imaginação. Um livro não substitui o blog, terá uma vida independente.
7- Os blogs que possibilitam a interatividade entre leitores e escritores, através dos
comentários, poderiam contribuir para processo de criação dos escritores. Contudo,
muitos escritores ainda não utilizam o blog com essa intenção e acabam produzindo seus
livros offline. Para você, a literatura atualmente continua sendo caracterizada por uma
escrita individual e particular? Em algum momento, os comentários dos leitores
influenciaram de alguma forma em seus escritos?
Os comentários prosseguem o que escrevi, apresentam o que nem sondei, porém não teria
sentido reproduzir em um livro. A interação compulsiva, imediata e orgância é uma qualidade
da web. No livro, o leitor não pode ser narcisista. É um encontro do leitor com sua solidão.
134
ANEXO R – Entrevista com o escritor Henrique Rodrigues
1-Quando e por que você teve a ideia de fazer um blog?
Em 2003, depois de muito resistir, decidi fazer um blog. Muitos já haviam falado sobre esse
recurso, mas não levava muito a sério. Eu lia os blogs dos amigos e, de tanto escrever
comentários longos, decidi criar o meu próprio espaço.
2- Seu blog é bem visitado? A que motivo você atribui esse número de visitação?
Há algum tempo coloquei aquele medidor de visita, mas nunca olho para saber (agora diz que
78 pessoas visitaram nesta semana). Parece que bastante gente lê, mas creio que a maioria dos
leitores fiéis são meus amigos próximos que também têm blog.
3- Você costuma visitar outros blogs? A curiosidade em visitá-los deve-se ao fato de
terem sido recomendados por alguém (jornais, críticos, blogueiros)?
Visito com frequência alguns blogs, especialmente os culturais e literários. Alguns como co
Cronópios e Paralelos são, na verdade, revistas literárias virtuais, com entrevistas, textos
literários e ensaios.
4-Você considera seu blog literário? O que costuma produzir?
A ideia do meu blog é ser literário de humor. Tanto que raramente escrevo algo de cunho
pessoal. Gosto especialmente de fazer brincadeiras com a própria literatura, como paródias.
Como tenho certa habilidade de mimetizar outros registros (Rosa, Clarice, Raduan Nassar
etc), acaba sendo uma grande diversão. No momento, estou fazendo uma série com finais de
livros nunca escritos. De qualquer forma, é um bom espaço para exercício de escrita.
5-Você acha que alguns blogueiros são bons aspirantes a escritores?
135
Complementando a resposta anterior, o blog é um espaço democrático para experimentação e,
de certa forma, uma vitrine. Obviamente, há muita coisa ruim na rede, mas é preciso entender
que o blog é apenas mais um suporte, não um pressuposto de qualidade. Muitos escritores da
minha geração utilizam esse recurso para uma espécie de test-read dos seus textos, e também
para estabelecer contato direto com seus leitores por meio dos comentários.
6- Mesmo tendo publicado livros, seu blog não foi desativado. Há alguma pretensão em
aproveitar seus escritos e (acaba aqui a sua pergunta, mas deu para entender; se havia
mais perguntas, não apareceram lá no espaço dos comentários).
Pois é. O blog não é um pré-livro, ele tem um sistema com suas próprias regras (por exemplo,
não se pode publicar ali textos muito longos, pois a leitura fica desagradável), de modo que
pode existir independentemente de publicações impressas. Em novembro sairá meu livro de
poemas ("A musa diluída", pela Record), que não tem nada a ver com o blog. Pretendo manter
o blog, pois é, para mim, um espaço despretensioso e de divertimento. Já me sugeriram fazer
uma antologia impressa do blog. Talvez ano que vem eu faça - mas aí seria algo mais para
lançar num bar com amigos, em meio a chopes e risadas, bem no espírito do Fullbag.
136
ANEXO S – Questionário
Download