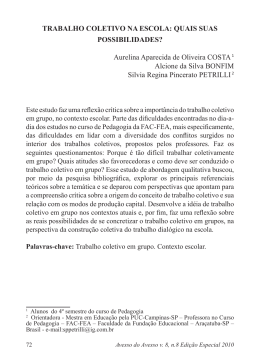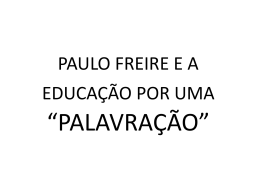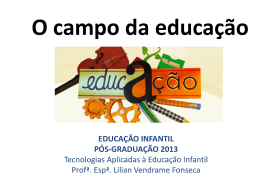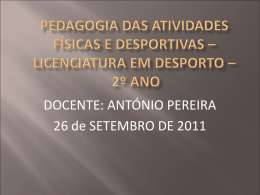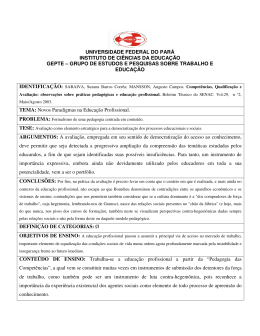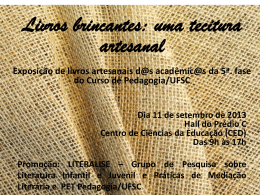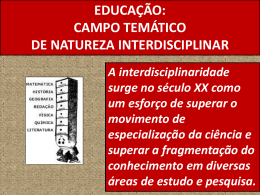Revista Brasileira de História da Educação Respeite o direito autoral Reprodução não autorizada é crime Revista Brasileira de História da Educação Publicação semestral da Sociedade Brasileira de História da Educação – SBHE Revista Conselho Diretor Dermeval Saviani (UNICAMP); Marta Maria Chagas de Carvalho (PUC-SP); Ana Waleska Pollo Campos Mendonça (PUC-Rio); Libânia Nacif Xavier (UFRJ). Comissão Editorial Diana Gonçalves Vidal (USP); José Gonçalves Gondra (UERJ); Marcos Cezar de Freitas (PUC-SP); Maria Lucia Spedo Hilsdorf (USP). Conselho Consultivo Membros nacionais: Álvaro Albuquerque (UFAC); Ana Chrystina Venâncio Mignot (UERJ); Ana Maria Casassanta Peixoto (SEDMG); Clarice Nunes (UFF e UNESA); Décio Gatti Jr. (UFU e Centro Universitário do Triângulo); Denice B. Catani (USP); Ester Buffa (UFSCAR); Gilberto Luiz Alves (UEMS); Jane Soares de Almeida (UNESP); José Silvério Baia Horta (UFRJ); Luciano Mendes de Faria Filho (UFMG); Lúcio Kreutz (UNISINOS); Maria Arisnete Câmara de Moraes (UFRN); Maria de Lourdes de A. Fávero (UFRJ); Maria do Amparo Borges Ferro (UFPI); Maria Helena Camara Bastos (UFRGS); Maria Stephanou (UFRGS); Marta Maria de Araújo (UFRN); Paolo Nosella (UFSCAR). Membros internacionais: Anne-Marie Chartier (França); António Nóvoa (Portugal); Antonio Viñao Frago (Espanha); Dario Ragazzini (Itália); David Hamilton (Suécia); Nicolás Cruz (Chile); Roberto Rodriguez (México); Rogério Fernandes (Portugal); Silvina Gvirtz (Argentina); Thérèse Hamel (Canadá). COMERCIALIZAÇÃO Editora Autores Associados Av. Albino J. B. de Oliveira, 901 CEP 13084-008 – Barão Geraldo Campinas (SP) Pabx/Fax: (19) 3289-5930 e-mail: [email protected] www.autoresassociados.com.br Sociedade Brasileira de História da Educação – SBHE A Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE), fundada em 28 de setembro de 1999, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado. Tem como objetivos congregar profissionais brasileiros que realizam atividades de pesquisa e/ou docência em História da Educação e estimular estudos interdisciplinares, promovendo intercâmbios com entidades congêneres nacionais e internacionais e especialistas de áreas afins. É filiada à ISCHE (International Standing Conference for the History of Education), a Associação Internacional de História da Educação. Diretoria Presidente: Marta Maria Chagas de Carvalho (PUC-SP) Vice-Presidente: Ana Waleska Pollo Campos Mendonça (PUC-Rio) Secretária: Libânia Nacif Xavier (UFRJ) Tesoureiro: Jorge Luiz da Cunha (UFSM) Diretores Regionais Norte: Maria das Graças Pinheiro da Costa (UFAM) e Anselmo Alencar Colares (UFPA) Nordeste: Marta Maria de Araújo (UFRN) e Afonso Celso Scocuglia (UFPB) Centro-Oeste: Silvia Helena Andrade de Brito (UFMS) e Nicanor Palhares de Sá (UFMT) Sudeste: Maria de Lourdes de A. Fávero (UFRJ) e José Carlos de Souza Araújo (UFU) Sul: Maria Thereza Santos Cunha (UDESC) e Marcus Levy Bencosta (UFPR) Secretaria Centro de Memória da Educação Faculdade de Educação Universidade de São Paulo Av. da Universidade, 308 - Bloco B Terceira Fase - Sala 40 CEP 05508-900 São Paulo-SP Tel.: (11) 3091-3194. E-mail: [email protected] ISSN 1519-5902 julho/dezembro 2003 no 6 H Revista Brasileira de ISTÓRIA da EDUCAÇÃO SBHE Sociedade Brasileira de História da Educação Dossiê “Memória do Ensino de História da Educação” Revista Brasileira de História da Educação ISSN 1519-5902 1º NÚMERO – 2001 Editora Autores Associados – Campinas-SP EDITORA AUTORES ASSOCIADOS LTDA. Uma editora educativa a serviço da cultura brasileira Av. Albino J. B. de Oliveira, 901 Barão Geraldo – CEP 13084-008 Campinas - SP – Pabx/Fax: (19) 3289-5930 e-mail: [email protected] Catálogo on-line: www.autoresassociados.com.br Conselho Editorial “Prof. Casemiro dos Reis Filho” Dermeval Saviani Gilberta S. de M. Jannuzzi Maria Aparecida Motta Walter E. Garcia Diretor Executivo Flávio Baldy dos Reis Diretora Editorial Gilberta S. de M. Jannuzzi Coordenadora Editorial Érica Bombardi Assistente Editorial Aline Marques Revisão Ademar Lopes Junior Cleide Salme Ferreira Kelly Lima Diagramação e Composição Ednilson Tristão Projeto Gráfico e Capa Érica Bombardi Impressão e Acabamento Gráfica Paym SUMÁRIO EDITORIAL 7 ARTIGOS O jornal católico Novidades: sentido(s) do educar Maria José Remédios 9 Uma história das leituras para professores: análise da produção e circulação de saberes especializados nos manuais pedagógicos (1930-1971) Vivian Batista da Silva 29 A Revista Escola Argentina: reflexões sobre um periódico escolar nos anos 20 e 30 Miriam Waidenfeld Chaves 59 Instrução pública e formação de professores em Minas Gerais (1825-1852) Walquíria Miranda Rosa 87 O ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula Clarice Nunes 115 A história da educação programada: uma aproximação da história da educação ensinada nos cursos de pedagogia em Belo Horizonte Luciano Mendes de Faria Filho e José Roberto Gomes Rodrigues Educação e desenvolvimento nacional Geraldo Bastos Silva 159 177 RESENHAS Friedrich Froebel: o pedagogo dos jardins de infância Por Diane Valdez 217 Historia de la educación (Edad Contemporánea) Por Bruno Bontempi Júnior 223 O exercício disciplinado do olhar: livros, leituras e práticas de formação docente no Instituto de Educação do Distrito Federal (1932-1937) Por Maria Cristina Soares de Gouvêa 229 Templos de civilização: a implantação da Escola Primária Graduada no estado de São Paulo, 1890-1910 Por José Cláudio Sooma Silva 235 NOTA DE LEITURA Negativos em vidro: coleção de imagens do Colégio Antônio Vieira (1920-1930) Por Rachel Duarte Abdala 241 ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES 245 CONTENTS 247 Editorial A Revista Brasileira de História da Educação conclui seu terceiro ano de atividades com o lançamento do sexto número. A manutenção de sua periodicidade representa a adesão da comunidade de historiadores da educação brasileira ao projeto de uma publicação de caráter nacional, aglutinando as investigações no campo. A revista confirma assim seu lugar de difusão dos trabalhos produzidos em história da educação no Brasil. A política de proposição de dossiês amplia o espectro de atuação da Revista Brasileira de História da Educação, consagrando-a também como um território plural de debates. É com este espírito que ora publicamos o dossiê Memória do Ensino de História da Educação. Sua edição, como de resto dos demais dossiês, almeja estimular a discussão entre pares e suscitar a atenção para temas importantes e ainda pouco explorados no campo. A Comissão Editorial reitera o convite aos historiadores brasileiros da educação para propor novos dossiês. Mantendo o interesse em republicar textos fundamentais à memória da educação brasileira e à historiografia educacional, a Revista Brasileira de História da Educação traz, ainda, em suas páginas, o artigo “Educação e desenvolvimento nacional”, de autoria de Geraldo Bastos Silva. Objeto de estudo no III Curso de Treinamento de Pessoal em Planejamento Educacional, oferecido pela Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais “Prof. Queiroz Filho”, em 1965, o texto captura um momento da educação nacional, interrogandose sobre o problema da “eficiente operação da escola dentro da multidão de fatores em interação contínua na realidade sociocultural”. A resposta vem associada à consideração dos aspectos culturais da instituição escolar no contexto de subdesenvolvimento econômico do país. Dado o cará- ter documental do artigo, alguns problemas de revisão não puderam ser solucionados. Completam o conjunto da RBHE os artigos aprovados, as resenhas e a nota de leitura. Contando com o apoio da Sociedade Brasileira de História da Educação e com o renovado prestígio dos pesquisadores do campo, a revista reafirma seu desejo de congregar os historiadores brasileiros da educação e servir como espaço editorial e acadêmico a esta área de investigação. Comissão Editorial O jornal católico Novidades sentido(s) do educar* Maria José Remédios** Com a reapropriação do jornal católico Novidades, como objecto da investigação histórica, de modo geral, e da história da educação, em particular, pretende-se delinear a proposta de reequacionamento do fenómeno educativo, exposta pelos católicos portugueses, entre 1945 e 1950, no órgão oficioso da Igreja. A partir de um conjunto de áreas temáticas versando a educação, identificadas no matutino, torna-se perceptível a trilogia pedagogia católica–educação nova–homem novo, a qual se oferece como a ideia organizadora do(s) sentido(s) do educar, expressos no Novidades. FONTES HISTORIOGRÁFICAS; IMPRENSA CATÓLICA PORTUGUESA; HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO; PEDAGOGIA CATÓLICA; ESTADO NOVO PORTUGUÊS. With the use of the catholic news paper Novidades, as an object of historical research, in general, and the history of education, in particular, we wish to draw the reequation proposal of educative phenomenon, expose by the portuguese catholics, between 1945 and 1950, in the oficious organ of the Church. Starting from a group of thematic areas about education, identified in the morning paper it becomes understandable a trilogy catholic padagogy – new education – new man, which gives itself an organizing idea of the sense(s) of the educate expressed in Novidades. SOURCES HISTORICAL; PORTUGUESE CATHOLIC PRESS; HISTORY OF EDUCATION; CATHOLIC PEDAGOGY; PORTUGUESE ESTADO NOVO. * Tem por base a comunicação apresentada no IV Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, realizado de 2 a 5 de abril de 2002, em Porto Alegre – Brasil. ** Mestre em ciências da educação, doutoranda em história da educação e professora da Escola Profissional de Agentes de Apoio e Serviço Social. 10 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Este texto surge na continuidade do trabalho realizado no âmbito do Projecto A Educação na Imprensa Periódica Portuguesa (1945-1974), dirigido pela professora doutora Áurea Adão e da responsabilidade do Centro de Estudos Observatório de Políticas de Educação e de Contextos Educativos, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Consistindo este projecto na “inventariação sistemática de notícias, informações, discursos, artigos de opinião e estudos, publicados nos diários O Comércio do Porto, Diário da Manhã, Diário de Lisboa, Diário de Notícias, Novidades, República e O Século e nos jornais regionais Comércio do Funchal e Jornal do Fundão, com vista à elaboração de um roteiro de fontes provenientes daqueles títulos a utilizar em trabalhos historiográficos e tendo por objecto a história da educação recente”1, delimitou-se o período de estudo do jornal em causa a seis anos, isto é, de 1945 a 1950. O facto de neste intervalo de tempo se assistir a importantes reformas no ensino, quer liceal quer técnico, geradoras elas mesmas de polémica, foi uma das razões que pesou na selecção feita. Por outro lado, julga-se que as balizas adoptadas contribuem para a análise deste matutino em termos de compromisso com a fase final da edificação de uma nova escola, levada a efeito entre 1936 e 1947, e do seu contributo para o início do processo de adaptação do ensino às exigências económicas impostas pelo pós-guerra, desenrolado entre 1947-1961 (Nóvoa, 1992, pp. 458-462). A reapropriação do jornal Novidades como objecto de investigação histórica processa-se num quadro epistemológico interdisciplinar, o da história da educação. O esboço de uma proposta de reequacionamento do fenómeno educativo pelos católicos portugueses, entre 1945 e 1950, sugerida pela leitura do Novidades, constitui a matéria do presente artigo. Num primeiro momento, com a caracterização do jornal, em análise, está-se a aceder ao quadro hermenêutico de processamento do real, disponível pelo Novidades, por um lado, e pode-se, ainda, reconhecer o material por ele produzido, enquanto fazedor de opinião. De seguida 1 Veja-se anexo 8 do Formulário de Candidatura do Projecto – A Educação na Imprensa Diária Portuguesa (1945-1974) – ao programa Sapiens Proj99, da FCT. o jornal católico novidades 11 identificam-se e analisam-se os textos recolhidos, a fim de se tornar perceptível o conjunto de ideias que informam a visão da educação disponível no Novidades e que se quer orientadora da política educativa assumida pelo Estado Novo. Por último, tenta-se articular as áreas temáticas sobre educação, identificadas, com a matriz doutrinária do Novidades, em ordem a esclarecer o pensamento pedagógico do jornal, o mesmo é dizer, para se desvelar o(s) sentido(s) do educar que aí se oferecem. Iniciada a publicação do Novidades em 7 de janeiro de 1885, por Emídio Navarro2, esta terminou passados 90 anos, em 1975. Durante o período inicial o jornal sofreu algumas vicissitudes e lutando afincadamente pela sobrevivência, a partir de 1913, sacrificará a periodicidade de publicação, oferecendo-se, bianualmente. A criação deste jornal dáse três anos após a publicação pelo papa Leão XIII da Carta, de 25 de janeiro de 1882, versando a Imprensa, a qual promove o aparecimento da imprensa católica e de eclesiásticos jornalistas. Numa sociedade que se afasta do modelo medieval de sociedade cristã3, sem cisão entre Império e Igreja, encaminhando-se para a distinção entre o poder temporal e o espiritual, a imprensa católica, inicialmente de iniciativa particular e depois apoiada por organismos da Igreja, “tornou-se progressivamente num dos meios de acção privilegiados pela Igreja Católica na evangelização da sociedade moderna” (Fontes, 1999, p. 247). A partir de 15 de dezembro de 1923 dá-se o rejuvenescimento4 do moribundo Novidades e, ao tornar-se o órgão oficioso do Episcopado 2 3 4 Nasceu em 1844 e faleceu em 1905. Foi advogado, conselheiro de Estado, ministro (das Obras Públicas, entre 1886 e 1889), deputado pelo Partido Progressista Histórico, escritor e jornalista. Além do Novidades, fundou O Correio da Noite, criou com António Enes O Progresso, pertenceu ao corpo redactorial do País e participou na maioria dos jornais portugueses da época. Denominada de Cristandade. Acto que não pode ser visto isolado do Concílio Plenário Português, de 1926, o qual “marcou o início de uma nova etapa na relação da Igreja com a sociedade ao longo do século. O reforço da unidade dos católicos, a secundarização das divisões políticas e o desenvolvimento de um projecto de recristianização da sociedade implicavam o desenvolvimento da imprensa católica” (Fontes, 1999, p. 250). 12 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Português, sairá ininterruptamente todas as manhãs, com excepção no dia 26 de dezembro, na cidade de Lisboa, com distribuição em todo o país. Segundo as palavras de um dos seus jornalistas “dia a dia o pensamento das Novidades, que é o da Igreja, foi crescendo, mercê de Deus” (Almeida, 1998, p. 7). O aparecimento deste jornal católico deve ser entendido numa matriz que contempla a necessidade de a Igreja impedir a difusão de ideologias geradoras de processos de secularização social, a par de um intenso movimento periodista, com repercussões em todo o país, no final do século XIX e inícios do século XX. Dada a limitada acção das folhas diocesanas e a incapacidade de afirmação de alguns diários de feição católica e cobertura nacional, o Episcopado criará o Novidades “com o duplo objectivo de informar e doutrinar os católicos, furtando-os à influência que neles poderia exercer a doutrinação católico-monárquica, tão apaixonante nos anos vinte” (Almeida, 1998, p. 15). Concebido com um carácter apologético, em ordem a viabilizar a doutrinação, “as Novidades triunfaram, congregando à sua roda o que havia de mais puro entre leigos e de mais apostólico dentro do clero” (Almeida, 1998, p. 15). O renovado matutino, voz da Eclésia Portuguesa, será propriedade da União Gráfica 5, assumindo o leigo Tomás Gamboa 6 funções de redactor-principal. Com o formato clássico7, as suas iniciais quatro pági- 5 6 7 A União Gráfica será criada pelo cónego Fernando Pais de Figueiredo “como condição de viabilidade de um grande diário católico, financeira e doutrinalmente independente” (Almeida, 1998, p. 30). Este padre, em 1923, será “mandado para Lisboa com o encargo, pelo venerando episcopado, da fundação das Novidades. Antes fora a Milão estudar a obra do cardeal Ferrari e a Paris a do jornal ‘La Croix’” (Novidades, 5/12/1947). O cónego, distinguido com o título de monsenhor, Fernando Pais de Figueiredo será o director do Novidades desde 1937 até à data da sua morte em 4/12/1947, sendo substuído pelo padre Avelino Gonçalves, que assumiu a direcção até à extinção do jornal. O doutor Tomás de Gamboa Bandeira de Melo (21/10/1885 – 13/10/1950), licenciado em direito pela Universidade de Coimbra, assumiu tais funções durante 27 anos, isto é, até à data da sua morte. Tanto no Novidades como, antes, em A União a sua acção jornalística norteou-se pela obediência à hierarquia eclesiástica, como um “verdadeiro ‘servo fiel’ e soldado dos mais galhardos do movimento católico no nosso país” (Novidades, 14/10/1950). Refere-se às dimensões tradicionais, próximas de 60cm x 90cm. o jornal católico novidades 13 nas darão lugar, ao longo destes seis anos, a seis páginas, só ultrapassadas, em datas especiais, distribuindo-se o texto por sete colunas. Com uma paginação uniforme ao longo do período estudado, o Novidades, além das páginas diárias, Actualidade, Vida Católica, Internacional, apresenta páginas semanais dedicadas à mulher, à economia e finanças, à agricultura, às letras e artes, ao cinema e teatro, ao escutismo, à vida desportiva e à educação, entre outras. Das páginas referenciadas, duas delas assumirão, alguns anos após a sua criação, a forma de um boletim destacável do jornal. As páginas em questão são dedicadas à agricultura e à educação, as quais passarão a denominar-se Vida Agrícola e Acção Escolar, o que leva a supor não ser fortuita tal mudança. Pensa-se que a oferta de um conjunto de quatro páginas semanais, passíveis de serem coleccionadas, não pode ser vista alheada do processo de introdução, pelo Estado Novo, de um conjunto de mecanismos instrumentais da valorização da ruralidade e da educação, especialmente, a de nível primário. No período estudado, a Página Escolar 8, criada em 6 de dezembro de 1927, e a sair à terça-feira, metamorfoseou-se no boletim Acção Escolar, introduzido a partir de 15 de dezembro de 1937 e da responsabilidade do professor António Leal, presidente da Liga Escolar Católica e colaborador da Rádio Renascença, desde a sua fundação. Deste modo, a recolha feita compreende textos publicados tanto no jornal, propriamente dito, como no suplemento Acção Escolar. Se a análise da imprensa permite apreender “o peso do instante e da conjuntura” (Franco, 1999, p. 13), os discursos imanentes ao Novidades têm que ser lidos como linguagens de poder, que escrevem e, simultaneamente, se inscrevem na narratividade do poder institucional eclesiástico e, também, na do poder político. O reaparecimento do jornal Novidades enquadra-se num conjunto de iniciativas dos católicos conservadores, influentes, em ordem à ani- 8 Esta página será dirigida incialmente pelo professor Mário Sedas Nunes, substituído, em 1929 pelo professor Manuel Subtil, e a partir de 1931 pelo professor António Leal. Com uma direcção ligada ao ensino primário há uma maior atenção a este nível de ensino, que é sobrevalorizado no quadro da política educativa do Estado Novo. 14 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 quilação do pensamento demoliberal, fundamento ideológico do regime republicano. Animados por uma atitude antiliberal, antidemocrática, antisocialista, antimarxista, antimaçónica, constituir-se-ão como um lobby, integrando o polígono de forças (Medina, 1993, p. 13), que se conjugou para derrubar o regime instaurado a partir de 1910 e que constrói a alternativa política a esse mesmo regime, o Estado Novo. A imprensa afigurava-se como um importante meio de afirmação desse pensamento católico conservador, com relevância, de uma certa orientação tomista, estruturante do “regime de imobilismo, de cariz cristão, saudosista da ‘pax ruris’ medieval e renitente a tudo quanto representasse alguma forma de modernidade novocentista” (Medina, 1993, p. 13), criado por Oliveira Salazar, a partir da Constituição de 1933. O Novidades, afirmando-se como o órgão oficioso da Igreja, a par de vincular a doutrina à guarda desta, ele expressará um pensamento que é próprio do regime. Ao indagar textos versando a educação, entendeu-se que a natureza de tal temática ultrapassa o domínio do ensino formal, abrangendo a educação não formal, pelo que a educação familiar, a educação da mulher, contempladas com bastante peso no matutino em estudo, o cinema educativo, constituindo matéria para artigos de opinião, ou ainda as organizações juvenis, entre outros, foram incluídos. Esta opção, conforme refere António Nóvoa, “permite uma apreensão mais global dos fenómenos escolares e da forma como as dinâmicas educativas se estendem ao conjunto da sociedade” (Nóvoa, 1993, p. XVI). A maioria dos textos jornalísticos seleccionados são artigos de opinião ou notícias, considerando apenas o jornal, e editoriais, se atender isoladamente ao boletim sobre a educação. Foram identificados, no período de 1945 a 1950, 1.281 textos, dos quais 911 localizam-se no jornal, em sentido restrito, e 370 encontram-se na Acção Escolar (ver Tabela 1). O matutino em estudo, ao focalizar-se em matérias que geraram polémica na sociedade portuguesa de então, quer refutando ideias ou reafirmando pontos de vista, quer legitimando ou repudiando certas iniciativas, através da sua divulgação, permite aceder ao universo teóricodoutrinário, que determinou muitas das opções educativas portuguesas. o jornal católico novidades 15 Acção Escolar Jornal Tabela 1 FREQUÊNCIA ABSOLUTAS DOS GÉNEROS JORNALISTICOS POR ANO Género 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Subtotal Notícia A Opinião Legislação Publicação Fotografia Discurso Estudos Entrevista Biografia Editorial Reportagem Subtotal Notícia A Opinião Legislação Publicação Fotografia Discurso Estudos Entrevista Biografia Editorial Reportagem Subtotal 117 64 1 10 1(10) 1 0 0 0 0 0 194 10 18 0 1 0 0 1 1 0 22 0 53 54 35 2 2 0(4) 0 1 2 0 0 0 96 7 19 0 3 0 0 0 0 0 34 0 63 87 73 21 5 3(1) 0 0 0 0 0 0 189 2 30 0 4 0 0 0 0 0 27 0 63 60 22 17 1 6(11) 0 1 2 0 0 2 111 2 31 0 5 0 0 1 0 0 32 0 71 79 27 3 1 3(12) 0 0 0 0 0 0 113 1 29 0 5 0 0 1 0 0 29 0 65 163 31 0 1 8(23) 0 0 1 2 0 2 208 4 19 0 1 0 1 1 0 0 29 0 55 560 252 44 20 21(61) 1 2 5 2 0 4 911 26 146 0 19 0 1 4 1 0 173 0 370 247 159 252 182 178 261 1.281 Total Assim, a reforma do ensino liceal9 despoletou um debate10, intenso, dada a criação de uma coluna para o efeito, na última página, e a frequente publicação de artigos de opinião na primeira página, e extenso, 9 Decretos-leis n. 36.507 e n. 36.508, de 17 de setembro de 1947. 10 Que não se limita ao período imediatamente posterior à promulgação do texto legal, mas que lhe é anterior, referenciando-se a sua necessidade e, consequente pre- 16 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 atendendo ao número de artigos de opinião, quer no jornal, quer no seu boletim da educação, e ao período de tempo, aproximadamente 6 meses em 1947, animado com essa discussão. O ensino técnico, quando comparado ao liceal, será alvo de menor atenção, todavia assinala-se um aumento de títulos consagrados a ele a partir de 1947, data da lei n. 2.025, de 19 de junho de 1947, e com maior incidência em 1948, quando da publicação do Estatuto do Ensino Profissional Industrial e Comercial11, a qual não é independente da reestruturação de alguns organismos da administração central12. Também, a publicação do Estatuto do Ensino Particular13, em 1949, foi motivo para reafirmar posições anteriormente assumidas relativamente a esta oferta educativa. No ano de 1948, o ensino liceal volta a constituir uma das preocupações do Novidades, havendo a necessidade de doutrinar a opinião pública relativamente às finalidades deste tipo de ensino e expectativas que ele pode satisfazer. Em conformidade com a política educativa da época, assume-se uma posição de controlo do aumento da procura deste tipo de ensino, valorizando-se as possibilidades do ensino profissional, relativamente ao ingresso na vida activa. Por outro lado, a reformulação dos programas do ensino liceal14, em 1948, na sequência da Reforma de 1947, é motivo para, além de se noticiar esse acontecimento, serem produzidos alguns artigos de opinião, também eles focalizados nas finalidades do ensino liceal ou na possibilidade, ou não, deste tipo de ensino satisfazer as necessidades formativas da população que o frequenta, sobretudo a feminina15. 11 12 13 14 15 paração para a realizar, em artigos de opinião de primeira página, tanto no ano de 1945 como no de 1946, e posterior, continuando a opinar-se sobre as finalidade do ensino liceal ou sobre o aproveitamento e a avaliação neste nível de ensino, durante todo o mês de outubro de 1947. Decreto-lei n. 37.029, de 25 de agosto de 1948. A direcção-geral do ensino técnico elementar e médio dá lugar à direcção-geral do ensino técnico e profissional e são criadas subsecções na Junta Nacional de Educação, contemplando os ensinos agrícola, industrial e comercial (decreto-lei n. 37.028, de 25 de agosto de 1948). Decreto-lei n. 37.544, de 8 de setembro de 1949. Decreto-lei n. 37.112, de 22 de outubro de 1948. A qual supera em valores de frequência e no aproveitamento obtido a população masculina. o jornal católico novidades 17 Torna-se compreensível que os géneros escolhidos para a produção de material jornalístico, versando a educação, sejam, predominantemente a notícia, o artigo de opinião e o editorial (ver Tabela 1). Ao estar-se perante um jornal informativo ou noticioso (Gaillard, 1974, p. 12), não se pode estranhar a prevalência da notícia, dado ela servir para a consecução de um dos objectivos que presidiu à criação do Novidades, isto é, informar. Por outro lado, dada a índole formativa ou de opinião (Letria & Goulão, 1986, p. 23), os artigos de opinião têm de ter um elevado peso, uma vez que o seu uso permite a doutrinação, objectivo visado com a criação deste jornal. Da consulta da Tabela 1, conclui-se que foram localizadas 560 notícias, no jornal propriamente dito, ocupando estas o primeiro lugar entre os produtos jornalísticos oferecidos. O artigo de opinião é o segundo género mais frequente ao atender-se ao jornal, em geral ou discriminadamente. Foram identificados 146 artigos de opinião na Acção Escolar, 252 no jornal, tomado em sentido restrito, o que perfaz um total de 398 artigos de opinião. As notícias representam 46%, seguidas dos artigos de opinião, com uma valor percentual de 32%, cujo peso se afasta do dos editoriais, representando estes 14% dos valores totais (ver Gráfico 1). Mas, ao considerar-se que o editorial é um texto que, tal como o artigo de opinião, expressa a posição de quem o escreveu, demarcandose do artigo de opinião, não raras as vezes, pelo lugar que ocupa na paginação do jornal e pelo facto de não ser assinado, a análise da frequência dos textos, tomados do ponto de vista da sua forma, alterase. O número de textos de opinião16 equipara-se ao das notícias, demarcando-se substancialmente dos outros tipos, ao representarem cada um 46% dos 1.281 títulos seleccionados (ver Gráfico 2). Esse mesmo tipo de texto constitui 87% dos materiais publicados na Acção Escolar, ao atingir um valor absoluto de 319 em 370 (ver Gráfico 3). Caracterizado o Novidades, passa-se à identificação e análise dos conteúdos educativos em foco nele, em ordem ao delineamento das ideias que norteiam a proposta educativa estruturada, por um lado, por esse 16 Categoria introduzida para não se discriminarem os artigos de opinião dos editoriais. 18 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 o jornal católico novidades 19 mesmo periódico, e que se quer, por outro lado, que seja estruturante da sociedade portuguesa. Cruzando a metodologia quantitativa (frequência dos textos apresentados) com a qualitativa (análise de conteúdo dos produtos escritos) reconhece-se a existência de cinco grandes temas transversais ao Novidades, na medida em que atravessam o período de 1945 a 1946, tomado sincronicamente ou diacronicamente17. Educação e Escola, Sistema de Ensino e Currículos, Ensino Particular, Género e Educação e Educação e Professores são as áreas temáticas consideradas após a análise de conteúdo dos 1.281 títulos. O pensamento sobre educação e escola versa a educação, quer escolar, quer familiar, perspectivada do ponto de vista da pedagogia e/ou da filosofia da educação e, ao focalizar-se na escola, inclui a abordagem 17 Podendo afirmar-se que se está perante uma transversalidade ao nível vertical e ao nível horizontal. 20 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Esquema 1 SÍNTESE DOUTRINAL DO NOVIDADES PEDAGOGIA CATÓLICA EDUCAÇÃO NOVA HOMEM NOVO dos métodos e técnicas de ensino, do aproveitamento escolar e outros conteúdos de natureza pedagógica. A importância númerica é acompanhada de uma análise exaustiva, visando-se tanto a informação do leitor sobre a questão como a criação de uma opinião sobre o papel da educação e a função da escola. A instrução é tomada como um meio, sendo sistematicamente subalternizada em relação à educação, concebida como o fim visado pelas três instituições que actuam sobre o indivíduo – a família, o Estado e a Igreja. Esta área temática compreende, ainda, um conjunto de artigos, identificados sobretudo na Acção Escolar, centrados na cooperação entre a família e a escola, no alcance do mesmo objectivo, a coesão patriótica e religiosa. Também o enorme peso dado à informação acerca da Mocidade Portuguesa (actividades, formação de graduados ou dirigentes, discursos dos comissários...), disponível na forma de notícia, muitas delas de primeira página, denota uma preocupação com a vertente formativa do processo educacional. As actividades da Mocidade Portuguesa, a par da leccionação da religião e moral, canto coral e educação física, a cargo desta mesma organização juvenil, asseguravam a inculcação dos valores patrióticos e morais católicos – a edificação da Nova Escola. o jornal católico novidades 21 Na sequência da valorização da componente formativa, o cinema educativo, tomado em sentido informal ou formal, é analisado algumas vezes, tanto em editorial de primeira página como em editorial da Acção Escolar, ao longo dos seis anos. Por último, a atenção dada às organizações juvenis da Igreja, como as da Acção Católica, a par da dada à organização estatal – Mocidade Portugal, manifesta um entendimento da educação que não se restringe à instrução e, consequentemente, a compreensão de que o fenómeno educativo ultrapassa os limites da sala de aula e da própria escola, valorizando-se a educação não formal. A área temática Sistema de Ensino e Currículos inclui um conjunto de títulos que reflectem, isoladamente ou em conjunto, sobre o ensino primário, liceal, técnico e universitário. O ensino universitário está em minoria, o que não é de espantar, dado este ser percepcionado como um nível de ensino a que só uma minoria deve ter acesso. Apesar de o ensino liceal ter um elevado peso, sobretudo se atendermos ao ano de 1947, em que ocorreu uma Reforma no Ensino Liceal, a presença do ensino primário supera, em termos quantitativos e qualitativos, a dos restantes níveis e tipos de ensino. O ensino primário é perspectivado como o nível de ensino a ser assegurado a todos os portugueses, permitindo formar o homem do Estado Novo, instruído quanto basta, para fazer face à vida, e formado nos valores do amor e serviço à família, à pátria e à Igreja. Foram incluídos nesta área todos os artigos de opinião e notícias cujo conteúdo é a Reforma do Ensino, processada ou em processamento, ou ainda a expressão, antecipada, da sua necessidade. Assistindo-se neste período à reformulação do ensino liceal (1947) e técnico (1946 e 1948), os materiais encontrados centrados nas reformas do ensino atingem um número assinalável, valorizando-se em termos, quer quantitativos, quer qualitativos, a Reforma do Ensino Liceal, de 1947. Considerou-se que a reflexão sobre o ensino das humanidades, com especial relevância, quantitativa e qualitativa, o caso do latim no Liceu, está associada à abordagem do currículo e como tal foi integrada no Sistema de Ensino e Currículos. O relevo dado ao Ensino Particular é maior ao nível da análise qualitativa do que da quantitativa. Ainda que o número de textos versando, especificamente, o ensino particular não seja elevado, este acentua-se nos 22 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 anos de 1948 e, com maior relevância, de 1949, ano em que se definiu o Estatuto do Ensino Particular18. Há uma sobrevalorização desta oferta educativa ao longo de todo o período estudado, tanto opinando-se sobre a qualidade do ensino aí ministrado, ao atender-se ao de teor católico, como reivindicando-se direitos legais para este tipo de ensino, em matéria, por exemplo, de realização de exames, ou medidas excepcionais, o caso das habilitações exigidas para a leccionação do ensino liceal. Reconhecendo-se o direito dos pais escolherem a educação para os seus filhos, isto é, a supremacia da família ao Estado, reclama-se que a opção entre o ensino particular e o público seja livre e não determinada pelos mecanismos legais existentes, os quais colocam o ensino particular numa posição subalterna do público e os seus alunos em desvantagem, ao confrontá-los com maiores exigências do que os do público. Ao anunciarem-se actividades do ensino particular ou ao fazer-se a história de certas instituições religiosas de ensino reconhece-se a obra educativa desenvolvida pela Igreja, sobretudo das ordens religiosas, e o seu carácter precursor em relação ao Estado. Ainda que a problemática da feminização do magistério pareça integrar-se na temática da Educação e Professorado, ela só se constitui como um problema educativo, porque há uma definição social da vivência do ser mulher ou ser homem e do modo como se relacionam entre eles, pelo que se considerou uma área temática independente, intitulando-a Género e Educação. Tomado o género não como um facto natural, mas como uma realidade construída, ao nível social, cultural e histórico, e com fins analíticos (Block, 1989, pp. 158-161), está-se perante uma abordagem focalizada no género, na medida em que é admitido que o desempenho docente do professor se demarca do da professora. Por outro lado, é através de uma análise marcada pela categoria do género, que a afluência de mulheres ao professorado é vista de um modo negativo, ao nível do ensino liceal, enquanto é acarinhada no ensino primário. Ao não se dissociar a educação da infância, quer masculina, quer feminina, de uma componente afectiva, a professora primária, enquanto 18 Decreto-lei n. 37.544, de 8 de setembro de 1949. o jornal católico novidades 23 mulher, assegurará melhor funções que se concebem muito próximas das maternais, ao passo que a formação do carácter dos futuros homens, visada com o ensino liceal, se vê comprometida caso escasseiem os modelos masculinos. Os textos que se debruçam sobre o modo como as professoras se devem apresentar, ignorando-se a necessidade de uma reflexão sobre a apresentação masculina, revelam uma ideologização da prática docente (Araújo, 2000, p. 92), dada a impossibilidade de controlar a procura de trabalho pela mulher. Também, a análise do aumento da frequência feminina no ensino liceal, matéria de vários artigos de primeira página durante o ano de 1948, manifesta a significativa importância que o Novidades deu ao pensar o Género e a Educação, opondo-se intensamente à coeducação, a qual associa à educação ateia e ao modelo comunista de educação, e permite inferir procedimentos sociais que envolvem a construção da identidade masculina e feminina, no Estado Novo. A área temática Educação e Professores aparece no último patamar de importância quantitativa, ainda que em termos qualitativos se reconheça, para “bem da Educação”, a importância de criar incentivos à fixação dos professores nos meios rurais ou de assegurar uma vida monetária digna aos professores. O estabelecimento de uma estreita associação entre sucesso educativo dos alunos e a competência profissional dos professores, conduz ao enaltecimento da profissão docente, tomando-a como um sacerdócio, que, mais do que formação19, requer vocação. Identificadas e analisadas sumariamente as grandes áreas temáticas do Novidades, tenta-se proceder à sistematização do pensamento pedagógico deste jornal. Definido este matutino como o órgão oficioso da Hierarquia Católica Portuguesa, as afirmações da fé, proclamadas pelo magistério eclesiástico constituem as matrizes eurísticas da informação e doutrina por ele processada. Poder-se-á considerar que a grande afirmação da fé católica é a existência de um Deus uno e trino. Esta visão informará o pensamento católico de um modo decisivo a partir da Idade 19 Ainda que a formação seja abordada, em alguns artigos, tanto a inicial como a em exercício. 24 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Média, reconhecendo-se por analogia à trindade divina que tudo o que é bom é trino, tudo o que é trino é bom20. O Estado Novo, regime em vigor durante a existência do Novidades, conforme já se afirmou, expressa o seu ideário na trilogia – Deus, pátria e família, a qual vai ser trabalhada num dos sete quadros intitulados A Lição de Salazar, realizados no âmbito da campanha pedagógica destinada à celebração do 10º aniversário da tomada de posse de Oliveira Salazar como ministro das finanças. Com este quadro, conforme afirma o professor João Medina, Martins Barata, seu autor, revela o essencial da filosofia política, do Paternalismo político, da noção cristã da Chefia e da Obediência que anima o ideário da Ditadura salazarista, a par do seu ideal “utópico” – mais concretamente ucrónico, ou seja, fora do tempo, do seu tempo –, virado para um mundo doirado impossível em pleno séc. XX, com a sua “aurea mediocritas” de humildade e pobreza, o ideal neotomista duma “pax ruris” medieval, um mundo sem electricidade nem revolução industrial a maculá-lo, com o “bom selvagem” salazarista condensado naquele campónio que regressa a casa, à pequenina casa portuguesa [...], depois dum dia de trabalho no amanho da terra, essa mãe-terra que miticamente o Chefe queria como fundamento, princípio e fim de toda a riqueza, sob um céu imóvel e sempre azul onde Deus velava pela tranquilidade universal e pelo bom andamento da sociedade portuguesa, tão fiel ao culto do Cristo sobre um altar caseiro, Chefe invisível do Universo, de que o presidente do Conselho seria afinal o natural delegado terreno, e o Chefe de família o seu representante também natural, nessa célula base da sociedade que é a Família [...] [Medina, 1993, p. 17]. Concebendo o Novidades, enquanto voz da Igreja hierárquica, como mediador entre Deus trino e o povo católico, entre a terra e o céu, formulase a sua síntese doutrinal na trilogia pedagogia católica – educação nova – homem novo. Esta tríade oferece-se como uma ideia organizadora dos sentidos do educar, expressos no jornal, e que se tornaram perceptíveis na forma das áreas temáticas, anteriormente enunciadas. 20 Consulte-se João Medina, 1993, p. 18. o jornal católico novidades 25 Esquema 2 SÍNTESE DOUTRINÁRIA DO NOVIDADES E ÁREAS TEMÁTICAS SOBRE EDUCAÇÃO POR ELE CONTEMPLADAS PEDAGOGIA CATÓLICA Género e Educação Sistema Educativo e Currículos EDUCAÇÃO NOVA Educação e Professores HOMEM NOVO Educação e Escola Ensino Particular Educação e Escola A pedagogia católica fundamenta-se na filosofia existencial cristã, a qual concebe a existência como condição de desenvolvimento da individualidade, construção do ser homem e realização humana enquanto tal, a vida é essencialmente pedagógica – a vida é aprendizagem da condição humana – e a pedagogia católica é essencialmente concepção de vida (Hovre, 1934, p. 432) – ela é oportunidade de o homem se formar, crescer como homem e atingir a realização humana. A educação nova, no construto que conceptualiza o pensamento pedagógico do Novidades, não é coincidente com a pedagogia da escola nova ou dita, por vezes, pedagogia activa, assim como se vai demarcando desta, à medida que ela é vista como uma pedagogia essencialmente ateia, ao ser perfilhada pelos regimes comunistas do pós-guerra. Por educação nova, compreende-se a doutrina pedagógica direccionada não só para a formação intelectual, mas também física, social e moral. A escola, que segue tais orientações, não se centra na instrução, ensinando conteúdos que não são apropriados ao desenvolvimento mental das crianças ou que não têm utilidade prática, mas prepara homens e mulheres para a vida. O homem novo é o homem e a mulher que recebem a instrução apropriada às capacidades intelectuais e às expecativas que o social tem de- 26 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 les e a formação cívica, moral e religiosa que possibilita a integração no Estado que se norteia pelo ideário Deus, pátria e família. Este homem novo desempenha um papel na família, na sociedade e na Igreja de acordo com o género e a classe social a que pertence, no cumprimento zeloso do dever, no reconhecimento e respeito pela autoridade e na admiração e devoção pelos mais nobres valores religiosos, pátrios e presentes à vida familiar. Não pretendendo chegar a uma síntese conclusiva, mas a um esboço das ideias inculcadas pelo Novidades, julga-se conveniente reconhecer que o alargamento do período trabalhado, certamente, vai facilitar a clarificação do(s) sentido(s) do educar. Por outro lado, pensa-se que o alargamento do acervo, prolongando o período pós-guerra vai esclarecer se o pensamento pedagógico do Novidades se afasta das posições assumidas pelo Estado, passando os católicos, conforme sugere Braga da Cruz, “de uma aceitação quase unânime e de uma colaboração forte em muitos domínios [...] para uma crescente tensão e insatisfação, e para uma desagregação dessa colaboração, com passagem aberta a uma oposição expressa, tanto em termos hierárquicos como em termos laicais” (Cruz, 1999, p. 15). Referências Bibliográficas ALMEIDA, J. M. (1998). Subsídios para a história das novidades. Lisboa, Rádio Renascença. ARAÚJO, H. (2000). Pioneiras de educação: as professoras primárias na viragem do século (1887-1933). Lisboa, IIE. BLOCK, G. (1989). “História, história das mulheres e história do género”. Penélope. Fazer e desfazer história, Lisboa, Quetzal, 4 (11), pp. 158-161. CRUZ, M. B. (1999). O Estado Novo e a Igreja católica. Lisboa, Bizâncio. FONTES, P. (1999). “Imprensa católica”. In: BARRETO, A. & MÓNICA, F. Dicionário de História de Portugal, VIII. Porto, Figueirinhas, p. 247. FRANCO, J. (1999). Brotar educação: história da Brotéria e da evolução do seu pensamento pedagógico (1902-1996). Lisboa, Roma Editora. o jornal católico novidades 27 GAILLARD, P. (1974). O jornalismo. Lisboa, Publicações Europa-América. HOVRE, F. (1934). Pedagogos y pedagogía del Catolicismo. Madri, Razón y Fé. LETRIA, J. & GOULÃO, J. (1986). Noções de jornalismo. Lisboa, Livros Horizonte. MEDINA, J. (1993). “Deus, pátria, família: ideologia e mentalidade do salazarismo”. In: MEDINA, J. (dir.). História de Portugal dos tempos pré-históricos aos nossos dias, XII. Alfragide, Ediclube, pp. 11-48. NÓVOA, A. (1992). “A educação nacional”. In: SERRÃO, J. & MARQUES, A. H. O. (dirs.). Nova história de Portugal: Portugal e o Estado Novo, XII. Lisboa, Editorial Presença, pp. 455-519. . (dir.) (1993). A imprensa de educação e ensino: reportório analítico (sécs. XIX-XX). Lisboa, IIE. 28 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Uma história das leituras para professores análise da produção e circulação de saberes especializados nos manuais pedagógicos (1930-1971)* Vivian Batista da Silva** Este texto apresenta alguns dos resultados de um estudo acerca da produção e circulação de conhecimentos entre professores, tomando como fontes nucleares os manuais pedagógicos publicados no Brasil entre 1930 e 1971. Tais livros são escritos para uso em escolas normais, durante aulas de disciplinas diretamente relacionadas a questões educacionais, a saber, pedagogia, didática, metodologia e prática de ensino. Pretende-se identificar algumas características dessa produção e os modos pelos quais o conjunto de textos examinados constrói e divulga saberes sobre o ofício docente. LEITURAS PARA PROFESSORES; MANUAIS PEDAGÓGICOS; IMPRENSA PEDAGÓGICA; FORMAÇÃO DOCENTE; SABERES PEDAGÓGICOS. This article presents some results of a study about the production and circulation of knowledge among teachers. The study mentioned uses, as its main source of data, the educational manuals published in Brazil from 1930 to 1971. These books were written for teachers in pre service education courses during classes of subjects directly related to teaching: pedagogy, didactics, methodology and teaching practice. We try to identify some characteristics of this production and the ways they construct and spread educational knowledge. READING PRACTICES AMONG TEACHERS; EDUCATIONAL MANUALS; EDUCATIONAL PRINTING PRESS; TEACHER PRE SERVICE EDUCATION; EDUCATIONAL KNOWLEDGE. * Este texto foi originalmente apresentado na 25ª Reunião Anual da ANPEd, realizada em Caxambu entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro de 2002. A referida comunicação integrou o GT 2 de História da Educação. ** Mestre e doutoranda em história da educação pela Faculdade de Educação da USP. 30 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Introdução Identificar características dos manuais pedagógicos brasileiros, tal como o presente trabalho se propõe, corresponde a um esforço de colaborar para uma história de leituras para professores. Os livros em pauta são assim denominados por terem sido escritos a fim de desenvolverem os temas previstos para o ensino de disciplinas profissionalizantes dos currículos de instituições de formação docente, no caso, aquelas diretamente relacionadas com questões educacionais, a saber, a pedagogia, a didática, a metodologia e a prática de ensino. Trata-se de um tipo de texto elaborado a partir dos programas oficiais e que contém de forma mais detalhada do que essas prescrições os conhecimentos a serem efetivamente ensinados aos normalistas (Correia, 2001). Nesse sentido, esse gênero assume uma posição muito peculiar na literatura educacional (da qual se destacam a imprensa periódica e outras obras feitas para orientar o exercício do magistério, a exemplo de guias sobre temas de ordem moral, administrativa ou metodológica), pois, ao reunir e sistematizar conteúdos tipicamente escolares, propõe-se a tratar de maneira sucinta e acessível o que há de “essencial” em termos de educação, favorecendo assim um primeiro contato do leitor com essas questões. Este estudo analisa 44 títulos publicados entre 1930 e 1971 (ver Quadro 1), localizados em acervos1 de São Paulo e Campinas, os quais reúnem um número significativo de obras na área educacional. A data inicial da pesquisa define-se em função de mudanças levadas a efeito em escolas normais de vários estados do Brasil e, principalmente, de um notável aumento de publicações destinadas aos futuros professores2. Delimitando o marco final, considera-se a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB – n. 5.692, que substitui as antigas instituições pela Habilitação Específica para o Magistério e ainda o fato de, 1 2 Biblioteca da Faculdade de Educação da USP; Biblioteca da Faculdade de Educação da UNICAMP; Biblioteca da PUC-SP; Biblioteca Municipal Mário de Andrade e o acervo do Instituto de Estudos Educacionais Sud Mennucci. Sobre a história de cursos de formação docente no Brasil, ver, por exemplo, Tanuri (1969, 1973 e 2000), Almeida (1993) e Vidal (1995). uma história das leituras para professores 31 nesse momento, as edições se apresentarem por meio de recursos tipográficos mais sofisticados. Isso articula-se à modernização do setor editorial, permitindo uma produção mais ágil e acelerada, com a utilização cada vez maior de ilustrações, fotografias e uma diagramação marcada pela ocupação menos massiva da página, a exemplo do que acontece com a maior parte das obras publicadas no país durante esse período. Tais mudanças refletem-se nos livros destinados ao uso escolar – conjunto ao qual o corpus aqui analisado se integra – motivando o que Décio Gatti Júnior (1998) assinala como a passagem dos “antigos manuais escolares” para os “modernos livros didáticos”. Quadro 1 TÍTULOS E AUTORES DOS MANUAIS PEDAGÓGICOS ESTUDADOS TÍTULO AUTOR 1. Didática (nas escolas primárias) . . . . . . . . . . . . . 2. Introdução ao estudo da Escola Nova . . . . . . . . . 3. As modernas diretrizes no ensino primário (escola ativa, do trabalho ou nova) . . . . . . . . . . . . . 4. Escola brasileira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Planos de lição: noções comuns . . . . . . . . . . . . . . 6. Técnica da pedagogia moderna: teoria e prática da Escola Nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Pedagogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Fundamentos do método – problemas metodológicos do ensino primário . . . . . . . . . . . . . . 9. Práticas escolares – 1º volume . . . . . . . . . . . . . . . 10. Práticas escolares – 2º volume . . . . . . . . . . . . . . 11. Práticas escolares – 3º volume . . . . . . . . . . . . . . 12. Manual de pedagogia moderna (teórica e prática) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Como educar as crianças . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Prática de ensino: o ensino e a aprendizagem, as técnicas de ensino, os planos de ensino, a realidade do ensino, a verificação do ensino . . . . . . 15. Prática do ensino primário: diário de atividades da professoranda para uso das escolas normais e institutos de educação . . . . . . . . . João Toledo Lourenço Filho FranciscoVianna João Toledo João Toledo Everardo Backheuser Djacir Menezes Onofre de Arruda Penteado Jr. Antônio D’Ávila Antônio D’Ávila Antônio D’Ávila Everardo Backheuser Aristides Ricardo Theobaldo Miranda Santos Brisolva de Brito Queirós et al. (continua) 32 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 (continuação) TÍTULO 16. O quadro-negro e sua utilização no ensino . . . . 17. Pedagogia – teoria e prática (de acordo com o programa do Curso Normal e com as diretrizes do ensino primário) – 1º volume . . . . . . . . . . . . . . . 18. Fundamentos de educação (princípios psicológicos e sociais, elementos de didática e administração escolar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Metodologia do ensino primário (contendo a matéria dos 2º e 3º anos do Curso Normal) . . . . . . 20. Lições de pedagogia (rigorosamente de acordo com o programa oficial das Escolas Normais 1º ano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Introdução à pedagogia moderna . . . . . . . . . . . 22. Metodologia do ensino primário (de acordo com os programas dos Institutos de Educação e das Escolas Normais) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Didática mínima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Processologia na escola primária . . . . . . . . . . . 25. Métodos e técnicas do estudo e da cultura: ler, escrever, conversar, estudar, adquirir cultura . . . . . 26. Compêndio de pedagogia moderna – de acordo com os programas do Concurso de Ingresso no Magistério das Escolas Normais . . . . . . . . . . . . . AUTOR Luíz Alves de Mattos Antônio D’Ávila Afro do Amaral Fontoura Afro do Amaral Fontoura Aquiles Archêro Jr. Theobaldo Miranda Santos Theobaldo Miranda Santos Rafael Grisi Caio de Figueiredo Silva Theobaldo Miranda Santos Romanda Gonçalves; Alcy Villela Bastos e Léa da Silva Rodrigues 27. A linguagem didática no ensino moderno . . . . . . Luíz Alves de Mattos 28. Introdução à didática geral . . . . . . . . . . . . . . . . Imídeo Giuseppe Nérici 29. Noções de metodologia do ensino primário – de acordo com os programas dos Institutos de Educação e das Escolas Normais . . . . . . . . . . . . . . . Theobaldo Miranda Santos 30. Noções de pedagogia científica – para uso das escolas normais, institutos de educação e faculdades de filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Theobaldo Miranda Santos 31. Didática geral – de acordo com os programas oficiais de 1ª e 2ª séries do Curso Normal das escolas do estado do Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . Romanda Gonçalves Pentagna 32. Sumário de didática geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luíz Alves de Mattos 33. Introdução à prática de ensino – 1a série normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amadice Amaral dos Reis et al. 34. Metodologia e prática moderna de ensino . . . . . Angelina de Lima (continua) uma história das leituras para professores 33 (continuação) TÍTULO AUTOR 35. Didática geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afro do Amaral Fontoura 36. Didática geral – para uso das Faculdades de Filosofia e das Escolas Normais . . . . . . . . . . . . . . . 37. Manual do professor primário – o professor, a escola, o aluno, os métodos, as medidas, as instalações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. Diretrizes de didática e educação . . . . . . . . . . . . 39. Ensino: sua técnica – sua arte . . . . . . . . . . . . . . 40. Prática de ensino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. Noções de prática de ensino – de acôrdo com os programas dos Institutos de Educação e das Escolas Normais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. Noções de didática geral – para uso das escolas normais, institutos de educação e faculdades de filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. Pedagogia e didática modernas . . . . . . . . . . . . . 44. Ensinando à criança: guia para o professor primário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onofre de Arruda Penteado Jr. Theobaldo Miranda Santos Ismael de Franca Campos Ruy Santos de Figueiredo Afro do Amaral Fontoura Theobaldo Miranda Santos Theobaldo Miranda Santos Benedito de Andrade Alayde Madeira Marcozzi et al. O problema que mobiliza a presente análise refere-se às práticas de organização e circulação de conhecimentos profissionalizantes nos impressos em pauta e o que se procura apreender são as características dos discursos tidos como “excelentes” para conduzirem o ofício de ensinar. Ou seja, o propósito central é identificar alguns dos modos pelos quais se constitui uma cultura profissional docente, entendida como um amplo conjunto de elementos, dentre os quais estão as tarefas cotidianas na sala de aula, a convivência com os alunos, as conversas entre colegas, a partilha de uma identidade comum, a integração de experiências pessoais às atividades de trabalho, bem como a assimilação de valores, competências, crenças, hábitos e informações que buscam instaurar modalidades de interpretação e ação junto às situações de ensino (Perrenoud, 1993). Uma dimensão como essa diz respeito às maneiras como um grupo elabora, vive e pensa sua realidade e, tomando-se como referência alguns pressupostos assinalados por Roger Chartier (1990), pode ser apreendida mediante o exame de textos – no caso, os manuais pedagógicos – que constroem e tentam impor formas de apreender e intervir num determi- 34 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 nado espaço. Assim, ao identificar algumas modalidades de produção e circulação do conhecimento pedagógico, o trabalho aqui apresentado insere-se no quadro dos estudos voltados para uma história das leituras para professores. Os esforços de análise incidem sobre a identificação dos objetivos e recomendações de uso do gênero em questão, das temáticas desenvolvidas ao longo das páginas, bem como de iniciativas quanto à escrita e circulação do material. Tais interrogações são tratadas mais demoradamente em dissertação de mestrado já desenvolvida junto à área de história da Educação e cujos resultados são aqui parcial e brevemente retomados3. Esse trabalho apresenta uma retomada dos currículos e programas prescritos para a escola normal no estado de São Paulo, com o intuito de apreender articulações entre os planos de estudo e os temas tratados no repertório em análise. Em seguida, atenta para os modos pelos quais as edições se dirigem ao seu público leitor, identificando os objetivos do gênero a partir das declarações constantes nos prefácios; bem como das recomendações de uso dos manuais divulgadas em resenhas publicadas em periódicos educacionais. Considerou-se necessário também reconstituir as características materiais dos escritos, com base em observações de Chartier (1990) a respeito da importância das investigações sobre os “suportes do texto”, ou seja, as disposições tipográficas, a organização das páginas, a apresentação das ilustrações e outros tipos de recursos técnicos por meio dos quais os livros chegam aos leitores. Numa segunda parte, a pesquisa examina o conteúdo dos manuais, interessando-se particularmente pela forma como eles reúnem e sintetizam saberes pedagógicos. Isso permite conhecer os tipos de apropriação e divulgação da bibliografia utilizada pelos autores, levando-se em conta proposições de Pierre Bourdieu (1990) acerca da produção de leituras em determinados espaços. Num último momento, são retomadas regulamentações oficiais no que tange à elaboração e adoção das 3 Trata-se do estudo intitulado História de leituras para professores: um estudo da produção e circulação de saberes especializados nos “manuais pedagógicos” brasileiros (1930-1971), o qual foi desenvolvido pela autora junto à Faculdade de Educação da USP (2001). uma história das leituras para professores 35 obras estudadas, visando a mostrar o seu lugar no mercado editorial brasileiro. Explicitando as estratégias utilizadas na investigação, vale retomar as proposições feitas por Robert Darnton (1990) acerca de um modelo de análise mediante o qual é possível examinar a produção de impressos. Embora essa difusão varie conforme o lugar, a época, o tipo de texto e o público ao qual ele se destina, é possível falar de um ciclo de vida comum, o qual passa pelo escritor, editor ou livreiro, impressor, distribuidor, vendedor e leitor. Convém, nesse sentido, atentar para cada fase do processo, em sua globalidade e diante das possíveis variações ao longo do tempo, bem como em todas as suas relações com outros sistemas, seja o econômico, o social, o político e o cultural. Sem dúvida, trata-se de um grande empreendimento, cujas potencialidades de exame são aqui reconhecidas quando se atenta para diversos aspectos envolvidos na edição de manuais pedagógicos, sem, evidentemente, exaurir todos os elementos aí envolvidos. Na medida do possível e num primeiro momento, busca-se evidenciar os objetivos dos autores, as formas tipográficas assumidas pelos escritos graças ao trabalho dos editores, ilustradores e impressores, as recomendações oficiais quanto à publicação de textos escolares e, mais precisamente, quanto aos tópicos a serem desenvolvidos pelos livros de pedagogia, didática, metodologia e prática de ensino destinados aos alunos da escola normal. Na pesquisa realizada, procede-se ao exame de currículos e programas desse curso, na cidade de São Paulo especialmente, no intuito de apreender as relações entre os planos oficiais e os conteúdos das obras. Com o objetivo de identificar expectativas relacionadas a esse material, recorre-se a periódicos educacionais circulantes no período – a saber, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (Rio de Janeiro, a partir de 1944); a Revista do Magistério (São Paulo, 1952-1963); a revista Atualidades Pedagógicas (São Paulo, 1950-1962) e a revista Educação (São Paulo, 19271961) – que publicam resenhas e comentários sobre os manuais. Examina-se também prefácios dos próprios livros, identificando-se as formas pelas quais estes se auto-representam. E recorre-se ainda à legislação que ordena a produção e circulação da literatura escolar em geral, bem como a estudos acerca do desenvolvimento de iniciativas editoriais 36 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 no país (Hallewell, 1985), a fim de compreender o significado do gênero estudado nesse setor. Assim, e tomando os manuais pedagógicos como fonte nuclear, é possível reconstituir os modos pelos quais esses textos integram o mercado literário e, sobretudo, o processo de formação de professores primários. No que tange ao lugar deste trabalho no conjunto das produções brasileiras na área de história da educação, as considerações de Catani e Faria Filho (2001) podem auxiliar. Ao examinar as características dos estudos apresentados nas Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd – desde 1985 – data de criação do Grupo de Trabalho História da Educação (GT 2) – os autores observam um interesse especial, a partir dos anos de 1990, por temas como profissão docente, fontes e metodologia, estudos de gênero, saberes escolares e livros e práticas de leitura. A esse respeito, e referindo-se também a uma notável diversificação das fontes, eles assinalam a existência de novas perspectivas de análise e o fortalecimento da produção nacional. Por sua vez, o presente exame articula-se a uma dessas linhas que têm motivado boa parte das atividades dos pesquisadores da área, recaindo sobre a história da leitura e dos impressos4 ou, mais especificamente, sobre o texto escolar, na medida em que, como já foi assinalado, os manuais pedagógicos fazem parte das leituras promovidas pela escola, pois são escritos que ordenam o conjunto de saberes a serem transmitidos aos normalistas, além de definirem com isso determinados modos de transmissão e apreensão desses conhecimentos. Para além da função de formar estudantes, o gênero em pauta assume outra tarefa, qual seja, a de subsidiar a constituição da identidade de profissionais – professores primários – que devem atuar na formação de outros alunos. Tais elementos conferem aos manuais pedagógicos um lugar muito especial e a investigação aqui proposta visa a contribuir para o 4 Entre as produções brasileiras que incidem sobre livros e leituras, é possível citar os textos de Vidal (1999, 1996 e 1997), Peres (2000), Oliveira (1968), Munakata (1999), Godinho Lima (1999), Gatti Jr. (1999), Faria (1984), Carvalho (1992), Oliveira (1984), Bittencourt (1993), Batista (1999), Boto (1997), Galvão (1998), Vidal Carvalho (2000). uma história das leituras para professores 37 conhecimento da história desses livros, mediante o exame de várias fontes e a sistematização de informações capazes de favorecer o desenvolvimento de futuras pesquisas. Os “auctores” segundo os “lectores” Antes de assinalar diferentes fases identificadas no processo de construção e circulação de saberes no corpus examinado, no período compreendido entre 1930 e 1971, convém destacar algumas especificidades dos manuais pedagógicos no conjunto da literatura educacional. A esse respeito, é num texto intitulado Leitura, leitores, letrados, literatura que Pierre Bourdieu (1990) chama a atenção para a diferença entre o “lector”, aquele que segundo a tradição medieval interpreta um discurso anterior, e o “auctor”, responsável pela elaboração de uma obra original. Tal distinção é aqui especialmente importante, pois os escritores dos manuais apresentam ao seu público, num texto aparentemente coerente e unificado (Roullet, 1998), a síntese de uma ampla bibliografia, produzida por diversos nomes e relacionada a diferentes ramos de estudo. Assim, essas “leituras de leituras”5 contidas nos textos analisados constituem-se a partir da explicação que os seus autores, enquanto leitores, fazem de algumas idéias. E, decerto, essa interpretação é o que molda o entendimento que os normalistas constroem das obras citadas. Nos manuais, é possível identificar formas específicas de apropriação das fontes utilizadas. Os avanços da psicologia, da sociologia, da filosofia, da pedagogia, da história, entre outras áreas comumente mencionadas nesses livros, passam de uma lógica científica (ou pelo menos esse é o estatuto a elas delegado) a uma perspectiva de interpretação que 5 O termo “leituras de leituras” é utilizado por Denice Catani (1994) num texto sobre as resenhas bibliográficas publicadas na revista Educação (São Paulo, 1927-1961). Baseando-se em Pierre Bourdieu, a autora assinala o fato de que as resenhas são produções derivadas. O comentarista refere-se a obras de outros autores e produz uma leitura que conduzirá à legitimação, ou não, destas. Os autores dos manuais pedagógicos, por sua vez, operam o mesmo tipo de mecanismo. 38 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 permite situar as contribuições desses conhecimentos para o ofício de ensinar. Dessa forma, a literatura examinada define-se pela alusão a autores e títulos consagrados e os seus conteúdos, como sugere Bourdieu, corresponde a um universo de referências “que são indissoluvelmente diferenças e reverências, distanciamentos e atenções” (1990, p. 145). Nessa transposição, são construídos saberes norteadores da prática docente ou, como diria o autor de um dos títulos analisados, Rafael Grisi, saberes capazes de “fazer a Pedagogia ‘descer do céu à terra’” (1956, p. XIII), a partir de duas espécies de operações: primeiramente, uma relativa à adequação de informações dos vários campos para explicar fatos do cotidiano escolar e, em segundo lugar, um tipo de leitura usada para justificar recomendações sobre como os docentes devem proceder no exercício do magistério. Nesse sentido, a idéia de apropriação é nuclear para compreender a natureza dos manuais pedagógicos e a forma pela qual eles se produzem a partir da incorporação de leituras feitas pelos seus produtores, o que torna necessário o esclarecimento desse conceito, tal como é explicitado por Roger Chartier (1991) quando se refere à liberdade ao mesmo tempo criadora e regulada dos leitores, bem como às múltiplas interpretações das quais um pensamento é suscetível. A relevância dessas considerações tem sido assinalada para o desenvolvimento de estudos empreendidos pelo próprio autor a respeito da história da leitura e das edições na França e reconhece-se a fertilidade dessas contribuições para o entendimento dos modos de produção e circulação dos saberes educacionais. As hipóteses de Chartier conduzem a indagar acerca dos usos que os escritores dos manuais fazem do que lêem, buscando apreender as práticas envolvidas na síntese e na divulgação da literatura por eles mencionada. Importa, dentro dos limites aqui estabelecidos, assinalar as particularidades das relações entre o contexto de produção da bibliografia citada e os conhecimentos pragmáticos contidos nos livros, de modo que se conheça o processo de passagem de um para o outro. Quais obras e autores são usados nos manuais pedagógicos brasileiros entre 1930 e 1971? As referências são sempre as mesmas ao longo do tempo? De que modo as citações são apresentadas nos textos? Enfim, como os produto- uma história das leituras para professores 39 res desse corpus favorecem o acesso dos futuros professores a determinadas informações? Num banco de dados construído com base nessas indagações, estão relacionados dados que dizem respeito à bibliografia e aos nomes citados ao longo das páginas de cada título examinado, bem como a recorrência de transcrições literais, das indicações de leituras e dos resumos de idéias. Cada menção a autor e livros está anotada, identificando-se também os modos pelos quais essa apropriação é exposta: no corpo do texto, em nota de rodapé, na bibliografia, com transcrição literal do discurso ou não. Tal sistematização contabiliza um total aproximado de 25 mil registros, dentre os quais estão incluídas citações a áreas de saber, eventos educacionais, países, comunidades transnacionais e periódicos, o que pode ser útil também para outras pesquisas que porventura venham a ser desenvolvidas, como é o caso da tese de doutorado que dá continuidade a esta investigação. Nessa ordenação de informações, é possível ver que o autor mais citado em todo o período é John Dewey (594 vezes)6 e, com relação à bibliografia, recebem destaque os títulos constantes no Quadro 2. O repertório é composto por livros nacionais e estrangeiros, tendo sido, neste último caso, mencionados na maior parte das vezes em versões traduzidas. Também é notável a recorrência de manuais originalmente escritos para sintetizarem o que seus autores consideram o “essencial” em termos de educação e que, ao integrarem a bibliografia de outras obras da mesma espécie, têm o seu conteúdo reinterpretado em razão de novos interesses: é o caso em que um autor de manuais se torna leitor de outros manuais para incorporá-los ao seu texto e/ou deles retirar inspiração7. 6 7 Há ainda os nomes de Aguayo y Sánchez (429 vezes), Ovídio Decroly (298 vezes), Edouard Claparède (289 vezes), Georg Kerschensteiner (230 vezes), Johann Friedrich Herbart (222 vezes), Johann Heinrich Pestalozzi (203 vezes), Maria Montessori (198 vezes), Jean Jacques Rousseau (197 vezes) e Afro de Amaral Fontoura (192 vezes), tomando-se aqui apenas os dez nomes mais citados. Entre 1930 e 1946, os títulos mais utilizados são assinados por Dewey e correspondem a: Democracy and education, Como pensamos e a tradução Democracia e educação. Outros livros referidos nesse período são: Educação progressiva (Anísio Teixeira), Novos caminhos e novos fins (Fernando de Azevedo), L’école 40 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Quadro 2 ALGUNS DOS TÍTULOS MAIS CITADOS NOS MANUAIS PEDAGÓGICOS BRASILEIROS ENTRE 1930 E 1971 TÍTULO Democracia e educação The nature and direction for learning Como pensamos Educação progressiva Vida e educação Didática magna L’école active Democracy and education La educación nueva Testes ABC A educação e a crise brasileira LÍNGUA AUTOR RECORRÊNCIA Tradução Inglês John Dewey William Burton 43 vezes 25 vezes Tradução Português Tradução Tradução Francês Inglês Espanhol Português Português John Dewey Anísio Teixeira John Dewey J. Comenio Adolph Ferrière John Dewey L. Luzuriaga Lourenço Filho Anísio Teixeira 21 vezes 20 vezes 16 vezes 16 vezes 13 vezes 10 vezes 6 vezes 6 vezes 5 vezes active (Adolph Ferrière) e Sociologia educacional (Delgado de Carvalho). Convém assinalar que não há nesse momento nenhum manual pedagógico estrangeiro de pedagogia, psicologia, sociologia, filosofia, biologia, metodologia, prática de ensino e didática que seja citado mais de cinco vezes. Livros como esse começam a ter mais destaque entre 1947 e 1959, quando Didática da escola nova, texto originalmente escrito por Aguayo, é o mais citado. A seguir vêm Pedagogia científica, do mesmo autor; Manual de pedagogia moderna, Ensaio de biotipologia educacional, Técnica da pedagogia moderna, Aritmética na escola nova, manuais brasileiros assinados por Everardo Backheuser; os 3 volumes de Práticas escolares (Antônio D’Ávila); Introdução ao estudo da Escola Nova (Lourenço Filho); Didactica o direccion del aprendizaje (González); A escola primária (Theobaldo Santos); Metodologia do ensino primário (mesmo autor); Manual do professor primário (do mesmo autor); Metodologia das ciências físicas e naturais (Almeida); além de Fundamentos do método (Penteado Jr.) e Fundamentos de educação (Fontoura). No decorrer dos anos de 1960 até 1971 os textos mais referidos são manuais brasileiros de didática, pedagogia, psicologia educacional, metodologia e prática de ensino, dentre os quais estão: Didática geral, Fundamentos da educação, Psicologia educacional, Metodologia do ensino primário, O planejamento no ensino primário, Prática de ensino e Sociologia educacional, todos assinados por Afro do Amaral Fontoura; Introdução ao estudo da Escola Nova, de Lourenço Filho; Práticas escolares, de Antônio D’Ávila; Fundamentos do método, de Penteado Jr.; Sumário de didática geral, Os objetivos e o planejamento do ensino e O uma história das leituras para professores 41 Tal sistematização apresenta os títulos mais relevantes dentre a bibliografia usada nos manuais pedagógicos brasileiros durante todo o período estudado neste trabalho. Entretanto, o lugar das referências passa por algumas mudanças ao longo do tempo. Considerando os anos compreendidos entre 1930 e 1946, quando, aliás, a Escola Nova é o principal tema, o nome mais recorrente é o de John Dewey, citado 193 vezes ao todo8. Interessa reconstituir, na medida do possível, o papel desse autor no campo educacional brasileiro e os tipos de leituras realizadas da obra desse autor nos manuais pedagógicos. Com relação ao pensamento deweyano, Amaral (1976) observa que esse teórico norte-americano veicula ideais da tradição de seu povo, concebendo a democracia como a forma de vida mais apropriada ao progresso e exaltando as potencialidades da inteligência humana. Ela ainda afirma que a originalidade de Dewey (1859-1952) está na racionalização e teorização de tal programa, ao elaborar uma filosofia que oriente a educação à luz dos prin- 8 quadro-negro e sua utilização no ensino, de Luíz Alves de Mattos; Manual de pedagogia moderna, O professor e Técnica da pedagogia moderna, de Everardo Backheuser; Didática geral, de Imídeo Nérici; Pedagogia e didática modernas, de Benedicto de Andrade; Noções de filosofia da educação, Metodologia do ensino primário, Noções de prática de ensino, Filosofia da educação e Noções de metodologia do ensino primário, de Theobaldo Miranda Santos. Os manuais estrangeiros então citados são os seguintes: Didática da Escola Nova e Pedagogia científica, de Aguayo; Didactica o direccion del aprendizaje, de Diego González; Pedagogia, de Lorenzo Luzuriaga; Didactica general, de Schmieder; Didactica general y especial, de Clotilde Rezzano; Didactica general, de Hugo Calzetti; Teoria de la enseñanz o didactica general, de Ruiz Amado; Pedagogia geral, do português Mário Vianna e Pedagogia, de Paul Barth. Em seguida, temos Ovídio Decroly (88 vezes), Johann Friedrich Herbart (74 vezes), Georg Kerschensteiner (51 vezes), Edouard Claparède (40 vezes), Kilpatrick (46 vezes), Maria Montessori (34 vezes), Johann Heinrich Pestalozzi (29 vezes), Alfred Binet (22 vezes), Sigmund Freud (22 vezes), Adolph Ferrière (40 vezes), Edward Lee Thorndike (18 vezes), dentre outros que integram o movimento escolanovista e são até hoje consagrados entre os professores. A única exceção é o caso de John Peter Wynne, cujo nome é um dos mais mencionados (84 vezes), embora atualmente não seja tão conhecido. Segundo Onofre de Arruda Penteado Jr., em seu Fundamentos do método (1938), manual que mais cita esse autor, ele é responsável por trabalhos versando sobre uma nova concepção de método geral de ensino, tendo sido aluno de John Dewey na Universidade de Columbia. 42 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 cípios democráticos. Por sua vez, Franco Cambi, em seu História da pedagogia, refere-se a esse autor de maneira muito entusiasta, considerando-o“o maior pedagogo do século XX” e um importante nome do escolanovismo. No seu entender, Dewey inspira debates e experiências educacionais em diversas instituições do mundo e propaga “a lição do pragmatismo americano” (1999, p. 546). No que tange às modalidades de apropriação da filosofia deweyana, cabe aqui recorrer a alguns casos exemplares. A observação principal refere-se ao fato de que é comum a lógica de exaltação do autor, embora as leituras realizadas da obra de Dewey tenham se transformado ao longo do tempo, passando da ênfase nas finalidades de uma organização escolar tida como “renovada” para a exposição de argumentos justificando a descrição de técnicas e métodos de ensino a serem empregados pelos professores no exercício do magistério. As afirmações de Lourenço Filho ilustram a divulgação das idéias do teórico norte-americano nos manuais pedagógicos brasileiros das décadas de 1930 e 1940. Assim como aparece em outros livros do período, em Introdução ao estudo da Escola Nova são destacados dados biográficos, apresentando o nome como um dos “grandes filósofos da atualidade”. No manual transparecem os louvores e o respeito: “Pragmatista, no melhor sentido da palavra, ele não crê no valor do pensamento desinteressado, nem se deixa embriagar por elocubrações metafísicas. Mas não desdenha a teoria e o valor do pensamento” (Lourenço Filho, 1930, p. 170, grifos nossos). Referindo-se especificamente ao livro How we think, do qual há um excerto traduzido no Introdução ao estudo da Escola Nova, o autor do manual elogia o fato de Dewey não conceber uma “educação verdadeira sem uma cultura do pensamento”, a qual “não funciona em abstrato, nem é passível de uma construção puramente formal. É efeito de necessidades que ao homem se apresenta no meio físico e social”. Prosseguindo, Lourenço Filho esclarece que o sentido pragmatista da obra de Dewey reside na “disciplina do pensamento, que compete à educação” (1930, p. 171). Desse modo, examinando-se as referências contidas nos manuais, observa-se que as principais contribuições do teórico para o campo educacional correspondem às pesquisas sobre o pensamento e as implicações daí decorrentes para a definição das finalidades do trabalho uma história das leituras para professores 43 pedagógico. De fato, a maioria das referências ao teórico nos manuais pedagógicos visa a consagrá-lo e, tomando-se esse caso exemplar, é possível dizer que entre as publicações da década de 1930 estas marcas de apropriação são bem visíveis. Depois de 1946, Dewey deixa de ser o teórico mais citado, embora o seu nome continue sendo muito recorrente9. Desde os finais dos anos de 1940 até 1971, o escritor de Didática da Escola Nova, Aguayo, aparece como o nome mais referido nos manuais então publicados. Dados os limites impostos ao presente trabalho, cabe apenas lembrar a atuação desse educador cubano em cursos de formação docente e na reorganização das escolas populares de seu país, no sentido de imprimir a elas uma direção renovadora. No Diccionario de pedagogia dirigido por Luis Sarto (1972), o autor é apresentado como uma ilustre figura contemporânea do campo educacional, devendo-se a ele a fundação de um laboratório 9 Num segundo momento e simultanemente à proliferação de manuais de metodologia e prática de ensino, nos idos de 1950, os nomes consagrados do movimento escolanovista continuam a ser utilizados, como é o caso de Dewey (154 vezes mencionado nos textos dos 15 manuais do período), Decroly (81 vezes), Claparède (86 vezes), Pestalozzi (67 vezes), Rousseau (67 vezes), Kerschensteiner (62 vezes), Herbart (54 vezes), Montessori (50 vezes), Fröebel (42 vezes), Comenius (41 vezes), Thorndike ( 35 vezes), Spencer (32 vezes), Rude (44 vezes) e Ferrière (23 vezes), para citar apenas alguns dos exemplos mais notáveis. Mas, diferentemente do que se verifica até então, passam a ser citados também autores de manuais de didática, pedagogia, psicologia educacional, filosofia da educação, dentre outras disciplinas dos currículos de cursos de formação docente. Foi o caso de Aguayo y Sánchez (181 vezes), Everardo Backheuser (95 vezes), Theobaldo Miranda Santos (43 vezes), Antônio D’Ávila (62 vezes) e Lourenço Filho (58 vezes). Essa tendência em usar autores de manuais prossegue, acentuando-se entre 1960 e 1971, momento no qual as produções atentam predominantemente para metodologias e técnicas didáticas. Embora Dewey (citado 230 vezes nas páginas dos 20 livros então publicados), Decroly (113 vezes), Rousseau (83 vezes), Pestalozzi (82 vezes), Claparède (129 vezes), Montessori (93 vezes), Thorndike (88 vezes) e Kerschensteiner (74 vezes) sejam referências ainda muito presentes, o destaque a autores de “sínteses” do pensamento educacional aumenta. Exemplos importantes são os de Aguayo (240 vezes), Afro do Amaral Fontoura (172 vezes), Theobaldo Miranda Santos (76 vezes), Diego González (87 vezes), Lorenzo Luzuriaga (72 vezes), Luíz Alves de Mattos (91 vezes), Antônio D’Ávila (75 vezes), Lourenço Filho (66 vezes), Everardo Backheuser (44 vezes), Onofre Penteado Jr. (21 vezes), Imídeo Giuseppe Nérici (17 vezes) e Benedito de Andrade (11 vezes). 44 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 para o estudo da criança na Universidade de Havana, onde, também, havia se formado pedagogo. Entre 1960 e 1971, outro autor muito utilizado foi Lorenzo Luzuriaga (citado 72 vezes), pedagogo e historiador espanhol. Num estudo sobre a apropriação da obra desse autor nos livros de história da educação publicados nessa época, Mirian Warde (1998) observa que a sua obra é lida, porém, não é incorporada como fonte. Em primeiro lugar, ela assinala que o autor é interpretado segundo o padrão historiográfico de corte religioso, embora tenha tido uma atuação marcadamente socialista e laicista. Em segundo lugar, há a hipótese de que o projeto original de Luzuriaga para construir uma história da pedagogia baseada em práticas e processos de organização do trabalho escolar não tem espaço para se concretizar no campo acadêmico brasileiro do período, o qual é fortemente hierarquizado e sedimentado, sendo favorável à reconstituição das tendências pedagógicas e de seus “grandes” mentores. Embora Warde tenha analisado a apropriação do pensamento de Luzuriaga em livros que não fazem parte do conjunto dos manuais pedagógicos aqui estudados, as suas considerações são úteis porque destacam modalidades de interpretação da obra do autor. Longe de exaurir todos os aspectos envolvidos na leitura que os escritores dos manuais fazem das obras de autores muito citados ao longo das páginas, convém chamar a atenção para o lugar da bibliografia de Dewey nas produções entre 1950 e 1971, o qual se diferencia por uma recorrência menor, se comparada com os anos de 1930 e 1940, e também por um outro tipo de apropriação. Retomando alguns excertos ilustrativos e localizados nos idos de 1950, são notáveis as declarações constantes em Introdução à pedagogia moderna, no qual Theobaldo Miranda Santos tece elogios a John Dewey no capítulo intitulado “A educação e o pragmatismo”. O escritor declara estar referindo-se a uma “figura sugestiva e poderosa [...] que mais profundamente tem influenciado as doutrinas e os métodos da chamada educação renovada” (Santos, 1955a, pp. 44-54, grifos nossos). Assim, diferentemente das declarações de Lourenço Filho, tais apreciações deixam entrever a ênfase nas contribuições do pensamento deweyano para orientar o que o professor deve fazer em situação de aula. Essa perspectiva é também especialmente evidenciada no capítulo “utilização do compêndio” em Didática míni- uma história das leituras para professores 45 ma (Grisi, 1956), no qual o escritor censura o uso do livro escolar, defendendo a adoção de revistas e jornais infantis, pois estes poderiam despertar o interesse dos alunos. Fundamentando seu argumento, Rafael Grisi traduz e transcreve um trecho de Democracy and education, em que Dewey afirmaria, em tom irônico, “que o lema de certos autores de livros didáticos é: pouco importa o que se escreva para uso das crianças na escola, contanto que elas detestem a leitura” (Grisi, 1956, p. 36). Esse é apenas um dentre outros casos muito comuns de argumentos que visam a mostrar a aplicabilidade das proposições deweyanas na definição de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. Entre 1960 e 1971, o chamado “tecnicismo” tem uma posição nuclear no discurso educacional, até mesmo nos manuais pedagógicos. Trata-se de uma “renovação radical e capilar da pedagogia”, atenta sobretudo às questões de instrução (Cambi, 1999). No caso brasileiro, essa tendência está relacionada com a política desenvolvimentista do Regime Militar (Cunha & Góes, 1985) e configura-se por uma preocupação muito forte com os recursos técnicos desenvolvidos pela ciência e aplicáveis ao domínio educacional. Assim, Democracia e educação é freqüentemente utilizada no intuito de se atestar a relevância dos meios intuitivos no processo de aprendizagem. Ainda com uma finalidade ilustrativa, vale retomar uma citação localizada em Didática geral (Penteado Jr., 1965), na parte relativa à “matéria do ponto de vista do aprendiz”. No manual está escrito que o “problema do ensino consiste em conservar a experiência do estudante movendo-se na direção daquilo que o adulto formado já conhece. Por isso é necessário que o mestre conheça ao mesmo tempo a matéria e as necessidades e capacidades características do estudante” (Penteado Jr., 1965, p. 80). O autor do manual não faz maiores apreciações sobre os trechos transcritos, expondo apenas as palavras de Dewey quanto aos modos tidos como “ideais” para se conduzir o magistério. Nota-se, então, a presença mais marcante de transcrições às quais não se acrescentam comentários mais detidos, mas que ressaltam os contributos do teórico norte-americano como um “grande reformador dos métodos da educação” (Penteado Jr., 1965, p. 237). Em suma, tais constatações induzem a indagar acerca das diferentes concepções relativas ao que merece ser lido pelos professores. Nos ma- 46 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 nuais pedagógicos, esse mecanismo é operado sistematicamente: selecionando o que há de “essencial” para a profissão docente, eles exercem a autoridade de ensinar o que se tem por mais legítimo na área, fundamentando as práticas “ideais” para o professorado. As considerações aqui realizadas pretendem favorecer uma reflexão sobre os modos de produção e circulação de saberes no campo educacional. Sobre as representações da prática docente Como foi dito, os manuais pedagógicos apropriam-se de diversos conhecimentos, adequando-os em escritos aparentemente claros e concisos, ora para explicar questões ligadas à escola, ora para fundamentar recomendações a serem seguidas pelos professores em situação de aula. Trata-se de representações entendidas no sentido sugerido por Chartier (1991), ou seja, esquemas que dão sentido a uma realidade. No caso, define-se aquilo que é importante para constituir uma cultura profissional docente, o que apresenta variações ao longo do tempo, como já deixa entrever a análise do conjunto de obras e autores utilizados. Outro indício a ser considerado nesse processo refere-se aos temas privilegiados, os quais podem ser identificados desde os títulos e índices dos livros. Num primeiro momento, situado entre os anos de 1930 até 1946, observa-se uma atenção voltada para a explicação dos postulados da Escola Nova. A partir de finais dos anos de 1940, diferentemente, as questões metodológicas começam a receber um espaço notável, estando presentes nos nomes das obras e constituindo-se como objeto de interesse na maior parte dos capítulos desenvolvidos ao longo das páginas. Essa tendência acentua-se nas décadas de 1960 e 1970, com as descrições sistemáticas a respeito de técnicas pedagógicas. Tais mudanças podem ser descritas da seguinte forma: • 1930 a 1946: o entusiasmo pelo movimento escolanovista; • 1947 a 1959: a proposição de metodologias de ensino; • 1960 a 1971: a apresentação de tecnologias a serviço da eficiência das atividades pedagógicas. uma história das leituras para professores 47 Nas décadas de 1930 e 1940, os manuais dedicam-se à difusão das idéias de renovação educacional, como evidenciam os títulos de Introdução ao estudo da Escola Nova (Lourenço Filho, 1930), As modernas diretrizes do ensino primário (Vianna, 1930) e Técnica da pedagogia moderna (Backheuser, 1934). O prefácio do livro de Onofre de Arruda Penteado Jr., Fundamentos do método (1938), embora não faça referências diretas ao escolanovismo, assinala a atuação de autores como John Dewey, um dos nomes mais reconhecidos do movimento. Nessa perspectiva, trata-se de informar aos leitores as “múltiplas modalidades de escola ativa surgidas por toda parte” (Vianna, 1930) ou sintetizar as questões teóricas e práticas sobre o tema. Há ainda o esforço de resumir os conhecimentos produzidos por psicólogos, biólogos, sociólogos e outros profissionais, “dentro de orientação científica e positiva”, como afirma Djacir Menezes ao introduzir o seu livro intitulado Pedagogia (1935) e, no âmbito de um “plano de topografia geral, em escala reduzida, situando apenas os acidentes capitais”, Lourenço Filho procura apresentar um “estudo isento, objetivo, em que as coisas se descrevem e se comparam, mais do que se julgam”. Sustenta-se uma suposta imparcialidade dos conteúdos e a valorização de um “juízo imparcial”, como diz o padre Leonel Franca ao comentar o texto de Everardo Backheuser. Entretanto, cada nota de apresentação refere-se a um tipo de entendimento sobre a Escola Nova e os prefácios já revelam a ausência de um consenso em torno das proposições em questão. Em Introdução ao estudo da Escola Nova procura-se, por exemplo, situar os “acidentes capitais” do movimento escolanovista e em Técnica da pedagogia moderna indaga-se inicialmente “O que era afinal a Escola Nova?” As diversas modalidades de compreensão expostas nos manuais decorrem, como sugere Marta Carvalho (1998), de diferentes tipos de interesses característicos do campo educacional naquele momento. A autora esclarece que com a criação do Ministério da Educação e Saúde pelo Governo Vargas, em 1930, ampliam-se as possibilidades de estruturação do sistema de ensino, estimulando a disputa pelo controle ideológico e técnico da escola. Dois grupos organizam-se com o intuito de regular o cotidiano das salas de aula e consolidar, dessa forma, uma hegemonia cultural. Um deles reúne os chamados “católicos”, ou seja, os membros do 48 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 laicato intelectual e integrantes da Associação Brasileira de Educação (a ABE) desde os anos de 1920 até 1932, quando passam a se articular a agremiações religiosas. De outro lado estão os “pioneiros”, como são designados, trata-se de membros ativos da ABE, que também atuam junto ao governo, promovendo reformas educacionais a partir de princípios liberais e democráticos. Deste último grupo faz parte Lourenço Filho e, entre os “católicos”, está Everardo Backheuser, cujo livro é, até, prefaciado por um padre. Convém assinalar aqui tais diferenças, porque elas inspiram proposições em torno da apropriação dos postulados da Escola Nova. Nesse sentido, tanto os “católicos” como os “pioneiros” atuam junto ao mercado editorial para difundir a sua compreensão acerca das teorias e preceitos tidos como “ideais” para a cultura pedagógica do professorado. No entender de autores da época, como Fernando de Azevedo (1958), a instalação do Estado Novo teria interrompido esse debate, ao promover a centralização das decisões sobre a organização escolar. Entretanto, convém ponderar esse tipo de visão, que reforça uma suposta antagonia entre católicos e pioneiros, desconsiderando o fato de que, como mostra Cunha (1999), a propaganda do escolanovismo empreendida nas décadas iniciais do século XX estimula, entre os educadores de modo geral, a adequação de informações produzidas pela psicologia, sociologia, entre outras áreas, para explicar questões de aprendizagem e propor a racionalização das práticas pedagógicas. Assim configurado, o discurso educacional constitui-se pela utilização de outros campos e disciplinas científicas. Com a redemocratização do país, tal discurso evidencia também o ideário característico da política desenvolvimentista do Governo Kubitschek. Nessa perspectiva, acredita-se que todas as tarefas escolares devam ser planejadas para garantir a eficiência e disciplina das atividades, adequando-as ao desenvolvimento social e econômico do país que então está pautado sobretudo na industrialização (Cunha, 1999). E os manuais pedagógicos publicados entre finais da década de 1940 e durante os anos de 1950 passam a versar predominantemente sobre a prática e metodologia do ensino, enfatizando, ao longo dos capítulos, aspectos relacionados ao planejamento do trabalho docente, desde a definição dos objetivos até as estratégias de transmissão de conhecimentos aos alunos e de avaliação. Tais aspectos são uma história das leituras para professores 49 assinalados já nos prefácios, como exemplificam as declarações de Antônio D’Ávila quando da apresentação de seu Pedagogia – teoria e prática (1954). O autor assinala a necessidade de “ao lado da lição pedagógica teórica e geral”, “apresentar um conjunto de normas práticas, de diretrizes e sugestões para a ação docente do mestre, dando-lhe, ao mesmo tempo, a informação esclarecedora de problema e subsídios de estudo, compendiados em leituras, referências, estatísticas e depoimentos, consorciando, assim, a teoria e a prática pedagógicas”. Os elogios referentes à metodologia de ensino continuam presentes nos manuais publicados ao longo dos anos de 1960. Como observa Nilson Machado (1980), trata-se de uma crença comum entre os educadores, segundo a qual problemas como a repetência escolar poderiam ser solucionados a partir de opções exclusivamente metodológicas ou mediante o uso de recursos tecnológicos no encaminhamento das atividades dos professores junto aos seus alunos. Luíz Alves de Mattos, em O quadronegro e sua utilização no ensino (1968), ilustra essa tendência ao afirmar que a melhoria qualitativa do ensino brasileiro só será possível mediante o “emprego da moderna tecnologia didática”, a qual pode ser “altamente sofisticada e dispendiosa” ou mesmo mais modesta e acessível, como é o caso do quadro-negro, dos álbuns seriados entre outros, os quais estariam ao alcance dos “países subdesenvolvidos”. Esse “tecnicismo”, como denomina Machado (1980), restringe os argumentos a um nível operacional, levando em conta apenas os métodos e recursos a serem empregados e desconsiderando uma compreensão mais ampla da atividade pedagógica, atenta a questões de ordem social e cultural. Também Jorge Nagle (1976) refere-se à existência de um movimento de “tecnificação” da literatura educacional, o qual transparece nos títulos, prefácios e temas mais tratados pelos manuais. No entender do autor, essa tendência está entre as principais deficiências observadas em todo o conjunto de produções da área na época. Isso porque as preocupações centradas em objetivos, currículo, medida e avaliação da aprendizagem geralmente não se articulam com questões do sistema escolar, quais sejam, ideais e valores educativos, instituições escolares ou mesmo tópicos relacionados à ordem social mais ampla, a saber, informações a respeito da vida política, econômica e cultural. 50 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Nesse sentido, Nagle reconhece um esforço para restringir a discussão dos problemas, do que decorre um distanciamento de reflexões mais abrangentes. Como se procura evidenciar aqui, tal fragmentação é progressivamente incorporada ao conteúdo dos livros examinados, nos anos de 1960 e início da década seguinte, destacando-se cada vez mais as supostas virtudes das metodologias e técnicas para a boa condução do trabalho docente. Em suma, pode-se afirmar que os manuais pedagógicos brasileiros, entre 1930 e 1971, enfatizam diferentes maneiras de se conduzir a formação e o aperfeiçoamento do magistério, expondo desde a constituição de uma cultura profissional sob os auspícios da Escola Nova, passando pela política de racionalização do trabalho dos professores, até o processo de tecnicização do ensino. Para tanto, são reunidos saberes produzidos por diversos autores ou, como diria Rafael Grisi (1956), a “pedagogia das cátedras” e transpostos para a “pedagogia da terra”, primeiramente num sentido de adequar esses conhecimentos para explicar fatos do cotidiano escolar e, como ocorre principalmente a partir dos anos de 1950, com o intuito de utilizá-los para justificar regras recomendáveis para o professorado no exercício do magistério. Ao longo do tempo, o que se vai configurando como elemento imprescindível à cultura pedagógica refere-se aos aspectos mais restritos da sala de aula. Ao se identificar esses três momentos na história dos manuais pedagógicos brasileiros, pode-se reiterar que o intuito do presente trabalho é oferecer elementos para uma reflexão acerca das leituras destinadas aos professores. O principal objetivo da análise é assinalar as especificidades dos manuais pedagógicos no processo de produção e circulação de saberes especializados e o modo como esses livros, amplamente divulgados entre os normalistas, mobilizaram determinadas referências (autores, obras nacionais e internacionais) para criar um discurso próprio, instaurando determinadas maneiras de pensar e agir no magistério. uma história das leituras para professores 51 Referências Bibliográficas ALMEIDA, Jane Soares de (1993). “A escola normal paulista: estudo dos currículos (1846 a 1990) – destaque para a prática de ensino”. Boletim do Departamento de Didática, UNESP, Araraquara, ano XI, n. 9. AMARAL, Maria Nazaré de Camargo Pacheco (1976). John Dewey: uma filosofia fundada na experiência democrática de vida. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. AZEVEDO, Fernando de (1958). A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil. 3. ed. São Paulo, Melhoramentos, pp. 163-217. BATISTA, Antônio Augusto Gomes (1999). “Um objeto variável e instável: textos, impressos e livros didáticos”. In: ABREU, Márcia (org.). Leitura, história e história da leitura. Campinas, Mercado de Letras/São Paulo, Associação de Leitura do Brasil, FAPESP, pp. 529-575. BITTENCOURT, Circe (1993). Livro didático e conhecimento histórico: uma história do saber escolar. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. BOTO, Carlota Josefina M. C. dos Reis (1997). Ler, escrever, contar e se comportar: a escola primária como rito do século XIX português (1820-1910). Tese (Doutorado) – FFLCH, São Paulo. BOURDIEU, Pierre (1990). Coisas ditas. São Paulo, Brasiliense. CAMBI, Franco (1999). História da pedagogia. São Paulo, Editora da UNESP. CARVALHO, Marta (1998). “A Escola Nova e o impresso: um estudo sobre estratégias editoriais de difusão do escolanovismo no Brasil”. In: FARIA FILHO, Luciano Mendes de (org.). Modos de ler, formas de escrever – estudos de história da leitura e da escrita no Brasil. Belo Horizonte, Autêntica, pp.65-86. CATANI, Denice Barbara (1994). Ensaios sobre a produção e circulação dos saberes pedagógicos. Tese (Livre-Docência) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. CATANI, Denice Barbara & FARIA FILHO, Luciano Mendes de (2001). “Um lugar de produção e a produção de um lugar: história e historiografia da educação brasileira nos anos 80 e 90 – a produção divulgada no GT”. História da Educação (mimeo.). 52 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 CHARTIER, Roger (1990). A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa, Difel /Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. . (1991). “O mundo como representação”. Estudos Avançados, n. 11, vol. 5, pp. 173-191. CORREIA, António Carlos (2001). Olhar a escola através dos livros de texto para formação de professores. Texto apresentado no Seminário de Estudos realizado na Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, abr. (mimeo.). CUNHA, Luís Antônio & GÓES, Moacyr de (1985). O golpe na educação. 2. ed. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. CUNHA, Marcus Vinícius da (1999). “Três versões do pragmatismo deweyano no Brasil dos anos cinqüenta”. Educação e Pesquisa, São Paulo, vol. 25, n. 2, pp. 39-55, jul.-dez. DARNTON, Robert (1990). O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo, Companhia das Letras, pp. 109-131. FARIA, Ana Lúcia Goulart de (1984). Ideologia no livro didático. São Paulo, Cortez/Autores Associados, vol. 7 (coleção Polêmicas do nosso tempo). GALVÃO, Ana (1998). “A palmatória era a sua vara de condão: práticas escolares na Paraíba (1890-1920)”. In: FARIA FILHO, Luciano Mendes de (org.). Modos de ler, formas de escrever. Belo Horizonte, Autêntica, pp. 117-142. GATTI JR., Décio (1998). Livro didático e ensino de história: dos anos sessenta aos nossos dias. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. . (1999). “Dos antigos manuais escolares aos modernos livros didáticos de história no Brasil, dos anos sessenta aos dias atuais”. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPEd, 22., 1999 (CD-ROM). GODINHO LIMA, Ana Laura (1999). De como ensinar o aluno a obedecer (um estudo dos discursos sobre a disciplina escolar entre 1944 e 1965). Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. HALLEWELL, Laurence (1985). O livro no Brasil: sua história. São Paulo, EDUSP. MACHADO, Nilson José (1980). “O tecnicismo e a hipertrofia do psico-pedagógico”. Cadernos PUC, Educ/Cortez, n. 3, pp. 11-27, mar. uma história das leituras para professores 53 MUNAKATA, Kazumi (1999). “Livro didático: produção e leituras”. In: ABREU, Márcia (org.). Leitura, história e história da leitura. Campinas, Mercado de Letras/São Paulo, Associação de Leitura do Brasil; FAPESP, pp. 577-594. NAGLE, Jorge (org.). (1976). Educação e linguagem: para um exame do discurso pedagógico. São Paulo, Edart. OLIVEIRA, João B. Araújo; GUIMARÃES, Sonia D. P. & BOMÉNY, Helena Maria B. (1984). A política do livro didático. São Paulo, Summus/Campinas, Editora da UNICAMP. PERES, Eliane T. (2000). Aprendendo formas de pensar, de sentir e de agir a escola como oficina da vida: discursos pedagógicos e práticas escolares da escola pública primária gaúcha (1909-1959). Tese (Doutorado) – Belo Horizonte, FE-UFMG. PERRENOUD, Philippe (1993). Práticas pedagógicas, profissão docente e formação: perspectivas sociológicas. Lisboa, Dom Quixote. ROULLET, Michèle (1998). Manuels de pédagogie et de psychologie des écoles normales en France entre 1880 e 1920. These (Docteur) – Université de Genéve. SARTO, Luis (dir.) (1972). Diccionario de pedagogia. Barcelona: Editorial Labos. SILVA, Vivian Batista (2001). História de leituras para professores: um estudo da produção e circulação de saberes especializados nos “manuais pedagógicos” brasileiros (1930-1971). Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. TANURI, Leonor Maria (1969). Contribuição para o estudo da escola normal no Brasil. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo. . (1973). O ensino normal no estado de São Paulo (1890-1930). Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília. . (2000). “História da formação de professores”. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, ANPEd/Campinas, Autores Associados, n. 14, maio-jun.-jul.-ago., pp. 61-88 VIDAL, Diana Gonçalves (1996). “Leitura, livro e Escola Nova, no Brasil dos anos 1930”. In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Lisboa, Fundação Calouste Guibenkian. . (1997). “Livros, leituras e práticas de formação docente: o Instituto de Educação do Distrito Federal”. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPEd, 20., 1997. Programa e Resumos. Caxambu, ANPEd. 54 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 . (1999). “Livros por toda parte: o ensino ativo e a racionalização da leitura nos anos 1920 e 1930 no Brasil”. In: ABREU, Márcia (org.). Leitura, história e história da leitura. Campinas, Mercado de Letras/São Paulo, Associação de Leitura do Brasil; FAPESP, pp. 335-355. . (1995). O exercício disciplinado do olhar: livros, leituras e práticas de formação docente no Instituto de Educação do Distrito Federal (1932-1937). Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo. VIDAL, Diana Gonçalves & CARVALHO, Marta (orgs.) (2000). Biblioteca e formação docente. Belo Horizonte, Autêntica. WARDE, Miriam (1998). “Lorenzo Luzuriaga entre nós”. In: SOUSA, Cynthia Pereira de & CATANI, Denice Barbara (orgs.). Práticas educativas, culturas escolares, profissão docente. São Paulo, Escrituras, pp. 71-82. Títulos, autores, locais, editoras, datas e coleções dos manuais pedagógicos estudados ANDRADE, Benedito de (1969). Pedagogia e didática modernas. São Paulo, Atlas. ARCHÊRO JR., Aquiles (1955). Lições de pedagogia (rigorosamente de acordo com o programa oficial das Escolas Normais 1º ano). São Paulo, Brasil Editora (coleção Didática Nacional). BACKHEUSER, Everardo (1934). Técnica da pedagogia moderna: teoria e prática da Escola Nova. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira (Biblioteca Brasileira de Cultura). . (1954). Manual de pedagogia moderna (teórica e prática). 5. ed. Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Ed. da Livraria do Globo (Biblioteca Vida e Educação). CAMPOS, Ismael de Franca (1967). Diretrizes de didática e educação. Rio de Janeiro, AGIR. D’ÁVILA, Antônio (1954). Pedagogia – teoria e prática (de acordo com o programa do Curso Normal e com as diretrizes do ensino primário) – 1º volume. São Paulo, Companhia Editora Nacional. . (1959). Práticas escolares – 2º volume. 5. ed. São Paulo, Acadêmica (coleção de Ensino Normal). uma história das leituras para professores 55 . (1962). Práticas escolares – 3º volume. 2. ed., São Paulo, Acadêmica (coleção de Ensino Normal). . (1963). Práticas escolares – 1º volume. 9. ed. São Paulo, Saraiva (coleção de Ensino Normal). FIGUEIREDO, Ruy Santos de (1969). Ensino: sua técnica – sua arte. 7. ed. Rio de Janeiro, Editora Lidador. FONTOURA, Afro do Amaral (1954). Fundamentos de educação (princípios psicológicos e sociais, elementos de didática e administração escolar). 3. ed. Rio de Janeiro, Editora Aurora (Biblioteca Didática Brasileira). . (1955). Metodologia do ensino primário (contendo a matéria dos 2o e 3o anos do Curso Normal). 1. ed. Rio de Janeiro, Aurora (Biblioteca Didática Brasileira, série Escola Viva). . (1965). Didática geral. 8. ed. Rio de Janeiro, Aurora (Biblioteca Didática Brasileira). . (1967). Prática de ensino. 8. ed. Rio de Janeiro, Aurora (Biblioteca Didática Brasileira / A Escola Viva). GONÇALVES, Romanda; BASTOS, Alcy Villela & RODRIGUES, Léa da Silva (1968). Compêndio de pedagogia moderna – de acordo com os programas do Concurso de Ingresso no Magistério das Escolas Normais. 4. ed. Rio de Janeiro / São Paulo, Livraria Freitas Bastos (Biblioteca Pedagógica Freitas Bastos). GRISI, Rafael (1956). Didática mínima. 3. ed. São Paulo, Editora do Brasil. LIMA, Angelina de (1964). Metodologia e prática moderna de ensino. São Paulo, Formar (Curso de orientação educacional). LOURENÇO FILHO, Manoel Bergström (1930). Introdução ao estudo da Escola Nova. São Paulo, Caieiras/Rio de Janeiro, Companhia Melhoramentos de São Paulo (Biblioteca de Educação). MARCOZZI, Alayde Madeira et al. (1969). Ensinando à criança: guia para o professor primário. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico (Educação primária – série Guias de ensino). MATTOS, Luíz Alves de (1960). A linguagem didática no ensino moderno. 2. ed. Rio de Janeiro, Editora Aurora (coleção Cultura para Todos). . (1964). Sumário de didática geral. 4. ed. Rio de Janeiro, Aurora. 56 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 . (1968). O quadro-negro e sua utilização no ensino. 2. ed. Rio de Janeiro, Editora Aurora (coleção Cultura para Todos). MENEZES, Djacir (1935). Pedagogia. Porto Alegre, Livraria do Globo (Manuais Globo). NÉRICI, Imídeo Giuseppe (1960). Introdução à didática geral. Rio de Janeiro, Ed. Fundo de Cultura. PENTAGNA, Romanda Gonçalves (1964). Didática geral – de acordo com os programas oficiais de 1a e 2a séries do Curso Normal das escolas do estado do Rio de Janeiro. 4. ed. Rio de Janeiro / São Paulo, Livraria Freitas Bastos. PENTEADO JR., Onofre de Arruda (1938). Fundamentos do método – problemas metodológicos do ensino primário. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Companhia Editora Nacional (Atualidades Pedagógicas/Biblioteca Pedagógica Brasileira). . (1965). Didática geral – para uso das Faculdades de Filosofia e das Escolas Normais. São Paulo, Obelisco. QUEIRÓS, Brisolva de Brito et al. (1954). Prática do ensino primário: diário de atividades da professoranda para uso das escolas normais e institutos de educação. 3. ed. Rio de Janeiro, Conquista. REIS, Amadice Amaral dos et al. (1964). Introdução à prática de ensino – 1a série normal. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico. RICARDO, Aristides (1946). Como educar as crianças. São Paulo, José Olympio (Obras educativas). SANTOS, Theobaldo Miranda (1948). Prática de ensino: o ensino e a aprendizagem, as técnicas de ensino, os planos de ensino, a realidade do ensino, a verificação do ensino. Rio de Janeiro, EDITEC. . (1955a). Introdução à pedagogia moderna. Rio de Janeiro, A Noite (Biblioteca do Estudante Brasileiro – Orientação Técnica do Professor Jonas Correia – Seção VI – Cultura Pedagógica). . (1955b). Metodologia do ensino primário (de acordo com os programas dos Institutos de Educação e das Escolas Normais). 5. ed. São Paulo, Companhia Editora Nacional (Curso de psicologia e pedagogia). . (1957). Métodos e técnicas do estudo e da cultura: ler, escrever, conversar, estudar, adquirir cultura. 2. ed. São Paulo, Editora Nacional (Curso de psicologia e pedagogia). uma história das leituras para professores 57 . (1958). Noções de prática de ensino – de acôrdo com os programas dos Institutos de Educação e das Escolas Normais. 5. ed. São Paulo, Ed. Nacional. . (1962). Manual do professor primário – o professor, a escola, o aluno, os métodos, as medidas, as instalações. 6. ed. São Paulo, Editora Nacional (Curso de psicologia e pedagogia). . (1963). Noções de pedagogia científica – para uso das Escolas Normais, Institutos de Educação e Faculdades de Filosofia. São Paulo, Editora Nacional (Curso de psicologia e pedagogia). . (1964). Noções de metodologia do ensino primário – de acordo com os programas dos Institutos de Educação e das Escolas Normais. 10. ed. São Paulo, Editora Nacional (Curso de psicologia e pedagogia). . (1967). Noções de didática geral – para uso das Escolas Normais, Institutos de Educação e Faculdades de Filosofia. 4. ed. São Paulo, Editora Nacional (Curso de psicologia e pedagogia). SILVA, Caio de Figueiredo (1956). Processologia na escola primária. Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre (Coleção Didática do Brasil – série Biblioteca Pedagógica). TOLEDO, João (1930). Didática (nas escolas primárias). São Paulo, Livraria Liberdade. . (1932). Escola brasileira. 3. ed. São Paulo, Livraria Liberdade. . (1934). Planos de lição: noções comuns. São Paulo, Livraria Liberdade. VIANNA, Francisco (1930). As modernas diretrizes no ensino primário (escola ativa, do trabalho ou nova). Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Livraria Francisco Alves. 58 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 A Revista Escola Argentina reflexões sobre um periódico escolar nos anos 20 e 30 Miriam Waidenfeld Chaves* Este trabalho pretende mostrar, por meio de uma investigação histórico-cultural do texto, o modo como a revista pedagógica da Escola Argentina no antigo Distrito Federal, no final dos anos de 1920 e primeira metade dos anos de 1930, constrói um discurso que tem como objetivo legitimar tanto o seu projeto educacional quanto o da Diretoria de Instrução a que se vincula. Procede-se a uma análise não só dos estratagemas discursivos utilizados pela Revista Escola Argentina como também do objeto que a comunica – seu suporte –, dificultando, desse modo, a produção de leituras independentes do próprio impresso. ANÍSIO TEIXEIRA; REVISTA ESCOLA ARGENTINA; ESCOLA ARGENTINA; PROJETO PEDAGÓGICO; ESTRATAGEMAS DISCURSIVOS. The purpose of this article is to demonstrate that the magazine published by the Argentina School in Federal District in the end of the 20´s and in the first half of the 30´s, builds up a certain discourse which aims to validate both its educational project, as well as the one of the Instruction Department to which the school is linked. This is achieved through a historical-cultural investigation of the text and an analysis both of the stratagems of discourse utilized by Revista Escola Argentina and of the object being communicated, its support, thus aiming to produce a certain type o reading of the printed text. ANÍSIO TEIXEIRA; REVISTA ESCOLA ARGENTINA; ARGENTINA SCHOOL; EDUCATIONAL PROJECT; STRATAGEMS OF DISCOURSE. * Doutora em história da educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 60 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Principalmente a partir dos anos de 1990, o campo da pesquisa em história da educação no Brasil tem crescido bastante e pesquisadores têm desenvolvido seus trabalhos com base em temas pouco pensados até há alguns anos. Além disso, a maior familiaridade com os autores da Escola dos Annales possibilitou a esses pesquisadores se apropriar de um instrumental teórico-metodológico que acabou por lhes impor toda uma nova perspectiva para seu fazer histórico; ou seja, legitima-se um novo modus operandi, que permite ao historiador da educação enxergar outros ângulos do já pesquisado, reinterpretar o já interpretado e, por que não dizer, trazer à tona novas dimensões sociais da própria realidade educacional brasileira já estudada. Nessa perspectiva, um olhar mais apurado sobre o período das reformas educacionais de âmbito estadual no Brasil dos anos de 1920 e 1930, pressupõe que os pesquisadores fiquem atentos para as novas questões, possibilitando a fabricação de outras leituras a respeito do mesmo tema. Conseqüentemente, este texto, fruto de minha tese de doutorado1, ao se alinhar a tantos outros que começam a se preocupar com as práticas escolares do tempo do Império e do início da República, insere-se em um tipo de investigação que privilegia a sala de aula, as matérias escolares, os livros didáticos e as revistas escolares produzidas nessa mesma época, permitindo que, desse modo, se entendam as dimensões das reformas do ensino a partir de sua própria estrutura interna; ou seja, este trabalho se enquadra em um tipo de perspectiva que procura definir as reformas a partir da maneira como foram sendo viabilizadas pelas escolas: segundo os seus artifícios discursivos, suas limitações e possíveis inovações. Este trabalho objetiva trazer à tona os estratagemas discursivos construídos pela Revista Escola Argentina2 que, assim, passa a ser entendida como uma produção cujo texto procura impor uma determinada 1 2 A escola anisiana dos anos 30: fragmentos de uma experiência – a trajetória pedagógica da Escola Argentina no antigo Distrito Federal (1931-1935). Rio de Janeiro, Departamento de Educação – PUC, 2001. Publicação da Escola Argentina, cujo primeiro e último número são de 11/1929 – exemplar não encontrado na escola à época da pesquisa – e de 12/1935 – última a revista escola argentina 61 leitura do projeto pedagógico, tanto da escola que a edita quanto das próprias Diretorias de Instrução3 a que se vincula, já que se parte do princípio de que a Escola Argentina é uma escola modelo dessas mesmas instâncias administrativas. Ou, ainda, acredita-se que a Revista Escola Argentina deve ser vista não apenas como um meio de as autoridades da escola legitimarem suas idéias na comunidade escolar, mas, também, uma maneira de a Diretoria de Instrução, nos anos de 1920 e 1930, impor seus ideais na própria escola. Entretanto, o que nos faz afirmar que a Escola Argentina possa ser compreendida como uma escola modelo do final dos anos de 1920 e primeira metade dos anos de 1930, para que o discurso proferido em seu jornal também seja considerado como um efeito de sentidos produzidos pelas próprias administrações a que se vincula? Por que se pode dizer que os artigos da revista exprimem os anseios tanto da Escola Argentina quanto das Diretorias de Instrução do final dos anos de 1920 e da primeira metade dos anos de 1930? A resposta para tais questões se divide em duas partes. A primeira delas diz respeito à trajetória da escola, posto que sua história se encontra marcada por uma série de inovações prescritas pelas reformas azevediana e anisiana. A Escola Argentina é uma escola do Rio de Janeiro que, apesar de ter sido inaugurada na gestão de Carneiro Leão, em 1924, ganha visibi- 3 edição arquivada na escola. Assim, apesar da ausência do primeiro número impedir um maior conhecimento sobre a história do seu surgimento, sua existência, ao atravessar a gestão tanto de Fernando de Azevedo quanto de Anísio Teixeira, apresenta fôlego editorial suficiente para mostrar que objetivava expressar os ideais pedagógicos de ambas as administrações, que, naquele momento, procuravam estimular no interior das escolas as mais variadas atividades. É importante, ainda, salientar que em virtude da precariedade dos registros encontrados na escola, praticamente não há informações adicionais sobre a revista, a não ser aquelas contidas nos exemplares, que poderão ser conhecidas ao longo deste artigo. Administrações, de Fernando de Azevedo e de Anísio Teixeira, que se inserem em um projeto pedagógico semelhante, que se aprofunda durante a reforma anisiana, que transforma a Diretoria de Instrução em Departamento de Educação, em 1o de fevereiro de 1932. Porém, como a maioria dos exemplares encontrados foi publicada sob a gestão de Anísio Teixeira, a análise privilegia esta administração. 62 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 lidade quando, em 1929, durante a administração de Fernando de Azevedo, adquire um prédio próprio em estilo neocolonial4 na Rua 24 de Maio, no Engenho Novo, e posteriormente, com Anísio Teixeira no Departamento de Educação, quando adota o Sistema Platoon5, torna-se experimental6 e transfere-se, em 1935, para um outro edifício inspirado em uma concepção arquitetônica moderna e arrojada, em Vila Isabel, mais exatamente na Avenida 28 de Setembro. Conseqüentemente, pressupõe-se que, pelo fato de a escola se encontrar marcada pelos feitos acima mencionados, ela mesma se distingue de tantas outras, que não tiveram sua história construída com base nessas inovações que, por sua natureza, podem ser consideradas como sendo a própria materialização das idéias pedagógicas dos educadores citados7. Parte-se da hipótese de que o papel da Revista Escola Argentina era o de justamente divulgar e legitimar as ações da escola e das Diretorias de Instrução, o que implica afirmar que o modo como estruturava seu discurso ainda instituía o tipo de leitura que os leitores deveriam ter acerca dessas mesmas ações pedagógicas. A segunda argumentação para responder à questão colocada baseiase no fato de que esta análise, ao definir a Escola Argentina enquanto uma territorialidade espacial e cultural que exprime o jogo dos agentes 4 5 6 7 Neste novo endereço, não só é editado o primeiro número do jornal, como também outras atividades são desenvolvidas, já que neste novo espaço há uma biblioteca, duas oficinas e um laboratório de ciências. Sistema pedagógico-administrativo, criado nos EUA, em 1912, que objetivava um melhor aproveitamento do tempo e do espaço escolar por meio da criação de pelotões de alunos, que, sem salas de aulas fixas, circulariam entre elas a partir de um horário preestabelecido (Bourne, 1970). A Escola Argentina é uma das cinco escolas experimentais que a partir do decreto n. 3.763, de 1o de fevereiro de 1932, teria que se transformar em um verdadeiro laboratório, destinado a ensaiar os novos métodos de ensino que mais tarde deveriam ser assimilados pelas demais escolas do antigo Distrito Federal. Entretanto, considerar a Escola Argentina uma escola modelo não exclui a possibilidade de que haja outras escolas modelos, já que algumas também se tornaram Platoon, experimental, e obtiveram uma sede moderna, tanto na administração de Anísio Teixeira quanto na de Fernando de Azevedo. a revista escola argentina 63 sociais – alunos, pais, professores, diretores, diretor de instrução etc. – que a compõem (Nóvoa, 1995, p. 16), toma a Revista Escola Argentina como um veículo que expressa a vontade e os desejos desses mesmos agentes, já que são eles seus produtores, consumidores e incentivadores. Ou ainda, por se partir do princípio de que a escola é um espaço intermediário – além de se estruturar como um pequeno mundo que possui seus valores, modos de regulação e imaginário, também reproduz, em certa medida, os sonhos de seus idealizadores (Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira) –, entende-se que o seu periódico igualmente exprime essa variedade das forças – internas e externas – que a constitui. Portanto, este trabalho pretende elaborar um entendimento acerca do modo como o discurso produzido pela Revista Escola Argentina consegue plasmar em seus leitores uma certa leitura autorizada sobre o projeto da escola e da própria Diretoria de Instrução durante o final da administração de Fernando de Azevedo e ao longo de toda a gestão de Anísio Teixeira. Procurará mostrar que a revista da Escola Argentina pode ser definida como uma publicação que sintetiza a maneira como as reformas estaduais de Fernando de Azevedo e, principalmente, de Anísio Teixeira vão, na prática, concretizando-se; o que faz com que se possa inferir que o que era nela editado seja visto como uma expressão do modo como a pedagogia moderna era implementada, veiculada e aceita por aqueles que se encontravam no interior da própria escola – alunos, professores e diretores. Reforçando a afirmação anterior, é importante salientar que esse tipo de imprensa – pedagógica – se expande nos anos de 1920 e 1930 no Brasil, com o intuito de divulgar as idéias escolanovistas que, por desejarem promover uma mudança de mentalidade no mundo educacional, transformam a escola em um instrumento eficaz de organização nacional através da organização da cultura (Carvalho, 1995, p. 61). Esclarecidos tais pontos, resta agora iniciar a análise do periódico. 64 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Algumas considerações acerca do significado de uma análise histórico-cultural do texto Primeiramente, há que se considerar que uma análise histórico-cultural do texto exige que a revista seja vista como um corpus documental de vastas dimensões, que precisam ser investigadas para que seus sentidos sejam revelados (Chartier, 1992, p. 211); o que implica não perder de vista a idéia de que os textos da revista não existem fora do objeto que os comunica, e isto, sem sombra de dúvida, faz parte da significação. Dessa maneira, as características da impressão do periódico, as estratégias da escrita contidas em suas páginas e a própria intenção de seus produtores definem não apenas as formas de sua escrita e impressão, mas, fundamentalmente, os modos de leitura que seus leitores deveriam seguir (idem, ibidem). Nesse caso, se é na relação entre o próprio texto, o objeto que comunica esse mesmo texto e o ato que o apreende que se encontra a complexidade da leitura de todo e qualquer impresso (idem, p. 220), este trabalho precisará levar em consideração as particularidades editoriais e de escrita da revista, uma vez que será somente de acordo com este procedimento que se poderá explicitar o tipo de leitura que seus produtores pretendiam criar: o de aceitação do projeto pedagógico tanto da escola quanto da Diretoria de Instrução. Portanto, cabe a partir de agora particularizar esses processos controladores do texto, não esquecendo, evidentemente, que esses mecanismos de convencimento procuram quase sempre abafar diferenças e tensões, ou melhor, leituras independentes. O que escrever e imprimir quer dizer: a análise propriamente dita do periódico Se Chartier (1992), em seu artigo Textos, impressão, leitura, afirma que, do ponto de vista da história cultural, o entendimento de qualquer texto deve levar em consideração o próprio texto, o objeto que o comunica e o ato que o apreende, não se pode deixar de chamar a atenção a revista escola argentina 65 para dois pontos importantes. Primeiro, que este trabalho, não esquecendo que os três pólos da compreensão do significado de um texto não devem ser vistos isoladamente, abordará os dois primeiros, em função da dificuldade de achar, nos dias de hoje, algum leitor – aluno, professor e diretor – que pudesse relatar suas impressões acerca de sua experiência educacional na Escola Argentina. Segundo, se o texto historicamente se encontra em constante movimento, que gera diferentes interpretações através do tempo, esta análise sobre a Revista Escola Argentina, escrita na década de 1930, estará recortada por uma leitura atual, a respeito não só da história da educação daquela época como também das próprias idéias pedagógicas veiculadas naquele período, e isto necessariamente fará parte da significação. Antes de qualquer análise, é necessário saber que a Revista Escola Argentina é um tipo de impresso produzido pela Escola Argentina para um público que não se restringia aos alunos, pais de alunos e professores, mas abrangia leitores de outras escolas do antigo Distrito Federal assim como de escolas na Argentina, uma vez que seu objetivo não era apenas fixar determinados padrões pedagógicos, culturais e sociais nos alunos de sua comunidade, mas também divulgar seu trabalho pedagógico e até criar laços de solidariedade e fraternidade com a nação vizinha. Nessa perspectiva, a Revista Escola Argentina pode ser vista como um tipo de imprensa pedagógica, cujo objetivo editorial ultrapassa em muito os muros da escola. Também precisa ser entendida como um guia didático, que sugere e indica caminhos que poderiam ser seguidos pelos professores; como um livro didático para os alunos, que vêem transcrito nos seus exemplares o conteúdo pedagógico dado em sala de aula, e, finalmente, como uma produção educacional que pretendia propagandear o próprio projeto de educação, tanto de Fernando de Azevedo quanto de Anísio Teixeira para as escolas da capital do país. Exemplo dessa postura pode ser confirmado pelo número de setembro/outubro de 1932 que noticia que o educador baiano havia inscrito o nome do jornal na Biblioteca Central da Educação, reconhecendo que esta revista expressava não apenas os ideais da escola, mas do próprio Departamento de Educação do Rio de Janeiro. 66 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Um ponto significativo que não deve ser esquecido é o fato de o nome da escola encontrar-se no título do periódico, já que tantas outras revistas escolares da época necessariamente não ligavam seu nome ao nome da escola. Talvez essa atitude se deva a um desejo de seus produtores iniciais, na época sob a administração de Fernando de Azevedo, de ratificar a homenagem à nação argentina ou, ainda, procurar reforçar o nome da escola na memória da cidade, uma vez que houve uma série de mal-entendidos a esse respeito8. Freqüência e periodicidade Tanto a freqüência quanto a periodicidade indicam que sua publicação variava em função de certos acontecimentos, muitas vezes alheios às próprias determinações editoriais. Entretanto, o jornal teve uma existência de seis anos, de novembro de 1929, período ainda da administração de Fernando de Azevedo, até, pelo menos, o fim da gestão de Anísio Teixeira, dezembro de 1935, data do último número encontrado na escola. No que diz respeito à freqüência, percebe-se que se entre o primeiro e o segundo exemplar, de julho de 1930, há um intervalo de cinco meses9, entre dezembro de 1934 e julho de 1935 há um outro de quatro meses. Se a primeira interrupção deveu-se a “motivos imperiosos”, a segunda não é justificada oficialmente em nenhum artigo, apesar de poder ter sido em função de a escola, no primeiro semestre de 1935, ter se voltado para sua mudança de endereço. Em relação à periodicidade, a revista variou de mensal, de novembro de 1929 a outubro de 1930, a bimestral, de novembro desse mesmo ano a novembro de 1933; no ano de 1934, tem início uma publicação de quatro em quatro meses e em 1935, inicia-se uma edição irregular de apenas dois números, provavelmente como um anúncio de seu fim: julho/agosto e setembro/dezembro. 8 9 Quando a escola se transfere para a Rua 24 de Maio, seu nome deveria ser mudado para Escola Delfim Moreira, mas Fernando de Azevedo ratifica o nome Argentina no novo endereço. Durante os meses de janeiro e fevereiro não há publicação do jornal. a revista escola argentina 67 Nesse caso, cumpre notar que justamente em 1935, ano conturbado para o próprio Departamento de Educação, devido às pressões externas que Anísio Teixeira começa a sofrer, a revista saiu apenas duas vezes, não havendo também nenhuma indicação de que tivesse continuado a existir em 1936. Assim, cabe perguntar: será que o periódico e o projeto pedagógico que estava em curso na escola se extinguem com a saída do educador baiano do Departamento de Educação do antigo Distrito Federal? Se essa resposta exige outra pesquisa, pelo menos indica que tem sentido a análise de seu periódico, que, como se verá a seguir, aponta para uma determinada versão dessa mesma história, que, nesse caso, poderia ser integralmente contada através de um total de 27 números editados: um de 1929, cinco de cada ano de 1930, 31, 32 e 33, quatro do ano de 1934 e dois do de 193510. O suporte da revista: as estratégias editoriais No que diz respeito ao formato da revista, percebe-se que em todas as edições permanece sempre o mesmo. Medindo 21,5cm x 14,5cm, torna-se bastante fácil de ser carregada, manuseada e lida, já que, além do tamanho ser conveniente, trata-se de uma brochura impressa. Enfim, notase que a Revista Escola Argentina, apesar de ser um periódico escolar, era editada com bastante cuidado e, por que não dizer, sofisticação. Quanto ao número de páginas, pode variar de 13, quando a revista era mensal e tem início sua bimestralidade, até 21, 35 ou 47 páginas, quando passa a ser editada de quatro em quatro meses, demonstrando que há elementos suficientes para serem analisados. Em relação ao tamanho dos textos, eles mudam bastante. Publicamse desde pequenas poesias escritas por alunos até longos artigos pedagógicos – três páginas, por exemplo – direcionados tanto aos pais dos alunos quanto aos professores. No que diz respeito a esse aspecto, cabe uma ressalva – a diversidade de seções e temas existentes em cada número – e duas considerações. 10 Este trabalho analisa os seguintes exemplares encontrados na escola: dois de 1930; cinco de 1932 e 1933; um de 1934 e dois de 1935. 68 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Primeiro, que essa variedade indica que o jornal era de fato publicado para toda a comunidade escolar “argentina” e para quem estivesse interessado em conhecer as atividades da própria escola, uma vez que os assuntos tratados nas seções iam da notícia mais simples – os aniversários do mês da escola, prestação de contas sobre a situação financeira da caixa escolar, troca de correspondência entre os alunos da Escola Argentina e das outras escolas da cidade e da Argentina, receitas culinárias, piadas etc. – até concursos pedagógicos direcionados aos alunos; redações; poesias escritas pelos alunos; exposição dos conteúdos e das atividades educacionais da escola; descrição das festas promovidas pela escola; divulgação de campanhas contra a “vadiação”, o alcoolismo, a tuberculose e o fumo; textos assinados pela diretora quando desejava anunciar alguma coisa importante; verdadeiros conselhos aos pais a respeito de como se deveria educar os filhos e, ainda, artigos de vários tipos procurando difundir as premissas da pedagogia moderna. Alguns exemplos a seguir ilustram as afirmações citadas: 1- Concursos pedagógicos (edição de mar./abr. de 1933): a) Para o primeiro ano: compor com as letras abaixo o nome das salas de nossa escola: CRAOSL GMESO. b) Para o segundo ano: interpretar a capa da revista. c) Para o terceiro ano: com G sou animal; com R sou roedor; com P sou ave doméstica; com M não deixo vivo. (duas sílabas) d) Para o quarto ano: é órgão do nosso corpo, sem a primeira letra está nas igrejas? (três sílabas); Qual fruta, trocando-se uma letra, é preposição? (duas sílabas); Ele é jóia, ela é tempo de verbo. (duas sílabas) 2- Redação (edição de jul./ago. de 1932): Riquezas do Brasil: a cana. Depois do café, a cana-de-açúcar é uma das maiores riquezas da nossa pátria. A cana não é brasileira. Foi das Índias para a ilha Madeira e, daí, veio para o Brasil. Foi Martim Afonso de Souza quem a trouxe, tanto assim que as capitanias que mais prosperavam foram Itamaracá e S. Vicente em virtude da produção da cana-de-açúcar [...] (5a série) a revista escola argentina 69 3- Exposição de conteúdo (edição de maio/jun. de 1933): Na sala de ciências: respiração. Os órgãos da respiração são: fossas nasais e boca, traquéia, que é um canal em cuja parte superior se acha a laringe, órgão da voz , os brônquios (dois) e dois pulmões. A respiração se faz em dois tempos [...] (4a série) 4- Campanha contra a “vadiação” (set./out. de 1932): Para tratar de assuntos concernentes ao ensino, à disciplina, aos interesses, enfim, de caráter educativo, reúnem-se mensalmente as professoras da Escola Argentina, sob a presidência de D. Joaquina Daltro. Na última reunião, discutiu-se um meio de acabar com a vadiação de certos alunos. Isso deu lugar à idéia de se fazer uma campanha contra a vadiação. Publicamos, a seguir as instruções a que nos referimos [...]: a) Os alunos vadios e indisciplinados serão submetidos a uma severa observação das professoras, a fim de que nesses 15 dias se apliquem ao estudo e à obediência na escola, pois na segunda quinzena de outubro serão feitas as listas dos candidatos à promoção e não poderá haver na escola alunos desinteressados, que perturbem as professoras na última fase do ano escolar [...] 5- Palestra para os pais proferida em uma reunião do Círculo de Pais e Professores (set./out. de 1932): A família e a educação [...] A obra da família será incompleta se a criança não está educada. Compete aos pais a missão de completar a formação da criança, o que exige dos progenitores muito mais qualidades e virtudes do que possam imaginar. Os pais são os primeiros educadores. [...] A primeira qualidade do educador é a calma, o dominar-se a si mesmo. Há necessidade de confirmar com o próprio exemplo o que os lábios dizem. Cuidado com a diferença entre o falar e o agir dos pais para com os filhos [...] Educar uma criança é principalmente viver diante dela uma vida que a estimule a viver melhor; para educar uma criança é preciso, se não for santo, ao menos trabalhar para sê-los. 70 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Segundo, diante da multiplicidade de temas, algumas seções podem ser consideradas definidoras do perfil pedagógico da revista. Entre elas, destacam-se “Colaboração de Pais e Mestres”, sempre com longos artigos educacionais dirigidos aos professores, pais de alunos e até aos alunos, quando as mudanças pedagógicas ocorridas na escola eram comunicadas; uma coluna que, por meio de redações e poesias, enaltecia as riquezas naturais e os vultos históricos nacionais e argentinos; um espaço de meia página ou mais reservado para anúncios do comércio carioca – Casa de Saúde da Gávea; Estamparia Colombo e Casa Mattos –, dando indícios de que a revista almejava integrar-se à sua cidade e, por último, uma espécie de editorial, bastante curto, com uma média de dez ou vinte linhas, que, sempre na contracapa, anunciava sua publicação; diferentemente dos outros artigos, quase nenhum deles era assinado. A seguir, alguns exemplos: 1- O Círculo de Pais na Escola Nova (mar./abr. de 1933): No século que atravessamos, a visível preocupação, universalmente difundida, é a criança, com o cortejo de direitos a que faz juz; resumindo, estes privilégios são: uma educação esmerada, sob todos os aspectos, e a utilização das faculdades para que elas se tornem um elemento de progresso, e, talvez, de glória para seu país [...] Aproximando o lar da escola, o Círculo de Pais presta um considerável auxílio à educação: leva o professor a conhecer os entes que transmitiram ao aluno a herança fisiológica e mental, e a conhecer o ambiente onde a criança vive domesticamente; torna-se assim mais fácil a avaliação de sua mentalidade e a escolha dos processos mais aconselháveis em cada caso. 2- Poesia exaltando as riquezas nacionais (set./out. de 1933): Eu amo meu país Ele é tão belo! São seus campos sempre verdes e floridos, E seu céu sempre azul, sempre singelo. a revista escola argentina 71 As montanhas de meu país são verdejantes, A bandeira de minha pátria – altaneira. Suas cores são: verde, amarelo, azul e branco. Minha bandeira é a bandeira brasileira! Tudo é lindo no meu Brasil! Nenhum o imita. Quando eu digo a alguém que eu sou brasileira De orgulho, o meu coração palpita. (Adiléia Neves – 5a série) Do ponto de vista da diagramação, a revista obedece a um estilo visual – algum desenho, marca ou título com letra desenhada e em negrito – que destaca o início e o fim de cada seção. Além desse artifício, o periódico também se utiliza de algumas fotos, principalmente de personalidades históricas ou da escola – vale ressaltar a edição de julho e agosto de 1935 sobre a inauguração do novo prédio, que vem recheada de retratos sobre a festa – e vários desenhos de alunos e do próprio jornal, propondo adivinhações e exercícios. Um último aspecto editorial a ser analisado é a capa e a contracapa que, em virtude da sua importância, encontra-se logo a seguir, em um item específico. Os significados implícitos da capa e da contracapa: o recurso visual e o apelo a certos lemas A capa de cada número tem sempre uma fotografia ou desenho, cujo tema se refere a algum aspecto da nossa realidade, tanto social quanto cultural – Descoberta da América, Festa de São João, paisagem amazônica, brasões e bandeiras, fotografia de San Martin, a foto da própria escola ou dos alunos etc. –; e por algum lema que congrega e une os alunos à comunidade – Tudo nos une, nada nos separa, de Saens Peña; O trabalho eleva e nobiliza o homem; Trabalhai, crianças e enobreceis o Brasil ou Sois a esperança da Pátria, crianças. Estudai! 72 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 A contracapa, além de imprimir algumas das frases anteriores, aparece dividida em duas partes, separadas por linhas que perfazem um quadrado e um retângulo. Enquanto a primeira forma se encontra na parte central da folha, para que aí seja escrito o editorial, a outra fica na parte superior da página, para que dentro dela possa aparecer em destaque o nome da escola, o preço da assinatura, o mês da publicação, o endereço e a expressão “Órgão dos alunos da Escola Argentina”, que a partir do exemplar de mar./abr. de 1933 é substituído por “Revista Pedagógica, Didática, Educativa e Recreativa”; isto sugere uma mudança de status da revista, já que essa alteração parece dar mais legitimidade ao periódico11. Há que se notar que todo esse detalhamento da capa e da contracapa apenas mostra que a Revista Escola Argentina era muito bem preparada, e que os seus editores, com uma preocupação explícita bastante grande, procuravam, por meio de estratégias visuais e de escrita, incutir certos sentimentos pátrios em seus leitores, além de estimular nas crianças o desenvolvimento de determinados comportamentos que objetivavam a formação de um determinado tipo de aluno que futuramente também tivesse uma determinada postura perante a sociedade, sua cidade e seu país. Enfim, pressupõe-se que, por meio desses estratagemas, a revista desejava fixar em seus leitores uma imagem do Brasil, enquanto uma nação que deveria ter orgulho de seus heróis, suas festas, sua natureza e sua gente. Além disso, percebe-se que esse objetivo também era estimulado por meio da publicação de vários artigos que procuravam desenvolver alguns sentimentos, tais como o da esperança e o da fraternidade e do trabalho, enquanto uma atividade humana que enobrece o homem, que é o próprio responsável pela construção da nação brasileira. Assim, os desenhos e as frases da capa e da contracapa conjuntamente se fundem em torno de um mesmo projeto, que objetivava a elaboração de uma certa leitura sobre o Brasil e os brasileiros que, naquele momento, precisavam ser modificados em função das novas exigências sociais; ou, ainda, a utilização desses artifícios mostra que a revista, como qual- 11 Aspecto este que será trabalhado no próximo item. a revista escola argentina 73 quer impresso pedagógico da época, estava preocupada em contribuir para a organização da nação por meio da cultura – idéias, valores e comportamentos – veiculada em seu espaço escolar (Carvalho, 1995, p. 61). A eficácia simbólica do discurso da revista: a produção de uma leitura autorizada Falar sobre a revista da Escola Argentina do ponto de vista das estratégias de sua escrita é ter em mente que a eficácia simbólica de seu discurso não se encontra apenas nas palavras escritas em suas páginas, mas na autoridade de quem as edita, já que o poder das palavras nada mais é do que um poder delegado por aqueles que a produzem (Bourdieu, 1996). Supõe ainda entender que se a Revista Escola Argentina se reveste de certa autoridade é porque as próprias autoridades da escola a reconheceram como um veículo legítimo de divulgação de suas idéias. Portanto, o sentido da eficácia simbólica de suas palavras deve ser buscada “na relação entre as propriedades do discurso, as propriedades daquele que o pronuncia [neste caso, daquele que o escreve] e as propriedades da instituição que o autoriza a pronunciá-lo [escrevê-lo]” (Bordieu, 1996, p. 89). Pode-se dizer, então, que o sucesso de suas “operações de magia social que são os atos de autoridade (ou então, o que dá no mesmo, os atos autorizados), está subordinado à confluência de um conjunto sistemático de condições interdependentes que compõem os rituais sociais” (idem, ibidem). Conseqüentemente, a revista da Escola Argentina, ao se enquadrar em um tipo de imprensa especializada, escrita por alunos, professores, diretores e pais de alunos, apesar de estender seu alvo para além dos muros da escola, tem como principal propósito atingir sua própria comunidade escolar, que, como qualquer instituição, é composta por grupos diferenciados, com quantidades de força simbólica também diferenciadas, o que faz com que a maior ou menor legitimidade dos artigos dependa de quem os escreve e assina – aluno, professor, diretor ou pai de aluno. Desse modo, a “magia social” das palavras impressas na revista já se estabelece elegendo entre os grupos menos autorizados – 74 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 alunos e pais de alunos – aqueles que têm as condições – pedagógicas, culturais e sociais – de participar da feitura dessa “magia” discursiva, o que garante, também, o seu reconhecimento social perante esses próprios grupos que, na maior parte das vezes, são apenas chamados para cumprir ordens e não para participar da produção de qualquer tipo de atividade proposta pela escola. Desse ponto de vista, essa leitura bourdieudiana do discurso permite que a Revista Escola Argentina seja definida como um impresso que, por seu dever, função, e “em suma, sua competência (no sentido jurídico do termo)” (idem, p. 101), fala em nome da própria Escola Argentina. Portanto, deve ser entendida como um meio de comunicação consagrado e legitimado por toda a comunidade escolar, já que sua feitura é marcada por toda uma série de ritos de instituição (idem, p. 97); ou melhor, de acordo com determinadas estratégias que objetivavam atingir seu alvo: expressar, anunciar e divulgar seus feitos pedagógicos com uma intenção didática bastante grande, uma vez que seus artigos ensinam, recomendam, aconselham e, finalmente, indicam caminhos a seguir. De outro lado, apesar de a revista utilizar-se de uma série de estratégias de legitimação, uma interpretação cuidadosa não pode deixar de perceber as resistências, o jogo de forças e as lutas que deveriam ter sido travadas dentro desse pequeno mundo escolar “argentino” e que a revista, de um jeito ou de outro, vai procurar abafar. Ou seja, como a Revista Escola Argentina se define de acordo com as bases do discurso jornalístico (Mariani, 1993) que, por princípio, seleciona o que deve ser publicado e retido na memória de seus leitores e o que não deve ser editado por não ser “importante” o suficiente para ser lembrado no futuro, urge igualmente captar suas estratégias de apagamento e silenciamento, a fim de que só assim se consiga obter um quadro mais claro sobre a maneira como os projetos, tanto azevediano quanto anisiano, eram recebidos e implementados pela Escola Argentina. Desse modo, a revista deve ser entendida (Mariani, 1993, p. 33) como um instrumento que capta, transforma e divulga acontecimentos, opiniões e idéias da atualidade – ou seja, lê o presente – ao mesmo tempo em que organiza um futuro – as pos- a revista escola argentina 75 síveis conseqüências desses fatos do presente – e, enquanto passado – memória – a leitura desses mesmos fatos do presente, no futuro. Assim, a Revista Escola Argentina, sob o duplo mecanismo desse tipo de discurso, que ao mesmo tempo libera várias vozes, faz com que apenas algumas se legitimem com força e autoridade, ao divulgar várias opiniões, simultaneamente, apaga, enfraquece ou ainda anula a fala independente de certas vozes, demonstrando que a luta pela legitimação dos significados nas páginas desse impresso jornalístico deve ter sido árdua, cheia de artifícios e, provavelmente, com a presença da censura – aspecto constitutivo desse tipo de imprensa. Nesse caso, há que se estar ciente de que a revista, provavelmente, tenha se utilizado da censura, não apenas por meio de atos conscientes, mas também por meio de artifícios inconscientes, já que os processos de internalização dos comportamentos incentivados pela escola podem ter sido tão competentemente assimilados pela comunidade escolar e, principalmente, pelos responsáveis pela revista, que o maior desafio deste texto seja justamente desenvolver um verdadeiro trabalho de detetive para que estes artifícios, que de alguma maneira encontram-se incrustados em algum lugar do periódico, venham à tona. A mudança de status da revista: afinal, quem são seus produtores? Do ponto de vista das intenções dos produtores da revista, uma consideração acerca da mudança inscrita no alto da contracapa de “Órgão dos alunos da Escola Argentina” para “Revista Pedagógica, Didática, Educativa e Recreativa”, em março de 1933, com certeza, é um bom atalho para se chegar a esses possíveis mecanismos de silenciamento. Cabe perguntar: Qual o significado dessa mudança? Há por trás dessa nova enunciação algum sentido implícito? Esse ato representa alguma ação de censura? Acredita-se que de fato exista algum não dito implícito nessa mudança de atribuição que necessariamente remete para o questionamento de quais eram os setores da escola responsáveis pelo/pela jornal/revista; 76 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 ou melhor, que grupos escolares ele/ela representava? Ou, ainda, o jornal/revista fala em nome de quem? Era produzido e editado por quem? Como resposta, ver-se-á que os produtores do jornal/revista podem ser encontrados em dois níveis. Os primeiros, de forma explícita, são os alunos12 e os demais, de maneira implícita, são os professores e a diretora da escola. Esse duplo mecanismo imediatamente salta aos olhos quando se salienta que existem duas estratégias diferentes contidas nas próprias palavras utilizadas para caracterizar o jornal/revista que ainda definem responsáveis e objetivos também diferentes. Uma é que, enquanto órgão dos alunos, parece que o que se desejava enfatizar era o fato de o jornal pertencer aos alunos da Escola Argentina como se, apesar de também ser feito por professores – as edições apontam para esse fato –, apenas eles fossem os responsáveis. Além disso, essa atitude ainda sugere que a escola igualmente almejava ressaltar que era uma instituição que estimulava a participação dos alunos nas diversas atividades, sendo eles mesmos os seus responsáveis. Daí o jornal ser reconhecido como sendo uma “obra infantil”. Já a outra estratégia – revista pedagógica, didática, educativa e recreativa – reforça a idéia de que o periódico seria mais do que um simples jornal de alunos; deveria ser uma revista pedagógica da escola, cujos responsáveis seriam implicitamente os dirigentes da escola. Assim, deixaria de falar apenas em nome dos alunos para passar a representar oficialmente a própria escola como um todo. O sentido dessa mudança pode ainda ser notado pelas palavras escolhidas para o segundo nome do periódico – pedagógica, didática, educativa e recreativa –, o que implica ao mesmo tempo enfatizar e especificar os objetivos da revista. Desse modo, esses quatro termos, além de poderem ser vistos como sinônimos, pelos produtores/leitores da revista, também possuem seus significados específicos; ou seja, se enquanto ênfase o uso repetitivo dos sinônimos da palavra educar no 12 De tempos em tempos, a equipe jornalística é mudada por meio de eleição e os seus nomes, discriminando o diretor, vice-diretor, redator-chefe etc., são anunciados pelo jornal/revista. a revista escola argentina 77 título tem o intuito de ressaltar que a revista é um impresso exclusivamente pedagógico, do ponto de vista da utilização específica dos quatro termos, seus usos podem ser analisados como uma forma de discriminar minuciosamente não só o que vai poder ser encontrado na revista, mas também para quem se dirige, já que naquela época pedagógica referiase à teoria da educação e do ensino, didática ao estudo das técnicas do ensino, educativa a processos de desenvolvimento da capacidade infantil e recreativa a algo que diverte. Conseqüentemente, com esse novo título, a revista demonstra que irá divertir e ensinar as crianças, introduzir os professores nos novos métodos de aprendizagem e mostrar aos pais as modernas teorias educacionais. Enfim, esse novo título, simultaneamente repetitivo e discriminatório, chama a atenção para o fato de que os editores da Revista Escola Argentina queriam frisar que se tratava de um impresso educativo no seu sentido mais geral, mas com objetivos bastante claros, já que essa mudança, estrategicamente, ocorre logo após a escola se tornar experimental; ou seja, o periódico passa a ter a função de divulgar o que se experimentaria de novo na escola. Além dessas ressalvas, outras mudanças ocorrem após a alteração do título. É a partir dessa alteração que a seção “Nossas lições” surge na revista, com o resumo dos conteúdos da matéria dada em sala de aula, tornando-se o impresso um verdadeiro livro didático com o objetivo de dispensar “a compra dispendiosa de compêndios, adquirindo, por pequeno preço, a interessante Revista” (editorial de mar./abr. de 1933). Por esse aspecto, também, desfaz-se a idéia de que a reforma anisiana não se preocupava com a questão do conteúdo, mas apenas com a renovação dos métodos. Com o novo nome, a revista passa a publicar uma quantidade bem maior de desenhos de alunos, parecendo que quer provar que continuava sendo dos alunos. É justamente a partir dessa modificação, mais especificamente em 1934, que os artigos escritos e assinados pelos alunos passam a discriminar não apenas sua série e turno, mas também sua idade, querendo com isso identificar ainda mais o aluno e, por que não dizer, mostrar como, desde cedo, também são capazes de produzir poe- 78 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 sias, redações e responder exercícios, o que, em última instância, implicaria expor o próprio sucesso pedagógico da escola. Por último, cabe chamar atenção para o fato de que nesse novo momento a revista continua mostrando que os alunos permanecem responsáveis pelo periódico. Justamente na última página do número em que o jornal dá lugar à revista encontra-se um comunicado dizendo que para que a “Revista se torne mais original, mais interessante, resolvemos que, nos números a seguir, a capa seja ilustrada pelos alunos da Escola Argentina” (destaque meu). Ou seja, esse texto, além de clamar pela responsabilidade e continuidade da participação do aluno, mostra que, quando o periódico se definia como um “órgão dos alunos”, não eram eles que faziam sua capa, indicando que esse órgão, de fato, não tinha total autonomia, e por isso possuía uma instância superior implícita que o controlava e definia as formas de sua edição. Quanto à utilização do sujeito indeterminado no verbo sublinhado, percebe-se aquilo que já foi dito sobre os editoriais, ou melhor, a existência de uma falta de vontade em explicitar de quem era a responsabilidade última do jornal/revista. De outro lado, se o segundo nome reforça e legitima o impresso, assim como o projeto da escola, o fato de em um primeiro momento ser um “órgão de alunos” e depois “revista pedagógica” não quer dizer muita coisa no que diz respeito ao tom de seus artigos, uma vez que enquanto jornal dos alunos também procurou legitimar as premissas da escola. O mesmo se pode dizer dos artigos escritos e assinados pelos alunos nos dois momentos do periódico. Igualmente, cumpriam um papel legitimador das propostas pedagógicas da escola; os mais importantes estavam a cargo dos alunos responsáveis pelo jornal/revista e os demais eram selecionados pelas professoras e pela comissão editorial do jornal/revista que, com certeza, comungava nos ideais da escola. O que se quer ressaltar é que os alunos, considerados como um grupo com menor quantidade de força simbólica, encontravam-se mais facilmente sujeitos às estratégias de dominação da escola, uma vez que os que não se adequavam deveriam sofrer algumas punições, e aqueles que escreviam para o jornal provavelmente seriam os que mais facilmente haviam internalizado as normas da escola – os eleitos para os cargos de a revista escola argentina 79 direção do jornal/revista e os que tinham seus artigos escolhidos para serem publicados. Entretanto, apenas uma vez, talvez porque as reclamações dos alunos tenham sido enormes, os produtores da revista permitiram que fosse exposto em suas páginas um prenúncio de descontentamento, mas, como se verá logo a seguir, bastante tímido e cheio de resignação. Esse fato ocorre especificamente através da publicação de várias cartas e artigos em que os alunos protestavam contra a mudança de endereço da escola – da Rua 24 de Maio para a Avenida 28 de Setembro13 –, já que essa transferência, entre outras coisas, queria dizer que esses alunos da antiga Escola Argentina, que durante algum tempo já vinham participando do projeto pedagógico da escola – sistema Platoon e escola experimental –, por não irem para a nova Escola Argentina, um prédio moderno, espaçoso e bem equipado, ficariam impedidos de continuar a estudar em uma escola tão especial para o Departamento de Educação; ou seja, continuariam a estudar no mesmo endereço – Rua 24 de Maio – mas, em uma escola de nome Sarmiento, com nova equipe de professores e direção. As cartas de “protesto” são publicadas na edição de set./dez. de 1934, período em que a escola se encontrava prestes a mudar de endereço: Tivemos uma verdadeira surpresa, ao saber que nossa escola tinha mudado o nome para Sarmiento. Fiquei na verdade um pouco triste, a princípio, pois já estava acostumada com o antigo nome. Mas, refletindo um pouco, vi que não tinha razão para tanto, pois Sarmiento foi um vulto de valor na grande nação Argentina [Leonora P., 15 anos]. Estive muitos dias doente e hoje quando cheguei à escola – Escola Argentina – recebi a notícia que esta tinha mudado de nome. Chama-se Escola Sarmiento... Gosto da Argentina. Gosto dos argentinos. Gosto dos dois nomes: Escola Argentina e Escola Sarmiento [Djalma Cerqueira, 10 anos]. Fiquei muito entristecida quando entrei na sala de música e soube que as nossas queridas diretoras e professoras irão para a nova Escola Argentina. 13 Quando o prédio na Avenida 28 de Setembro ficou pronto em 1935, a Escola Argentina na Rua 24 de Maio passou a se chamar Escola Sarmiento. 80 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Eu, que já me acostumei com estas professoras, estranhei muito... Mas que fazer? Devo terminar o curso nesta escola por ser perto de casa. Mas estou vendo que não é possível. A avenida 28 de Setembro é longe, mas é para lá que eu quero ir... [Déa Figueiredo, 11 anos]. Desse modo, essa “reclamação” levanta duas questões. A primeira aponta para o fato de que esse “desacordo” é publicado porque, em última instância, representa um aval de aceitação pelos alunos do projeto da escola, indicando que uma possível oposição por parte deles deveria ser quase nula, já que esse setor entendia como uma honra poder estudar em uma escola tão bem considerada pelos meios educacionais da cidade. A segunda diz respeito ao modo como os responsáveis pela escola – em todas as instâncias – trataram o ensino dessa mesma escola; ou seja, as decisões pedagógico-administrativas estiveram acima da aprendizagem dos alunos, uma vez que sua não transferência para o novo prédio demonstra que houve certo descaso em relação ao processo de ensino, que, com certeza, deve ter sido afetado negativamente por essa mudança. Quanto aos artigos escritos pelos professores, também expressam essa mesma consonância com relação ao que se passava na escola. Ou verdadeiramente concordavam com as suas propostas educacionais ou não ousavam dela discordar, pelo menos internamente ou explicitamente, já que algumas entrevistas de professores à “Coluna Página de Educação”, do Diário de Notícias, contêm várias críticas às inovações pedagógicas propostas pelo Departamento de Educação do antigo Distrito Federal, durante a gestão de Anísio Teixeira. Mais fácil ainda é notar a ausência de crítica nos artigos dos pais de alunos, que, além de serem pouco freqüentes, vinham, apesar de assinados, em nome do Círculo de Pais e Mestres da escola, que, sem sombra de dúvida, deveria ser um órgão que falava em nome da direção da escola. Desse modo, cabe a questão: Os pais dos alunos da Escola Argentina freqüentavam a associação em grande número para que então se pudesse afirmar que faziam parte de um contingente de peso nas decisões da escola? a revista escola argentina 81 Não se sabe. A revista, em nenhum momento, reclama do esvaziamento dessas reuniões, apesar de a “Coluna Página de Educação”, novamente, publicar alguns artigos em que professores de outras escolas afirmam que era uma tarefa bastante árdua manter esses encontros com um número considerável de pais em seus estabelecimentos de ensino. Talvez esse silenciamento seja porque a escola não desejasse tornar pública uma falha em uma de suas instituições escolares – a baixa freqüência dos pais nas reuniões de sua Associação de Pais e Mestres –, o que implicaria mostrar que nem tudo aquilo que a escola propunha pedagogicamente era passível de sucesso. As estratégias lingüísticas: a formação de um determinado tipo de aluno Se no item anterior conseguiu-se explicitar as intenções dos produtores da revista e, principalmente, mostrar quem são esses mesmos produtores, resta ainda se deter no sentido lingüístico de certas estratégias da escrita, já que só assim se poderá ter uma visão global do significado editorial da revista. Nessa perspectiva, é necessário que se tome como referência o conceito de “formação discursiva” da análise do discurso. Por meio dele se torna possível compreender o próprio sentido lingüístico/social contido no uso exagerado de determinada classe gramatical que aparece nos textos do periódico: o adjetivo ou palavras de outra classe gramatical que também cumprem a função de qualificar um substantivo. Portanto, se não se trata mais de considerar o periódico do ponto de vista do sujeito que o escreve, mas de levar em conta sua enunciação como algo correspondente a uma certa posição social e histórica, em que seus enunciadores também se revelam (Maingueneau, 1989, p. 14), o léxico escolhido para fazer parte dos artigos da revista passa a ser entendido como um elemento definidor dos próprios comportamentos e idéias que a escola desejava incutir em sua comunidade escolar; ou melhor, essa postura, ao partir do pressuposto que “não existe relação de exterioridade entre o funcionamento do grupo – [no caso, a escola] – e o seu discurso – [ o periódico] –, sendo preciso pensar, desde o início, 82 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 em sua imbricação” (idem, p. 55), defende a idéia de que é necessário combinar as coerções que possibilitam a escolha de determinadas palavras com as que possibilitam a existência do grupo, já que tanto a formação discursiva quanto o grupo que a produz são regidos pela mesma lógica. Enfim, para a análise do discurso, as palavras proferidas pelo grupo não lhe são exteriores, o que faz com que se conclua que a instituição discursiva possui duas faces: uma que se liga ao social e a outra à linguagem (idem, p. 55), que urge ser investigada. De acordo com essa argumentação, ver-se-á como o uso exagerado de certos adjetivos define e explicita o próprio sentido do projeto pedagógico da Escola Argentina. Em primeiro lugar, a maioria dos adjetivos encontrados nos textos da revista tem a função de qualificar o Brasil, a Argentina, seus heróis e sua gente, como se desejasse produzir em seus leitores apenas os sentimentos de amor, admiração, devoção e respeito para com esses mesmos países. Nesse caso, destacam-se: “imenso Brasil”; “nobre nação Argentina”; “linda bandeira brasileira”; “pátria grandiosa”; “gloriosos irmãos americanos”; “grande general”; “audazes descobridores”; “grande mártir Tiradentes”; “destemido povo platino”; “Guarani, essa jóia literária”; “opulenta natureza”; “matas espessas”; “grande rio”; “idioma pátrio tão rico e belo”; “terra do meu Brasil, ardente e bela”; “bravos heróis”; “grande maestro Villa Lobos”; “tudo aqui é grandioso”; majestoso Largo de São Francisco. Em segundo lugar, destaca-se um outro grupo de adjetivos, que procura fazer brotar um certo sentimento de compaixão pelas pessoas pobres e sofridas. É como se desejasse não só estimular o assistencialismo, mas também, por meio de uma lição de moral, criar no leitor uma percepção de que deve estar agradecido pela vida que tem, precisando, em compensação, ser um bom filho e um bom aluno, enfim, um bom menino ou uma boa menina. Esses adjetivos são: “pobre camponês”; “honesto lavrador; “crianças desvalidas”; “meninas pobres”; “homem bondoso e honesto”; “seu pai era pobre”; “triste infância”; “pranto doloroso”; “nobre ação”; “boa Eneida”; “bom servente”; “uma menina bonita, mas muito má”, “bom coração”; “pobre artista”; “velho cabo- a revista escola argentina 83 clo”; “em lúgubre, humilde e bafienta caverna”; “a filha era esforçada nos estudos”. Em terceiro lugar, há a referência sempre respeitosa e carinhosa feita aos dirigentes da escola e aos seus patronos argentinos, que sistematicamente fornecem vários presentes à escola. Entre eles destacam-se “estimado”, “digno”, “digníssimo”, “distintíssimo”, “querido”, “grande” e “ilustre”. De outro lado, os alunos são descritos como sendo ou devendo ser “doces”, “pequenos”, “devotados”, “pequeninos”, “humildes” e “gentis”, o que faz com que tenham que entender que, diferentemente das autoridades, o lugar social que ocupam nas relações sociais é o de ter que respeitar e reverenciar esses mesmos grupos, uma vez que se encontram posicionados em um lugar hierarquicamente inferior. Entretanto, ainda são descritos como sendo “um bando alegre” que participa de bonitas e alegres festas com “lindos trabalhos”. Através do uso exagerado do diminutivo ainda pode ser notado um certo estilo carinhoso e infantil que predomina nos textos. Talvez se trate de uma estratégia que queira reforçar a idéia de que o periódico, apesar de também ser produzido e direcionado para adultos, é fundamentalmente uma “obra infantil”, escrita e dirigida para os alunos. Entre eles destacam-se: “aos coleguinhas”, “meus amiguinhos”, “minha mãezinha”, “em caderninhos”, “os brasileirinhos”, “meu livrinho”, “cartinha”, três palavrinhas”, “querido jornalzinho”, “rostinho de criança”, “mãozinhas mimosas”. Aí se encontram reveladas as condições de produção da revista – suas estratégias, intenções, significados e silêncios – que, sem sombra de dúvida, expressam com riqueza de detalhes o que se passava no interior da Escola Argentina no final dos anos de 1920 e primeira metade dos anos de 1930. Algumas considerações finais Esta análise, ao trazer à tona os efeitos de sentido da escrita da Revista Escola Argentina, possibilita três considerações. 84 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 A primeira delas sugere que esse tipo de imprensa durante as décadas de 1920 e 1930 tinha o objetivo explícito de ser mais do que um simples jornal escolar. Propunha-se, na verdade, a transformar-se em um instrumento poderoso das Administrações de Instrução Pública, que, desse modo, poderiam, com eficiência, difundir suas idéias, hábitos e comportamentos para todo seu alunado. A segunda é a possibilidade que a leitura da revista nos oferece de poder visualizar o tipo de aluno que a escola desejava formar: um aluno “modelo” – participativo, mas responsável e que teria que acima de tudo amar e respeitar sua escola, sua família, sua pátria, assim como a Argentina e todo o continente americano – que correspondesse às novas exigências tanto pedagógicas quanto culturais e sociais de uma sociedade que procurava modernizar-se. A terceira e última consideração, como uma conseqüência das duas anteriores, mostra que a revista constrói uma imagem bastante positiva da escola. Indica que sua ação pedagógica parecia ser suficientemente competente não apenas para que os seus alunos assimilassem os valores acima descritos, mas também para que ela própria fabricasse uma imagem pública de que suas propostas educacionais eram assimiladas “sem problemas” por toda a comunidade escolar; ou melhor, as estratégias de convencimento utilizadas pela revista nos fazem supor que as autoridades da escola obtinham sucesso em pelo menos dois de seus objetivos: conseguiam fixar uma imagem de que Escola Argentina era eficiente – seus alunos aprendiam as lições propostas – e de que se definia como tendo um projeto coletivo que era, inclusive, por ela própria elaborada e absorvida sem dificuldades e grandes resistências. Enfim, tudo indica que a Revista Escola Argentina definitivamente cumpria com o seu papel: funcionava como um ótimo veículo de propaganda, tanto da Escola Argentina quanto das Administrações Públicas a que se vinculava; principalmente a de Anísio Teixeira, já que é durante a sua gestão que a revista ganha força e amadurece. a revista escola argentina 85 Fonte Primária Revista Escola Argentina (1931-1932) – Arquivo da Escola Municipal Argentina/Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Referências Bibliográficas BOURDIEU, Pierre (1996). A economia das trocas lingüísticas. São Paulo, EDUSP. BOURNE, Randolph (1970). The Gary schools. Massachusetts, The Mit Press. CARVALHO, Marta M. Chagas de (1995). “Estratégias textuais e editoriais de difusão do escolanovismo no Brasil: uma perspectiva”. In: GVIRTZ, Silvana (comp.). Escuela Nueva en Argentina y Brasil. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores. CHARTIER, Roger (1992). “Textos, impressão, leituras”. In: HUNT, Lynn. A nova história cultural. São Paulo, Martins Fontes. MAINGUENEAU, Dominique (1989). Novas tendências em análise do discurso. Campinas, Pontes. MARIANI, Bethânia (1993). “Os primórdios da imprensa no Brasil (ou: de como o discurso jornalístico constrói a memória)”. In: ORLANDI, Eni Puccinelli (org.). Discurso fundador. A formação do país e a construção da identidade nacional. Campinas, Pontes. NÓVOA, António (1995). “Por uma análise das instituições escolares”. In: NÓVOA, António (org.). As organizações escolares em análise. Lisboa, Publicação Dom Quixote. 86 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Instrução pública e formação de professores em Minas Gerais (1825-1852)* Walquíria Miranda Rosa ** Esta pesquisa tem por objetivo compreender as representações produzidas sobre a profissão docente e as capacidades específicas do professor na primeira metade do século XIX, momento em que se buscava organizar a instrução pública primária mineira. O período analisado foi de intensos debates sobre a organização do sistema de ensino primário, e também marcado pela produção de discursos por meio dos quais foi veiculada a necessidade de organização da instrução pública e da formação dos professores, bem como a criação de uma Escola Normal na qual estes pudessem ser formados. PROFISSÃO DOCENTE; INSTRUÇÃO PÚBLICA; FORMAÇÃO DE PROFESSORES. The goal of this research was to understand the roles of the teaching occupation and the teacher’s specific abilities in the first half of the nineteenth century, a moment when the public elementary schooling of the state of Minas Gerais, Brazil, was being organized. In the analyzed period deep arguments on the organization of elementary school system took place. Concepts were produced about the need to organize the public schooling and the teachers formation, as well as the creation of a “Escola Normal” (‘Normal’ refers to the function of defining procedures; this institution is responsible for the teachers formation) where the teachers would be trained. TEACHING OCUPATION; PUBLIC SCHOOLING; TEACHING FORMATION. * Este texto é parte das reflexões feitas em minha dissertação de mestrado intitulada: Instrução Pública e profissão docente em Minas Gerais (1825-1852). ** Pedagoga, mestra em educação pelo PPGE-FaE/UFMG. Professora auxiliar de história da educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, do Unicentro Metodista Izabela Hendrix e da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Itabitiro/UNIPAC. Pesquisadora do GEPHE–FaE/UFMG e do NEPHE–FaE/UEMG. 88 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Neste artigo, são tratados aspectos da institucionalização da instrução pública primária e da formação de professores na província mineira na primeira metade do século XIX, trazendo contribuições para a reflexão destas questões a partir de uma documentação rica e ainda pouco explorada nas pesquisas realizadas na história da educação brasileira. A formação de professores em Minas Gerais é abordada a partir do debate produzido na sociedade na primeira metade do século XIX. Esse debate se dá por meio da produção e circulação de impressos, especificamente do jornal O Universal. Esse jornal foi veículo de produção e circulação de um discurso sobre a necessidade de organizar a instrução pública primária e de formar os professores que nela iriam atuar. Discute ainda estratégias utilizadas pelos governantes, no que tange à produção de uma legislação específica para produzir e legitimar a organização da instrução e a formação dos professores na primeira metade do século XIX em Minas Gerais. Percebe-se que esse foi um período de intensos debates sobre o tema e de uma produção sistemática de leis que procuravam instituir tal necessidade. Por fim, trata a questão da formação dos professores através da produção de discursos sobre a necessidade de formação junto aos próprios professores. Essa estratégia se dá, sobremaneira, a partir da escrita feita pelo professor Francisco de Assis Peregrino, após a volta de uma viagem à França em 1839, de um documento intitulado por ele de Memória. Essa viagem teve como objetivo cumprir exigências de um contrato realizado pelo professor com a província mineira, a fim de que fossem observados a instrução e os métodos de ensino utilizados naquele país, na tentativa de depois propor uma organização da instrução primária em Minas Gerais. Organização da instrução pública em Minas Gerais É a partir da década de 1820 que a importância da formação dos professores é discutida de forma mais intensa em Minas Gerais. Essa discussão esteve atrelada a uma organização que se propunha para o ensino público naquele período. instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 89 A necessidade acerca da escolarização da população, principalmente daquelas que eram consideradas pelos dirigentes como as “camadas inferiores da sociedade”, foi intensamente discutida nas províncias de todo o Império na primeira metade do século XIX; o mesmo acontecia em Minas Gerais. Observa-se, nas discussões sobre a importância de se organizar um sistema público de ensino e de escolarizar a população, a produção de um discurso, no qual a falta de uma formação específica dos mestres de primeiras letras passa a ser colocada como a principal causa para o pouco sucesso da instrução primária na província de Minas Gerais. Percebe-se, nesse momento, uma crescente intervenção do Estado na instrução pública. Diversas leis foram produzidas com o objetivo de garantir a freqüência da população livre à escola e de normatizar a formação que seria dada aos professores que atuariam no sistema público de ensino. Ao analisar as fontes1 do período em questão, podemos indiciar que os professores que ensinavam até então foram considerados incapazes e desinteressados pelos dirigentes mineiros. Os saberes e as práticas escolares utilizados por eles foram desqualificados. Era preciso, segundo os dirigentes, garantir um outro conjunto de saberes os quais eles deveriam dominar. Para compreendermos melhor esse processo de desqualificação pelo qual passa o professor primário na primeira metade do século XIX em Minas Gerais, torna-se necessário compreendermos quem era esse professor e em que condições ele atuava e qual organização se propunha para a educação primária nesse momento. Os professores que atuavam nas poucas escolas régias ou nas cadeiras públicas de primeiras letras herdadas do período colonial eram reconhecidos ou nomeados pelos órgãos do governo responsáveis pela 1 As fontes consultadas para essa pesquisa foram: relatórios de presidentes da província de Minas Gerais, ofícios dirigidos a professores pelos presidentes de província e de professores aos presidentes, documentos referentes à Escola Normal de Ouro Preto. O jornal O Universal, manuais utilizados na Escola Normal para a formação dos professores, a legislação referente à instrução pública produzida e publicada no período estudado, ofícios escritos por professores, provas realizadas pelos professores após freqüentarem a Escola Normal de Ouro Preto. 90 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 instrução, e davam suas aulas em lugares improvisados e precários. Na maioria das vezes, os alunos dirigiam-se para a casa do mestre ou da mestra, que algumas vezes recebiam ajuda para o pagamento do aluguel. O período de aula era de 4 horas, dividido em duas sessões: uma das 10 às 14 horas e outra das 14 às 16 horas. Os professores ensinavam pelo método individual. Tal método consistia em que o professor, mesmo quando tinha vários alunos, ensinasse a cada um deles individualmente. O número de escolas régias e de cadeiras públicas era bem reduzido. Há indícios de que a rede de escolarização doméstica era bem maior do que a da rede pública estatal, o que garantia o acesso de alguns que não a freqüentavam ao aprendizado das primeiras letras2. Nesse caso, os professores eram contratados pelos pais e davam aula em locais, na maioria das vezes, também por eles organizados. Outro modelo de educação escolar que no decorrer do século XIX foi configurando-se, segundo Faria Filho (2000), “é aquele que os pais, em conjunto, resolvem criar uma escola, e para ela, contratam coletivamente um professor, ou uma professora”. A diferença fundamental deste modelo de ensino é que o professor não mantém nenhum vínculo com o Estado, apesar dos esforços deste para influenciar tais experiências. Com o progressivo fortalecimento do Estado Imperial e com a discussão cada vez maior acerca da importância da instrução escolar, estrutura-se uma representação de que a construção de espaços específicos para a escola era imprescindível. Juntamente com essa representação é construída a idéia de que era preciso formar um novo professor e dar a ele uma formação específica. Várias foram as estratégias utilizadas pelos governantes mineiros e pela elite local, no sentido de construir uma nova representação acerca dos professores primários. Entre elas, podemos citar a produção e circulação do discurso jornalístico, do qual tomamos como exemplo o jornal O Universal, iniciada em 1825. 2 Em 1827, Bernardo Pereira Vasconcelos sustentava que, em Minas Gerais, havia 23 escolas públicas e 170 escolas privadas. instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 91 O Universal 3, apontado como um dos mais importantes jornais de Minas Gerais na primeira metade do século XIX, foi publicado por um período de 17 anos (1825-1842). Desde o seu primeiro número com a publicação de uma matéria intitulada “Educação elementar”, na qual traz à cena a defesa do método mútuo, o jornal defende a necessidade de escolarização para toda a população. Em suas páginas, é possível constatar um intenso debate sobre a educação elementar e sua importância para a civilização e moralização da população. Através do jornal é possível compreender “a luta política por afirmar a importância da instrução pública no processo de consolidação do Estado Nacional e na expansão, entre nós do ideário civilizatório e cientificista do século XIX” (Faria Filho, 1999a, p. 119). A importância que é atribuída à instrução e sua organização na primeira metade do século XIX fica explícita com a publicação da citada matéria “Educação elementar”, que tinha por objetivo divulgar e propagar o método mútuo. Tal matéria ganha destaque durante os 16 primeiros números do jornal, publicados entre 18 de julho e 22 de agosto de 1825, tendo sido dividida em cinco partes, sendo elas: Introdução, Origem do Novo Sistema na Inglaterra, Princípios em que se funda esse sistema, Emprego das diferentes classes de meninos na escola e um subitem deste último: Disciplina das Escolas – Prêmio. A cada dia de publicação, dedicavam-se duas páginas inteiras à explicação do método mútuo4 e os benefícios advindos de sua implantação. A matéria inicia-se com críticas ao sistema de instrução seguido até então no Brasil, no qual era adotado o método individual, afirmando ser 3 4 O jornal O Universal foi publicado em Ouro Preto. Seu primeiro número foi editado em uma segunda-feira no dia 18 de julho de 1825 e o último no dia 10 de junho de 1842. Segundo Bastos (1999), “o método mútuo foi sistematizado por A. Bell e J. Lancaster. No método mútuo, a responsabilidade é dividida entre o professor e os monitores, visando a uma democratização das funções de ensinar”. Tem como postulado a diversidade das faculdades, a desigualdade de progresso, de ritmos de compreensão e de aquisição. A escola é dividida em classes diferentes, conforme as disciplinas e o grau de conhecimento dos alunos, nessa classificação a idade não tem nenhuma interferência. Os alunos assim divididos participam do mesmo exercício. 92 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 ele dispendioso e limitado. Defende, em contraposição, a necessidade de uma educação para todo o povo, com o propósito de generalizar uma educação de qualidade, sem grandes despesas para o governo e cuidando também para que fosse rápida e para que o trabalhador não fosse privado do tempo que deveria ser empregado no trabalho5. A adoção do método mútuo por parte de escolas e professores é apontada como a solução para o problema. A principal virtude do método mútuo, segundo a matéria publicada no jornal, era a economia que ele possibilitava, uma vez que permitia que um só professor, auxiliado de monitores, pudesse ensinar a um número maior de alunos, podendo encarregar-se de instruir até mil alunos. Possibilitava também que os alunos ficassem menos tempo na escola. O principal problema a ser resolvido para o autor6 da série de artigos sobre a educação elementar era a morosidade e a ineficácia do método individual, que fazia com que o aluno freqüentasse por um longo espa- 5 6 Essa preocupação ficava evidente, quando em 1826 encontramos no dia 10 de fevereiro, uma carta publicada intitulada Carta de Americus, na qual o autor afirma que o “fim principal da educação he fazer de hum individuo o instrumento da sua propria felicidade [...]”. Nessa carta, o autor defende a educação como um todo, devendo ela conter a educação física, moral e intelectual. Afirma que a educação moral tem que ser de responsabilidade da família e a terceira da escola. A referida carta é publicada em duas partes, sendo a segunda publicada no dia 20 de fevereiro do mesmo ano. Na continuação da carta, ao falar da importância do trabalho, defende que o homem deve trabalhar, mas quem trabalha, segundo Americus, não consegue estudar, daí a necessidade que o conhecimento seja dado proporcionalmente à condição social dos indivíduos. Americus defende também que a educação deve vir na infância/adolescência. Tempo em que, segundo ele, fisicamente o homem não está apto para o trabalho e da educação colherá frutos depois. Aqui se percebe a preocupação do autor com o fato de que se possa conciliar a instrução escolar com o tempo dedicado ao trabalho. Era preciso que o tempo escolar que queria se instituir levasse em conta os outros tempos sociais, principalmente o tempo reservado ao trabalho. Essa passa a ser uma das principais questões a serem resolvidas pelos dirigentes mineiros na ampliação do sistema de ensino. Suspeitamos que a série de artigos denominada “Educação elementar” publicada no O Universal em 1825 tenha sido de autoria de Hipolito da Costa. Essa suspeita se dá pois em outubro de 1816 foi publicada uma série de artigos no Correio Brasiliense assinada por este autor que em muito se assemelha com a publicação realizada no jornal mineiro (cf. Bastos, 1999). instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 93 ço de tempo a escola, saindo mal sabendo ler e escrever. Isto, além de prejudicar os alunos, gerava altos custos para a província, sem ao menos ter resultados positivos. A economia era o princípio básico no qual se baseava o método mútuo, uma vez que o governo se limitaria aos gastos do salário de um só professor, às despesas da casa (escola), lápis, borracha, pedra e outros materiais essenciais para o ensino. O princípio de economia era também pensado em relação ao tempo, ou seja, no método mútuo os alunos gastariam menos tempo para aprender a ler, escrever e contar do que, no método individual, pois, aprenderiam com os monitores, o que, segundo os defensores do método mútuo, contribuía para o melhor aproveitamento do tempo. Além do mais, a adoção do método resolveria o problema da falta de professores, fato comum à época e considerado pelos dirigentes mineiros uma das principais causas do atraso em que se encontrava a educação primária. A divisão do tempo também fazia parte das preocupações trazidas pela adoção do método mútuo. O horário de início e término da aula era definido, bem como o aproveitamento de todo o tempo em que os alunos se encontravam na escola. Todas as ações a serem executadas pelos alunos eram pensadas de forma que o tempo não fosse “desperdiçado”. Na última parte da matéria publicada no jornal, o autor põe-se a descrever, a título de exemplo, como o método funciona. Chamando “Emprego das diferentes classes de meninos na escola”, o autor dá, inicialmente, exemplos de como pode funcionar as diferentes classes, a começar da primeira. Essa classe era composta por meninos mais novos, que nada sabiam, assim sendo, iniciavam o aprendizado do alfabeto e orações da cartilha. Aprendiam a ler e escrever na mesa de areia, passando depois a copiar cartas do ABC no papel, seguindo pela memorização das letras, alcançando-se a seguir a aprender as sílabas simples. Os alunos deveriam ficar próximos ao professor. Cada um dos discípulos deveria ser ensinado individualmente, portanto, a classe não podia ser muito numerosa. Era calculado um tempo de três semanas para que os alunos aprendessem o alfabeto. Nesta série de artigos publicados sobre o método mútuo no jornal O Universal, fica evidente quais eram as grandes questões a serem resol- 94 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 vidas para a melhoria da instrução pública, na visão dos dirigentes – o melhor aproveitamento do tempo e a redução dos gastos. A maior complexidade da organização da instrução proposta pelo método mútuo traz também uma discussão sobre a necessidade de oferecer uma formação adequada aos professores primários. Dois anos depois, veio a público aquela que seria a principal estratégia de divulgação e expansão do método de ensino mútuo no país: a lei de 15 de outubro de 1827. Nela, foram definidos vários aspectos da instrução pública relacionados às escolas e aos professores, às matérias ensinadas, aos métodos e outros. Essa lei determinava a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, estabelecendo, ainda, quais os conteúdos a serem ensinados e que estes deveriam ser ensinados pelo método mútuo. Os defensores do método mútuo defendiam-no como uma poderosa arma na luta para fazer com que a escola atingisse um número maior de pessoas. Tal crença fez com que em Minas Gerais algumas escolas fossem organizadas segundo tais ordenamentos pedagógicos. No ano de 1829, o conselho da província mandou publicar um livro com não mais de 14 páginas com o seguinte título: Castigos Lancasterianos – em consequência da Resolução do Exmo. Conselho de governo da Província de Minas Gerais, mandando executar pelos Mestres de 1as letras e de gramática Latina. Neste livro, consta uma lista de castigos lancasterianos para serem aplicados nas escolas de primeiras letras da província. O que denota a importância que foi atribuída a tal método. O documento era assim dividido: Instrumentos e Modos de castigos Lancasterianos; das Cadêas de Páo, a cesta, a Caravana, Proclamação dos erros de um offensor Perante a aula, Falta de limpeza, da prisão depois da aula, tom de cantar ao ler, escritos de vergonha, outra qualidade de castigos, das offensas e queixas, principais faltas que ocorrem nas aulas, regra e ordem pela qual os decuriões fazem suas queixas, cartas recomendatórias e emulação entre classes. Percebe-se que o grande problema imposto pelo método mútuo refere-se à questão da ordem nas escolas. Os castigos propostos tinham como objetivo manter a ordem e a disciplina em sala, com a intenção de garantir o melhor e maior aproveitamento do tempo. instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 95 Para que a ordem fosse garantida, além de castigos de natureza física e/ou moral, os quais chamam a atenção pela extrema crueldade, defende-se com veemência o estabelecimento da hierarquia entre os alunos e a obediência estrita a ela, enfatizando a importância de os decuriões não descuidarem da execução de suas tarefas. Reforçando mais uma vez a idéia da emulação e da competição entre os meninos. Mesmo com a intensa propaganda sobre a superioridade do método mútuo, ao analisar as fontes, principalmente os debates realizados sobre a instrução no jornal O Universal, a maioria das escolas, mesmo na capital da província, continua a adotar o método individual. Já no início dos anos de 1830 era constatada a inviabilidade do método na província mineira. Primeiramente, porque o método mútuo exigia espaços adequados e uma variedade e quantidade grande de materiais pedagógicos para utilização dos alunos, os quais não eram disponibilizados, dificultando sua eficácia e aplicação. Em segundo lugar, porque os dirigentes mineiros alegaram que os professores não eram devidamente formados para ensinarem através do método, pois não havia uma instituição que os formasse adequadamente. Ao longo dos anos, as discussões sobre o melhor método de ensino continuarão a ocupar a atenção daqueles que organizavam a instrução pública, juntamente com a discussão acerca da necessidade de formar um professor que melhor pudesse praticá-lo. Paralelamente ao discurso jornalístico, são produzidas outras estratégias para a consolidação do objetivo de organizar a instrução e de normatizar esse ramo da administração pública, como é o caso da produção de uma legislação específica para a área. Produzindo a organização do sistema de instrução: a lei n. 13 de 28 de março de 1835 Nos discursos produzidos pelos presidentes da província mineira, a instrução pública encontrava-se em um estado lastimável e precisava ser organizada. A necessidade de instruir e civilizar a população é clara. Em relatório enviado à Assembléia Legislativa Provincial no ano de 96 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 1833, o presidente Antônio Paulino Limpo de Abreu mostra que o estado indesejável da instrução se dava devido ao fato de que: 1º os pais de família não procurão, como lhes cumpre, da educação primaria de seus filhos: 2º de não terem os professores públicos um interesse imediato no augmento do número de seus discipulos: 3º da alluvião que há de escolas particulares, as quaes fora de toda a inspeção do governo, não offerecem garantia alguma da educação da Mocidade, já quanto a pericia, já pelo que respeita a moralidade dos mestres. Esse trecho do relatório deixa clara a preocupação da província em organizar a instrução, seja pela cobrança em relação aos deveres dos pais em mandar os filhos à escola, seja pela necessidade de formar os professores, ou ainda pela necessidade sentida de inspecionar como e onde estava ocorrendo a educação na província mineira. No ano de 1835, como seqüência dos debates que se travavam em relação à constituição do Estado Nacional e da importância de garantir a unidade e uniformidade do Estado Imperial em todas as províncias do país, o debate acerca da necessidade de organizar o sistema de instrução ganha maior intensidade. O desrespeito pelas leis e a conseqüente falta de moralidade se davam, segundo a elite, em virtude do atraso em que se encontrava a educação, sendo este considerado o “grande mal da sociedade”. Em Minas Gerais, esse debate ganha mais destaque com a instalação da Assembléia Legislativa Provincial, no ano de 1835. No dia 2 de fevereiro, é publicada, em O Universal, a fala do presidente da província, Bernardo Jacintho da Veiga no ato de instalação da Assembléia. O presidente continua dizendo da importância da instrução pública, dos salários dos mestres, da necessidade de habilitá-los, da pouca freqüência dos alunos às aulas e do pouco resultado obtido pelo método mútuo que fora adotado em algumas escolas. Através de O Universal, é possível acompanhar a intensa movimentação da Assembléia Legislativa na tentativa de organizar a instrução pública. As iniciativas iam tanto no sentido de realizar debates sobre a importância da educação, quanto em relação ao estabelecimento de uma legislação que viesse a organizá-la e aos investimentos financeiros que instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 97 eram realizados7. Várias reuniões da Assembléia Legislativa Provincial são publicadas no jornal. Uma das tentativas mais importantes para organização da instrução pública realizada pelos dirigentes mineiros é noticiada no dia 23 de fevereiro de 1835, quando se informa que foi lido, na sessão da Assembléia Legislativa Provincial, no dia 18 do mesmo mês, o projeto do deputado Bernardo Vasconcelos sobre a instrução pública. Esse projeto amplamente discutido refere-se ao que será depois a lei n. 138. O projeto ganha destaque durante muitas reuniões da Assembléia Legislativa e em vários números do jornal, que publica toda a movimentação e discussão sobre ele. No dia 25 de fevereiro, o projeto do deputado Bernardo Vasconcelos é publicado na íntegra. O jornal, a partir das análises feitas, tinha a clara preocupação de tornar público todo o esforço que vinha sendo realizado pela Assembléia Legislativa Provincial para que a instrução pública pudesse alcançar seus objetivos. Nos anos seguintes (1836, 1837 e 1838) são publicadas várias falas de presidentes da província sobre a instrução pública, que nos permitem perceber como se produziram a necessidade de organizar a instrução pública e a formação do professores e como, aos poucos, os dirigentes mineiros foram tomando para si a responsabilidade pela organização do sistema de instrução que se queria instituir. Assim, em 28 de março de 1835, a lei n. 13 é sancionada pelo vicepresidente da província Antônio Limpo Paulino de Abreu, atendendo ao disposto no Ato Adicional de 1834. Até então, o sistema de ensino na província mantinha uma organização próxima aos tempos coloniais. O número das escolas era pequeno, estando longe de satisfazer as necessidades de uma população dispersa em uma grande extensão territorial (Mourão, 1959). 7 8 Ao analisarmos os relatórios dos presidentes de província no período imperial, notamos que esse interesse e tentativa de organização davam-se também em termos de investimentos financeiros. Segundo os relatórios, eram gastos mais de um terço das rendas da província com a instrução. A lei n. 13 foi criada em 1835, tendo sido a primeira lei mineira a propor uma organização para a instrução pública primária. 98 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 A partir da implementação da lei, a instrução pública é dividida em dois graus: a escola de primeiro grau ensinaria “a ler, escrever e a prática das quatro operações”, e, a de segundo, ensinaria “a ler, escrever, arithmética até as proporções, e noções gerais dos deveres moraes e religiosos”. As escolas de 2º grau, de acordo com o art. 2º da lei, eram aquelas que funcionariam em cidades e vilas em que se julgasse conveniente, e do “1º grau em todos os lugares em que attenta a população, poderem ser habitualmente frequentadas por vinte e quatro alumnos pelo menos”. As escolas que não tivessem o número de alunos estipulados seriam fechadas e os seus professores demitidos. O objetivo das “escolas de primeiras letras”, tão defendidas pelos dirigentes mineiros, era generalizar para toda a população as primeiras noções sobre saber ler, escrever e contar. Não se imaginava por outro lado, uma relação desta escola com outros níveis de instrução como o secundário e o superior (Faria Filho, 1999b). De acordo com Faria Filho (1999b), em estudos realizados sobre a constituição da cultura escolar em Minas Gerais no século XIX “instruir as classes inferiores era tarefa fundamental do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, condição mesma de existência deste Estado e da Nação”. A instrução era vista como uma das principais estratégias civilizatórias do povo e possibilitaria preparará-lo para um “projeto de país independente, criando também as condições para uma participação controlada na definição do destino do país”. Ainda segundo Faria Filho (2000, p. 137), buscava-se “constituir, entre nós as condições de governabilidade, ou seja, a criação de um estado independente, mas também, dotar este Estado de condições de governo”. Entre essas condições, sem dúvida a fundamental era “dotar o Estado de mecanismos de atuação sobre a população”. Nessa perspectiva, a instrução como um mecanismo de governo permitiria não apenas indicar os melhores caminhos a serem trilhados por um povo livre, mas também “evitaria que este mesmo povo se desviasse do caminho traçado”. A primeira metade do século XIX foi o momento de fortalecimento de uma perspectiva político-cultural para a construção da nação brasileira e do Estado Nacional. Nesse sentido, a legislação aparece com um instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 99 caráter normativo. As discussões sobre a importância da instrução estão relacionadas à necessidade de se estabelecer, no Império, como nos esclarece Faria Filho, o império das leis. Para o autor, Isto significava, por um lado, instituir o arcabouço jurídico-institucional de sustentação legal do Estado Imperial, nas suas mais diversas manifestações e funções, e, por outro lado, fazer com que os mais diversos estratos sociais que viviam ou, mesmo, que exerciam funções de governo, viessem a obedecer às determinações legais [2000, p. 137]. Desde 1827, data da primeira lei sobre instrução pública no Império, foram estabelecidas várias outras leis no intuito de normatizar a instrução. A partir do Ato Adicional de 1834, com a descentralização da política administrativa do ensino, as províncias passam a estabelecer suas próprias leis sobre tal assunto. Dessa forma, a partir de 1835, as Assembléias Provinciais e os presidentes de província passam a produzir um número significativo de textos legais, o que demonstra que a normatização legal se constituiu em uma das principais formas de intervenção do Estado no serviço de instrução (Faria Filho, 2000). A legislação volta-se também para a formação dos professores. Pelo art. 7o da lei n. 13, foi criada a primeira Escola Normal de Minas Gerais, a Escola Normal de Ouro Preto, onde deveria ser ensinado o método de ensino “mais expedito, e ultimamente descoberto, e praticado nos países civilizados”. Para tanto, pelo do art. 8o, o governo ficava autorizado a contratar quatro cidadãos brasileiros para se instruírem dentro ou fora da província a fim de reger essa escola e aquelas estabelecidas no art. 6o. As escolas particulares, segundo o art. 9o, eram permitidas, independentemente de licença do governo, desde que os professores fossem habilitados na forma da lei. Todos os professores que abrissem escolas sem serem devidamente habilitados seriam suspensos e multados, podendo até mesmo serem punidos com prisão de 15 a 60 dias. Criou-se, ainda, o cargo de delegado de ensino que tinha por prerrogativas nomear visitadores, professores substitutos, suspender professores, fazer observar a lei e os regulamentos e as ordens do governo. 100 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Pela lei n. 13, o governo da província mineira pretendia exercer controle sobre a instrução pública primária em todas a suas dimensões, marcando até os dias de estudo, as horas de cada lição, os suetos9, o tempo, as férias, o método dos exames públicos, o regimento, a polícia das escolas, bem como a forma de concursos que tinham lugar no provimento das cadeiras vagas. A lei n. 13 e seu regulamento, de n. 3, possibilitam a produção de estratégias para legitimar a necessidade de formação dos professores. É a partir da criação das escolas de primeiras letras no ano de 1827 e, no caso de Minas Gerais, a partir da lei n. 13 em 1835, que se intensifica a preocupação com a formação dos professores tornando-se uma questão central. É nesse momento que os vários discursos produzirão um sentido para a questão da formação dos professores, através das representações que se constroem sobre quem deveria ser professor e os conhecimentos que ele deveria adquirir. Essa preocupação com a formação dos professores se traduz com clareza através da criação de uma Escola Normal. Tal escola tinha por objetivos habilitar os professores para ensinarem nas escolas criadas, e, principalmente, buscar estabelecer um maior controle sobre a formação dos professores através da prescrição de determinadas práticas. Apesar de todas as tentativas trazidas pela implementação da lei n. 13 de se organizar a instrução pública, muitas eram as dificuldades que se colocavam. As dificuldades apontadas pelos presidentes de província diziam respeito à falta de materiais, de locais adequados para realização das aulas e a falta de professores preparados, de uma instituição que os formasse, bem como a falta de inspeção e a conscientização dos pais sobre a importância de mandarem seus filhos à escola. Segundo os relatórios dos presidentes de província, tornava-se muito complicado inspecionar a prática dos professores, pois estes ensinavam em escolas isoladas, muito distantes uma das outras. Na tentativa de resolver a situação foram criados os círculos literários. Estes eram 9 Suetos são feriados escolares. instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 101 em número de quinze, sendo que cada um tinha um delegado de ensino, nomeado pelos presidentes da província. Aos delegados de ensino cabia, entre outras funções, nomear os visitadores que fiscalizavam o trabalho dos professores, conforme já dissemos. A necessidade de organizar a instrução pública está colocada, tanto quanto a necessidade de “derramá-la para todas as classes da sociedade”, e que é intensamente divulgado e discutido através de O Universal. Há, porém, que fazer dessa preocupação dos dirigentes mineiros, também uma preocupação dos pais, uma vez que um dos maiores empecilhos colocados para a não escolarização da população era a pouca importância que estes davam à escolarização dos filhos. Muitas vezes, as escolas existiam, mas não funcionavam porque não havia alunos suficientes. A falta de alunos era, às vezes, relacionada à suposta irresponsabilidade dos professores para com o ensino. No entanto, nem sempre isso era verdade. É o que se percebe, quando no dia 21 de agosto de 1835, ao comentar sobre o salário dos professores no jornal, afirma-se que: em verdade a causa do estado decadente de nossas escolas públicas não é só devido ao mestres, é também aos pais de família, que muito pouco cuidam da instrução de seus filhos, e esses poucos que os mandam às escolas não deixam que se aperfeiçoem como convém, resultando daqui que os professores estejam continuamente em penosos trabalhos sem jamais poderem apresentar um resultado de suas fadigas. Essa preocupação está presente em O Universal desde a década de 1820, quando Americus, em sua carta publicada em 10 de fevereiro de 1826, denuncia que muitos pais gastam dinheiro fazendo caprichos dos filhos, mas não se preocupam em gastar com algo tão importante quanto à sua educação. Nota-se que se torna necessário conscientizar os pais da importância de dar educação aos filhos e para que estes assumissem o dever de mandar seus filhos para a escola. No entanto, muitas vezes, as crianças deixavam de ir à escola por terem que trabalhar para ajudarem os pais nas tarefas ligadas à agricultura e à manutenção da casa, dificultando assim a concretização dos objetivos da elite dominante. 102 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 A baixa freqüência dos alunos, a alta evasão escolar e a preservação da educação caseira eram comuns e sinalizavam valores apegados ao “governo da casa”. O debate sobre a questão feminina vem somar-se a essa questão, uma vez que algumas famílias insistiam em manter as mulheres sem os conhecimentos mais básicos da instrução. Se, no caso da educação dos meninos, a resistência do governo da casa era agravada pela pequena, ou inexistente, presença de instrução pública nas províncias, no caso das meninas era ainda pior. Em qualquer das situações configurava-se a reação dos poderes privados à intervenção crescente do Estado, que tentava colocar sob seu controle a educação e a instrução das famílias com intuito de reafirmar seu projeto centralizador, conforme nos mostra Ilmar Mattos (1996). Pela lei n. 13, os governantes mineiros buscavam atuar sobre essa questão, estabelecendo no art. 12 que os pais de família eram obrigados a dar aos seus filhos a “instrução primária do 1º grau ou nas escolas públicas, ou particulares, ou em suas próprias casas, e não os poderão tirar dellas, enquanto não souberem as matérias próprias do mesmo grau”. A infração deste artigo, segundo a lei, resultaria na punição com a aplicação de uma multa de dez a vinte mil reis, caso fossem intimados por três vezes e não corrigissem tal falta. Essa determinação, criticada por alguns presidentes de província e pessoas influentes na sociedade, ao que tudo indica, segundo as fontes consultadas, foi muito pouco colocada em prática. Aliada à questão dos pais terem que mandar seus filhos para a escola vai colocando-se outra, qual seja, a incapacidade dos pais de educarem e ensinarem corretamente as crianças. Aqui, percebe-se a produção da escola como o lugar autorizado para a socialização da infância assumindo assim uma importância crescente como locus privilegiado de transmissão de saberes e de costumes. Nesse processo, o que se percebe é que, para se afirmar a escola como principal instituição responsável pela instrução e educação da infância, seus defensores tiveram que deslocar dessa centralidade outras instituições e processos socializadores, como a família e a Igreja (Faria Filho, 1999b). Talvez fosse esse o objetivo do jornal O Universal ao instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 103 publicar determinados artigos, como um intitulado: “A pouca importância que é dada aos mestres”, que circulou no dia 11 de outubro de 183910 . Nesse artigo, é ressaltada a obrigação dos pais em zelarem pela educação de seus filhos, sendo a educação colocada como um bem precioso, “fonte de virtude, da felicidade, da opulência e grandeza dos povos”. Ressalta, sobretudo, a importância de deixar a cargo de educar seus filhos, o preceptor (professor). Ele, e somente ele, segundo o artigo, teria a influência moral necessária para educar, nem mesmo o ministro da religião, teria essa capacidade. Nessa matéria, a missão do mestre é elevada, dele dependeria o “desenvolvimento das qualidades nascentes de uma alma tenra”. Ressaltam também quais devem ser as qualidades do mestre, devendo este ter conhecimento e habilidade de comunicá-los: [...] além ser dotado de costumes virtuosos e irrepreensivos, da incansável paciencia, na certeza de que, não fazendo uso dessas qualidades, não só deixa imperfeita a educação, que lhe confiarão, como levanta obstáculos inseparávéis aos esforços do pedagogo espiritual, a quem incube inspirar a juventude, por meio da máximas da religião. Ao se produzir a idéia de que somente o mestre é capaz de ensinar com clareza e perfeição um “bem tão precioso” para a vida da criança e, conseqüentemente, da sociedade, vai produzindo-se também a idéia de que a família não tem condições de exercer com êxito tal tarefa, por não dispor das condições necessárias para garantir uma boa educação aos seus filhos. Fica evidente, nesse momento, que se produzia um discurso no qual a família é desqualificada para a função que até então vinha exercendo. Mais que isso, percebe-se, sobretudo, a construção de estratégias que visavam produzir a necessidade do professor como uma condição essencial para a organização da instrução. A partir de então, construiu-se 10 Esse mesmo artigo havia antes sido publicado no jornal Panorama, em Portugal, para os pais de família. 104 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 um modelo de professor que deveria ser formado. Também foram produzidas determinadas características e atribuições que caberiam àquele que seria o “sujeito autorizado a formar as novas gerações” (Faria Filho, 1996). Segundo Muaze (1999), ao discutir a descoberta da infância no século XIX, mesmo algumas famílias preferindo a educação doméstica devido à baixa qualidade das escolas, havia por parte dos pais a intenção de educar melhor os filhos11. A escola foi lentamente considerada fundamental para a educação das crianças. Organizando os espaços e aproveitando o tempo: a questão dos métodos de ensino No decorrer dos anos de 1830, a idéia de que a instrução escolar atenderia de forma efetiva o objetivo de moralizar e educar o povo é afirmada como central. As discussões sobre qual o melhor método de ensino a ser adotado continua a ganhar a atenção dos dirigentes mineiros. O método simultâneo é considerado aquele que melhor atenderia às especificidades da instrução escolar, uma vez que ele permitia que as classes fossem organizadas de forma mais homogênea, ao mesmo tempo em que o professor atenderia a mais alunos de uma só vez, racionalizando desta forma o tempo escolar. Os conteúdos seriam organizados em diversos níveis e a turma dividida em cinco divisões e oito classes. A defesa do método simultâneo é realizada principalmente pelo professor Francisco de Assis Peregrino que, após assinar contrato com o governo da província mineira, passou dois anos na França para se instruir no método de ensino que lá era ensinado12. O edital do contrato foi publicado em O Universal no dia 29 de abril de 1835. Aqueles que fossem con- 11 Mariana Muaze (1999) demonstra que a instrução infantil, ao longo dos oitocentos, viria a se transformar em um elemento de diferenciação social. Segundo a autora, a instrução infantil tinha que acompanhar o processo civilizador pelo qual a boa sociedade e o Império ambicionavam passar. 12 Este contrato foi estabelecido pela lei n.13. instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 105 tratados deveriam instruir-se no método de ensino “mais expedito e ultimamente descoberto”, e nas matérias definidas pela legislação em vigor. Os candidatos deveriam também estar versados ao menos na gramática da língua nacional, latina e francesa, provando por documentos a regularidade de sua conduta. O governo assegurava aos candidatos por dois anos um subsídio anual de seiscentos e oitenta mil réis, além de uma ajuda de custo para a viagem de ida e volta. Ao final dos dois anos, os candidatos voltariam e ficariam obrigados a estabelecer escolas de primeiras letras, ficando obrigados a regê-las por um espaço de dez anos. Para tanto, o governo asseguraria a eles um ordenado de oitocentos mil réis anuais. Antes de fazerem os contratos, os candidatos faziam fiança idônea e garantiam a reposição destas quantias caso não comparecessem ao final dos dois anos para assumir os encargos determinados ou, se mesmo voltando, não quisessem exercer o magistério ou ainda, se não se mostrassem devidamente instruídos nas matérias exigidas e caso abandonassem as cadeiras antes de terminarem os dez anos exigidos, bem como se por omissão, ou irregularidades, fossem suspensos ou demitidos. Ao voltar da viagem em 1839, o professor Francisco de Assis Peregrino escreveu uma Memória na qual propunha a reorganização do sistema elementar de ensino através da adoção do método simultâneo. Assim como para os defensores do método mútuo, também para o professor Peregrino o método individual era cheio de imperfeições, não permitindo um bom aproveitamento do tempo, o que fazia com que os alunos ficassem anos seguidos na escola sem nada aprenderem de útil. Para o professor, o referido método também levava à indisciplina, pois “aquele aluno que acaba a lição não tem mais o que fazer e fica na ociosidade, enquanto o professor se ocupa individualmente de cada aluno”. Ressaltava ainda que o uso de um livro diferente por cada aluno, enviado pelos pais, contendo estes erros de gramática e ortografia e que “não interessam a mocidade, causando-lhe muitas vezes prejuízos”, era muito prejudicial para o bom andamento da instrução primária. Na Memória, o tempo gasto em cada método é detalhadamente calculado pelo professor Peregrino. Ele atribui ao método individual, por causa da sua morosidade, a razão pela qual o sistema público de ensino 106 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 não apresentava os resultados desejados. A ociosidade em que se encontravam os alunos é também por ele criticada. Mesmo imaginando uma escola com todas as condições favoráveis, com um bom professor e o número ideal de alunos, ele não vê possibilidades de o método individual conseguir bons resultados para o sistema de ensino. A partir de tal constatação, o professor Peregrino passa a defender o método simultâneo como aquele que melhor atenderia as necessidades da província mineira. Ao iniciar a defesa do método simultâneo, Peregrino assim se expressa: Não haverá pois um meio de melhorar o systema de ensino, e de economizar mais o tempo, fazendo que um certo número de alumnos aproveite da mesma lição sendo elles classificados em grupos conforme seus graos de inteligência, e estabellecendo-se nesses grupos ou classes uma emulação de cada instante? Em seguida, o professor passa a descrever detalhadamente o método simultâneo. Na descrição feita pelo professor Peregrino a respeito do método defendido, a eficácia deste estava diretamente relacionada ao melhor aproveitamento do tempo escolar, tanto pelos professores, quanto pelos alunos. A análise do documento reafirma que naquele momento de instituição do sistema de ensino público primário em Minas Gerais, as formas de delimitação, organização e utilização do tempo eram as principais questões a serem resolvidas para o bom andamento da instituição escolar. O estabelecimento do método simultâneo somente se torna possível com a produção de materiais didáticos pedagógicos, como livros e cadernos para os alunos e a disseminação paulatina de materiais como o quadro-negro, que possibilitam ao professor fazer com que diversos grupos fiquem ocupados ao mesmo tempo. Sobretudo, o pleno estabelecimento do método terá que esperar a construção de espaços próprios para a escola, o que ocorrerá, no Brasil, apenas na última década do século XIX. Nos meados da década de 1840, com o objetivo declarado de unir o método simultâneo, o mútuo e algumas partes do individual, com todas as vantagens de cada um e “retirando os defeitos que neles havia”, foi criado o método misto. Esse método parece ter sido definitivamente escolhido instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 107 para ser ensinado na Escola Normal de Ouro Preto, no final dos anos de 1840, conforme nos indica a análise dos exames realizados pelos professores que a freqüentavam. Essas provas, realizadas entre os anos de 1846 até 1850, nos permitem confirmar como os métodos de ensino ganham centralidade na formação daqueles que seriam os futuros professores. Percebemos, que tanto o discurso da necessidade de instruir a população e organizar um sistema público de ensino, como o discurso da necessidade da formação de habilidades e saberes específicos que o professor deveria ter para ingressarem na carreira do magistério público primário, já estava cristalizado na década de 1840. Nos ofícios avulsos, dirigidos a professores e delegados literários, encontramos a exigência para que os candidatos ao magistério e aqueles que já se encontram exercendo a função obtenham o mais rápido possível sua habilitação na Escola Normal da capital. Como nos mostra o trecho abaixo: Sendo indispensável que Vme. se mostre convenientemente habilitado nas matérias de que trata o artigo 7º da lei nº 13, afim de que possa ser titulado professor substituto na Aula Normal nos termos do artigo 8º da mesma lei, resolvi marcar lhe para esse effeito o prazo de dous mezes, ficando na intelligencia de que dentro delle não requerer os necessários exames, e não apresentarem os documentos necessários para obeter o provimento, não podera comntinuar no exercicio, e nem ser pago do ordenado [códice 360, 1844 – Arquivo Público Mineiro]. As discussões sobre os métodos de ensino no Brasil, como pudemos observar, vai processar-se no entendimento dos métodos como uma forma de organização da classe e dos tempos escolares, e não necessariamente como uma forma de ensinar. Essas discussões estarão presentes dessa forma dos meados da década de 1820 até os meados da década de 1870, quando então se estabelecem novas reflexões advindas da defesa do método intuitivo13. 13 É a partir das discussões sobre o método intuitivo, no final do século XIX, juntamente com as discussões advindas da psicologia e da biologia, que se iniciam as discussões sobre a relação ensino-aprendizagem. 108 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Até aqui tratamos especificamente das discussões sobre o melhor aproveitamento dos tempos escolares. Outra questão que ganha destaque nesse momento é a preocupação com a organização do espaço escolar. Ao se constituir e construir a especificidade da forma escolar, com seus tempos, sujeitos e modos de organização, transmissão de conhecimentos, na produção de um modo de socialização específico da escola. A organização é pensada de forma detalhada, sendo considerada primordial para que a eficácia do método adotado fosse garantida. O domínio do espaço escolar pelo professor, através da organização eficaz deste, vem somar-se ao domínio dos métodos de ensino, proporcionando um melhor aproveitamento do tempo escolar discutido anteriormente, devendo estes formar um conjunto das novas habilidades do professor que atuaria no sistema de ensino de primeiras letras. O professor Peregrino, ao propor um plano para melhorar a instrução pública em Minas Gerais, também trata desta questão, afirmando a importância da organização do espaço no processo de organização da instrução pública nas primeiras décadas do século XIX. Como apontam Viñao Frago e Agustín (1998), o espaço escolar não é neutro, ele também educa. O espaço é todo organizado de forma que garanta a eficácia do método seguido e ao mesmo tempo para educar. Na proposta feita pelo professor Peregrino, o espaço é organizado de forma que as janelas não levem o aluno a se distrair olhando para o que acontece nas ruas. A cor das paredes e o tipo de chão utilizado são pensados para propiciar um ambiente mais higiênico, afinal essa era uma clara preocupação no século XIX. Nas paredes, são ainda espalhados letras do alfabeto, os sons e articulações mais utilizados na língua pátria, máximas de moralidade, retrato do imperador e outros detalhes que visavam contribuir para o processo de educação, moralização e civilização dos alunos. O professor Peregrino detalha como deve ser o local onde é estabelecida a escola. Para ele, devia-se geralmente escolher para estabelecimento de uma escola uma casa que esteja em lugar bem elevado, e bem arejado, que seja colocado no centro da povoação, ou “Distrito que pertencer a escola, porque assim se facilita mais a frequencia dos alumnos”. Segundo ele, “a casa deve ser de tal sorte construída, que os instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 109 alumnos estando em suas classes, tenham a sua esquerda ao Nascente, donde receber a luz”. Para Escolano (1998, p. 28), não apenas o espaço-escola, mas também sua localização, a disposição dele na trama urbana dos povoados e cidades, tem de ser examinada como um elemento curricular. Nesse momento, a escola, instituição em construção, localizava-se em casas e igrejas, guardando ainda uma certa intimidade familiar com o mundo privado. Eram escolas isoladas, estruturadas para atender a determinadas finalidades domésticas ou religiosas, por exemplo – e traziam consigo símbolos, signos, sensibilidades e valores próprios deste mundo. As formas, as dimensões da sala, o pavimento, o teto, as paredes e janelas são também pensados de forma que possam contribuir para a boa aprendizagem dos alunos e para que esses não se distraiam com as coisas que se passam na rua. O professor aconselhava que na parte superior das paredes se traçassem as letras do alfabeto, os sons e articulações mais usadas na língua pátria, algumas sentenças notáveis, ou máximas de moralidade, e finalmente os algarismos numéricos, tudo em grandes caracteres bem talhados e de diferentes formas. Cada detalhe é definido a priori. A localização dos armários, do quadro-negro e do honorífico, a pêndula, a tábua de marca (usada para avisar ao professor que o aluno irá retirar-se da sala momentaneamente), a talha, as mesas, os bancos, as ardósias, todos esses objetos têm seus usos e locais prescritos. Também a posição do professor no estrado mostra como a organização do espaço é articulada para afirmar hierarquicamente a posição assumida pelo professor. Mesmo no método mútuo, no qual este conta com ajuda dos monitores, essa localização não deixa que se pense que o professor não tem mais o controle sobre o processo educativo. A cadeira do professor deveria estar sob uma eminência de dois palmos, que era feita por meio de um estrado de dois degraus. Este estrado ocupa um espaço de 12 palmos de comprimento, e nove de largura. Deve ser colocado em uma das extremidades da sala, e de tal sorte que o professor, estando assentado em seu lugar, tenha à sua frente todos os alunos voltados para si. As formas silenciosas de ensino que se pretendia na primeira metade do século XIX estão marcadas de formas bem definidas. A promoção 110 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 do melhor aluno é definida pela marca de prêmio e pelos escritos de punição. A questão da religião é também pensada ao se organizarem os espaços. Cada escola deveria ter “na parede, e acima da cadeira do professor um crucifixo, e o retrato do Imperador. Em um paiz que tem a religião, e forma de Governo do Brasil não seria preciso uma grande dissertação para saber-se o effeito moral d’estes dous objectos”. A vigilância em relação aos hábitos de higiene, a perda de tempo que ir ao banheiro poderia acarretar, bem como a possibilidade de não controlar o que acontece na latrina, podendo isto trazer males à moral dos alunos, fez com que esse lugar fosse detalhadamente pensado pelo professor Peregrino ao escrever a Memória. O espaço escolar, como afirmam Viñao Frago e Agustín (1998, p. 69), não é, pois, um contenedor, nem “um cenário”, mas sim “uma espécie” de discurso que institui em sua materialidade um sistema de valores, e de marcos para o aprendizado sensorial e motor e toda uma semântica que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e ainda, ideológicos. Em suma, como a cultura escolar, da qual forma parte, “uma forma silenciosa de ensino. Qualquer mudança em sua disposição, como lugar ou território, modifica sua natureza cultural e educativa. Considerações finais Como podemos perceber através das reflexões feitas até aqui, e como chama atenção Faria Filho (1999b), a instituição escolar não surge no vazio de outras instituições, como muitos textos querem nos fazer crer. Os defensores da escola e de sua importância no processo de civilização do povo tiveram que “lentamente deslocar tradicionais instituições de educação e instrução, apropriando-se, remodelando ou recusando a tempos, a espaços, a conhecimentos, a sensibilidades e a valores próprios às mesmas”. Mas não apenas isso, “a escola teve também de inventar, de produzir, o seu lugar próprio, e o fez, também em íntimo diálogo com outras esferas e instituições sociais” (p. 127). Era clara a necessidade de estender as possibilidades de acesso da população à escola. A preocupação se dava, sobretudo, em relação aos instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 111 rudimentos do ler e escrever, estendendo-se, porém, aos homens livres. Ao estudar a instrução escolar em Minas Gerais no século XIX, podemos afirmar que a maior preocupação daqueles que estavam no poder era quanto à melhor forma de utilização do tempo. Esta questão, estando no cerne da modernidade, não poderia deixar de ser um aspecto central no interior dos processos de escolarização. Uma melhor e mais eficiente organização e utilização dos tempos escolares foram a grande preocupação daqueles que estavam envolvidos na discussão sobre o processo de escolarização no século XIX e que defendiam a centralidade da escola na vida nacional, na formação de um povo ordeiro e civilizado. As determinações sobre os conteúdos escolares estavam intimamente relacionados à organização e à utilização dos tempos escolares e, em decorrência, relacionados aos métodos pedagógicos, e ainda, mais especificamente, à organização das turmas e das classes. Trazendo aqui o conceito de discurso fundador de Orlandi (1993), podemos dizer que as discussões sobre os métodos de ensino e, conseqüentemente, sobre o melhor aproveitamento do tempo, dos espaços escolares e da organização do sistema público de ensino, iniciam um discurso fundador sobre a necessidade de formação dos professores. A formação dos professores não mais será pensada a partir da década de 1820, até as primeiras décadas do século XX, sem que se discuta a questão dos métodos de ensino. A legitimidade da formação do professor será conferida através do domínio que este possuía em relação ao tempos e espaços escolares. As discussões sobre os métodos de ensino, que enfocavam a questão da organização da classe, do espaço e o papel do professor como agente e organizador da instrução, vai ao mesmo tempo produzir a necessidade da formação do professor para o sistema de ensino que se pretendia organizar. Referências Bibliográficas BASTOS, M. H. C. (1999). “A formação de professores para o ensino mútuo no Brasil: o curso normal para professores de primeiras letras do Barão de Gerando (1839)”. In: BASTOS, M.H. & FARIA FILHO, L.M. de (orgs.). A escola 112 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 elementar no século XIX.O método monitorial/mútuo. Passo Fundo, EDIUPF, pp. 239-270. FARIA FILHO, L. M. de (org.) (1999a). Pesquisa em história da educação. Perspectivas de análise. Objetos e fontes. Belo Horizonte, HG Edições. . (1999b). “Estado, cultura e escolarização em Minas Gerais no século XIX”. In: SOUZA, M. C. C. de & VIDAL, D. G. (orgs.). A memória e a sombra . A escola brasileira entre o Império e a República. Belo Horizonte, Autêntica. . (2000). “A instrução elementar no século XIX”. In: FARIA FILHO, L.M. de; LOPES, E. M.T. & VEIGA, C. G. (orgs.). 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte, Autêntica. JORNAL O UNIVERSAL, Ouro Preto. Edições: julho de 1825 a junho de 1842. MATTOS, I. R. (1996). O Tempo Saquarema. A formação do Estado Imperial. Rio de Janeiro, ACCESS. MINAS GERAIS. (1828-1852). Relatórios de Presidente de Província. Arquivo Público Mineiro. . Lei n. 13 de 28 de março de 1835. Livro das Leis Mineiras. Arquivo Público Mineiro. . Instrução Pública (1839). Ofícios de professores primários ao governo da Província. SP N. 236. Arquivo Público Mineiro. . (1839). Memória. SP N. 236. Arquivo Público Mineiro. . (1839-1840). Portarias da Presidência aos Delegados Literários. SP N. 267. Arquivo Público Mineiro. . (1841-1850). Ofícios sobre Instrução Pública. SP N. 360. Arquivo Público Mineiro. . (1841-1843). Ofício do Governo sobre Instrução Pública e Delegados Literários. SP N. 304. Arquivo Público Mineiro. . Lei n. 311 de 8 de abril de 1846. Livro das Leis Mineiras. Arquivo Público Mineiro. . (1846-1850). Originais mais pareceres e atos relativos a exames de Instrução Pública. SP N. 392. Arquivo Público Mineiro. . Lei n. 1.769 de 8 de abril de 1871. Livro das Leis Mineiras. Arquivo Público Mineiro. instrução pública e formação de professores em minas gerais (1825-1852) 113 MUAZE, M. de A. F. (1999). A descoberta da infância a construção de um habitus civilizado na boa sociedade imperial. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. ORLANDI, E. P. (1993). Discurso fundador. A formação do país e a construção da identidade nacional. Campinas, Pontes. VIÑAO FRAGO, A. & AGUSTÍN, E. B. (1998). Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura como programa. Rio de Janeiro: DP&A. 114 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 O ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula Clarice Nunes* Os principais destinatários deste artigo são os professores de história da educação e estudantes dos cursos de graduação em pedagogia. Seu objetivo é refletir sobre o ensino da história da educação a partir do processo de aprendizagem da própria autora nessa área de conhecimentos e do modo como mobilizou o que aprendeu no ensino. Para tanto, relaciona sua experiência vivida com experiências discentes escolhidas. Torna viva a voz do aluno, através de depoimento de arquivo privado e de um dossiê escolar. Os efeitos da ação do professor sobre o estudante são trabalhados pela analogia dos ensinos da história da educação e da pintura. As finalidades da história da educação, as dificuldades discentes, a seleção de conteúdos básicos e algumas situações de aprendizagem são discutidas com o intuito de mostrar como múltiplos sentidos são construídos na sala de aula por meio da interação pedagógica. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO; ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. This article was written focusing education history professors and students of pedagogy courses. Its purpose is to present a reflection on the teaching of education history by taking into account the author’s self-learning process in that knowledge area, and the way she put into action what she learned when teaching. She relates her own living experience with selected student’s ones. Through a private file report and a school dossier, she makes the student’s voice alive. The teacher’s action effects upon the student are apprehended by the analogy between education history and painting teachings. The history education goals, the student difficulties, the selection of basic contents and some learning situations are discussed with the objective of showing how multiple senses are built in the classroom through the pedagogic interaction. HISTORY OF EDUCATION; TEACHING OF HISTORY OF EDUCATION. * Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá. Pesquisadora associada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. 116 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Hay que aprender a ver en los “huecos” de las cosas que mueren y escuchar en los silencios de las voces que se apagan. Ramón Soler Apesar do abalo provocado pela crítica à modernidade e mesmo da sua crise no século XX, nós, educadores, não abandonamos a crença de que educar é preciso e de que, como tantos de nós já afirmaram, da educação ninguém escapa. Não escapamos também de vivenciar, nas salas de aula, a insatisfação com os modelos explicativos que usamos; a dificuldade em lidar com o campo de representação do passado, bastante alargado pelas pesquisas recentes; a luta contra a banalização, o aligeiramento e a simulação do passado pela tirania dos mass media que, através dos filmes, das novelas, de programas jornalísticos impõem o império dos acontecimentos e recriam epopéias destinadas ao consumo, atraindo nossos alunos e afastando-os cada vez mais das narrativas históricas escritas e verbais. O curioso é que esse mal-estar persiste num momento em que a história da educação que produzimos se ampliou e se enriqueceu. A constatação dessas dificuldades não precisa necessariamente imobilizar-nos desde que as encaremos como elementos que interrogam as nossas escolhas teóricas, as nossas narrativas e o nosso papel social. O ensino, como qualquer outra atividade considerada profissional, depende das pessoas nele envolvidas e da situação em que se inserem. Os saberes sobre os quais se apóiam são sempre fragmentários e provisórios, o que evidencia não necessariamente deficiências, mas características que escapam ao imperativo de qualquer ordem racional preestabelecida e que determinam aspectos fundamentais da experiência vivida. Como adverte Octavio Paz: Creo que el fragmento es la forma que mejor refleja esta realidad en movimiento que vivimos y somos. Más que una semilla, el fragmento es una particula errante que sólo se define frente a outras partículas: no es nada si no es una relación [1970, p. 1]. o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 117 O que faz um professor quando ensina? Convida alguém a aprender algo sobre alguma coisa a partir do repertório que ele mesmo forjou de conteúdos, abordagens, ferramentas, materiais, técnicas, enfim de tudo que faz parte da sua cultura profissional, dos seus modos de fazer. Quando o professor explica está exercendo uma função do ensino que não é exclusivamente sua, já que a possibilidade de explicar também está presente em outros agentes na própria sala de aula, como os estudantes, e em outros contextos e situações por outros agentes que não sejam nem professores nem estudantes. Quando, no entanto, o professor o faz, um amplo conjunto de fatores interfere e o seu modo de fazer vai produzindose em ações nem sempre totalmente conscientes e sistematizadas, mas que podem incluir procedimentos como a separação parcial dos argumentos, sua hierarquização tendo em vista a facilidade da aprendizagem, a citação de exemplos, a localização da idéia dentro de aspectos de um corpo teórico escolhido, a devolução reformulada de uma pergunta com a intenção de clarear o esquema mental que a formulou e outras ações não totalmente planejadas e ou sistematizadas, mas produzidas no calor da interação pedagógica e que não são automaticamente transferidas de uma situação de ensino para outra. Esses procedimentos constituem, no entanto, o enredo aparente de uma exposição dialogada em sala de aula. Enquanto coloca em ação esses modos de proceder, o professor está simultaneamente avaliando, de modo instantâneo e implícito, e em diferentes graus e nuanças, o nível de dificuldade à compreensão que está criando aos estudantes sob sua condução e seus efeitos na recepção da sua mensagem naquele instante; a clareza da sua própria exposição e as necessidades novas que ela cria para si mesmo e para os alunos; suas próprias hesitações e dúvidas. Ele está trabalhando, portanto, no lado oculto do aparente. A explicitação dessa face oculta ainda não esgota o que está acontecendo na interação pedagógica. Esta ainda abriga mais uma face: o oculto do oculto. Nesse nível, o professor está ajudando os estudantes a internalizarem algumas funções que ele mesmo aprendeu e desempenha para que seus alunos se tornem, eles próprios, professores de si mesmos. Que funções são essas? A organização do pensamento, as habilidades de compara- 118 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 ção, análise e síntese, a imaginação pedagógica, a capacidade de seleção da informação e resolução de problemas, a construção de uma compreensão e da sua comunicação. Essa intenção múltipla e delicada, realizada no oculto do oculto, faz toda a diferença e está no coração do conceito de autonomia da relação ensino-aprendizagem. Esse lado oculto do oculto só é acessível, no entanto, através do vivido, do que seduz e atrai o aluno para a atmosfera pedagógica que o professor propicia em sala de aula. Quando ensina, o professor produz efeitos para além do próprio ensino e, qualquer que seja o seu estilo, caminha por dentro de uma dupla tensão: de um lado, cultiva, reformula, desenvolve os saberes que legitimam suas práticas educativa e pedagógica; de outro lado, abdica do que sabe (mesmo que em parte) com o intuito de abrir novos espaços de saber para si mesmo e facilitar, para o outro, a realização do seu próprio movimento, que restitui o que lhe foi expropriado: o reencontro consigo mesmo e com o prazer de aprender, a religação entre afeto e razão, a competência de formular questões e procurar respostas às indagações fundamentais que o afligem como ser humano, social e histórico. Ele trabalha, portanto, na elaboração de um contra-poder que pode, se exercido de modo radical, colocar em xeque o que ele mesmo se tornou. Como a pintura a que se dedica o artista, o ensino do professor em sala de aula, embora previsível, contém algo impalpável, mas efetivo: o gesto de ensinar. Esse gesto fluido, mas decisivo, é aquele momento em que se opera o encontro do estudante e do professor com o conhecimento produzido e com um modo de aprendê-lo. Modo esse que, apesar da imposição de uniformização e homogeneização dos espaços e dos tempos escolares, ainda não é totalmente conhecido, muito menos partilhado. A aprendizagem e o ensino configuram-se numa complicada urdidura na qual se articulam o conhecimento existente, o funcionamento cognitivo individual e os processos sociais de transmissão dos saberes. Não existe uma relação linear e automática entre os processos de ensino e aprendizagem, como tendemos a acreditar. Geralmente, focalizamos mais o ensino do que a aprendizagem. Se muito já se escreveu sobre o ensino, muito pouco se escreveu sobre o ensino da história da educação, muito menos ainda sobre como se aprende essa história. o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 119 Todo professor reflete sobre seu trabalho. Eu mesma, no meu processo de reflexão, dediquei-me a investigar a história da história da educação (1992, 1995b e 1996). Não voltarei a esses estudos, porém. Meu objetivo neste texto é focalizar o ensino da história da educação pela perspectiva do meu próprio processo de aprendizagem e de como certos aspectos desse processo vêm interferindo no meu modo de ensinar e de compreender como se opera o ensino. Não se trata enfaticamente de um depoimento, mas mais propriamente de um ângulo que considerei pertinente e estimulante para trabalhar o tema e que me permite dar forma e publicizar um legado que permanece invisível, mas que constitui também o patrimônio de quem se dedica desde 1974 a investigar esta área de conhecimentos e a publicar os resultados de suas pesquisas. Esse patrimônio não é apenas produto de meus esforços isolados, mas também, e principalmente, o resultado da minha inserção num investimento coletivo, já que foi constituído a partir de inúmeras relações travadas em todas as instituições que trabalhei esses anos, públicas ou privadas, confessionais ou não. Discorro sobre o ensino da história da educação como uma bagagem construída nas inúmeras salas de aula pelas quais passei, nas bancas de concursos e defesas de dissertações e teses, nas reuniões de professores e suas intermináveis discussões sobre currículo e propostas de reformulação de cursos, nas conversas informais com colegas e alunos nos corredores e nas mesinhas de bar, nos empréstimos de livros, nas estantes das bibliotecas, nos arquivos privados e públicos, na militância das associações docentes. Apesar de a minha experiência profissional incluir a graduação e a pós-graduação, privilegiei, neste texto, como principais interlocutores e destinatários, os professores de história da educação e estudantes dos cursos de graduação em pedagogia. Esse texto não tem a pretensão de ser definitivo, nem tem o propósito de oferecer prescrições. Inspiro-me na atitude do genial pintor espanhol Goya (1746-1828) que, em suas telas, retratou os eventos do seu tempo e denunciou, através da arte, sem qualquer intuito moralizador e doutrinador, problemas ainda atuais: as injustiças sociais, a crueldade física e psicológica, a violência. Ao retratar a cultura da sua época e os desvarios e sonhos humanos foi, ao mesmo tempo, transformando sua 120 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 observação e encontrando-se na própria pintura. Nesse exercício, ampliou seus conteúdos temáticos e transformou os problemas de técnica no problema maior das formas expressivas. Ele que, sabendo tirar partido das próprias limitações, transformou o tremor das suas mãos envelhecidas em técnica que extraiu intensidades peculiares das suas pinceladas. Ele que, às vésperas da morte, aos 81 anos, foi capaz de escrever, num desenho, ao lado de sua assinatura: Aún aprendo. Bagagem remexida Explicitar a própria experiência adquirida no ensino não é uma tarefa simples, muito menos tranqüila. Em diversos momentos, ao escrever este texto, a minha sensação foi a de tentar conter o mar numa xícara de chá. Remexer a bagagem me fez compreender melhor a resposta que Pedro Nava deu a uma repórter, quando foi provocado a dizer algumas palavras às novas gerações. Com toda a simplicidade, ele respondeu: “Nada tenho a dizer!” Diante da insistência da moça, acrescentou o que cito de memória: “Minha filha, a experiência vivida é um farol que ilumina para trás! O que a juventude tem diante de si é o futuro”. Aí está um ponto nevrálgico que explica, em parte, as resistências que encontramos quando ensinamos história da educação e que se traduzem na mesma pergunta que Paul Ricoeur fez a si mesmo quando, assumindo a perspectiva de um estudante de segundo grau entediado com a história (e a geografia), procurou entender o que provocava esse tédio. Como ligar o ensino da história às inquietações do presente e às preocupações com o futuro que os jovens experimentam? (Ricoeur, 2002). Diante da sua “platéia cativa” o que faz um professor de história da educação? O que afeta o que ele faz? Como faz? A palavra fazer parece simples, mas não dá conta das múltiplas possibilidades do que se faz e do como se faz, nem da complexidade da relação entre ambos os aspectos. O ensino da história da educação é um campo de dissenso por conta dos múltiplos paradigmas que abraçamos com relação à educação e às opções que defendemos com relação às teorias da história. É um campo onde se toma partido e, por isso mesmo, exige a apresentação de alter- o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 121 nativas diferentes das nossas próprias para que os estudantes possam confrontá-las. No entanto, qualquer que seja nosso compromisso político e ideológico, o fato é o de que só promovemos a aprendizagem a partir de práticas significativas. Mas o que é uma prática significativa? É aquela que desinstala, que reorganiza a nossa estrutura de conhecimento e nos mobiliza para a ação. É aquela que repercute interiormente do ponto de vista dos afetos e da cognição. Flagrantes de um itinerário Comecei a ensinar história da educação de um lugar pouco confortável: o do desamparo. Nunca havia lecionado essa disciplina para a graduação, mas sempre há uma primeira vez. Só é possível pesar a angústia de não saber pelo investimento na direção do saber, o que se explicita pelo itinerário de leitura de um educador, das horas que dedicou a esse exercício, fazendo-se um leitor que não somente seja capaz de ler o texto, mas ler-se nele. Curiosamente, esse lugar aproxima professores e alunos, apesar das inúmeras tentativas desajeitadas de professar o que se aprende. A aprendizagem no ensino foi sendo um processo de descoberta de um sujeito dividido, mas entusiasmado. Quem não comete desacertos? Claro que os cometi, mas aprendi a lidar com o medo de errar e reconstituí minha própria trajetória refletindo, a partir do não saber, procurando compreender a tríplice alienação (psicológica, social e política) a que foi submetida a minha geração pelo regime autoritário instalado a partir de 1964 (Nunes, 1987). Havia certo conhecimento prévio. Nele foram decisivas as leituras de sociologia da educação, disciplina da qual fui monitora no período de minha formação pedagógica, e que, posteriormente, lecionei para a graduação em cursos de formação de professores de instituições privadas em São Paulo. Minha trajetória no ensino de história da educação teve, portanto, como introdução, o estudo sociológico da educação. Durante boa parte da minha experiência profissional os vínculos entre a sociologia e a história da educação permaneceram, o que me propiciou idas e vindas freqüentes entre esses dois campos de conhecimento, ex- 122 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 pressas também na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado. A sociologia da educação a que me refiro era aquela apoiada na Teoria da Dependência e na Teoria da Reprodução, como por exemplo os trabalhos de Manfredo Berger (1976), Pedro Garcia (1977), Baudelot e Establet (1976), Bourdieu e Passeron (1975), Luiz Antonio Cunha (1975), ou então sociólogos, como Bárbara Freitag (1977) que, na revisão das teorias da educação mais conhecidas, incorporava Althusser e Antonio Gramsci. A maioria dessas leituras contribuiu para fazer ruir as representações vulgares acerca das instituições pedagógicas, mas também provocou, em professores e estudantes, sentimentos de indignação, impotência e pessimismo. Colocava-se, no entanto, como pensamento alternativo à hegemonia dos estudos apoiados na Teoria do Capital Humano, cujos temas privilegiavam a educação como investimento, seus custos e as relações entre mercado de trabalho e formação profissional e dos trabalhos inseridos numa postura pedagógica tecnicista, preocupada com modelos pragmáticos-utilitários que primavam por enfatizar propostas de avaliação de cursos, de currículos, recursos audiovisuais etc. A escolha dessas leituras sinalizava o desejo de romper com o pensamento pedagógico dominante, denunciando o caráter seletivo, excludente, reprodutor, autoritário e dominador das ações educacionais e condicionando toda mudança educativa a uma transformação estrutural da sociedade. A questão que mobilizava a discussão naquele momento era como compreender a transposição dos padrões educacionais de um país hegemônico para um país periférico. A Teoria da Dependência procurava mostrar como, no plano da sociedade subdesenvolvida, a educação (tanto a intencional como a não intencional) tinha a função de reforçar as demandas simbólicas das classes dominantes e dominadas, reproduzindo uma estrutura social determinada e como, no plano externo, se exercia a dominação da nação hegemônica sobre a periferia (Garcia, 1977, p. 105). Nessa linha de pensamento, surgiram várias dissertações de mestrado e algumas teses de doutorado com propostas de investigação histórico-sociológica, publicadas no final da década de 1970 e no início dos anos de 1980. Duas leituras foram decisivas para mim nesse o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 123 período: Educação e desenvolvimento social no Brasil (1975), de Luiz Antonio Cunha, e Escola, Estado e sociedade (1977) de Bárbara Freitag. A primeira obra, fruto de pesquisas desenvolvidas pelo autor desde 1972, teve grande aceitação nos cursos de pedagogia e foi bastante utilizada em concursos, citada em outros livros, dissertações e teses. Este êxito se deve, segundo Carlos Roberto Jamil Cury, ao fato de que o autor efetuava o rompimento com o caráter abstrato predominante dos tradicionais textos de sociologia da educação, permitindo que os leitores reavaliassem sua visão da escola como via de ascensão social (Cury, 1981, pp. 155-156). Como Luiz Antonio Cunha afirmou, sua inspiração reprodutivista havia sido forte e perceptível no seu livro através das categorias de reprodução, dissimulação e inculcação. A Teoria da Violência Simbólica, de Bourdieu e Passeron, permitiu-lhe preencher o vazio que suas outras fontes inspiradoras deixavam a respeito dos aspectos que pretendia estudar, além de permitir, pela vertente weberiana de A reprodução (1975), a incorporação da sociologia da educação de Otávio Ianni, Marialice Foracchi e Luiz Pereira (Cunha, 1981, pp. 125-127)1. Ora, esses autores foram os que li quando monitora de sociologia da educação. Eu encontrava, portanto, nessas leituras, um ambiente de reconhecimento que me facilitava a elaboração das primeiras reflexões sobre a pedagogia. De fato, foi pelas mãos de Luiz Pereira e Marialice M. Foracchi, na quinta edição do seu livro Educação e sociedade: leituras de sociologia da educação (1970), que tive contato, pela primeira vez, com três autores marcantes na minha peregrinação de leitora: Anísio Teixeira, Antonio Candido e C. Wright Mills. Já no final da década de 1970, a crítica à política educacional de Bárbara Freitag sacudiu os educadores. Mais importante do que sua retrospectiva histórica da educação, ou a análise da política educacional dos anos de 1960 e 1970, era o seu “quadro” teórico que considero a melhor síntese até então realizada sobre o papel e a função da educação nas teorias sociológicas e econômicas. 1 Outras fontes inspiradoras de Luiz Antonio Cunha foram Paulo Freire, os “radicais americanos” Robert Levin e Martin Carnoy. Também, Ivan Illich e Basil Bernstein (cf. Cunha, 1981, pp. 126-127). 124 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Ao lado das leituras da sociologia da educação, fui descobrindo os historiadores da sociedade brasileira como Ilmar Rohloff de Mattos (1994), dentre outros; historiadores da educação, como Jorge Nagle (1973), Vanilda Paiva (1973), Otaíza de Oliveira Romanelli (1978), Eliane Marta Teixeira Lopes (1985), dentre outros; os filósofos da educação, como Durmeval Trigueiro Mendes (1983) e Leandro Konder, que me apresentou a Antonio Gramsci em meados da década de 19802. Meu percurso multifacetado, híbrido, incluiu também leituras de psicologia social (Ecléa Bosi) e de antropologia cultural, influenciada que fui por Roberto da Matta e Alba Zaluar Guimarães (meus professores no curso de mestrado em educação, no inesquecível Instituto de Estudos Avançados em Educação da Fundação Getúlio Vargas) e por colegas queridos como Arno Vogel e Magali Alonso de Lima. No âmbito da antropologia pude realizar, no início da década de 1980, pesquisas que me abriram um leque de autores fascinantes (Erving Goffmann, Howard S. Becker, Gilberto Velho), ampliando meu conhecimento no âmbito das ciências sociais e iniciando-me numa rica experiência de pesquisa que deixou em mim as suas marcas3. O contato com a investigação antropológica antecipou a minha motivação para escrever e ensinar uma espécie de história antropológica, tal qual, assim o entendia, eram produzidos os trabalhos de certos historiadores que ia lendo por sugestão de Ilmar Rohloff Mattos. O que constituía o fazer de Lucien Febvre (1956), Robert Darnton (1986), Georges Duby (1987), E. P. Thompson (1989) para mim, naquele momento, poderia ser definido pelo esforço que representa, nas 2 3 Durante uma disciplina realizada sob a condução de Leandro Konder, na PUC– Rio, acabei produzindo um texto sobre Gramsci que está citado nas referências bibliográficas no ano de 1990. Esse mesmo texto, com modificações, foi publicado em Cahiers du Brésil Contemporain, Paris, n. 15, pp. 127-149, 1991. Ver Arno Vogel et al., Quando a rua vira casa, Rio de Janeiro, Convênio IBAN/FINEP, 1981; Clarice Nunes, “Lição de vida: aprendendo a ser professor”, Legenda, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 9, pp. 25-43, ago./dez. 1984; Em co-autoria com Maria Aparecida Franco e Sandra Camarão, A construção cotidiana de um perfil: o professor de segundo grau, ANDE, São Paulo, vol. 4, n. 7, pp. 47-51, 1984; Em co-autoria com Maria Aparecida Franco, Hélio Silva e Sandra Camarão, “O papel do professor e sua construção no cotidiano escolar – um estudo sobre o professor de segundo grau no Rio de Janeiro”, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, vol. 66, n. 154, pp. 416-431, set./dez. 1985. o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 125 palavras de Geertz (que as toma emprestadas de Gilbert Ryle), “um risco elaborado para uma descrição densa” (Geertz, 1978, p. 15). Essa trajetória, compreendo enquanto escrevo, foi favorável para que identificasse tanto questões básicas relativas à epistemologia das ciências sociais e da história quanto valores de fundo político e ideológico indissoluvelmente a elas ligados. Ela também me propiciou o enraizamento da leitura em atividades práticas de ensino e pesquisa, já que lia com o intuito de construir respostas às indagações que ia colocando; a flexibilização do pensamento, já que a alternância dos registros me permitia cotejar lugares diferentes da produção de conhecimento, a relação entre eles e deles com as experiências vividas, além de uma atenção focalizada nos pressupostos que fundamentam a construção de diferentes versões dos acontecimentos históricos na perspectiva da educação. Provocou, também, a problematização de algumas análises de autores marxistas e uma abertura maior às interpretações fenomenológicas. Os autores lidos, sobretudo os historiadores citados, ensinaram-me que, ao contrário de um projeto no qual as hipóteses são explicitadas de antemão, o que importava era construir essa explicitação, para que o texto ganhasse movimento e interesse. Nada estaria definido a priori, embora isso não significasse a inexistência de um plano anterior. Escrever a história seria também recriar uma atmosfera (aquela sugerida pelos arquivos), preparando o leitor para o deslocamento de época, espaço, mentalidade. Como traduzir no ensino a sedução da pesquisa? Minha atitude, nas relações que estabeleci com essas leituras, foi a de ouvir com os olhos, buscando entender não propriamente o que diziam as palavras mas o que se dizia entre elas, constituindo meu espaço intelectual, como ponto de encontro de diversas obras com toda a possibilidade de diálogo entre elas, o que pressupunha o jogo das afinidades e das oposições. Criava, portanto, um texto variorum, na expressão de Olinto Heidrun, isto é, cada texto lido era assumido na escrita e não estava sozinho. Gozava da companhia de outros, mesmo que não fossem claramente enunciados (Heidrun, 1996, p. 74). Foi no ensino que filtrei e ordenei o que lia, buscando descobrir a posição de cada obra lida dentro de um conjunto e as peculiaridades de 126 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 cada uma, delimitando um território de saber a partir do qual pudesse lavrar o meu ensino no campo da história da educação. Ainda me recordo do prazer com que trabalhei a disciplina introdução às ciências da educação, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRio), na década de 1980, onde, com base na discussão sobre a pertinência, ou não, de considerar a educação uma ciência, enveredávamos numa venturosa viagem pela história da história, pela história da antropologia, pela história da sociologia, pela história da psicologia, articulando as “descobertas” que fazíamos às aplicações dos conhecimentos dessas áreas de estudo na pesquisa em educação. As obras que li traduzem posições e valores diante do mundo, sinalizando um processo de produção de sentidos que ocorre no plano coletivo e é tecido por uma fisiologia, uma história e uma biblioteca, como propõe Goulemot. O sentido nasce, em grande parte, tanto desse exterior cultural quanto do próprio texto e é bastante certo que seja de sentidos já adquiridos que nasça o sentido a ser adquirido. De fato, a leitura é jogo de espelhos, avanço especular. Reencontramos ao ler. Todo o saber anterior – saber fixado, institucionalizado, saber móvel, vestígios e migalhas – trabalha o texto oferecido à decifração. Não há jamais compreensão autônoma, sentido constituído, imposto pelo livro em leitura. A biblioteca cultural serve tanto para escrever quanto para ler. Chega mesmo a ser, creio eu, a condição da possibilidade da constituição do sentido [...]. [...], assim como a biblioteca trabalha o texto oferecido, o texto lido trabalha em compensação a biblioteca. A cada leitura, o que já foi lido muda de sentido, torna-se outro. É uma forma de troca [...] [2001, pp. 114-116]. A biblioteca cultural, acrescento eu, serve também para ensinar. O processo contínuo e perseverante de troca nas leituras foi tecendo as características do lugar a partir do qual ensino e que pode ser concebido como uma oficina de recriação da produção da história da educação realizada por pedagogos, historiadores, filósofos e sociólogos da educação, que tanto se distinguem pelas suas perspectivas e interesses, quanto se aproximam pelo projeto e pela prática de interrogar fontes especí- o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 127 ficas e outras de diferente natureza (econômicas, políticas, por exemplo). Um lugar que reconhece as fronteiras entre a filosofia, a história e a sociologia da educação como convenções instituídas (Nunes, 1999). Um lugar no qual o desafio de uma epistemologia da história ultrapassa os limites do campo específico de trabalho intelectual dessa disciplina e abre um conjunto de interrogações e um universo explanatório que inclui o conhecimento histórico, mas não se esgota nele (Wehling, 1992, p. 155). Um lugar que, de um lado, depende da problemática que formula e, de outro, das fontes que dispõe. Um lugar decidido por um corte da razão que separa a história da educação de outras histórias e, ao mesmo tempo, a relaciona com outras histórias de sociologias de e/ou filosofias de. Um lugar que surge do cruzamento entre a iniciativa pessoal e a necessidade social. Um lugar que parte de uma posição gnoseológica intermediária entre a universalidade científica e a singularidade inefável (Veyne, 1983, p. 76). O meu processo de aprendizagem partiu da sociologia da educação para a história da educação, com incursões no campo da filosofia, das ciências sociais e da arte4. Esse processo faz parte de um projeto maior (menos visível) de superação da minha própria fragmentação como ser humano. Ainda, aprendi sempre em resposta às necessidades e aos desejos da minha prática na pesquisa e no ensino, seja como monitora, seja como professora de cursos de graduação em pedagogia e cursos de licenciatura (mas não só deles, já que minha experiência profissional inclui a docência em todos os níveis do ensino). Ao mesmo tempo que trabalhei no aprofundamento do conhecimento da história (do levantamento de fontes, das suas teorias, da investigação em arquivos, do pensamento social e educacional brasileiro) caminhava na direção do seu descentramento, isto é, ia compreendendo que qualquer centro é uma 4 Não tive espaço, pelas opções que fiz, de tratar neste artigo das minhas relações com a arte, sobretudo a literatura e a dança, embora a relação com a pintura seja indicada no texto. Estou preparando uma reflexão específica sobre esta questão a ser publicada, em breve, pela editora Cortez. A publicação, coletânea que inclui a participação de diversos educadores, tem o título provisório de Movimento, consciência e educação e está sendo organizada pela professora Julieta Calazans, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 128 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 construção e não um lugar naturalmente instituído. A história da educação seria então um ponto do enredo da cultura humana, estabelecido num ambiente de tensão e luta pela destruição e ou preservação de alguns sentidos, pela construção de outros. Como mobilizei o que aprendi no ensino? É o que pretendo tratar nas próximas seções de uma maneira sucinta, que consegue realçar apenas alguns aspectos e procura levar em conta os destinatários do ensino, suas finalidades, a definição dos conteúdos básicos e de que maneira são ensinados. A interação pedagógica O que define a sala de aula é a interação entre professores e estudantes. Ao interagir com estudantes que não sabem realizar uma reflexão histórica, ou ao menos valorizá-la, sentimo-nos desconfortáveis. Nossa tendência é formular baixas expectativas desses alunos. Criticamos seu inadequado processo de seleção através dos exames vestibulares. Condenamos a estrutura do ensino que inclui programas vastos e tempo diminuto na carga horária dos cursos de pedagogia, as imposições descabidas de coordenadores e/ou diretores em relação a uma efetiva preocupação educativa, e que opõe a aula e o cumprimento do programa a outras situações de aprendizagem que poderiam ser mais vivas, motivadoras e pertinentes ao nível de interesse e de conhecimentos dos estudantes. Abominamos a rigidez e a segmentação da organização curricular, dos calendários e dos processos de avaliação, dentre outros aspectos. Não bastassem todos esses constrangimentos, muitos de nós trabalhamos em mais de uma instituição, lutamos com salários insuficientes e arcamos com as despesas do nosso próprio aperfeiçoamento. Encalacrados entre o que podemos fazer e o que efetivamente conseguimos fazer, sofremos as dores da “síndrome de um trabalho que voltou a ser trabalho, mas que ainda não deixou de ser mercadoria” (Codo, 1999, p. 13). Toda a nossa luta é, portanto, contra a alienação que produz o sofrimento psíquico nas instituições escolares ao provocar a contínua tensão nas relações sociais, no controle da própria atividade desenvolvida e na conexão entre razão e afeto. Quando essas tensões o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 129 não são adequadamente trabalhadas, exaurimos emocionalmente e nos defendemos evitando, tanto quanto possível, o envolvimento pessoal na atividade docente, transformando os alunos em números, esgarçando a relação de confiança, fundamental no processo educativo, lidando insatisfatoriamente com o controle sobre o meio de aprendizagem. Entramos no burnout (Codo, 1999, p. 388). Há os que, depois de conseguirem os mais altos títulos universitários, afastam-se dos cursos de graduação. Há os que permanecem enfrentando as dificuldades de discernir entre os entraves que constituem, de fato, obstáculos intransponíveis ao processo pedagógico e os que são desafios que estimulam o seu avanço. Presos, como adverte Codo (idem, p. 387), a uma “racionalia” predefinida que determina os conteúdos a serem dados e que devem ser assimilados pelos alunos em determinado tempo e seqüência, tornamo-nos vulneráveis às pressões que sofremos dentro e fora da universidade e que repercutem na sala de aula, fragilizando a convivência e a sociabilidade, ambos, em última instância, meios pelos quais ensinamos. Embora reconheça a existência desses problemas e sua seriedade, não vou desenvolvê-los nessa oportunidade5. Problemas, como os de estrutura e organização institucional, são temas de discussão, posicionamento e embate coletivo, mas há outros de nossa integral responsabilidade dentro da sala de aula. Sobre esses últimos, focalizarei a minha análise, convidando os leitores a um exercício de imaginação pedagógica. Essa imaginação nada tem que ver com a ficção, mas com a elaboração de um outro lugar mental e emocional para a resolução de problemas que nos afetam e que passa pela demolição dos nossos estereótipos e preconceitos, sobretudo com relação aos alunos com os quais lidamos. Vale, nessa oportunidade, estar atento à sabedoria daquele provérbio iídiche que afirma que “se nem todos se contentam com a própria experiência, contentam-se, no entanto, com o próprio cérebro”. Infelizmente, somos pri- 5 Para quem quiser se aprofundar na análise desses temas, recomendo a leitura de Wanderley Codo, citado nas referências bibliográficas, e o livro de J. M. Esteve, S. Franco e J. Vera, Los profesores ante el cambio social, Barcelona, Anthropos/ México, Universidad Pedagógica Nacional, Secretaría de Educación Pública, 1995. 130 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 sioneiros de nossas mentes e permanecemos perdidos no labirinto de nossas filosofias, encontrando sempre saídas e respostas que na realidade não permitem nem sair nem responder (Bonder, 1995, p. 40). Não percamos tempo com o conhecimento exaurido. Saibamos, como ensina Febvre, “saber no saber, saber pedir luces”, e olhemos para nossos alunos e para suas dificuldades de um novo modo, como o professor Candido Portinari (1903-1962), por exemplo, que lidava com empatia ao perceber a insegurança dos iniciantes nos concursos de ingresso na Universidade do Distrito Federal. No dia em que apanhou Héris Guimarães copiando o desenho de sua melhor amiga, chegou de mansinho e disse: – Não olha ali, não. Acho que você vai fazer uma laranja como tem que ser, porque você não está viciada. [...] você é aquela pessoa que não sabe nada, acho que você não sabe nada mesmo, mas está bom não saber nada, vem e senta aqui [Guimarães, 1983]. Seriam tão diferentes os problemas que apontamos hoje, daqueles que apontávamos há anos? Na relação com os estudantes, o maior obstáculo que identificamos em sala de aula para desenvolver nossos programas é a ausência do domínio da leitura e da escrita. Tem sido recorrente a nossa queixa de que os alunos não sabem ler, nem escrever. Mas quem são esses alunos? Nos cursos de pedagogia pelos quais tenho passado, seja em instituições públicas ou privadas, encontro, em sua maioria, alunas trabalhadoras (professoras de educação infantil e do ensino fundamental, crecheiras, instrutoras de escolas dominicais evangélicas, comerciárias, bancárias, por exemplo) que fizeram esta opção, não necessariamente por uma possível preferência por essa área de atuação. Muitas das professoras e crecheiras fazem o curso por exigência dos seus empregadores e abrigam a esperança de uma melhoria salarial e ascensão profissional. Encontro estudantes jovens, recém-saídas de escolas de segundo grau públicas ou mulheres maduras, casadas e com filhos. Seus pais têm, geralmente, nível elementar de instrução; poucos concluíram o segundo grau. Em suas histórias de escolaridade são recorrentes episódios o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 131 de repetência, mudança freqüente de instituição escolar e, às vezes, longos períodos fora da escola. Esses eventos também aparecem nas trajetórias dos poucos estudantes homens desses cursos. Quase todos alegam pouca disponibilidade para leituras ou para freqüência aos locais de fruição de cultura, como cinemas ou teatros. Quando não está ausente a motivação para os estudos, faltam-lhes condições materiais. Alguns desses estudantes carregam pesados ressentimentos contra a escola, pois não se sentem pertencendo a esse mundo. Seu conhecimento prévio da história da sociedade brasileira, com raras exceções, é fragmentado e acrítico. Afirma Valéria Moreira6: Stanislaw Ponte Preta, no Samba do Crioulo Doido, casou Tiradentes com a Princesa Leopoldina. Está certo? Está errado? Se fosse prova de história do Brasil a professora dava zero. O samba fez o maior sucesso. Questão de lugar [1989, pp. 30-32]. Se o professor coloca o aluno no lugar do saber desqualificado, o aluno também coloca o professor no lugar do exclusivo responsável pela sua aprendizagem. Ele espera que o professor resolva para ele um problema que é seu. O choque de expectativas é declarado. Podemos revertêlas se mudarmos nossa atitude mental. O professor renuncia à crença de que o conhecimento que o aluno traz, alicerçado nas suas experiências de vida, é de segunda classe, assim como abdica da idealização de uma experiência pedagógica totalmente bem-sucedida para tomá-la como um modelo a ser repetido (Cabrini et al., 1994, p. 15). O aluno abandona a cômoda posição de esperar que o saber chegue até ele e assume a iniciativa de sua aprendizagem. Vamos trabalhar a parte que compete ao professor. 6 Valéria Moreira não cursou pedagogia. Estudou ciências sociais numa instituição tradicional, ainda hoje considerada referência na cidade do Rio de Janeiro. Escolhi sua trajetória com o intuito de evidenciar que as dificuldades e os problemas da interação pedagógica na tarefa de construção do pensamento não estão presentes apenas nos cursos de pedagogia e que os estudantes dos nossos cursos vivem situações similares às de outros mais prestigiados. 132 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 O universitário que está à sua frente é uma pessoa em contínuo processo de alfabetização. Geralmente, produz uma relação mecânica e infeliz com a escrita e não domina o enunciado comunicativo culto. O que classificamos de deficiências mais freqüentes na escrita do aluno, como orações incompletas, falta de articulação dos parágrafos, repetições, abundante uso de conectivos, erros de concordância, pequena utilização da informação disponível etc. são transferências para a escrita das marcas da oralidade, de uma cultura informal e desescolarizada. Ele traz sim um conhecimento prévio sobre a história como matéria escolar e sobre o conhecimento histórico. As características desse conhecimento foram estudadas por Mario Carretero, um autor que tem se dedicado à revisão da literatura internacional sobre o ensino e à investigação das relações entre os aspectos disciplinares, cognitivos e didáticos do ensino das ciências sociais e da história. Esse conhecimento prévio se explicita através da linguagem do aluno, assim como, através dela, evidenciam-se todas as suas dificuldades, dramáticas para os professores de história da educação (mas não só para estes), porque o trabalho no seu âmbito é uma atividade discursiva e de raciocínio (Carretero,1997, p. 23). Afirma Carretero que o conhecimento prévio que o aluno traz é constituído de construções plenas de significado pessoal e que influem na grande resistência que ele tem para modificar suas concepções. Essas construções são implícitas e bastante distanciadas dos conceitos ou interpretações consideradas adequadas pelos professores. Sua força é tão grande que os estudantes lidam com as novas informações de tal maneira que não só se recusam a mudar suas idéias e atitudes sobre os temas estudados, como costumam alterar as informações recebidas para manter suas posições. Essa resistência acontece, diz ele, porque estamos lidando com valores e para estabelecer estratégias didáticas e até admitir que o estudante possa ter a opção de não querer mudar a sua linha ideológica, o professor precisa partir dessa resistência, conhecê-la. Embora se detectem modificações na percepção dos alunos submetidos à ação da escola, pesquisas sobre o alcance da interferência das diferentes posições historiográficas dos docentes nas construções pessoais dos estudantes mostram que, enquanto os professores trabalham com sua visão preferida, os alunos tendem a manter posições positivistas mais moderadas diante do que estudam (idem, pp. 22-23). o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 133 É muito interessante uma tabela que Carretero constrói, apoiado em achados de outros autores, e que revela, num estudo tentativo, os estágios de percepção dos estudantes sobre o trabalho do historiador, as fontes históricas, a compreensão da evidência histórica, a empatia com outros sujeitos no passado (idem, pp. 45-48). Darei um uso diferente às informações dessa tabela, deslocando-as do arranjo proposto. Podemos reconhecer, nos resultados das pesquisas realizadas pelo autor citado junto a adolescentes e jovens europeus, aspectos que, de um modo assistemático, notamos também em nossos próprios alunos. Assim, identifiquei as características do primeiro estágio de percepção do conhecimento histórico dessa tabela no meu contato com alunos dos cursos de pedagogia. Geralmente, os estudantes admitem que a matéria é necessária, às vezes interessante, sempre difícil. Consideram o conhecimento histórico como algo dado. Para eles, o professor diz a verdade porque o que se sabe está correto. Não distinguem evidência de informação e não sabem explicar o que faz o historiador, ou acreditam que seja alguém que lê documentos para simplesmente transmitir o que neles leu (idem, pp. 41-49). O raciocínio que os estudantes trazem para as aulas de história da educação é o da vida cotidiana, tecido sobre situações que têm relevância para eles. É um raciocínio capaz de elaborar argumentos e de contraargumentar usando a linguagem do dia-a-dia. É dinâmico e depende do contexto. Aplica-se a tarefas abertas, criando várias possibilidades de resolução de problemas (idem, pp. 108-109). É desse raciocínio que temos de partir. Nesse ponto, as contribuições da sociologia do conhecimento e da psicologia social muito ajudam à compreensão desse aluno que recebemos em sala de aula, e da interação pedagógica que com ele travamos. As reflexões de Peter Berger e Thomas Luckmann (1978) sobre a construção social da realidade ou o estudo das representações sociais, elaborado por Serge Moscovici (1978), dentre outros, ajudam-nos a redimensionar a importância do senso comum no qual estão mergulhados os estudantes e a compreender as relações entre representações e práticas sociais. As estruturas significantes imaginadas nas representações que os estudantes (mas não só eles) criam sobre o conhecimento produzido e com 134 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 o qual mantêm contato funcionam, nos seus discursos, como hipóteses e intervêm como instrumentos organizadores de conteúdo e operadores de sentido, como esclarece Denise Jodelet (1990). Funcionam como teorias implícitas com uma dupla função: dar conta das operações do pensamento na vida cotidiana e integrar as novidades. O contato entre a novidade e o sistema de representação anterior do sujeito faz com que as representações sejam tanto inovadoras quanto rígidas, às vezes dentro do mesmo sistema, fenômeno que Moscovici denomina de “polifasia cognitiva”. As possíveis mudanças na forma de pensar ocorrem quando uma representação entra em contato com outros sistemas de pensamento através das práticas (Jodelet, 1990, p. 9). Os estudantes ancoram os conhecimentos novos que os professores transmitem sobre posições já estabelecidas. É a partir delas que as novas informações e valores podem tornar-se familiares e a estrutura cognitiva anterior ser superada e ou ressignificada. Se vemos apenas o estudante como um incapacitado porque lhe falta a cultura erudita, deixamos de aproveitar a oportunidade de tomar como ponto de partida o seu raciocínio da vida cotidiana para promover a ruptura com formas mecânicas de pensar o conhecimento histórico e promover o raciocínio denso e abstrato, que leva em conta não apenas os agentes pessoais e suas intenções na produção da história, mas também uma análise da estrutura social na qual sejam incluídas tanto as ações humanas quanto as condições que lhes sustentam. Na nossa tarefa de desconstruir as representações desabonadoras que (in)conscientemente forjamos dos estudantes, reconheçamos que existe um saber que é produzido desde o lugar do aluno, ainda que não legitimado, e se a tentativa de produzir um discurso sobre essa questão é válida, mais relevante é instituir, na prática, um outro aluno, devolvendo-lhe a palavra, sobretudo a palavra escrita. Como diz Valéria Moreira, autora-testemunha da sua trajetória escolar: No ginásio aprendi com Silva, o Joaquim, que Caxias transformou-se no herói da Guerra do Paraguai. Anos depois li em Galeano, o Eduardo, que o Paraguai era, então, o único país independente da América Latina e, pelo fato de sê-lo, se recusava a comprar produtos industrializados da Inglaterra em troca da o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 135 venda de matéria-prima. Pois bem, a Inglaterra armou a maior estratégia e o Brasil, a Argentina e o Uruguai entraram na história de gaiatos. O Caxias saiu herói e o Paraguai ficou arrasado no mínimo porque a guerra deu conta de grande parte da população masculina econômica e sexualmente ativa. O Joaquim conta a história de um jeito, o Eduardo conta de outro e a Valéria só sabe, de fato, que paraguaio odeia brasileiro. A escola, dependendo da conjuntura considera o que Joaquim falou ou o que o Eduardo disse. O que a Valéria sabe, embrulha e joga no lixo. Não é saber. [...] Se fôssemos levar em consideração os indivíduos que constituem as turmas que ano após ano ingressam na universidade, os problemas aí discutidos seriam os que constam nos currículos oficiais ou seriam outros? Se levássemos em consideração não os indivíduos mas as classes sociais, de que forma a luta de classes se explicitaria na composição curricular e nos procedimentos pedagógicos? [Moreira, 1989, pp. 31-47]. Toda a dificuldade que o professor de história da educação sente no contato com turmas heterogêneas quanto à capacidade de percepção e raciocínio histórico é passar dos estereótipos sobre o conhecimento histórico para o entendimento de que o conhecimento histórico é construído. Pensar seria justamente viver a experiência da relação entre sujeito e objeto; assumir a diferença das representações e espantar-se com o desconhecido. Só o trabalho duro de suspensão das certezas (as nossas e as dos outros) permite que habitemos plenamente nosso próprio mundo, principiando a aprendizagem de um certo vocabulário, um certo estilo de interrogar, de dar inteligibilidade ao que se aprende, de pensar historicamente. Para que ensinar história da educação? O que ensinar? Todo professor de história da educação conhece aquela sensação de que há demasiada história para ser ensinada em tão pouco tempo. Na discussão das reformulações curriculares, a história da educação, com exceção de algumas poucas instituições, tem perdido espaço para outras 136 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 disciplinas, cujos professores asseguram trabalhar seus temas a partir de uma perspectiva histórica, como se isso suprisse as necessidades do aluno na construção do raciocínio histórico. Essa disputa, que resulta em perda de espaço da história da educação dentro dos currículos, revela a existência de um sentimento difuso de que essa disciplina está muito distante do que os educadores estão fazendo e experimentando no presente. Essa necessidade, pensam alguns, seria mais prontamente atendida por disciplinas voltadas para questões relativas ao planejamento educacional ou políticas públicas de educação, por exemplo. Apesar de toda crítica às marcas disciplinares, elas continuam fortes e não temos conseguido convencer nossos colegas, muito menos os alunos, da importância da história da educação. Infelizmente, ainda é perceptível a necessidade que muitos docentes têm de uma história militante no pior sentido da expressão, isto é, aquela que define alguns sentidos e apenas eles como os únicos legítimos de serem ensinados, numa centralização teórica perniciosa, discurso que cala os outros e não se autodenuncia em seu alto grau de generalidade, isto é, não estabelece seus próprios domínios e limitações (Nunes, 1999, p. 57). Paul Ricoeur observa que a projeção dos conteúdos que ensinamos para fora do tempo presente e para fora do espaço em que circulamos faz com que a história, mesmo a mais recente, pareça distante da vida e, no entanto, um certo distanciamento – como assegura – é constitutivo do conhecimento histórico (2000, p. 372). Além da referida projeção dos conteúdos estudados para fora do tempo presente e de um espaço conhecido, a reelaboração didática dos conhecimentos produzidos no campo da história da educação em conhecimentos ensinados pelos cursos de pedagogia provoca uma alienação de outro tipo, já que estes são separados da própria fonte que os gerou. Como mostra Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro, em sua tese de doutorado (2002), esse processo de separação e recriação dos conteúdos incluiria operações complexas, descritas por Chevallard quando assume a concepção de transposição didática de Verret7. Alguns conheci- 7 Segundo a autora citada, a noção de transposição didática foi enunciada por Verret em sua tese Les temps des études, defendida na França em 1975. No início da o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 137 mentos produzidos, ou partes deles, são selecionados em uma nova síntese cujo objetivo é a sua pedagogização. Esta se orienta pela racionalidade que pretende promover a adequação dos conteúdos selecionados ao público a que se destina. Esses conteúdos selecionados acabam se dissociando da subjetividade que os produziram, tornando-se despersonalizados. São, então, racionalmente separados em seqüências que garantem a ordenação e o caráter progressivo da aprendizagem e explicitamente definidos em termos de abrangência e extensão. São avaliados através da elaboração de procedimentos de verificação da aprendizagem que avalizam a aquisição do conhecimento pelo estudante8. Esse processo acarreta algumas conseqüências, como chama atenção a autora. A primeira delas: o saber ensinado, sofre uma descontextualização com relação às problemáticas do campo científico a partir do qual foi gerado. Desenraíza-se graças ao constrangimento que a cultura escolar impõe. Torna-se um outro saber (recriado pela cultura escolar) que necessita da interlocução com o saber acadêmico, através de uma discussão epistemológica, para que seus sentidos possam ser revelados. Esse distanciamento dos conteúdos ensinados em relação ao saber acadêmico que o gerou provoca uma contínua necessidade de compatibilização com este último e com as próprias demandas da sociedade, já que aqueles “envelhecem” (2002, pp. 82-83). Destaco a afirmação da autora, apoiada em Chevallard, de que os professores trabalham na transposição didática, mas não são seus principais autores. Quando o professor produz “o seu curso” a transposição didática já se iniciou há muito tempo, através de técnicos, professores militantes, representantes de associações, ao que acrescento, grupos e 8 década de 1980, Chevallard e Joshua utilizaram este conceito no campo do ensino da matemática (cf. Monteiro, 2002, pp. 78-19). Chevallard denomina essas diferentes operações de dessincretização, despersonalização, programabilidade, publicidade e controle social da aprendizagem. Monteiro faz reparos a essa concepção, seja pelo uso complicado do termo transposição (que designa mais deslocamento do que ruptura no processo de constituição de saberes), seja pelo fato de o autor não levar em consideração outros saberes que entram na constituição do saber escolar além do saber ensinado, seja por deixar de lado aspectos axiológicos, o que não discutirei nesse texto. Ver Monteiro, 2002, especialmente pp. 78-89. 138 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 publicações especializados (2002, p. 81). Se aceitarmos essa afirmação, o professor em sala de aula – elo de uma corrente que se inicia com a produção do conhecimento científico e chega ao aluno – é sempre um co-autor na produção do conhecimento pedagógico. Ser co-autor não diminui a importância do seu trabalho. Pelo contrário. Dele se solicita que saiba o fundamental: para que ensina história da educação. Quando ensino história da educação para estudantes como os que descrevi, minha intenção é a de que cada um deles, na medida dos seus limites e possibilidades, se dê conta mais profundamente da sua própria experiência como pessoa e aluno, aprendendo a usar uma linguagem pública e, portanto, mais elaborada. Tenho o objetivo central de contribuir para que desnaturalizem a escola na qual estudam e/ou trabalham, isto é, compreendam os processos que a engendraram, a disseminaram e a colocaram em xeque. Essa intenção e esse objetivo vão se corporificar (ou não) em maneiras de organizar o trabalho pedagógico, traduzir certos temas em problemas, programas, projetos de atividades e referências bibliográficas para as tradicionais disciplinas história da educação geral e história da educação brasileira9. O recorte, abrangência, ordenação, articulação e abordagem dos temas definidos dependem da problematização que se faça, do tempo e dos recursos disponíveis (sobretudo da bibliografia), da adequação junto aos estudantes. Suas soluções não são simples e colocam no centro da ação pedagógica a postura epistemológica que assumimos e as concepções de educação que abraçamos. Essa complexidade não escapou à estudante Valéria que, ao refletir sobre as “maravilhas” da universidade na qual estudou, advertiu: 9 Alguns exemplos de temas possíveis: A polissemia dos termos história e educação. Fontes e teorias da história da educação. Modelos culturais de transmissão dos saberes/fazeres e de produção do conhecimento (a oralidade, a escrita e a mídia). Raízes da cultura e da escola ocidental. Criação da escola moderna, seu desenvolvimento e crise (concepção de infância, os espaços e tempos escolares, objetos escolares e métodos de ensino, teorias pedagógicas e formação de especialistas). Culturas orais e cultura escrita em confronto na sociedade colonial brasileira; projetos e práticas escolares para a formação da aristocracia e das camadas populares na sociedade imperial brasileira; projetos de República e a implantação da escola moderna; redes de escolarização e projeto repartido de educação no país; acordos estrangeiros e educação brasileira. o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 139 [...] uns e outros (professores) não tinham o hábito de explicitar, aos educandos, de onde vinham nem aonde pretendiam chegar, como se soubessem de antemão, o que era bom para nós. [...] Aliás, adequar os conteúdos à realidade da “clientela” era normalmente confundido com “baixar o nível”, donde talvez possamos inferir que os conteúdos abstratos estavam acima do nível dos alunos concretos. Mas como alguns alunos estavam em “outro” nível, era necessária uma complicada operação matemática para se chegar a uma média aritmética que atendesse às necessidades de todas as faixas de alunos que constituíam a turma. Tal operação, porém, resultava, na maioria quase absoluta dos casos num quebracabeça ao qual ficavam faltando peças fundamentais [Moreira, 1989, p. 43]. Que peças fundamentais seriam essas? A valorização da experiência do aluno, a contextualização dos conteúdos ensinados e das fontes históricas utilizadas, a desconstrução do senso comum e o trabalho com os conceitos, uma outra postura perante a avaliação. Reconhecer o que é preciso é mais fácil do que realizá-lo. A tradução metodológica das posturas teóricas em ações na sala de aula é um percurso árido, “el cual es un como camino por el Sahara, en el conocimiento no se construye como entretenimiento ni por simples preocupaciones teóricas” (Zemelman, 2001, p. 7). A última seção do meu texto será destinada, portanto, à apresentação de algumas situações pedagógicas. Como ensinar? Os preparativos para uma aula nos sintonizam com as situações que vamos viver com os estudantes, embora a organização pedagógica seja ardilosa pela cadeia de controle (mais ou menos rígida, dependendo da cultura institucional) que se estabelece de diretores sobre coordenadores, de coordenadores sobre professores e de professores sobre alunos. Cremos que o “provão”, a que vêm sendo submetidos os alunos universitários, aperta o nó das exigências feitas sobre os docentes, sobretudo nas instituições privadas. De forma distorcida, a ação pedagógica acaba por ser direcionada pela avaliação “dos estudantes”, “do curso”, “da 140 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 instituição” e não pelos objetivos eleitos. No entanto, não temos efetivo controle sobre o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Esta é uma aposta aberta sem qualquer garantia de sucesso. O professor ensina não propriamente porque tem muito conhecimento, mas porque algo da ordem do indizível, que se sustenta no seu gesto de ensinar, e que inclui o conhecimento, mas também a intuição e a sensibilidade, toca o aluno e mobiliza o seu desejo de aprender. Ele ensina menos pelas palavras e mais pelo contágio do seu entusiasmo com relação àquilo que se propõe a ensinar (Tuchman, 1991). A importância da atuação pedagógica do professor é mais perceptível quando a interação entre ele e o aluno falha e o aluno, ao invés da sala de aula, prefere os corredores. Somos da opinião que as escolas devem ter muitos corredores com bancos, onde as pessoas possam se sentar para simplesmente não fazer nada quando lhes der na telha e que, evidentemente, a permanência aí não seja proibida pela direção. Onde, então, não há corredores se faz necessário criá-los! [Moreira, 1989, p. 63]. Desenvolvimento de projetos articulados ao programa de ensino Que fazer para que os alunos prefiram as salas de aula? Valorizemos sua experiência. Essa valorização pode principiar pela elaboração da sua trajetória de vida, na qual se inclui a memória escolar. A experiência que tenho tido com estudantes de graduação e licenciatura tem sido encorajadora. A discussão das suas memórias escolares aponta, na circularidade dos testemunhos, problemas recorrentes e significativos da educação brasileira que podem ser tratados pelo professor no plano coletivo como eixos organizadores de discussão. Permite trabalhar sobre os lugares de memória (bibliotecas, arquivos, museus, a própria escola), os objetos de memória (fotos, cadernos, livros, diários), o movimento das memórias na história e as relações entre memória e esquecimento. Alerta os estudantes para o fato de que quando confeccionam sua memória escolar estão construindo representações de si próprios para eles o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 141 mesmos e para os que os rodeiam. Estão instituindo também um modo de lembrar, de estruturar suas idéias para serem transmitidas. Estão ainda não só produzindo conhecimento, mas também ressignificando a educação e a cidadania. Quando propomos essa atividade, resgatamos a memória, na acepção da qual nos lembra Paul Ricoeur, ou seja, como aquela primeira abertura que os seres humanos estabelecem com o passado (2002, pp. 374-375). Costumo iniciar meus semestres letivos nos cursos de graduação com essa atividade, o que dá um sentido mais preciso ao meu trabalho: permitir que o estudante refaça o trajeto da memória à história. Trabalhar com a memória do estudante é uma forma de estimular o reconhecimento de si mesmo, a valorização da sua experiência e a liberação dos entraves que coloca à comunicação quando se sente inseguro por não dominar ainda um vocabulário especializado. As autobiografias, as memórias e diários têm constituído documentos singulares e decisivos para a reconstituição de aspectos dos processos educativos de outras épocas históricas, com ricos testemunhos sobre os modos de educação familiar, escolar e ambiental de determinadas gerações ou certos grupos sociais, aspectos concretos de vivências do trabalho e cultura escolar (uso dos espaços e tempos escolares, percepção que os professores têm de si mesmos como grupo profissional, processos de aquisição de leitura e escrita, seus usos e efeitos, a formação de comunidades de leitores etc. (Viñao Frago, 2000; Souza, 2000; Lopes & Galvão, 2001). Os arquivos das escolas, embora quase nunca usados no ensino, também ajudam o estudante a compreender os problemas da produção de uma memória graças à dispersão e à destruição dos acervos escolares (Nunes, 1992). No entanto, será a nossa própria utilização dos registros que as escolas guardam, mesmo lacunares, que vai, ao mesmo tempo, ajudando a forjar e a espalhar a consciência da sua importância junto às instituições que os portam. Por que não utilizá-los nas atividades curriculares aí desenvolvidas? Quando as escolas começam a organizar a sua memória em torno de pequenos museus escolares, ou exposições, os arquivos costumam emprestar seus documentos e apenas nessas ocasiões eles são solicitados, mas por que não trabalhar os dossiês dos estudan- 142 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 tes, os álbuns fotográficos, os jornais ali produzidos como material para provocar a aprendizagem de disciplinas como a nossa? Em minha experiência pessoal, as memórias como fonte de pesquisa histórica em educação constituem a ponta de um iceberg que vamos gradativamente desnudando. Quando seguimos as pegadas do que se disse sobre a escola, trabalhamos com memórias agarradas a um “contexto” de infância que se remete a uma doxa urbana mutável, recortada pelas lembranças envolvidas na escrita, na escuta, no momento e nos costumes. As memórias dos alunos e professores, dos poetas e dos cronistas da cidade compõem, de maneira sempre mutável, o que chamaríamos de “realidade” da escola e os sentimentos e as opiniões que sobre ela se forjaram. É nessa imbricação que chegam até nós múltiplas percepções do espaço escolar, percepções que se reenviam incessantemente umas às outras e que enlaçam também imagens do espaço urbano, constituindo um estoque de informações criticamente trabalháveis. Na década de 1980, tive a oportunidade de realizar um levantamento das trajetórias de estudantes e professores que haviam freqüentado a escola pública carioca nos anos de 1930. Esse trabalho foi realizado com alunos de graduação do curso de pedagogia noturno e diurno, numa faculdade particular isolada, durante um semestre, e combinou história temática com história de vida, pois buscávamos relacionar o que já “sabíamos” de modo informal sobre o tema com as informações das experiências vividas dos depoentes. Realizamos em conjunto um roteiro básico que acabou permitindo recolher, numa experiência-piloto, depois ampliada, informações sobre o “contexto” da infância (a família de origem, a casa, o bairro, as relações de vizinhança e o lazer) e o “contexto” das escolas primárias nas quais os entrevistados trabalharam. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas em conjunto. Os resultados foram além das expectativas iniciais. Chegamos a obter detalhes que sequer imaginávamos até sobre outros momentos inicialmente não previstos no projeto. Obtivemos também informações relevantes sobre estrutura e organização escolar, o currículo, método e sanções pedagógicas, a formação do professor primário, seu acesso e trajetória na carreira. Os resultados iniciais desse trabalho coletivo foram publicados na revista da faculdade o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 143 (Nunes, 1985). Alguns anos mais tarde, os resultados dessa pesquisa, confrontados com fontes de arquivos privados, foram utilizados para elaborar uma investigação de maior fôlego sobre a escola pública na cidade do Rio de Janeiro. Essa experiência pedagógica teve uma atmosfera que se aproximou, guardadas as devidas peculiaridades, da experiência de camaradagem que o professor Candido Portinari viveu na Universidade do Distrito Federal, em meados da década de 1930, ao transformar sua sala de aula de artes plásticas numa espécie de ateliê do “Quatrocento”, onde todos os problemas relativos ao ensino eram administrados pelo mestre e seus alunos, driblando exigências burocráticas e mostrando aos estudantes como lidar com a adversidade. Se não havia pincel redondo, pintava-se com pincel de parede, com escova de dentes, com bucha de pano, com o dedo. Héris Guimarães nunca esqueceu essa lição de vida. Foi dessa forma que aprendeu a trabalhar com alunos ricos, “remediados” e pobres (Guimarães, 1983). Projetos pedagógicos como o que citei, ou a ele assemelhados, criam uma escuta motivada e introduzem atitudes da pesquisa no ensino. São factíveis no tempo mínimo disponível e dão a oportunidade ao aluno, não só de entrar em contato com os problemas e possibilidades do métier do historiador, mas também de produzir textos que têm significado para além da avaliação do professor, criando um circuito de leitura entre os estudantes e incentivando-lhes o hábito de correção contínua de seus próprios textos. Reescrever não é castigo. É necessidade do ofício de quem lida com a palavra escrita. É a humildade (e não humilhação) de refazer, que também está presente em outras aprendizagens. Quando se pinta, tem-se que pintar com humildade. O quadro que se faz em escola, em que se está aprendendo, ou em que se está pesquisando, é um saco de pancada, vale tudo. Não se deve ter amor ao quadro, mas amor à arte, ao que se está fazendo. [...] O mistério é pegar o quadro como se não soubesse de nada, como se fosse o primeiro quadro, porque de fato é uma coisa nova que você vai fazer [Guimarães, 1983]. 144 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 A questão do significado da tarefa também é fundamental quando focalizamos os tradicionais seminários realizados por equipes de alunos. O que Valéria Moreira descreve em 1989 continua a acontecer em 2003 nas salas de aula: Os seminários geralmente eram feitos em grupo. Ao abordar três capítulos de uma obra, o mais comum (num grupo de, por exemplo, seis pessoas) era dividirmos cada capítulo ao meio, de tal forma que cada um ficava encarregado da metade do capítulo, e na hora da apresentação funcionávamos como os três sobrinhos do Pato Donald: o primeiro começava, o segundo continuava e o terceiro concluía. Após uma semana já não sabíamos mais sobre o que tínhamos falado. Se chegamos a ler um livro por inteiro foi muito. Geralmente líamos um ou dois capítulos. Pensamos em propor à direção da escola que incluísse no currículo um curso sobre fichamento de texto; isto porque todos os professores nos pediam fichamento, mas nunca ninguém ensinou como deveria ser feito [Moreira, 1989, pp. 43-44]. Meus melhores resultados com os alunos foram obtidos quando conseguia criar a oportunidade de que apresentassem seus trabalhos para um público mais amplo, para além da sala de aula. Cheguei a preparar seminários com estudantes de graduação que foram apresentados, como culminância de um processo de estudos, ao final do semestre, para diversas turmas da faculdade. Dentro de sala de aula foram práticas estimulantes os seminários realizados em torno da vida e obra de educadores escolhidos (de preferência lidávamos com diferentes obras de um mesmo autor) ou de romances de autores brasileiros e estrangeiros. A discriminação das tarefas e o cronograma de atividades dos seminários eram definidos em conjunto e com antecedência. A responsabilidade da leitura era distribuída no início do semestre, assim como datas-chave de acompanhamento das tarefas. Os seminários só ocorriam após a leitura e o debate em classe que preparava a redação de pequenos textos a serem apresentados. Esse tipo de trabalho ajuda o estudante a forjar, se é que não tem, hábitos de leitura, estudo e escrita. Obriga-o a lidar com o livro em sala de aula (e fora dela), a listar temas centrais e secundários nas o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 145 obras lidas, a pesquisar obras de comentaristas, a obedecer e/ou reformular roteiros de trabalho previamente estabelecidos, a compartilhar os seus achados. A clareza da escolha quanto a um livro, e não outro, é fundamental. Quem nunca praticou este tipo de proposta, pode fazer uma experiência exploratória, com a indicação da leitura de um mesmo texto para toda a turma, e o planejamento de atividades comuns antes de se lançar à variedade de experiências de leitura em sala. A mesma advertência vale para uso de filmes de época ou vídeos educativos. É preciso um trabalho anterior do professor sobre este material antes de sugerir qualquer atividade aos alunos. Mais significativo do que fichas de acompanhamento da atividade é a colocação de questões que ajudem a problematizar as representações de educação que emergem desses e de outros recursos, como poesias, crônicas, letras de música, cartilhas, livros didáticos, cadernos, artigos de jornais. Vale aí a advertência que fazem tanto Marcelo Badaró Mattos (1998) quanto Paulo Knauss (2001) sobre o uso de documentos em sala de aula: não são adereços. Esses tipos de atividades estimulam os alunos. Lembro-me, por exemplo, da empolgação e empenho dos estudantes lendo Menino de engenho, de José Lins do Rego; Olga, de Fernando Morais; 1968: o ano que não terminou, de Zuenir Ventura; 1984, de George Orwell, entre outros. Esse tipo de proposta exige o cuidado na escolha dos livros e um estudo prévio do professor para avaliar que aspectos dos livros lidos contribuem para fazer compreender melhor as práticas educativas e podem ser articulados tanto a temas privilegiados no programa, quanto a questões da produção da história ou a resultados de investigações recentes no âmbito da história da educação e/ou das ciências sociais. Trabalhar com romances traz toda uma possibilidade de discussão sobre as aproximações e distanciamento entre eles e as narrativas históricas, partindo-se da premissa de que há diversas maneiras de contar o passado. Quando o romance escolhe o passado “real” e o povoa com personagens de fantasia que podem realizar ações e expressar sentimentos comuns a personagens de outras épocas, cria enredos que ajudam a compreender melhor a própria história, porque o romancista desenha o processo pelo qual certas causas vão produzindo efeitos. Parece-me que 146 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 esta técnica está presente na pesquisa histórica, apenas com uma diferença. O romancista parte da pesquisa histórica e inventa os personagens e as ações tentando aproximá-las da realidade modelada pela cultura da época na qual pretende construir a sua trama. O historiador realiza a pesquisa dando contorno mais nítido a atores e comportamentos modelados pela cultura da época na qual seu interesse está centrado. Ele também inventa, joga arriscadamente numa hipótese, mas sua invenção é qualitativamente diferente da do romancista, já que dele se exige que demonstre o que afirma. Se sucumbirmos à rotina da sala de aula, ela se torna insípida, empobrecida. O que conta não é a quantidade de estímulos e assuntos, mas o envolvimento do aluno e o esforço de professores e estudantes para fazer bem feito o que se faz em sala de aula. O que conta é um encontro significativo. A opção por esses projetos de trabalho exige um aproveitamento integral e constante das horas dedicadas às aulas, a distribuição equilibrada do tempo entre várias atividades previstas e sua coordenação atenta por parte do professor. Este não é o único provedor de recursos para o ensino. Essa tarefa pode ser partilhada com o estudante e a instituição escolar, mas cabe a ele apontar e reforçar essa possibilidade. Ele pode indicar, por exemplo, caso o estudante tenha acesso à internet, sites interessantes para pesquisa na área ou ainda estimular os alunos, não só a estudarem os conteúdos escolhidos, mas a elaborarem, com ele, a partir da compreensão de um assunto e de sua síntese, o material didático a ser utilizado com a turma (transparências, no caso do uso de retroprojetor ou, até, com mais ousadia, apresentações em Power Point). Através de procedimentos mais ou menos simples (dependendo das circunstâncias) humanizamos, colorimos e dinamizamos a sala de aula, tornando, de fato, os estudantes co-autores importantes do nosso trabalho e rompendo com a cadeia normatizadora do conhecimento que aprisiona os agentes da prática educativa no óbvio (Knauss, 2001, p. 33). Se a situação que vivemos em sala de aula nos deprime está na hora de arriscar um novo caminho. Que temos a perder? o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 147 A leitura, compreensão de textos e o trabalho com os conceitos É recorrente o sentimento entre os professores de que o aluno resiste ao trabalho conceitual. Alguns trazem uma verdadeira aversão pelos textos teóricos. Como operar o trânsito da palavra ao conceito? Minha insatisfação com o que observava ser o uso de um jargão, mas não o domínio de um conceito, levou-me diversas vezes a alterar tanto meus modos de proceder em sala de aula, quanto a bibliografia utilizada. Valéria Moreira sinaliza, com bom humor, a dificuldade do estudante: As palavras, que ali subiam como num piscar de olhos à categoria de conceitos, saíam das nossas bocas como sapo pulando no brejo. Falava-se muito, por exemplo, em classe dominante. Entidade tão abstrata como Deus no céu, essa classe, na terra, era a grande responsável por todos os nossos males. De concreto, o certo é que ali, dentre aquelas paredes, jamais foi encontrado um representante legítimo daquela classe para que pudéssemos matar a curiosidade, vendo-lhe a cara e a coragem, e submetê-lo a algumas experiências laboratoriais que comprovassem o que os livros diziam [Moreira, 1989, p. 44]. Os conceitos ou categorias são instrumentos do pensamento que ajudam o historiador a organizar o material coletado, a partir de perguntas, e oferecem inteligibilidade ao problema focalizado (Lopes, 1994, p. 20). Eles também têm uma história que precisa ser reexaminada e são mais compreensíveis quando examinamos o seu uso pelos autores estudados a partir da perspectiva historiográfica escolhida. Como se faz isso? Tenho tentado realizar leituras conjuntas com os estudantes em que coloco o foco sobre o modo como o autor constrói a sua argumentação, o que implica examinar a forma como usa conceitos, mas não só eles10. 10 Estudamos também as metáforas e o seu papel organizador e persuasivo que está presente no processo inicial de aquisição do conhecimento pela sua característica de analogia condensada e facilitadora da comunicação. As metáforas também estão presentes nos textos. Existe, como advertem Mazzoti e Oliveira, uma continuidade funcional entre o senso comum, o pensamento filosófico e o conhecimento 148 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Escolho propositadamente textos curtos e densos até para explorar as possibilidades de estudo que exigem: exame da articulação das idéias e do trânsito de afirmações particulares para enunciados gerais; consulta a dicionários e obras de referência; a remissão a outros textos do autor lido e a textos selecionados de comentaristas; a elaboração de glossários e sínteses. O procedimento é o de “desbastar” o texto por dentro e desdobrar certos fios de pensamento, com implicações para a construção do raciocínio histórico. Os textos curtos são lidos também com os objetivos de desencadear a discussão de um tema e rever pontos de vista já debatidos. Geralmente, em um semestre, concilio a leitura de um livro com diversos textos curtos. Quando não encontro textos curtos que considero adequados à problemática em foco eu mesma pesquiso o assunto e os escrevo. Como adverte Geraldi: “A leitura de um texto curto [...] não exerce uma função aleatória na sala de aula. Com os textos curtos, o professor poderá exercer sua função de ruptura no processo de compreensão da realidade” (2002, p. 64). Um dos conceitos ou categorias fundamentais é a noção de tempo. A história, como sugere Paul Ricoeur, apresenta uma maneira de recortá-lo que difere da conversação cotidiana e da narrativa literária (2002, p. 370). Aí pode ser focalizado e debatido o uso simultâneo de distintas nomenclaturas e seus significados: o tempo do relógio, o tempo das conjunturas, o tempo das eras, os marcos históricos. É importante que o estudante perceba que periodizar já é interpretar e que existe uma simultaneidade de tempos num mesmo recorte empírico (Carretero, 1997, pp. 39-40; Zemelman, 2001, p. 6). A partir de pesquisas realizadas procuro mostrar que a interpretação exige esforços diferentes se acompanhamos as exigências do próprio objeto de estudo. Assim, para entender a crise da Universidade do Distrito Federal em 1935, na qual ensinou o pintor Candido Portinari, foi preciso acompanhar detalhadamente os eventos políticos e pedagógicos no tempo da curta duração. Já para entender o peso de cer- científico. Nesses últimos, porém, o modo de operar estabelece acordos em torno de quais procedimentos são considerados legítimos (2000, pp. 17-18). Estejamos atentos às metáforas que os estudantes usam para trabalhar sobre elas. o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 149 tas decisões políticas quanto aos testes aplicados nas escolas públicas primárias cariocas foi preciso retroceder à década de 1910 e prosseguir até a década de 1940, indo além do recorte estabelecido. O descompasso entre alunos e professores ocorre, como salienta Carretero, pela tendência dos primeiros explicarem acontecimentos históricos em termos das intenções dos sujeitos e os segundos tenderem a trabalhar com modelos explicativos históricos de tipo estrutural (1997, pp. 55-71). O que importa é fazer a travessia entre um pólo e outro, definindo atividades com objetivos intermediários, tais como: distinguir e contextualizar diferentes tipos de fontes primárias relativas ao objeto de estudo; construir argumentos práticos sobre ações e eventos realizados e que funcionem como hipóteses explicativas; introduzir os conceitos de modo progressivo e a partir de narrativas históricas. A transmissão de conceitos desenraízados dos textos em que se dá o seu uso resulta numa aprendizagem mecânica. Minha proposta vai na direção inversa, ou seja, operar com textos (ou trechos selecionados deles) que permitam perceber o conceito em ação e trabalhar sua polissemia, seu desdobramento em outros conceitos, suas variantes. Duas atividades motivadoras e que suscitam discussões proveitosas são pesquisas exploratórias de curto alcance com público diferenciado e pesquisas com recortes temporais bem delimitados a partir de eventos históricos escolhidos. No primeiro caso, os alunos fazem um sucinto trabalho de campo entrevistando algumas pessoas de diferentes sexos, faixas etárias, classes sociais, situação profissional sobre sua visão de história e de educação. Essa atividade, muito simples, é enriquecida com contribuições de autores de diferentes tendências, o que permite a comparação e provoca muitas questões, algumas das quais apontam para as relações entre presente e passado, o papel da escola, da televisão e da imprensa na disseminação de certas representações, peculiaridades de compreensão, se notadas, em grupos com determinadas características. No segundo caso, o estudante lida com as diferentes visões pelas quais o mesmo evento é retratado, dependendo da visão de mundo, da postura e das escolhas de quem o relata. Algumas vezes, temos o prazer de ver esses pequenos trabalhos se desdobrarem em monografias de final de curso. 150 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Em ambas as atividades os alunos procuram informações e as organizam em pequenos textos. Esses textos, a princípio, trazem as marcas da informalidade (frases soltas, parágrafos sucintos, observações) e servem para explorar o que aprenderam. É a partir dessa escrita informal que se inicia a escrita formal. Os alunos reescrevem, ampliando e reformulando aspectos que a discussão apontou, sob a orientação do professor. Essa reelaboração pode ser executada de forma variada: em duplas, em grupos, e mesmo individualmente. Antes da sua realização, as atividades sugeridas precisam ser cuidadosamente explicadas e os resultados discutidos em conjunto. O feedback do professor é fundamental e sua perseverança na correção solidária traz resultados muito bons. Quando a turma é numerosa trabalho, buscando o efeito de demonstração, sobre algumas respostas e crio condições de os estudantes refazerem seus trabalhos em conjunto e/ou individualmente, após o debate coletivo. Se o estudante escreve apenas nas provas, perde a oportunidade de exercitar-se sem a carga de tensão que uma situação de avaliação sempre acarreta para todos os envolvidos. No entanto, a avaliação pode, sem caráter punitivo, estar presente o tempo todo como diagnóstico e correção de rumos do ensino em sala de aula. O exercício dessas ações pedagógicas implica dar atenção ao que o aluno produz e estar receptivo para uma constante negociação da realidade. A multiplicidade de sentidos com que lidamos nos obriga a não reduzir as atividades didáticas no ensino da história da educação ao problema ideológico e conseqüente substituição de uma versão da história pela outra. Quando escolhemos uma versão, criamos arbitrariamente uma hierarquização, tanto com relação às interpretações do passado, quanto às interpretações do presente. É preciso ter consciência desse gesto, portanto. Essa ordenação classifica e essa classificação é a questão fundamental contida na relação entre conhecimento e poder, que se expressa não apenas na avaliação, mas na existência de códigos que impregnam as relações pedagógicas e que nem sempre se comunicam, pois nem todos os discursos estão autorizados a penetrar na instituição escolar. De qualquer forma, as provas e/ou outros instrumentos a partir dos quais se atribuem notas aos alunos são instrumento de poder do professor. Há aqueles que criam várias chances de os alunos “tirarem os o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 151 seus pontinhos”, mas há os que são implacáveis com a falta de familiaridade dos estudantes com os autores lidos ou com a norma culta. Algumas experiências são desastrosas. Um belo dia, numa prova, caiu uma questão sobre o método dialético. Depois de termos lido algumas vezes o prefácio de Introdução à crítica da economia política e termos ficado intrigados com o fato de Marx, o Karl, ter conseguido sintetizar em meia dúzia de páginas um trabalho que fora desenvolvido durante algumas décadas, concluímos que dialética era a relação entre a ação e o pensamento. Pois bem. Para responder à questão da prova nos imaginamos caminhando pela Rua do Ouvidor preocupados com o pagamento do aluguel no próximo dia trinta; seria dialética a relação entre esse andar, pé após pé, e a preocupação com a falta de dinheiro para saldar compromisso de ordem econômica? Sim, porque era a seguinte a nossa infra: morávamos numa casa que era propriedade privada de outrem. Sendo a propriedade de outrem, assináramos contrato mediante o qual nos responsabilizávamos por depositar num banco, a cada dia trinta, quantia estipulada pelo proprietário, auxiliado por seu intelectual orgânico: o advogado dono da imobiliária. E a super? Qual equilibrista, andando na corda bamba de sombrinha, o jeito era não atrasar o pagamento. Caso contrário este seria acrescido de multa de 20% sobre o valor do aluguel. [...] Como não alcançáramos compreender o raciocínio, só nos restaria, se fosse o caso, repeti-lo tal qual tinha sido formulado por Marx, o Karl. O problema proposto na prova evidentemente se constituiu numa questão para Marx, o Karl, mas não chegou a se constituir num problema para nós. Na tentativa de articular concreto e abstrato, acabamos por aparecer na cena em meio a um enunciado teórico por natureza. Tiramos zero na prova. Não fomos dialéticos o suficiente para explicar à professora quão séria era a questão para nós [Moreira, 1989, pp. 46-47]. Se, de um lado, nos queixamos da escrita que permanece colada ao autor lido ou extravasa em questões do cotidiano, de outro, não aponta- 152 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 mos nem criamos alternativas para o salto criador do aluno. De saída, é preciso considerar que a originalidade absoluta não existe. No século XVII, a imitação ou emulação de certos autores considerados modelos de um certo discurso eram aceitas e incentivadas. Quem escrevia buscava, sobretudo, aperfeiçoar um modelo. No processo de tornar nossa a linguagem a cópia se situa no nível menos elaborado de escritura, já que “copiar é a liberdade de escrever em seu ponto mais baixo” (Schneider, 1990, p. 31). Sejamos, nesse ponto, compreensivos sem ser indulgentes. Exercitemos a exigência sem jamais esquecer que é preciso tempo e esforço para sobreviver às influências recebidas. O domínio da escritura é um processo lento. Será que não formulamos, romanticamente, uma expectativa de originalidade e criatividade do trabalho escrito do estudante? Parece certo, no entanto, que só se aprende a escrever, escrevendo. E se o pulo do gato ou, em outras palavras, aquela experiência intransferível que cada um precisa construir com a escrita não é ensinada, ela pode pelo menos ser conduzida pela escuta atenta do texto, por deslocamentos dentro da língua que podem ocorrer sobretudo pela reflexão que o professor faz com o aluno sobre o texto que este produziu. Como dizia Candido Portinari: “O professor não pode ficar no palco, ele tem de ficar na platéia [...] Ele tem de ir junto com os alunos” (Guimarães, 1983). O talentoso professor Portinari conduzia seus alunos da cópia à criação. Como nos relata Héris Guimarães: – Olha o modelo e vai fazer. Agora inventa um fundo para o modelo, dizia Portinari, e eu criava em cima de uma cópia. Quer dizer, eu firmava uma técnica, ficava firme no desenho, na valorização, na construção, para dar asas à imaginação. E era necessário fazer o fundo que pertencesse àquela figura: na valorização, na cor, em tudo. Vejam como é difícil, o que a pessoa tem de fazer para chegar a isso! Quando se chega a esse ponto, a pessoa está solta e sabe pintar [1983]. Aulas de pintura não são aulas de história da educação, mas como é provocante a atitude de Portinari que cria passos intermediários de vivência pedagógica a partir de elementos simples. Numa das suas primeiras aulas de artes plásticas convidou seus alunos universitários a pintar um o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 153 ovo. Decepção geral. A aula começava e, a partir dos trabalhos dos alunos, ele interferia, mostrando que um ovo parece leve mas é pesado. Parece liso mas é rugoso. Parece branco, mas há tantos tons de branco! (Guimarães, 1983). A aula findava e o que era decepção havia se transformado em espanto diante da dificuldade de pintar o que parecia óbvio! Isso vale para a escrita. Se não construímos, com o aluno, um caminho para a produção do seu texto, ele não sairá do estágio a que já chegou, não enriquecerá o seu vocabulário, nem desenvolverá modos alternativos de dizer. Quando ele trabalha com uma carta, um memorial de professor, um artigo de jornal, a letra de uma música, poesias (as de Cora Coralina sobre a escola são ótimas), crônicas, contos, um livro paradidático, um artigo de revista pedagógica, um romance, um relato de pesquisa, ele está ampliando suas possibilidades de leitor. Quando lê fontes com pensamentos divergentes sobre uma mesma questão, se vê mobilizado a perguntar: Quem terá razão? Que história da educação é essa, a que está escrita? Se pudesse sintetizar o que aprendi dessa experiência de levar outros a exercitarem uma maior liberdade com relação à escrita da história da educação, poderia dizer que os caminhos mais frutíferos foram aqueles em que busquei compartilhar experiências vividas e relacioná-las com livros e leituras; integrar a leitura e a escrita; integrar a linguagem da história da educação com outras linguagens. Esse esforço exige um domínio razoável da massa de informações, mas exige ainda algo mais complexo: um trabalho de desconstrução do já aprendido, a percepção do aluno no seu tateamento do terreno e a atitude de deixá-lo aprender. Nesse sentido, noto que, com o passar do tempo, tenho falado cada vez menos em minhas aulas. Antes, buscava as palavras certas. Hoje, procuro apenas a palavra necessária, aquela que sirva de passagem de um silêncio a outro. Embora não tenha feito referências explícitas às minhas concepções de história e/ou de educação, delas tratei o tempo todo. Todas as concepções têm a sua força, a sua verdade e suas limitações. Preferi que minhas prioridades transparecessem dos aspectos que selecionei da experiência vivida, mas que inevitavelmente acabam deslizando no texto. Defendo a necessidade de um investimento na direção da teorização do 154 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 ensino da história da educação, convite que estendo a todos os interessados na questão. Tratar do ensino sob o ângulo do meu processo de aprendizagem liberou-me dos constrangimentos que eu mesma inicialmente me coloquei para focalizar o tema. Como o pintor que tenta reproduzir na tela o peixe vermelho do seu aquário11 vi, com espanto, o peixe mudar de cor. O encarnado foi tornando-se negro! Essa mudança acabou com minha intenção de absoluta (e impossível) fidelidade. Deixando-me levar gostosamente pela lição viva da metamorfose, pintei, no texto, um peixe verde. Referências Bibliográficas ALTHUSSER, Louis (1970). Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. Lisboa, Presença. BAUDELOT, Christian & ESTABLET, Roger (1976). La escuela capitalista. Buenos Aires, Siglo Vientiuno. BERGER, Manfredo (1976). Educação e dependência. Porto Alegre, Difel. BERGER, Peter & LUCKMANN, Thomas (1978). A construção social da realidade. Petrópolis, Vozes. BIRMAN, Joel (2001). “Subjetividade, contemporaneidade e educação”. In: CANDAU, Vera Maria (org.). Cultura, linguagem e subjetividade no ensinar e aprender. Rio de Janeiro, DP&A. BONDER, Nilton (1995). O segredo judaico de resolução de problemas. Rio de Janeiro, Imago. BOURDIEU, Pierre & PASSERON, Jean-Claude (1975). A reprodução. Rio de Janeiro, Francisco Alves. CABRINI, Conceição; CIAMPI, Helenice; VIEIRA, Maria do Pilar et al. (1994). O ensino de história: revisão urgente. São Paulo, Brasiliense. CARRETERO, Mario (1997). Construir e ensinar. As ciências sociais e a história. Porto Alegre, Artes Médicas. 11 Conto de Herberto Hélder, “Retrato em movimento”, em Rita Maria de Abreu Maia. o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 155 CAVALCANTI, Joana (1999). O jornal como proposta pedagógica. São Paulo, Paulus. CODO, Wanderley (coord.) (1999). Educação: carinho e trabalho. Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasília, Vozes, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação: Universidade de Brasília. Laboratório de Psicologia do Trabalho. CUNHA, Luiz Antonio (1975). Educação e desenvolvimento social no Brasil. Rio de Janeiro, Francisco Alves. . (1981). “Sobre educação e desenvolvimento social no Brasil: crítica da crítica e autocrítica”. Educação & Sociedade, Campinas, n. 10, pp. 123-131, set. CURY, Carlos Roberto Jamil (1981). “A propósito de educação e desenvolvimento social no Brasil”. Educação & Sociedade, Campinas, n. 9, pp. 155163, maio. DARNTON, Robert (1986). O grande massacre de gatos. Rio de Janeiro, Graal. DAVIES, Nicholas (org.) (2000). Para além dos conteúdos no ensino de história. Niterói, EDUFF. DUBY, Georges (1987). Guilherme Marechal ou o melhor cavaleiro do mundo. Rio de Janeiro, Graal. FEBVRE, Lucien (1956). Martín Lutero un destino. México, Fondo de Cultura Económica. FORACCHI, Marialice & PEREIRA, Luiz (1970). Educação e sociedade: leituras de sociologia da educação. São Paulo, Nacional. FREITAG, Bárbara (1977). Escola, Estado e sociedade. São Paulo, Moraes. GARCIA, Pedro Benjamin (1977). Educação: modernização ou dependência? Rio de Janeiro, Francisco Alves. GEERTZ, Clifford (1978). A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Zahar. GERALDI, João Wanderley (org.) (2002). O texto na sala de aula. São Paulo, Ática. GOULEMOT, Jean-Marie (2001). “Da leitura como produção de sentidos”. In: CHARTIER, Roger (org.). Práticas da leitura. São Paulo, Estação Liberdade. GUIMARÃES, Héris (1983). Depoimento à Fundação Candido Portinari. Rio de Janeiro, Fundação Candido Portinari (mimeo.). 156 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 HEIDRUN, Olinto Krieger (1996). “Notas sobre o leitor da academia”. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 124, pp. 69-78. JODELET, Denise (1990). “Représentation sociale. Phénomenes, concept et theorie”. In: MOSCOVICI, Serge (org.). Psychologie sociale. Trad. de Alda Alves-Mazzotti. Paris, Presses Universitaires de France. KNAUSS, Paulo (2001). “Entre normas e conflitos – o cotidiano escolar na documentação do arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro”. In: SBHE (org.). Educação no Brasil. Campinas, Autores Associados; SP: SBHE, 2001, p. 205-216. LOPES, Eliane (1985). Colonizador-colonizado: uma relação educativa no movimento da história. Belo Horizonte, UFMG. .(1994). “Tendências teórico-metodológicas da pesquisa em história da educação”. In: Seminário História da Educação Brasileira: a ótica dos pesquisadores. Belo Horizonte, 17 a 20 de maio de 1994. Eventos, n. 5, pp. 19-27, maio (Série Documental). LOPES, Eliane (org.) (1998). A psicanálise escuta a educação. Belo Horizonte, Autêntica. LOPES, Eliane & GALVÃO, Ana Maria de Oliveira (2001). História da educação. Rio de Janeiro, DP&A. MAIA, Rita Maria de Abreu (2002). “O sujeito-leitor: autor de sentidos”. Perspectivas, Campos dos Goytacazes, vol. 1, n. 1, pp. 9-20, jan./jun. MATTOS, Ilmar Rohloff de (1994). O Tempo Saquarema. Rio de Janeiro, Access. MATTOS, Marcelo Badaró (1998). “Pesquisa e ensino”. História – pensar & fazer. Rio de Janeiro, Laboratório Dimensões da História – UFF, 1998. MAZZOTTI, Tarso Bonilha & OLIVEIRA, Renato José de (2000). Ciências da educação. Rio de Janeiro, DP&A. MENDES, Durmeval Trigueiro (1983). Filosofia da educação brasileira. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa (2002). Ensino de história: entre saberes e práticas. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. MOREIRA, Valéria (1989). Sardade se escreve com r de Craudionor. Dossiê de um escolar. Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes. o ensino da história da educação e a produção de sentidos na sala de aula 157 MOSCOVICI, Serge (1978). A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro, Zahar. NAGLE, Jorge (1974). Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo, EDUSP. NUNES, Clarice (1984). “Lição de vida: aprendendo a ser professor”. Legenda. Revista da Faculdade Notre Dame, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 9, pp. 25-43, ago./dez. .(1985). “Recontando a história: a escola primária no Distrito Federal através de depoimentos orais”. Legenda. Revista da Faculdade Notre Dame, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, pp. 39-52, jan./jul. .(1987). “A reconstrução da memória: um ensaio sobre as condições sociais da produção do educador”. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 61, pp. 72-80, maio. .(1990). “Em busca de Gramsci”. Revista Educação & Realidade, vol. 15, n. 1, pp. 38-51, jan./jun. .(1992). Guia de fontes para a história da educação brasileira. Brasília, MEC/INEP. .(1995a). “A instrução pública e a primeira história sistematizada da educação brasileira”. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 93, pp. 51-59. .(1995b). “Articulação teórico-empírica na pesquisa histórica: notas de estudo”. Eventos, Brasília, INEP, n. 6, pp. 54-67 (Série Documental). .(1996). “Ensino e historiografia da educação: problematização de uma hipótese”. Revista Brasileira de Educação, n. 1, pp. 67-79. .(1998). Goya: o poeta da alma humana. Rio de Janeiro, Espaço Novo, Centro de Estudos do Movimento e Artes (mimeo.). .(1999). “Filosofia, sociologia e história (da educação): interfaces, embates e novas tendências”. Educação em foco, Juiz de Fora, UFJF, vol. 4, n. 1, pp. 11-26, mar./ago. NUNES, Clarice & CARVALHO, Marta M. C. de (1993). “Historiografia da educação e fontes”. Cadernos ANPEd, n. 5, pp. 7-64. PAIVA, Vanilda (1973). Educação popular e educação de adultos. São Paulo, Loyola. 158 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 PAZ, Octavio (1970). Corriente alterna. México, Siglo XXI. PEIXOTO, Anamaria Casasanta (1998). Museu da Escola de Minas Gerais: um projeto a serviço de pesquisadores e docentes. Belo Horizonte, Secretaria de Estado da Educação. QUINTAR, Estela B. (2001). En dialogo epistemico-didatico. Universidad Nacional del Comahue (mimeo.). RICOEUR, Paul (2002). “O passado tinha um futuro”. In: MORIN, Edgar. A religação dos saberes. O desafio do século XXI. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. SCHNEIDER, Michel (1990). Ladrão de palavras. Campinas, Editora da UNICAMP. SILVA, Zélia Lopes da (org.) (1995). Cultura histórica em debate. São Paulo, Editora da UNESP. SOLER, Ramón P. Munoz (1980). Antropologia de sintesis. Buenos Aires, Ediciones Depalma. SOUZA, Maria Cecília Cortez Christiano de (2000). Escola e memória. Bragança Paulista, EDUSF. SQUIRES, Geoffrey (1999). Teaching as a professional discipline. Londres, Falmer Press. THOMPSON, E. P. (1989). Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad pre industrial. Trad. de Eva Rodriguez. Barcelona, Editora Crítica. TUCHMAN, Barbara W. (1991). A prática da história. Rio de Janeiro, José Olympio. VEYNE, Paul (1983). Como se escreve a história. São Paulo, Martins Fontes. VIÑAO FRAGO, Antonio (2000). “Las autobiografias, memorias y diarios como fuente histórico-educativa: tipologia y usos”. Teias, Rio de Janeiro, UERJ, n. 1, pp. 82-97, jun. WEHLING, Arno (1992). “Fundamentos e virtualidades da epistemologia da história: algumas questões”. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, CPDOC, n. 10, pp. 147-169. ZEMELMAN, Hugo (2001). El problema del conocimiento desde la realidad sociohistorica. Neuquen, abr. (mimeo.). A história da educação programada uma aproximação da história da educação ensinada nos cursos de pedagogia em Belo Horizonte Luciano Mendes de Faria Filho* José Roberto Gomes Rodrigues** O texto busca contribuir com o esforço desenvolvido pela SBHE e por alguns pesquisadores de chamar a atenção para a necessidade de se discutir de forma sistemática a questão do ensino de história da educação no Brasil. Apesar de configurar-se como uma disciplina dos cursos de formação de professores, ainda no século XIX, e daí retirando parte de sua precária legitimidade no campo da educação, o ensino de história da educação não tem sido objeto de reflexão sistemática por parte de seus praticantes, sejam eles professores ou pesquisadores. No texto fazemos algumas análises sobre o ensino de história da educação brasileira em cinco instituições de ensino superior de Belo Horizonte. Para tanto, analisamos oito programas de ensino elaborados pelos professores dessas instituições e repassados aos alunos de seus cursos de pedagogia. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO; ENSINO; PEDAGOGIA. Following the steps of the SBHE and other researchers, this work aims at focusing on the necessity to systematically discuss the question of how the history of education is being taught in Brazil. Even though it has been part of the official curriculum of teacher training colleges since the XIXth century, which partly explains its somehow precarious legitimacy in the educational field, the teaching of the history of education has not yet been the object of a systematic reflection among those who make use of it, be them professors or researchers. In this work, we will offer a few analyses of how the history of Brazilian education is approached by five institutions of further education in Belo Horizonte. In order to do so, we analysed eight programmes elaborated by teachers of the given institutions and offered to the students of pedagogy courses there. HISTORY OF EDUCATION; TEACHING; PEDAGOGY. * Professor doutor da Faculdade de Educação da UFMG. ** Professor mestre de história da educaçãp da UNEB. 160 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Il faut bien s’imaginer les dilemmes d’un professeur confronté à des étudiants qui ne sont pas destinés à être eux-mêmes historiens et qui attendent du cours un profit dans leur future pratique profissionelle. La connaissance du passé n’est pas en effet pour eux une fin, mais un moyen. Compère, 1995, p. 34 Como se ha repetido muchas veces, el esdudio de la historia de la educación cumpre, al menos, una doble función en su proceso formativo. Por una parte, les (profesores) ofrece los recursos intelectuales que necesitam para analizar e interpretar su ámbito de trabajo desde una perspectiva histórica, así como para lograr una comprensión inteligente del lugar que ellos mismos ocupan en dicho contexto. Por otra parte, les permite desarrolar una conciencia histórica, de caráter crítico, que debe precaverles frente a las abundantes concepciones deterministas y las explicaciones intemporales de los hechos educativos en que participan. Ferrer et al. 2002, p. 15 Introdução Falar do ensino de história da educação deveria implicar, necessariamente, situar esta disciplina no quadro mais amplo das disciplinas que compõem a formação do professor nos cursos de pedagogia e nas demais licenciaturas, e em sua relação com o campo acadêmico de pesquisas nesta área. Além disso, seria de se esperar uma reflexão específica sobre a história das disciplinas e suas relações com o ensino e a pesquisa na área. No entanto, estes aspectos fogem ao objetivo e ao escopo deste texto, seja por falta de tempo dos autores, seja porque o assunto já tenha sido mais bem trabalhado em outros momentos e/ou por outras pessoas com mais propriedade (Nunes, 1995, 1996; Kuhlmann, 1999). Apesar destas reticências, este nosso texto quer contribuir com um esforço desenvolvido pela Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE) e por alguns pesquisadores de chamar a atenção para a necessidade de se discutir de forma sistemática a questão do ensino de história da educação no Brasil. Apesar de configurar-se como uma dis- a história da educação programada 161 ciplina articulada desde os cursos de formação de professores, ainda no século XIX, e daí retirando parte de sua precária legitimidade no campo da educação, o ensino de história da educação jamais foi objeto de reflexão sistemática por parte de seus praticantes, sejam eles professores ou pesquisadores. Há uma unanimidade entre os pesquisadores da área de que nas últimas décadas, com o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação, da organização de congressos e sociedades científicas, houve uma renovação acentuada das pesquisas na área e um fortalecimento do perfil acadêmico deste campo de pesquisa. No entanto, parece-nos que apenas recentemente se vem fortalecendo a preocupação com as discussões acerca do ensino da disciplina, praticamente inexistindo pesquisas que tratem desta temática (Vidal & Faria Filho, 2003). A negligência para com as questões relacionadas ao ensino, sobretudo aquele que se dá no âmbito do ensino superior não é, no entanto, característica apenas de nossa área. Mesmo em áreas que já construíram uma relativa tradição em pesquisas sobre o ensino, como a história e a geografia, por exemplo, pouco se discute o ensino que ocorre nas universidades ou faculdades em suas respectivas áreas. As explicações para isto devem ser buscadas, portanto, para além dos marcos disciplinares, nas regras universitárias relativas à construção do prestígio e poder acadêmicos. Neste sentido, o que nos propomos a fazer neste texto é, de forma muito preliminar, algumas análises sobre o ensino de história da educação brasileira em cinco instituições de ensino superior de Belo Horizonte. Para tanto, vamos nos ater unicamente à análise dos programas de ensino elaborados pelos professores dessas instituições e repassados aos alunos de seus cursos de pedagogia. Reunimos, ao todo, oito programas, já que na Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG) a mesma disciplina comportava, à época (2001), três programas diferentes. Já na Universidade Federal de Minas Gerias (UEMG), eram duas as disciplinas a tratar da história da educação brasileira. É importante considerar ainda que, além de se tratar de escola de Belo Horizonte e de cursos de pedagogia, os programas referem-se a instituições públicas e privadas, a universidade e centros universitários, cujos professores, no momento da pesquisa, quase todos participavam 162 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 das discussões e pesquisa sobre história e historiografia desenvolvidas no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação (GEPHE), da Faculdade de Educação da UFMG. O trabalho com os programas tem, obviamente, uma série de limites, os quais já foram exaustivamente apontados pelos historiadores do currículo, da cultura escolar e das disciplinas, entre outros, e dos quais temos consciência. Todos sabemos, no entanto, que tais limites, uma vez considerados, não impedem que a partir dessa documentação possamos tecer algumas considerações sobre o ensino da história da educação “programada” para ser ensinada aos alunos. Ou seja, sabemos que os programas objetivam práticas e são espaços de práticas e de disputas, as quais se dão, no entanto, em torno de prescrições, e não em relação àquilo que será ou não efetivamente trabalhado. Assim, supondo sempre este distanciamento dos programas em relação aos conteúdos efetivamente desenvolvidos em sala, esperamos poder contribuir para o entendimento para a escolha que um determinado grupo de professores realiza dentro do universo de possibilidades (de conteúdos, temas, bibliografia e autores) para compor aquilo que acha que deve ser ensino de história da educação para um determinado grupo de alunos. Por outro lado, ao explicitar as escolhas feitas e as seleções operadas, pensamos poder ajudar na compreensão de questões cruciais para nossa área de atuação, tais como: Quais as relações entre a pesquisa e o ensino de história da educação? Estaria o ensino de história da educação incorporando as inovações temáticas propostas pela pesquisa na área? Como os professores têm lidado com este problema? Qual história da educação tem sido escolhida quando se trata de formar professores? Com quais critérios têm trabalhado os professores no momento da seleção temática e bibliográfica? Os nomes da disciplina No que se refere à denominação da disciplina, prevalece a denominação comum de história da educação, muito embora possamos encon- a história da educação programada 163 trar programas com denominação diferente. Na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), na UFMG, e na Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC), a disciplina é chamada simplesmente de história da educação, nome ao qual se pode acrescentar ou não um número identificador de sua posição da grade curricular do curso – II, na UFMG, e III e IV, na FUMEC. Já na UEMG, a disciplina denomina-se estudos históricos, nome seguido de um complemento que a especifica: A educação brasileira no século XX – o pensamento educacional e suas bases sociais e políticas ou educação na formação social moderna – sociedade brasileira e educação. E no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH), além de história da educação, ela é também denominada de fundamentos históricos da educação. Observa-se, pois, que na UFMG, na FUMEC e na UEMG, existe mais de uma disciplina de história da educação na grade curricular do curso de pedagogia e que, os programas de que estamos tratando, supõem uma integração entre elas. Assim, é de se supor, logicamente, que para os cursos de história da educação II (na UFMG) ou as história da educação III ou IV (na FUMEC), o aluno já terá cursado a disciplina anteriormente. A mesma integração parece estar suposta nos programas da UEMG, onde o aluno cursaria a disciplina história da educação: educação na formação social moderna – sociedade brasileira e educação, antes de outra que trata especificamente do século XX. No entanto, isto não aparece explícito no programa. No caso da PUC-MG, se se considera a bibliografia indicada, podese considerar que na mesma disciplina pretende-se tratar tanto da história da educação “geral” quanto da história da educação no Brasil, o que não ocorre com nenhum dos outros estabelecimentos. As ementas e os objetivos No que se refere às ementas das disciplinas, em todos os programas, busca-se apontar para as relações entre a educação e a constituição histórica da sociedade brasileira. Alguns chamam a atenção para a relação entre educação e capitalismo e/ou industrialização, para a questão da 164 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 exclusão social e apontam para a necessidade de problematizar o momento atual da educação brasileira dentro do curso. Estas dimensões aparecerão, também, no momento de elaboração dos objetivos do curso. Neles os objetivos aparecem, sistematicamente, como o de levar o aluno a analisar, sistematizar e compreender a história da educação brasileira, além de contribuir para o redimensionamento das práticas escolares e/ou para a compreensão da educação atual. Observa-se nas ementas e nos objetivos uma ausência de uma discussão específica sobre a questão historiográfica. No entanto, é preciso considerar que, talvez, esta tenha sido trabalhada nos semestres anteriores do curso ou, mesmo, no interior mesmo da discussão dos assuntos específicos. Cumpre, ainda, chamar a atenção para o fato de as ementas serem muitos gerais, e por vezes genéricas, e não darem conta, como veremos mais à frente, da dispersão temática abordada pelos programas. No que se refere à abrangência geográfica e temporal dos assuntos tratados nos programas, conforme já foi explicitado, todos tratam do Brasil e, com exceção dos programas da UEMG e um dos programas da UFMG, abrangem do século XVI ao XX. No caso dos programas da UEMG, um abarca do século XVI ao início do século XX e outro trata apenas do século XX. No caso do programa da UFMG, ele trata dos séculos XIX e XX. No entanto, ao se especificarem os temas a serem tratados e ao se escolher a bibliografia a ser adotada, estas temporalidades amplas dão lugar a múltiplas temporalidades. Assim, nos programas convivem, lado a lado, temporalidades demarcadas a partir de uma história política (Monarquia, República, Revolução de 30, Estado Novo, Golpe de 1964 e Constituição de 1988), com temporalidades propriamente educacionais. No entanto, em se tratando destas últimas, não há muito consenso sobre critérios de periodização. O mais das vezes, utilizam-se as reformas ou datas de edição de leis educacionais como marcos importantes das temporalidades. No entanto, outros critérios também são utilizados, como aquele que utiliza o período de 1870 a 1920 como significativa para nossa história educacional. Ainda no que se refere aos períodos demarcados nos programas, há uma clara ênfase ao período a partir de 1870, observando-se, no entan- a história da educação programada 165 to, uma presença significativa de temas explicitamente referidos ao século XIX como um todo. Os conteúdos e a bibliografia selecionados Para o estudo das temáticas presentes nos programas e dos assuntos escolhidos pelos seus autores para o detalhamento dessas temáticas, gostaríamos de chamar a atenção para o quadro I, a seguir. Quadro I INCIDÊNCIA DE TEMÁTICAS NOS PROGRAMAS ANALISADOS Temáticas Política Educacional Escola Nova Reformas Educacionais Pensamento Educacional Movimentos Sociais e Educação Instituições Escolares Legislação Educacional Métodos de Ensino Mulher/Questões de Gênero Profissão Docente Religião e Educação N. de Programas 8 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 Observa-se, em primeiro lugar, que considerando os temas (assuntos) de maior incidência nos programas de ensino analisados, as escolhas dos professores têm recaído sobre temáticas eminentemente escolares, ou seja, a história da educação ensinada tem sido, grosso modo, uma história da educação escolar. Em segundo lugar, observa-se que os programas, geralmente, articulam-se em torno de temas consagrados pela historiografia educacional brasileira. Assim, a temática das políticas educacionais ocupa o topo 166 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 das preocupações comuns dos professores responsáveis pela produção dos programas, sendo o único tema a aparecer, pelo menos explicitamente, em todos os programas. Em seguida, vem um conjunto de temas que a historiografia educacional brasileira constituiu, ao longo dos anos, como fundamentais para a disciplina, seja no âmbito do ensino ou da pesquisa (pensamento educacional, Escola Nova, reformas educacionais...). Em relação a esses temas, é preciso atentar para o fato de que o seu desdobramento, nos programas, em assuntos específicos de ensino/discussão, pode dar lugar a “subtemas” inovadores dentro de temáticas ditas “tradicionais”. Este é o caso, algumas vezes, do estudo da Escola Nova que, ao ser detalhado, dá lugar, em alguns programas, às discussões sobre higienismo e eugenia, por exemplo. Pode ocorrer também de um tema mais geral ser tratado sistematicamente de forma reduzida. Assim, a questão da relação entre religião e educação dá lugar, na verdade, ao estudo da ação dos jesuítas no chamado período Colonial e a temática da profissão docente é enfocada quase exclusivamente a partir da questão da formação de professoras nas escolas normais. Mas não é apenas o desdobramento dos temas gerais, e por vezes tradicionais, em assuntos específicos, que demonstra a gama muito rica de aspectos específicos que são selecionados pelos professores no momento da confecção dos programas. Uma análise deles mostra que, ao lado daqueles temas mostrados no quadro, um número relativamente grande de outros temas são explicitados. Assim, aparecem nos programas temáticas tais como: adolescência, analfabetismo, ensino superior/ universidade, escolarização, etnia, gênero e educação da mulher, higiene e educação, infância, inovação educacional, instituições escolares, leitura, método de ensino, organização escolar, práticas educativas, profissionalização do ensino, sistema de ensino. Dentro desta dispersão temática, é interessante notar que o ensino superior/universidade aparece como um tema específico. Não é de estranhar isto, pois os programas tratam de uma história da educação elementar/primária/1o grau, e muito pouca atenção dão à educação infantil (0 a 6 anos), ao médio/secundário/2o grau e ao superior/universidade. a história da educação programada 167 Daí o fato de esses níveis aparecerem, muitas vezes, destacados dentro do programa, indiciando um tratamento mais rápido e superficial deles. Ainda no que se refere à dispersão temática, uma análise das bibliografias adotadas pelos programas é também muito reveladora. Para proceder esta análise, organizamos alguns quadros, os quais passamos a comentar a seguir. O número total das obras referidas nos oito programas é de 184. No entanto, como era de se esperar, um programa repete obras citadas nos outros. Assim, verificamos que, desconsiderando as repetições, os programas arrolam 99 obras diferentes em suas bibliografias. Verificamos, também, que mais de dois terços das obras aparecem apenas uma vez no conjunto dos programas e que nenhuma obra aparece em todos os programas. Porém, se 34,3% das obras aparecem em mais de um programa, 22,2% são repetidas em apenas dois deles. Quadro II FREQÜÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS LIVROS ARROLADOS NAS BIBLIOGRAFIAS DOS CURSOS Freqüência 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 1 vez Total N. Títulos % 22 7 2 1 0 1 66 99 22,2 7,1 2,0 2,0 00 1,0 65,7 100,0 Considerando, ainda, o número de obras repetidas três ou mais vezes (12,1%), verifica-se que os professores trabalham com “textos” muitos diversificados em suas aulas. Tal diversificação pode, por um lado, ser necessária para se trabalhar com a diversidade de temas verificada anteriormente, pois, senão, como trabalhar com um programa 168 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 que abrange desde o século XVI até as modernas transformações na educação escolar provocadas pelo uso do computador? Por outro lado, tal dispersão pode, também, denunciar a ausência de referências claras e de obras que as objetivem – e de um mínimo de consenso sobre o que seria importante ensinar em história da educação brasileira. A este respeito, o quadro seguinte oferece-nos indícios bastante interessantes. Várias são as formas de nos aproximarmos do quadro III e de analisar as obras nele indicadas. Em qualquer delas, não poderíamos deixar de assinalar a especificidade do Manifesto dos Pioneiros... documento (monumento) dos mais emblemáticos da história da educação brasileira. Em virtude da natureza deste texto, a qual destoa bastante dos demais, nas análises que se seguem, não vamos, pois, enfocá-lo. Quadro III RELAÇÃO DAS OBRAS CITADAS TRÊS OU MAIS VEZES NO CONJUNTO DOS PROGRAMAS Obra 1 “Cultura e educação libertária no Brasil no início do século XX” 2 Educação popular e educação de adultos 3 Estado militar e educação no Brasil 4 O golpe na educação 5 História da educação no Brasil: 1930-1973 6 História da educação 7 Manifesto dos educadores da educação nova 8 A escola e a República 9 Perspectivas históricas da educação 10 Analfabetismo no Brasil: da ideologia da interdição do corpo à ideologia nacionalista 11 500 anos de educação no Brasil Natureza Número de 1ª edição vezes citadas Artigo 3 1982 Livro Livro Livro Livro Livro Artigo Livro Livro 3 3 3 3 3 3 4 4 1973 1993 1989 1978 1989 1932 1989 1986 Livro Coletânea 5 7 1989 2000 Ainda antes de passarmos à análise dos dados do quadro III, é necessário dizer que o livro 500 anos de educação no Brasil foi citado sete a história da educação programada 169 vezes, mas em apenas três programas. Ou seja, o fato de constituir-se em uma coletânea permite que diferentes capítulos da obra sejam citados no mesmo programa de curso, o que não ocorre com as demais obras. Numa primeira classificação, poderíamos dizer que, formalmente, trata-se de oito livros de autoria única ou em co-autoria, um artigo e um livro/coletânea, reunindo, este último, artigos de mais de 20 pesquisadores. De outro modo, poderíamos dizer, também, que dos textos citados, um foi publicado pela primeira vez nos anos de 1970, oito nos anos de 1980 e, finalmente, um foi publicado em 2000. Este quadro, no entanto, parece diferenciar-se bastante quando vamos analisar as obras/textos que são citados apenas uma vez: aí, o que se impõe é a atualidade da produção, boa parte dela referente a pesquisas realizadas nos anos de 1990. Em seguida, poderíamos dizer que destes 10 textos, apenas dois (História da educação e 500 anos...) se propõem a tratar da história da educação brasileira do século XVI aos nossos dias; um deles trata de aspecto específico da educação brasileira (educação popular e educação de adultos) ao longo de nossa história; outros seis tratam de abordagens gerais ou de temas específicos da educação brasileira do final do século XIX e ao longo do século XX, sendo que dois deles se referem apenas ao período pós1964; o último (Perspectivas históricas da educação) não se refere a um tempo específico, pois se trata de um livro de introdução historiográfica. No que se refere aos assuntos enfocados, três dos livros apresentam uma abordagem de assuntos gerais da história da educação brasileira (História da educação no Brasil, História da educação e 500 anos...), um trata, como já citado, de uma reflexão historiográfica e os seis restantes tratam de aspectos específicos de nossa história educacional. Aqui, cumpre chamar a atenção para o fato de que o único livro escrito por um só autor que trata da história da educação brasileira da Colônia “aos dias atuais” (História da educação), não foi escrito originalmente para a utilização em cursos superiores, mas sim nos cursos normais de nível médio1. Estes elementos anteriormente identificados indicam-nos que as obras mais citadas nos programas referem-se, em sua maioria, a aspectos 1 Este livro trata, na verdade, da história da educação geral e brasileira. 170 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 específicos da história da educação brasileira, que nem sempre foram escritas por historiadores da educação. Aqui é importante salientar, mais uma vez, o número muito pequeno de obras comuns aos vários programas e a ausência de obras que foram (são) referência para a historiografia da educação brasileira. A título de exemplo, podemos citar a Cultura brasileira I (Fernando de Azevedo), que aparece em apenas um programa, e o Educação e sociedade na Primeira República (Jorge Nagle), que não aparece em nenhum dos programas estudados. O quadro IV nos mostra quantas vezes um mesmo autor aparece nas bibliografias dos programas de cursos analisados. Para produzi-lo, somamos o número de vezes que o autor aparece num mesmo programa e/ou em diversos deles. Assim, se, por exemplo, um autor apareceu duas vezes em um determinado programa e uma vez em outro, ele aparece em nosso quadro como se tivesse sido referido três vezes. O fato de o número de autores referidos ser maior do que o número de obras é causado pelo fato de que uma mesma obra pode ter mais de um autor. Quadro IV FREQÜÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS AUTORES ARROLADOS NAS BIBLIOGRAFIAS DOS CURSOS Freqüência 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 1 vez Total N. de Autores % 26 12 1 3 2 62 106 24,5 11,3 1,0 2,8 1,9 58,5 100,0 A primeira constatação que este quadro nos permite é uma grande dispersão dos autores com os quais os professores trabalham. No conjunto, vimos que os programas trabalham com mais de 100 autores diferentes. No entanto, o fato de 42% dos autores terem sido citados mais de uma vez – na verdade, desses, mais de 24% o foram apenas duas vezes – nos a história da educação programada 171 mostra que a dispersão dos autores é menor do que a das obras. Ou seja, nos programas, as obras variam mais que os autores. Assim, no que se refere às temáticas abordadas, à bibliografia e aos autores citados, podemos considerar que os programas, apesar de manterem certos temas consagrados pela historiografia, parecem acolher assuntos de interesse mais recente. Daí, em parte, a explicação para o leque bastante aberto de autores e obras referidas. Doutra parte, conforme salientamos, a especificidade da reflexão historiográfica não encontra acolhida nos programas, o que de resto pode ser reafirmado pela baixa incidência de obras que se ocupam dessa questão no conjunto dos programas. Algumas possíveis razões para este fato foram explicitadas quando da análise das ementas. No entanto, aqui esta questão nos interessa por outra razão: para chamar a atenção para a baixíssima incidência de obras sobre história e historiografia brasileira nos programas. O fato é que, ao analisarmos a bibliografia dos programas, detectamos que há um número muito reduzido de obras que não se referem diretamente à educação. Destas, apenas dez títulos referem-se à história do Brasil. Finalmente, ainda no que se refere a estas questões que estamos tratando, nota-se que, apesar de todos os programas se referirem genericamente ao Brasil, os seus responsáveis não ficam alheios à realidade mineira. A história da educação mineira é muito recorrente, quer seja ao especificar temas ou assuntos a serem trabalhados, quer seja na bibliografia selecionada para o curso. Algumas considerações sobre o ensino e a pesquisa em história da educação Se considerarmos estudos recentes sobre a pesquisa e a produção científica em história da educação no Brasil (Alves, 1998; Carvalho, 2000, 1998; Catani & Faria Filho, 2002; Veiga & Pintassilgo, 2000; Vidal & Faria Filho, 2003; Warde & Carvalho, 2000; Xavier, 2001) veremos que o exame dos programas nos revela que o ensino da disciplina nos cursos de graduação em pedagogia dialoga fortemente com aque- 172 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 las. Ou, dizendo de outra forma, não parece existir um grande distanciamento entre o que pesquisamos e publicamos e aquilo que os professores de Belo Horizonte selecionam para ensinar para seus alunos. As temáticas que mais aparecem nos programas e os períodos aos quais se enfatiza são os mesmos tanto na pesquisa quanto no ensino. Também a dispersão temática é apontada nos balanços recentes sobre a produção acadêmica da área, o mesmo acontecendo com as múltiplas temporalidades dos objetos específicos enfocados. A baixa incidência de textos que trazem grandes sínteses da história da educação brasileira também parece ser a forma como aparece no âmbito do ensino uma problemática muito presente nas discussões da área: a de que os enfoques teórico-metológicos adotados por boa parte dos pesquisadores da área se caracterizam, dentre outras coisas, pelo abandono da pretensão de grandes sínteses e valorizam a busca pelo trabalho verticalizado sobre temas específicos. Parece que se passa no ensino o mesmo que na pesquisa: os nossos alunos saberiam cada vez mais de temas cada vez mais delimitados temporal e espacialmente. Talvez os programas que estejamos analisando sejam muito particulares e não revelem o movimento do ensino da disciplina em todo o país. No entanto, mesmo considerando este fato, se estes fenômenos são minimamente verdadeiros, eles não deveriam nos preocupar? A ausência de livros e abordagens de síntese, que sem dúvida parece ser reforçada pela sistemática de publicação de coletâneas e pela “indústria da cópia” de artigos e capítulos de livro, não estaria significando um empobrecimento da formação dos professores e, mesmo, dos futuros pesquisadores? Qual o sentido de um aluno conhecer profundamente sobre um determinado objeto singular se ele não dominar os conhecimentos e a cultura histórica da área para poder dimensionar o seu significado deste objeto no conjunto da história da educação brasileira? Aqui, mesmo correndo o risco do exagero, é preciso ponderar se a inovação que ocorre no âmbito da pesquisa, com a multiplicidade de enfoques e objetos, não poderia estar trazendo mais prejuízos do que enriquecimentos ao ensino da disciplina. Talvez não devêssemos ser tão alvissareiros ao saldar como positivo o diálogo tão prontamente entre o ensino e a pesquisa em nossa área. Aqui, a ausência de uma cultura a história da educação programada 173 histórica sólida, a qual possibilitaria, até mesmo, a elaboração de sínteses mais complexas sobre a nossa história educacional, pode significar que ao invés de avançarmos na formação cultural e histórica de nossos alunos de pedagogia, estejamos regredindo e empobrecendo esta mesma formação. Conforme afirmava, recentemente, Justino Magalhães: As funções de professor fomentam um raciocínio convergente, articulado, integrado e integrador, esclarecido e esclarecedor; um raciocínio fechado em torno de questões conclusivas. Enquanto o registro de investigador se despe de sentido se não for (in)conclusivo, aberto, questionador, provocativo, divergente. O discurso do professor é um discurso de compromisso, de mediatização entre o saber/o ponto da situação desse saber (conhecimento) e o seu público, ou os seus públicos. Enquanto o discurso do investigador é de abertura a novas categorias conceptuais e por vezes, fragmentário; é metadiscursivo: estrutura-se sob uma lógica hipotético-problemática: é projectivo e constrói o seu sentido, numa lógica meta-historiográfica e historiográfica [1998, p. 10]. Talvez esteja no momento de, também no ensino, começarmos a pensar no justo equilíbrio entre a inovação e a tradição e deixarmos de considerar que a novidade é, por si só, positiva e benéfica para a formação. Se, por um lado, é preciso fazer a crítica da nossa tradição disciplinar e dos problemas que esta trouxe para o ensino, é preciso, também, considerar que somente se inova verdadeiramente se conhece aquilo que se quer superar. É por isso que desde muito se sabe que o movimento do ensino é o oposto daquele da pesquisa: enquanto este visa ao desconhecido, aquele pretende ensinar o que já se conhece, aquilo que, pela tradição, veio tornando-se a cultura da área. Mas, hoje, qual a cultura histórica em educação temos para ensinar? Qual história da educação temos ensinado? 174 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Referências Bibliográficas ALVES, Cláudia Costa (1998). “Os resumos das comunicações e as possibilidades esboçadas no II Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação”. In: CATANI, Denice B. & SOUZA, Cynthia Pereira de (orgs.). Práticas educativas, culturas escolares, profissão docente. São Paulo, Escrituras. CARVALHO, Marta Maria Chagas de (2000). “L’histoire de l’éducation au Brésil: traditions historiographiques et processus de rénovation de la discipline”. Paedagogica Historica – Internacional; Journal of the History of Education, vol. 36, n. 3, pp. 909-933. . (1998). “A configuração da historiografia educacional brasileira”. In: FREITAS, Marcos Cezar (org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo, Contexto/Bragança Paulista, EDUSF, pp. 329-353. CATANI, Denice Bárbara & FARIA FILHO, Luciano Mendes de (2002). “Um lugar de produção e a produção de um lugar: a história e a historiografia divulgadas no GT história da educação da ANPEd (1985-2000)”. Revista Brasileira de Educação, n. 19, pp. 113-128, jan./abr. COMPÈRE, Marie-Madeleine (1995). L’histoire de l’éducation en Europe. Paris, Peter Lang/INRP. FERRER, Alejandro T. et al. (coords.) (2002). Historia de la educación (Edad Contemporánea). Madri, UNED. KUHLMANN JR., Moysés (1999). “Raízes da historiografia educacional brasileira (1881-1922)”. Cadernos de Pesquisa, n. 106, pp. 159-172, mar. LOPES, Eliane Marta & GALVÃO, Ana Maria (2001). História da educação. Rio de Janeiro, DP&A. MAGALHÃES, Justino P. (1998). Fazer e ensinar história da educação. Braga, Universidade do Minho. NUNES, Clarice (1995). “A instrução pública e a primeira história sistematizada da educação brasileira”. Cadernos de Pesquisa, n. 93, pp. 51-59, maio. .(1996). “Ensino e historiografia da educação: problematização de uma hipótese”. Revista Brasileira de Educação, n. 1, pp. 67-79, jan./abr. RODRIGUES, José R. G. (2002). O ensino de história da educação brasileira nos cursos de pedagogia de Belo Horizonte: tendências e perspectivas. Dissertação (Mestrado) – FaE/UFMG, Belo Horizonte. a história da educação programada 175 VEIGA, Cynthia G. & PINTASSILGO, Joaquim (2000). Pesquisas em história da educação no Brasil e em Portugal: caminhos da polifonia. Belo Horizonte/ Lisboa, 17p. (impresso). VIDAL, Diana G. & FARIA FILHO, Luciano M. de (2003). História da educação no Brasil: um território em disputa. São Paulo/Belo Horizonte, 48p. (mimeo.). WARDE, Mirian & CARVALHO, Marta (2000). “Política e cultura na produção da história da educação no Brasil”. Contemporaneidade e Educação, ano V, n. 7, 1o. sem., pp. 9-33. XAVIER, Libânea Nacif (2001). “Particularidades de um campo disciplinar em consolidação: balanço do I Congresso Brasileiro de História da Educação (Rio de Janeiro/2000)”. In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (org.). Educação no Brasil, Campinas, Autores Associados/São Paulo, SBHE. 176 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Educação e desenvolvimento nacional* Geraldo Bastos Silva O tema central deste texto produzido por Geraldo Bastos Silva, em 1965, foi objeto de estudo do III Curso de Treinamento de Pessoal em Planejamento Educacional, oferecido pela Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais “Prof. Queiroz Filho”. O texto apresenta um momento histórico da educação nacional, interrogando sobre o problema da “eficiente operação da escola dentro da multidão de fatores em interação contínua na realidade sociocultural”. A resposta vem associada à consideração dos aspectos culturais da instituição escolar no contexto de subdesenvolvimento econômico do país. ENSINO SECUNDÁRIO; DESENVOLVIMENTALISMO; EDUCAÇÃO BRASILEIRA. The central theme of this produced by Geraldo Bastos Silva in 1965, was a subject of study at the third Personnel Training Course on Educational Planning. This course was offered by the Department of Improvement of the Teaching Staff of the national education history in Brazil, and relates the issue of “school efficient operation” to a multitude of socio-cultural factors. The answer, therefore, takes into consideration the cultural aspects of this institution within the context of economic underdevelopment of Brazil. HIGH SCHOOL; DEVELOPMENT; BRAZILIAN EDUCATION. * Mimeo. CRPE (Centro Regional de Pesquisas Educacionais), Fundo: Carlos Mascaro, 1965. Centro de Memória da Educação FEUSP – Universidade de São Paulo. 178 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Introdução Como toda instituição social, a escola existe para realizar fins determinados, atender a necessidades surgidas no processo da vida social e resolver problemas relacionados com a continuidade e a expansão da vida coletiva. O caráter estrutural ou configurado da vida social e o seu permanente dinamismo fazem da própria existência da escola, como de toda e qualquer instituição, um problema: o problema do seu adequado funcionamento, sem atritos que comprometam a consecução dos fins precisos a que ela deve visar, ou levem a uma realização desses fins que impeça ou dificulte a satisfação de outras necessidades também vitais; ou o de permitir a eficiente operação da escola dentro da multidão de fatores em interação contínua na realidade sociocultural. Como se apresenta esse problema, cujo estudo é indispensável para que se possam estabelecer as linhas mestras de uma política de educação, no caso de uma sociedade como a brasileira, na qual: 1o – A cultura que dá expressão às tentativas de solução dos seus problemas é, em grande ou maior parte, uma cultura constituída de elementos, valores e instituições transplantados, isto é, não gerados por processos endógenos ocorridos nessa sociedade, como se verifica, precisamente, em relação à escola? o 2 – A economia encontra-se em estado de subdesenvolvimento, o que a constrange, para não ficar em posição insustentável perante as nações plenamente desenvolvidas – cujo poderio e cuja influência tendem a criar um sistema de relações no qual permanecer em estado de subdesenvolvimento eqüivale à estagnação ou à decadência – a fazer de toda sua cultura e da educação, particularmente, mediante a utilização da experiência dessas nações e a criação de um repertório original de soluções, um instrumento de eficiência vital e de desenvolvimento econômico? educação e desenvolvimento nacional 179 Noção de cultura transplantada A compreensão da formação brasileira como caso de transplantação cultural superou, há muito, o estado polêmico. É, hoje, uma categoria largamente utilizada na interpretação da realidade brasileira. Caio Prado Júnior expressa muito bem esse conceito ao dizer: Ocorre em relação a nossos países latino-americanos uma circunstância elementar – talvez por isso mesmo freqüentemente esquecida ou subestimada – e que, contudo, tem grande significação. Refiro-me tanto ao fato de que somos constituídos de populações em sua maioria estranhas, por sua origem e tradição cultural, ao meio geográfico em que se encontraram por efeito da colonização, bem como as contingências a que foram submetidas. E, por isso, nem sempre souberam adaptar-se devidamente e, sobre a base das novas condições em que se acharam, elaborar uma cultura própria e original1. “A cultura”, diz ainda Caio Prado Júnior, não é um elemento abstrato e sobreposto às contingências e experiências humanas. Tem um conteúdo muito concreto e intimamente relacionado com a vida do homem. Em seus objetivos se destina a servir ao homem e a sustentálo na luta pela existência; em sua origem, se forma e se inspira nesta luta e na experiência que ela proporciona. Sendo assim, a cultura de um povo, para ser verdadeira e genuinamente sua, necessita ligar-se intimamente às contingências de sua formação e evolução – contingências materiais (o meio físico que é o seu) e contingências humanas: as circunstâncias próprias de sua constituição histórica. Deve ser a expressão fiel da experiência de cada povo, atuando em seu meio particular. Isso faltou ao Brasil e aos brasileiros. Temos vivido, ainda hoje vivemos, segundo modelos estranhos2. O fato de transplantação é, sem dúvida, como acentua Caio Prado Júnior, fonte de inúmeros desajustamentos entre nossa cultura e nossa 1 2 Caio Prado Júnior, “Caracter y desarrollo de la cultura brasileña”, em Expresión, Buenos Aires, ano 1, t. 2, mar. 1947. Idem, p. 7. 180 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 realidade mesológica, desajustamentos que vão desde os que esse autor assinala em relação à esfera da vida orgânica (alimentação, vestuário, abrigo etc.), até os que se referem ao campo da técnica de produção, exemplificados estes no caso da construção de nossa indústria siderúrgica, em relação à qual somente nos teríamos mostrado capazes de seguir a solução adotada nos países ricos em carvão, ao invés de nos termos capacitado para utilizar nossa abundante energia hidráulica3. Se passássemos dos setores da cultura material e da relativa à vida econômica para o das instituições políticas, que não se devem ajustar apenas às condições do meio físico, mas, sobretudo, às do meio psicológico e social, que é, ao mesmo tempo, causa e efeito da cultura, muitos e mais numerosos exemplos de desajustamentos poderiam ser colhidos na bibliografia da sociologia política brasileira4. Esses exemplos demonstrariam o equívoco daqueles que, desde nossa Independência, adotaram a atitude que Guerreiro Ramos classificou de exemplarista, isto é, a que consiste em advogar a adoção literal de instituições estrangeiras, ou em imaginar que o problema de nossa constituição como nação se resolveria pela adoção das instituições vigentes nos países lideres da época. O evidente erro dos que tomavam essa atitude, esquecidos das inevitáveis deformações que essas instituições sofreriam sob a influência das condições estranhas em que deveriam funcionar ou do caráter predatório que poderiam assumir, encontra sua antítese na atitude dos que tentam criar, para o país, uma superestrutura, tanto quanto possível, adequada às circunstâncias particularíssimas do meio. Segundo Guerreiro Ramos, teria sido o Visconde do Uruguai o pioneiro desta última atitude. Um outro seu precursor seria Silvio Romero. 3 4 Caio Prado Júnior cita as seguintes palavras de Pandiá Calógeras: “Se a energia hidráulica houvesse predominado sobre os combustíveis nos países de industrialização avançada, a maioria dos problemas industriais estaria resolvida em função da eletricidade. Nós, a quem falta combustível, formulemos de novo tais problemas, adotando uma nova variante e amplos horizontes se abrirão à nossa perspectiva”. Ver, entre outros, Oliveira Vianna, Instituições políticas brasileiras, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1949; Nestor Duarte, A vida privada e a organização política nacional, São Paulo, Editora Nacional, 1939; Vitor Nunes Leal, “Eleitoralismo, enxada e voto”, Rio de Janeiro, em Revista Forense, 1948. educação e desenvolvimento nacional 181 Mas é com Alberto Tôrres e, sobretudo, Oliveira Vianna, que ela se torna sistemática e ativa. Como diz ainda Guerreiro Ramos, a quase totalidade desses estudos “considera a transplantação como uma condição patológica de nossa sociedade, resultante da ação pouco esclarecida de nossos quadros dirigentes”. Especialmente por negligenciarem o fator econômico, não vêem que as transplantações são algo consubstancial à formação brasileira enquanto formação inicialmente colonial. Graças a ela saltamos várias etapas de desenvolvimento, o um território no qual se distribuíam tribos na idade da pedra lascada passou de repente para o plano da história européia. Não seria por meio do mero crescimento vegetativo que isto poderia ocorrer. A transplantação foi um expediente historicamente necessário para que se tornasse possível, a seu tempo a nação brasileira [Ver Nota A]. O nosso problema nacional, o problema de nossa organização, não é o de prescindir de transplantações, mas o de fazê-las servir, tendo consciência da sua inevitabilidade, ao programa de nosso pleno desenvolvimento, dando-lhos caráter instrumental em relação aos nossos próprios sitos conscientes e às condições objetivas em que, com o máximo rendimento, as instituições transplantadas devem operar. A educação brasileira como transplantação No campo da educação, a idéia de transplantação enquanto conceito interpretativo da realidade brasileira já foi assinalada pelo professor Anísio Teixeira, nas seguintes palavras: Não poderemos, entretanto, analisar com justeza a situação escolar brasileira presente, sem antes considerar que o nosso esforço de civilização constituiu um esforço de transplantação para o nosso meio das tradições e instituições européias, entre as quais tradições e instituições escolares. E a transplantação não se fez sem deformações graves, por vezes fatais. Como a escola foi e será, talvez, a instituição de mais difícil transplantação, por isso que pressu- 182 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 põe a existência da cultura especializada que procura conservar e transmitir, nenhuma outra nos poderá melhor esclarecer sobre o modo por que se vem, entre nós, operando a transplantação da civilização ocidental para os trópicos e para uma sociedade culturalmente mista5. A prioridade na utilização da categoria de transplantação, como conceito interpretativo da situação educacional brasileira, pertence, talvez, ao trabalho sobre “o problema na escola de aprendizagem industrial no Brasil”, no qual o caráter transplantado de nossa educação é expresso nos seguintes termos: “Nossas instituições escolares participam da mesma inspiração idealista, do mesmo caráter da transplantação que se verifica em outros setores institucionais. Se não se tem, em geral, consciência disso, o fato ainda mais digno do exame”6. Os inevitáveis desajustamentos envolvidos em toda transplantação tinham suas raízes identificadas, no caso da educação, da seguinte forma: Ao se transplantarem as instituições educativas, não se pode transplantar com as mesmas a tradição comunitária, a herança docente do grupo de que se originam. Daí resulta que essas instituições perdem, no grupo receptor toda ou quase todo eficácia, ou são reinterpretadas ou deformadas isto é, passam exercer funções compatíveis com a estrutura social e econômico em que são instaladas [Ramos, Garcia & Silva, 1953, p. 144]. O ponto de vista defendido pelos autores desse trabalho era, em outros termos, o de que, sendo a cultura brasileira, em seu todo, um produto de transplantação, e a educação brasileira um aspecto particular da vida sociocultural, como acontece com a educação de qualquer país a problematicidade inerente a qualquer transplantação cultural se reflete ou se reproduz no caso da transplantação escolar. 5 6 Anísio Teixeira, “A crise educacional brasileira”, em Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, vol. XIX, n. 50, p. 23, abr.-jun. 1953. Guerreiro Ramos, Ewaldo do Silva Garcia e Geraldo Bastos Silva, “O problema da escola de aprendizagem industrial no Brasil”, em Estudos Econômicos, Rio de Janeiro, ano IV, n. 11/12, p. 144, set.-dez. 1953. educação e desenvolvimento nacional 183 Nossa escola é, realmente, uma instituição transplantada, nascida de uma tentativa de enxertar, em nosso meio, uma instituição que nele não encontra seus pressupostos culturais necessários e que, além disso, se antecipou sempre às exigências e condições objetivas do meio social, especialmente em sua expressão econômica. Esta idéia de antecipação é um dos aspectos do conceito de transplantação que maior realce merece. É, na verdade, o fato de que a nossa escola representa uma transplantação e antecipa, de certo modo, as condições objetivas que permitiriam sua existência plenamente eficaz, que nos dá a explicação do sentimento de contínua frustração que acompanha nossos esforços escolares os quais têm sempre resultados aquém dos esperados e, portanto, são sempre desencorajadores por seu escasso ou nulo rendimento. As queixas contra a “decadência do ensino” são talvez tão velhas quanto nossa própria escola, sendo sua significação objetiva quase exclusivamente de um eco ou reflexo, na consciência, do desajustamento entre a escola e as condições reais do meio em que existe, do ponto de vista das quais a escola é uma instituição precoce ou antecipada. Antecipação, por exemplo, foi a tentativa dos jesuítas de, “numa sociedade que pelo agrarismo latifundiário e escravocrata, pelo desenvolvimento urbano rudimentar e pela precária existência de classe média, revivia, de certo modo, as condições feudais, fundar, pela transplantação, a educação que na Europa correspondia à sociedade burguesa post-renascentista” isto é, o ensino clássico-humanista , o qual “não tinha conexão genuína com as condições da sociedade colonial”7. Antecipação houve, igualmente, nas primeiras tentativas de criação, após a Independência, de uma escola popular, sendo muito significativas as esperanças que se depositaram, na época, no chamado “ensino 7 Geraldo Bastos Silva, “A ação federal sobre o ensino secundário e superior até 1930”, em Revista do Serviço Público, Rio de Janeiro, ano XVIII, vol. 69, n. 3, pp. 347348, dez. 1955. Para interpretação da educação humanista como expressão da sociedade burguesa, ver Anibal Ponce, Educación y lucha de clase, Buenos Aires, J. Hector Matera, 1951, caps. V e Vl. 184 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 mútuo”, expediente que se afigurava capaz do expedito milagre de escolarizar toda a população infantil e que fora, em seu país de origem, a Inglaterra da época da Revolução Industrial, uma tentativa de inspiração filantrópica de subtrair, pela instrução, os menores das condições desumanas do trahalho fabril e dos seus efeitos (Ver Nota B). Ainda que de passagem, cumpriria assinalar uma condição de ordem geral que concorre para dar ao esforço de construção de nosso sistema escolar, em seu conjunto, o caráter de antecipação: trata-se do grau de diferenciação social, perante o qual o desenvolvimento de nossa educação, quer primária quer média, esteve dificultado ou limitado pela ausência de condições que permitissem a formação de uma verdadeira profissão docente, sendo o ensino uma atividade suplementar, eventual ou transitória, e não uma ocupação permanente e exclusiva, quando não uma atividade substitutiva de malogrados em outras profissões. Acentuando o caráter antecipatório dos primeiros esforços de implantação, no Brasil, de um sistema de educação profissional, diziam, no aludido trabalho sobre a escola de aprendizagem, os seus autores “Menos que de necessidades objetivas, esses antecedentes históricos do ensino profissional brasileiro, constituídos por iniciativas fragmentárias, oficiais ou de particulares, correspondiam ao sentimento despertado nas elites pela verificação, realizada por efeito do contraste em relação aos países europeus mais desenvolvidos, da ausência de um verdadeiro artesanato”8. Mas isso não ocorreu apenas em relação ao ensino profissional. Nossas instituições escolares, em todos os ramos e graus de ensino, não se formaram espontaneamente, não foram precedidas de ensaios e erros realizados no decorrer do próprio processo transmissor da cultura, processo a partir do qual se passaria da educação informal ao ensino deliberado, e deste à educação sistemática em instituições especializadas. Ao contrário, essas instituições surgiram sem qualquer precedência orgânica e natural, foram completamente criadas, estabelecidas num meio 8 Guerreiro Ramos, Ewaldo da Silva Garcia e Geraldo Bastos Silva, “O problema da escola de aprendizagem industrial no Brasil”, op. cit., p. 147. educação e desenvolvimento nacional 185 no qual não se inseriam segundo o critério de exigências endógenas. E assim se fazia porque se esperava dessas instituições o milagre de modificar substancialmente esse meio, criando as necessidades ou exigências a que elas devessem satisfação, conformando-o segundo o padrão das sociedade, que nos emprestavam o modelo de acordo com o qual construíramos nossa escola, fazendo-a saltar etapas no sentido de atingir o estado evolutivo já alcançado por tais sociedades. Exemplarismo e antiutopismo na concepção do ensino que nos convém A consciência do caráter transplantado de nossa educação não nos deve levar a certa espécie de idealização das condições em que funciona a escola de outros países, nos quais, pela presença de uma cultura endógena, formada pela sedimentação de longa experiência histórica, a escola encontra condições mais favoráveis de existência. Essa idealização das condições em que existe nesses países, precisamente aqueles que considerávamos mais cultos e adiantados, esteve sempre presente nos planos e concepções que elaboramos para o desenvolvimento de nosso sistema educacional, caracterizando, no que diz respeito à educação, uma atitude de tipo exemplarista. Tal atitude conduz superestimar o poder da escola como foco de criação cultural, a esperar dela mais do que ela pode dar, na suposição de que a ocorrência daquelas condições mais favoráveis à sua vida, nos países onde isso acontece, é precisamente efeito da sua ação, tendendose, em conseqüência, a pleitear a difusão dos estabelecimentos de ensino, em nosso meio, a fim de criar condições semelhantes. As raízes mais profundas de tal atitude, no entanto, não devem ser procuradas num peculiar instinto de imitação de que freqüentemente são acusadas nossas elites. Elas se encontram, antes, em crenças e concepções que condicionaram a educação, de modo geral, em determinada fase da história do Ocidente. Houve, realmente, na história das idéias pedagógicas, um momento em que, pela confluência do filantropismo do Iluminismo e da crença 186 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 no progresso, a educação foi concebida como panacéia para todos os males sociais, como instrumento infalível, milagroso, de aperfeiçoamento humano e progresso nacional. Dizia-se que “abrir escolas é fechar prisões”, assim como se atribuía à ação da escola a vitória prussiana de 1780 sobre a França ou surpreendente desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Não é de admirar, portanto, que, entre nós, se tenha depositado na escola muitas de nossas esperanças de progresso econômico e aperfeiçoamento cultural. Somente é de registrar o caráter acentuadamente retórico ou declamatório com que se exprimiam tais esperanças, as quais raramente se fizeram acompanhar de ações eficazes no sentido do emprego dos meios materiais necessários à sua concretização. No campo das realizações práticas, estivemos sempre muito aquém do mínimo que se deveria ter feito para que houvesse proporção entre o que dizíamos esperar da ação escolar, mesmo levando em conta a estrutura de nossa economia, até há pouco predominantemente agrária, e a baixa renda nacional que a caracteriza. Diante dessas circunstâncias econômicas e da falta de um espírito, falta de iniciativa local semelhante à que existiu nos Estados Unidos, por exemplo, o qual poderia ter permitido o desenvolvimento escolar com o caráter de empreendimento das comunidades, a ação escolar em nosso país repartiu-se entre as áreas de governo geral e regionais (provincial ou estadual) e a iniciativa privada, marcada esta última, contudo, menos pelo intento de atividade pedagógica livre do controle estatal do que pelo simples espírito de empresa, sem qualquer outra preocupação que a de uma simples prestação remunerada de serviço. Além disso, a ação do governo era inevitavelmente levada a assumir, como efetivamente assumiu, uma forma centralizada, quer se tratasse de área de governo geral–centralização nacional, quer das áreas de governos regionais–centralização provincial ou estadual. Uma das características mais salientes da ação centralizadora consistia na imposição de padrões, uniformes em toda a extensão das respectivas áreas, sem que houvesse nenhuma previsão de ajustamento desses padrões à diversidade de situações locais em que as escolas realmente existiam. A adaptação mais ou menos simulada, ou mais menos formal, a tais educação e desenvolvimento nacional 187 padrões se tornava, assim, ou valorizar, em face dos consumidores, o serviço que forneciam, mediante o visto ou a fiscalização do poder público. Em tal situação de desnível, entre uma alardeada fé no poder da educação e o estado de insuficiência quantitativa e qualitativa do sistema escolar, de uma parte, e os padrões oficiais e efetivos que norteavam a vida das escolas de outra, fomos vivendo até o momento em que a pressão das condições objetivas começou a atuar no sentido de fazer da expansão e do aperfeiçoamento qualitativo da nossa educação não mais, apenas, um reclamo de nossa vaidade patriótica, mas um imperativo de nosso desenvolvimento e de nossa própria sobrevivência como nação. Nesse momento, contudo, começou igualmente a se esboçar uma nova atitude em relação à escola, atitude que chamaremos antiutópica, pois envolve, implícita ou explicitamente, uma concepção mais realista do valor e do poder da educação. Parte essa atitude do pressuposto, dúvida mais plausível, de que as condições que se verificam nos países geralmente considerados por nós exemplares, em matéria de ensino, não são devidas à ação da escola, por serem, ao contrário, as que modelam a instituição escolar, no que ela tem de socialmente operante. E, em conseqüência, passa-se a admitir, em face de nossas condições diversas, seja por peculiaridade de caráter nacional, seja por efeito de condições morais ou econômicas, que nossa escola não pode ser tão perfeita ou tão eficiente quanto à desses países, e, como cada povo tem a educação que merece, só nos resta esperar que nossas condições se modifiquem até ser realmente exigida, ou permitida, uma escola com o mesmo padrão da escola dos países modelos (Ver Nota C). Em forma subentendida, essa atitude faz sentir-se no fato de que a educação, hoje em dia, é com menor freqüência objeto de declarações retóricas acerca de seu poder absoluto ou dos ingentes sacrifícios que por ela se devem fazer. Mas a atitude antiutopista tem, além disso, uma expressão ostensiva na idéia de que educação é uma obra que se pode empreender de qualquer forma, improvisadamente e com os meios materiais e humanos mais precários. Abrir escolas boas ou más, perfeitas ou deficientes, com ou 188 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 sem professores devidamente capacitados, torna-se uma nova forma de mística educacional, bem adaptada, aliás, aos intuitos demagógicos de uns ou à “ Livre empresa” de outros... Assim, o que tal atitude demonstra é que houve, realmente, a passagem súbita de uma concepção da eficácia absoluta da educação para a da sua total importância, as quais, no entanto, são, ambas, reveladoras de uma inadequada concepção das relações entre a escola e estrutura institucional em seu conjunto, entre a educação e a totalidade do processo sociocultural, entre o sistema escolar e as condições sociais de uma nação. A concepção sociológica da educação Nenhuma sociedade apresenta condições ideais para a existência da escola, quer dizer, condições que permitam o funcionamento dessa instituição sem atritos nem desajustamentos, mas com plena utilização de energias no sentido de objetivos bem definidos e realizáveis, com integral convergência da ação educativa tanto da escola quanto das demais agências sociais. Em algumas sociedades, as condições serão mais favoráveis e em outras menos, nunca, porém, serão ideais no sentido de permitir que a escola se harmonize com a totalidade da vida sociocultural de um povo a tal ponto que o processo da educação escolar se entrose perfeitamente no processo total da vida social. O dinamismo, a contínua mudança que se verifica na vida social, feita de contradições, de desajustamentos e da permanente procura de novos ajustamentos, torna impossível tal entrosamento. A própria natureza da instituição escolar, porém, faz com que em nenhuma sociedade a escola seja um produto, totalmente espontâneo, do desenvolvimento vegetativo da vida cultural, uma projeção orgânica da totalidade e da cultura de um povo, uma expressão da autenticidade dessa cultura. Essa afirmativa não significa, de modo algum, a negação do conceito sociológico da educação como processo de transmissão da cultura educação e desenvolvimento nacional 189 através das gerações, processo que envolve os indivíduos desde o nascimento e se prolonga após o término da escolaridade. Esse conceito, fazendo da educação escolar–educação institucionalizada, formal, sistemática – um caso particular do processo geral da educação, corrige a anterior concepção “compartimentalizada” da educação, na designação de Mannheim (Ver Nota D), e indica ao mesmo tempo, a necessidade de organizar-se o trabalho escolar como prolongamento e sistematização, seleção e fortalecimento das influências educativas da própria vida social em seu conjunto. Salientando o caráter global do processo educativo, escreve Roland Corbisier: Conservadora desse legado, a comunidade humana, quando atinge certo grau de desenvolvimento e de consciência, se empenha não só em conservá-lo mas em transmiti-lo procurando modelar os indivíduos de acordo com o ideal humano e a concepção da vida que caracterizam a sua cultura. Como ação e influência constante da comunidade sobre o indivíduo, a educação não se reduz ao aprendizado de certas técnicas ou especializações que permitiriam o exercício de uma profissão ou ofício qualquer, mas coincide com a vida humana, que, por natureza, se desenrola no seio de uma comunidade, na atmosfera da “polis”. Entendida como o conjunto de estímulos, solicitações e influências que determinam, por reflexo ou impregnação, o pensamento e a conduta dos homens em sociedade, a pedagogia transborda dos limites das escolas, liceus e universidades, para identificar-se com a política, isto é, com a missão de que está investida a comunidade de formar os homens de acordo com os ideais e valores da cultura de que é portadora9 . É esse conceito sociológico da educação que nos faz compreender não só a importância decisiva, a preponderância dessas influências educativas difusas, assistemáticas e informais do meio social em seu conjunto, sobre a ação especializada, sistemática e formal da escola, mas a 9 Roland Corbisier, Situação e problema pedagógico, p. 20. 190 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 situação primordial, originária de tais influências e a natureza secundária, derivada da ação da escola10. A educação tem uma finalidade social ampla, qual seja, a de socializar, mediante a transmissão de cultura como totalidade ou no seu núcleo de valores universais mais relevantes, os imaturos das novas gerações. Assim, antes de haver objetivos específicos a serem atingidos pelo trabalho de uma instituição social especializada, que é a escola, os objetivos da educação emergem, de modo completo, do processo mesmo da vida social, situam-se no plano dos valores e ideais de uma sociedade. Historicamente, a escola surge em grau avançado do desenvolvimento da vida social e da cultura. Nas fases iniciais desse desenvolvimento, vislumbram-se indícios de instrução deliberada e formal, mas tais indícios não chegam a estabelecer uma instituição especializada que imprima ao processo educativo caráter sistemático e possa, com acerto, ser chamada de escola. A educação tem, assim, nessa primeira fase, caráter assistemático, realizando-se mediante o processo de progressiva participação dos imaturos nas atividades sociais, participação pela qual se vão desenvolvendo e modelando suas personalidades, ao mesmo tempo que adquirem as habilidades necessárias à vida de adultos e são submetidos, em certas oportunidades, a determinada instrução formal destinada a inculcar-lhes a necessidade de velar pela conservação do grupo e a ensinar-lhes os meios de assegurá-la11. A crescente complexidade da vida social, representada pela necessidade de novas instituições, que caracterizam o regime de vida urbana, acompanhada do enriquecimento da cultura, de que o aparecimento da linguagem escrita é expressão particularmente relevante, por ser a con- 10 “The things outside the schools matter even more than the things inside the schools, and govern and interpret the things inside”, diz Michael Sadler, citado por Kandel (The new era in education, Boston, Houghton Mifflin Co., 1995, p. 56), o qual comenta: “he might have added also that it is the function of all concerned with education to be aware of ‘the things outside schools’, for the are forces that determine the character of education”. 11 Ralph Turner, Las grandes culturas de la humanidad, México, Fondo de Cultura Económica, 1948, pp. 98 e ss. educação e desenvolvimento nacional 191 dição de um saber literário, determina, em fase posterior, o aparecimento da escola. Origina-se, realmente, essa nova instituição da importância que adquire a necessidade de transmitir uma literatura escrita e de ensinar certas pessoas a escrever. E a escola se desenvolve, pela primeira vez, nas antigas culturas do Oriente sob o controle de uma classe sacerdotal ou de escribas seculares para os quais a arte da escrita é essencial, embora o objetivo da educação, em sentido amplo, permaneça essencialmente o mesmo das culturas primitivas12. A escola, produto do invento e problema A passagem da educação como processo geral para a educação como processo escolar marca, nesse campo, a transição da fase da descoberta casual para fase do invento, distinguidas por Mannheim como duas das etapas gerais do pensamento em sua função de instrumento de solução dos problemas enfrentados pelo homem em suas situações existenciais. A fase da descoberta casual caracteriza-se pela circunstância de que em um mundo no qual o homem luta com natureza diretamente, e no qual a seleção natural regula todo o processo, um indivíduo ou um grupo descobre acidentalmente, entre grande número de possibilidades, os tipos de reação que se ajustam a uma situação dada. O trabalho do pensamento consiste então em recordar a solução correta que foi descoberta...Os grupos que não podem conservar nem transmitir a maneira acertada de fazer as coisas desaparecem inevitavelmente. Nessa fase, a educação consiste, essencialmente, em conservar e transmitir os processos acertados de fazer as coisas, e se realiza de modo assistemático e predominantemente informal, e seu conteúdo são “os 12 R. Freeman Butts, A cultural history of education, Nova York, McGraw-Hill, 1947, pp. 20 e 22. 192 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 mandatos positivos e os tabus que os antepassados da tribo elaboraram na base dos descobrimentos casuais e que devem ser cumpridos fielmente”13. Da mesma maneira que “ainda hoje reagimos ante muitas situações um tipo de pensamento e de conduta que ainda se acha no nível do descobrimento casual”, ainda hoje grande parte do processo educativo é feita assistemática e informalmente, como o era entre os povos preletrados. A fase do invento começou “quando os utensílios e as instituições foram conscientemente modificados e, portanto, dirigidos para fins determinados”14. No campo da educação, essa fase se caracteriza pela emergência da instrução formal e, posteriormente, pelo aparecimento da instituição de educação sistemática, a escola. É por ser um invento criado conscientemente, dirigido para fins determinados e introduzido na vida social de um povo, que a escola tem esse caráter artificial, ao qual se referiu Anísio Teixeira, ao escrever: “A escola em parte já é de si uma instituição artificial e abstrata, destinada a complementar, apenas, a ação de educação, muito mais profunda e extensa que outras instituições e a própria vida ministram”15. Esse caráter artificial da instituição escolar leva-nos de volta ao problema, que de início assinalamos, da escola em geral, da instituição escolar de qualquer tipo ou grau, bem como do sistema escolar em seu conjunto, problema que se encontra na raiz das questões especiais que afetam cada escola ou o sistema todo. Resume-se o problema educacional em fazer funcionar harmoniosamente as instituições escolares no contexto das influências difusas, assistemáticas e informais do meio social, influências originalmente resultantes de um processo formativo, por descobertas casuais e seleção natural, que se confunde com o próprio processo da gênese e acumulação da cultura. 13 Karl Mannheim, Libertad y planificación social, México, Fondo de Cultura Económica, 1942, p. 136. 14 Idem, p. 137. 15 Anísio Teixeira, “A crise educacional brasileira”, op. cit., p. 24. educação e desenvolvimento nacional 193 Tal problema independe, até certo ponto, da circunstância especial de serem tais influências, em determinada sociedade, expressão de uma cultura transplantada e não de uma cultura formada endogenamente no próprio ambiente em que a escola funciona. A problematicidade é, pois, inerente à própria instituição escolar, urbi et orbi, como decorrência de seu caráter artificial, o que eqüivale a dizer que as influências propriamente educativas, e não meramente instrutivas desta última, serão sempre, parcialmente e em graus variáveis, toleradas apenas, reforçadas ou neutralizadas pelas influências, de alcance mais amplo, do meio social em conjunto. Assinalar o caráter artificial e inventado da escola, no entanto, corresponde a afirmar que a escola é algo criado deliberadamente para atender a problemas surgidos no curso da existência humana, algo intencionalmente construído para satisfazer a necessidades surgidas no processo da vida social de um povo, e, assim, dirigido para fins ou objetivos determinados. A diferença entre descoberta casual e invenção não é uma diferença entre categorias de objetivos, mas entre métodos de consecução e de aproveitamento da experiência anterior. O método, na fase da descoberta casual, é o de ensaios e erros que igualmente se aplica ao objetivo da conservação e transmissão das descobertas feitas. Na fase do invento, há a procura inteligente de solução de um problema conscientemente percebido; solução a que se chega por intuição divinatória ou raciocínio e cujos resultados devem, pelos mesmos métodos, ser conservados e transmitidos, ou ainda, conscientemente modificados. Em ambos os casos, porém, o estímulo do pensamento são sempre os problemas de ordem técnica ou de ordem social que o homem tem de enfrentar para assegurar sua sobrevivência ou a existência do grupo, dependente da conservação e do enriquecimento dos valores materiais e morais que constituem seu patrimônio. O problema atual da escola A invenção de qualquer instituição social, como a escola, por exemplo, visa à solução de determinados problemas. 194 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Kandel assinala o fato de que a educação sempre se fez sem plano e cresceu sem qualquer idéia de sistema. “Historicamente”, diz ele, “os diferentes ramos da educação que constituem um sistema nacional de educação desenvolveram-se mais ou menos independentemente, foram influenciados por diferentes forças sociais e outras, e não o resultado de um plano organizado”. A escola secundária e a superior, para o treinamento de líderes, observa Kandel, surgiu em primeiro lugar. A escola pública elementar e obrigatória veio depois e sem nenhum propósito de articulação com a escola secundária. A escola profissional, precedida pelo aprendizado, estabeleceu-se depois da rápida expansão industrial e comercial do século XIX, à parte não só da escola elementar como da secundária16. Essas observações de Kandel revelam justamente o fato de que os vários tipos de escola se instituíram como instrumentos de solução de problemas não só diferentes, mas, de certo modo, independentes. Hoje, temos consciência do problema total da educação, e entre os pedagogos se formula a aspiração por uma organização escolar mais sistemática, que articula melhor o conjunto dos diferentes tipos de escola. Na raiz dessa consciência, há uma situação objetiva que realmente exige uma visão total do problema educativo tal como atualmente se apresenta. Há, pois, um problema educacional peculiar ao desenvolvimento da sociedade em sua fase atual que, de pontos de vistas distintos, chamamos sociedade de massas, sociedade industrializada, sociedade da fase tecnológica, ou, expressando a tendência que o processo histórico assume nela, sociedade planificada. Convém lembrar que a idéia de sistema, em educação, não é propriamente nova. Seus antecedentes podem ser seguidos até o século XVIII, pelo menos. Durante a Revolução Francesa, foi uma das inspirações mais constantes dos propugnadores da educação pública. Nessa época, quando as condições da sociedade tecnológica apenas se anunciavam, a idéia de sistema exprimia o propósito de fundar ou estabelecer uma organização escolar baseada em critérios racionais e não apenas costumeiros ou tradicionais, e essa pretensão de fundar ou estabelecer um 16 I. L. Kandel, Educação comparada, São Paulo, Editora Nacional, 1947, vol. 1, pp. 25-26. educação e desenvolvimento nacional 195 sistema de educação ex-nihilo explica talvez o pouco êxito da Revolução Francesa em matéria de ensino. Hoje, quando já se encontra bem adiantado o processo de desenvolvimento da sociedade tecnológica, a exigência de sistematização ou planejamento do conjunto das escolas se impõe não só em virtude das próprias condições sociais objetivas mas também das profundas conseqüências, de ordem cultural e econômica, que a aplicação da ciência e da técnica criam para a educação. O problema educacional dessa fase tecnológica não decorre somente do caráter artificial, inventado, da instituição escolar, mas principalmente do fato de que a tomada de consciência da artificialidade da escola nos obriga a concebê-la não apenas in abstrato, ou a inventá-la por via do raciocínio, mas o pensá-la de modo concreto, referindo-a a objetivos específicos e limitados, e apreendendo-a em função da situação total em que se apresenta. Na fase anterior, não se fazia mister pensar mais detidamente nas relações da escola com as outras instituições sociais, nem mesmo pensar necessariamente na relação entre as várias escolas no sistema escolar, circunstância essa que explica o crescimento não planejado dos sistemas escolares, assinado por Kandel. Isso acontecia porque não se apresentava o problema da direção racional das relações entre a escola e as outras instituições sociais, ou das relações entre os vários tipos de escolas, setores esses que constituíam um vazio no qual o acaso ou a ação fortuita de causa e efeito levava a adaptações espontâneas, automáticas, pois só na aparência uma nova escola, um novo plano de ensino eram criações inteiramente novas: sua maior parte, como diz Mannheim17, se originava de um processo seletivo de descobrimento, lento e tradicional, e o que pareceria novo apenas utilizava o que já existia, modificando-o conscientemente segundo princípios e com vistas e objetivos mais ou menos explícitos. Nessa fase, além disso, porque não era objetivamente necessário considerar cada instituição no contexto real em que devia funcionar, 17 Karl Mannheim, Libertad y planificación social, op. cit., p. 159. 196 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 podia-se pensar em estabelecer uma escola ou um sistema escolar, no sentido de partir de uma idéia perfeitamente clara, apriorística, de que devia ser a instituição, para, em seguida, adaptá-la ao mundo mais amplo em que deveria funcionar, mediante o uso e a experiência prática, quando adquirisse a instituição artificialmente construída, a elasticidade vital necessária18. Um dos aspectos do problema educacional da fase tecnológica é, portanto, a imperiosa necessidade de sistematização das várias espécies de instituições escolares, a articulação dessas instituições entre si e também com as influências educativas do meio sociocultural em seu conjunto. O problema da sistematização das várias espécies de escolas pareceria talvez afetar somente as relações externas das instituições escolares. Na verdade, porém, mesmo com referência apenas a esse aspecto do problema da articulação da escola com a sociedade total, ainda com maior evidência o problema educacional da fase tecnológica se apresenta como o de uma completa reforma da instituição escolar. O problema educacional dessa fase não consiste apenas na dupla articulação das escolas entre si e do sistema escolar com a vida social, mas, também, em conexão com esse aspecto, e de alcance muito maior, no problema de transformar o processo e o conteúdo da educação em cada um dos tipos de escola que constitui o sistema escolar, num momento dado, a fim de os pôr em consonância com as condições da sociedade nesse momento. Necessidade de pesquisa dos principia media O fato de que se tenha de partir de uma situação existente, cuja modificação se impõe, apresenta o problema educacional, nessa fase, como o da reforma ou do planejamento do sistema escolar, se considerarmos afastada a possibilidade de fundação ou estabelecimento de uma sociedade totalmente nova e do seu respectivo sistema de educação, como, de certo modo, aconteceu na Rússia. 18 Idem, ibidem. educação e desenvolvimento nacional 197 Em outros termos, deve-se partir daquilo que existe, planejando-se segundo objetivos imediatos, a serem realizados pela direção do processo em curso nas instituições existentes, e de acordo com as relações que se estiverem verificando entre o sistema escolar e as outras instituições sociais, assim como entre os vários tipos de escola que constituem o sistema escolar. Como a tecnologia – intrinsecamente, por meio da uniformidade, que tende a realizar, dos modos da organização das atividades humanas em função de critérios universais e quase unívocos de racionalização, e, extrinsecamente, pela ampliação dos círculos de contatos humanos e do poder dos centros de integração cultural, econômica e política – produz uma crescente difusão das mesmas tendências sociais entre os povos mais afastados, o problema educacional de fase tecnológica apresenta, igualmente, aspectos comuns nas várias sociedades. Em outros termos, a fase tecnológica, que historicamente ocorreu primeiro em determinadas sociedades, em virtude da força expansiva que lhes imprime e que é própria das tendências sociais que a constituem e que fazem dela, realmente, uma fase de evolução humana e não um mero episódio histórico, envolve progressivamente as outras sociedades no mesmo processo civilizatório, provocando assim uma aceleração de mudança social no sentido da plena adoção, por parte delas, das formas de civilização tecnológica (Ver Nota E). No entanto, assim como as tendências e os fatores especiais que configuram a fase tecnológica só podem ser adequadamente compreendidos, o que não implica negar certa ordem de leis e fatores universais que operam na sociedade em qualquer de suas fases, como a concreção histórica particular de leis especiais do tipo chamado por Mannheim de principia media e que regem a vida social e a cultura nessa fase, assim também, nas diversas sociedades particulares, que já ingressaram nessa fase, encontram-se fatores e tendências peculiares que a configuram como uma realidade individual e única19. 19 Sobre os principia media e a necessidade e importância de sua determinação, ver Karl Mannheim, Libertad y planificación social, op. cit., parte IV: “El pensamiento al nivel de la planificación”, especialmente os caps. IV e VI. 198 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Assim, o problema educacional da fase tecnológica apresenta, em cada sociedade, não apenas pelo fato de estar cada um delas em fase diferente do processo de advento da civilização tecnológica, uma configuração peculiar resultante dos fatores e tendências operantes no processo histórico e individual de formação de cada sociedade e de seu sistema escolar. Além disso, porque estamos ainda na fase inicial da era tecnológica, da qual não transcorreram sequer dois séculos, contra cerca de cinqüenta das fases anteriores da história humana, é natural que os seus vários problemas, entre os quais se inclui o educacional, apenas estejam começando a se fazer sentir, circunstância essa que, aliada ao fato de as mudanças nos vários segmentos da realidade sociocultural ocorrerem descompassadamente – em uns se verificando a sobrevivência de valores e instituições de épocas anteriores, enquanto em outros se observam novos ajustamentos às situações emergentes –, significa não só que esses problemas se compõem de aspectos heteróclitos, mas também que os sistemas institucionais destinados a enfrentá-los são trabalhados por tendências contraditórias, prolongamentos de situações anteriores e respostas às situações emergentes. O conhecimento preciso da situação existente, em que atuam tendências contraditórias dessa espécie, é o primeiro requisito de qualquer solução adequada do problema. Seu ponto de partida, no que diz respeito ao problema educacional, é o fato de a origem, independente dos vários tipos de escolas – expressão da situação desse problema, nas fases anteriores –, apresentar-se na forma de problemas específicos, a cada um dos quais corresponde um desses tipos de escola. A partir desse dado básico, tal conhecimento objetivará o modo pelo qual se constituíram os sistemas nacionais de educação, os fatores de ordem social, cultural, política, ideológica e econômica que condicionam sua formação, fatores gerais operando sobre todos os sistemas educacionais, e fatores particulares que o estudo comparativo dos vários sistemas permitirá discernir. Como desempenha, entre os fatores que provocaram a tendência à sistematização das organizações escolares, papel saliente o fator político, traduzido pela ação do Estado no desenvolvimento da educação pública – educação e desenvolvimento nacional 199 dirigida para fins políticos e custeada pelos fundos públicos e no estabelecimento do controle de todas as escolas por meio de uma organização administrativa específica, o aspecto do problema educacional como problema a ser enfrentado pela ação pública terá o merecido relevo. A conjugação dos fatores de ordem ideológica –, representados pelo crescente amadurecimento de uma concepção de vida democrática e que atuam no sentido da exigência de igualdade de oportunidades de educação para todos os imaturos, sem consideração da posição de classe social e de situação econômica –, e dos fatores econômicos, que operam no sentido de fazer da educação instrumento de eficiência produtiva das populações e de obter a melhoria de suas condições de vida pelo desenvolvimento econômico, é de importância decisiva para a adaptação do sistema escolar às exigências da sociedade teológica. Educação e desenvolvimento econômico O grau de desenvolvimento em que se encontra um país tem sua expressão pedagógica ou escolar em índices numéricos, tais como a taxa de alfabetização da população, a porcentagem da população em idade escolar que efetivamente freqüenta as escolas, duração da escolaridade média e outros. Nos países desenvolvidos ou em processo de aceleração de seu desenvolvimento, observam-se tendências muito nítidas à eliminação do analfabetismo, à crescente escolarização da população infantil e adolescente, ao aumento progressivo da escolaridade média. A obtenção de níveis mais altos de alfabetização e de escolarização, bem como de certo prolongamento da escolaridade média, constitui, portanto, objetivo de toda política de desenvolvimento no que diz respeito ao seu aspecto educacional. Em nenhum outro aspecto, porém, mais que no da educação, faz-se mister, para a formulação adequada dessa política, a compreensão exata das relações causais envolvidas no processo do desenvolvimento econômico e social. Partindo da incontestável verdade de que “o desenvolvimento econômico é apenas um valor instrumental, enquanto o desenvolvimento 200 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 social se configura como um valor terminal”20, devemos reconhecer no desenvolvimento escolar o valor não só terminal – como aspecto que é do desenvolvimento social – mas também o valor instrumental, pois o desenvolvimento econômico implica sempre um aspecto técnico, quer consista este na acumulação de novos conhecimentos científicos e no progresso da aplicação desses conhecimentos, quer se defina como um processo de assimilação da técnica predominante na época21. Em ambos os casos, está implícito o problema da formação e de adestramento dos agentes capazes de realizar novos conhecimentos e aplicar os conhecimentos disponíveis, ou de assimilar a técnica existente. Ora, a duplicidade do valor da educação, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, provoca uma série de equívocos que é indispensável desfazer para formular uma adequada política de desenvolvimento. Os dois primeiros desses equívocos decorrem diretamente do próprio desconhecimento dessa duplicidade axiológica do desenvolvimento escolar, da confusão entre os seus valores, do que resulta, antes de tudo, a pregação à outrance do desenvolvimento escolar, como se os níveis desses desenvolvimento, tais como se apresentam nos países desenvolvidos, pudessem ser atingidos independentemente das condições objetivas, especialmente econômicas, que os tornam possíveis. Tal confusão nada mais é do que um aspecto particular daquela atitude de exemplarismo educacional que assinalamos, e cuja conexão com as idéias filantrópicas e iluministas, surgidas no século XVIII, e com a crença no progresso, características do século XIV, sugerimos. Foi, realmente, dentro da configuração ideológica criada por esses fatores, que a difusão da escola passou a ser considerada como uma das metas mais importantes, quando não a meta suprema, do progresso social. O desenvolvimento da educação passava assim a ser um alvo em si mesmo, ou a reivindicação máxima da época, como diz Anísio Teixeira: “Os povos porfiavam, em verdadeira emulação política, por essa con- 20 Roberto Campos, “Cultura: desenvolvimento”, em Introdução aos problemas do Brasil, 1956, p. 222. 21 Ver Ewaldo Corrêa Lima, “Política de desenvolvimento”, idem, p. 58. educação e desenvolvimento nacional 201 quista, que fornecia ao pensamento das elites e às aspirações das massas algo como uma nova mística – mística da educação popular. As nações passaram a se classificar, entre si, tanto mais civilizadas quanto mais escolarizadas fossem as suas populações”22. Mas, além dessa valorização absoluta do desenvolvimento escolar como índice e objetivo do processo total do desenvolvimento, ocorre ainda um segundo equívoco, o do exagero do valor instrumental do primeiro em relação ao segundo. A educação tem sido considerada não apenas como índice de progresso ou sinal, o mais expressivo, de adiantamento social, mas, igualmente, como instrumento infalível e indispensável do desenvolvimento econômico. Por seu intermédio, qualquer nação poderia atingir segura e rapidamente o grau de prosperidade observado nos países mais desenvolvidos, não havendo assim investimento mais compensador do que as despesas com a educação pública. O equívoco, portanto, como o do exagero do valor terminal do desenvolvimento escolar, resultava, ainda nesse caso, na ignorância do caráter condicionado desse desenvolvimento, isto é, de uma insuficiente percepção do fato de que os índices numéricos do crescimento escolar são função de condições infra-estruturais das quais esse crescimento não é causa, por isso mesmo que nelas encontra os seus reais fatores determinantes. A eliminação do analfabetismo, por exemplo, só é um desiderato realmente viável quando deixa de ser função apenas de uma exigência, digamos moral, de esclarecimento das camadas populares, para tornarse uma conseqüência das modificações que consubstanciam a transmissão de uma estrutura socioeconômica predominantemente agrícola e rural, para uma economia crescentemente industrial e urbana na qual, além de ser condição de eficiência social o indivíduo, a capacidade de ler e escrever encontra permanente motivação em tipos de contratos sociais, que no meio rural, são menos freqüentes e menos intensos. 22 Anísio Teixeira, “A educação que nos convém”, em Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, vol. XXI, n. 54, p. 16, abr.-jun. 1954. 202 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Outrossim, a tendência de igualar-se a matrícula, nas escolas elementares e médias, à quota da população imatura, bem como ao crescente prolongamento da duração média da escolaridade, que assinala a efetivação da primeira, somente se podem verificar em correlação com o desenvolvimento econômico e social. “Uma economia subdesenvolvida – diz o professor Oliveira Júnior, referindo-se especialmente ao curso secundário de tipo tradicional, mas, na verdade, acentuando um fato que atinge a escolaridade de nível médio de modo geral, seja qual for o tipo de escola – não pode manter muitas – centenas de milhares de jovens longe das atividades produtoras até os 19 ou 20 anos, dedicados apenas aos estudos”23. E a própria educação universal e gratuita de nível primário, formulada com exigência doutrinária desde o século XVIII e programada politicamente pela Revolução Francesa, somente começou a ser realizada de modo generalizado, como assinala ainda o professor Oliveira Júnior, após o considerável aumento da produtividade em virtude da revolução tecnológica, do qual também são efeitos das mesmas forças sociais que permitiram reduzir consideravelmente as horas de trabalho e “vão aos poucos libertando as crianças das peias do trabalho, ensejando-lhes maior número de anos de escolaridade”24. O desenvolvimento escolar está, pois, na dependência do desenvolvimento econômico, como efeito derivado, que é deste último. Contudo, essa afimativa não pode servir de argumento em favor de uma atitude quietista em relação ao desenvolvimento escolar, que consistiria em relegar a plano secundário a preocupação de promovê-lo, à espera de que o desenvolvimento econômico o determinasse mecanicamente, segundo uma relação unilinear de causa e efeito. Tal argumento desconhece a circunstância, já assinalada, de que o desenvolvimento econômico é um meio, cujo fim é o desenvolvimento social e de que o escolar é um dos aspectos – bem como o fato de que a 23 Ernesto Luiz de Oliveira Júnior, Doze ensaios sobre educação e tecnologia, Rio de Janeiro, CAPES, 1956, p. 17. 24 Idem, p. 41. educação e desenvolvimento nacional 203 educação tem, efetivamente, um valor instrumental em relação ao desenvolvimento econômico. O corretivo dessa atitude quietista em relação ao desenvolvimento escolar reside na adequada concepção do seu valor instrumental, concepção essa que nos permite desfazer o terceiro equívoco resultante do duplo aspecto – instrumental e final – do desenvolvimento escolar. Consiste esse equívoco na adesão dos interessados no desenvolvimento escolar a formas educacionais predominantes em muitos países que há cem anos ingressavam na fase industrial, carregando o peso de uma tradição pedagógica em grande parte anterior ao progresso tecnológico. Se esses próprios países tiveram ou estão tendo dificuldade em liquidar essa tradição, conservando ao longo de seu desenvolvimento escolar, durante muito tempo ou até hoje, formas educacionais ou parte delas em progressivo retardo com respeito a seu progresso não só social mas econômico, não é de admirar que os países que somente agora transitam da fase de subdesenvolvimento para a condição de países desenvolvidos, os quais, como é o caso do Brasil, estabeleceram suas instituições escolares mediante transplantação, sintam a mesma ou até maior relutância em desembaraçar-se dos arcaísmos pedagógicos. No entanto, para que o desenvolvimento escolar torne-se instrumento de desenvolvimento econômico, é indispensável que se verifique essa superação, a fim de que não só o aumento involuntariamente produzido, mas também o que deve ser deliberadamente procurado, dos índices quantitativos do desenvolvimento escolar não onerem o aceleramento do desenvolvimento econômico, mas o incentivem e o sirvam. O problema escolar de um país em desenvolvimento A consideração do desenvolvimento, como acabamos de ver, levounos de volta ao problema de transplantação. A história educacional brasileira, em sua maior parte uma história reflexa, que releva o contínuo esforço em colocar nossa educação em nível equivalente ao das nações 204 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 mais adiantadas, chega a um momento de crises quando se torna evidente que a transplantação das instituições escolares, dessas nações para o nosso país, não pode ser feita literalmente, mas deve pressupor uma atitude crítica que nos permita determinar as transplantações que possam contribuir para acelerar o nosso desenvolvimento total, especialmente econômico. Até recentemente, as instituições educacionais transplantadas não tiveram o papel que delas se esperava em relação ao nosso progresso econômico e social, e isto se deveu à prevalência de condições econômicas de subdesenvolvimento, que não só tornavam impraticável uma acentuada expansão quantitativa do sistema escolar, mas também, dado o fato de que a educação escolar não tinha função realmente útil e necessária a preencher, irrelevante o problema da qualidade e do tipo de ensino. Assim, o inevitável desajustamento entre as instituições transplantadas e uma realidade social e econômica faseologicamente anterior, era suportável, pois, apenas tocado o país pelas transformações tecnológicas, o correspondente subdesenvolvimento escolar reduzia esse desajustamento a setores da população imatura. Todavia, a partir do momento em que a transição para o estádio de desenvolvimentos se precipita, e se assinala a tendência à expansão quantitativa do sistema escolar, essa expansão, impondo-se como atitude deliberada de aceleração do desenvolvimento, torna o desajustamento insuportável pelo ônus que acarreta para o próprio processo de desenvolvimento. Nessa fase de transição de estádio de desenvolvimento para uma condição de prosperidade econômica, fundada no progresso tecnológica e na planificação cuidadosa das inversões, assumem caráter realmente nocivo a fé em um valor instrumental absoluto de educação e, especialmente, a crença de que qualquer educação escolar é melhor do que nenhuma, de que é conveniente a difusão de escolas de qualquer modo, sem uma lúcida determinação prévia do tipo de ensino e dos objetivos esperados, e sem a devida atenção às condições de instalação, de professorado e de eficiência didática. A eficiência do ensino é, sem dúvida, nessa fase, critério básico, pois é o que permite verificar se o tipo de ensino escolhido, além de ser educação e desenvolvimento nacional 205 viável, é o mais indicado. A determinação desse tipo, no entanto é o objetivo final e mais importante, para cuja consecução devem convergir as tentativas de interpretação teórica e a experimentação sistemática, devendo ambas receber o maior estímulo possível, a fim de que os investimentos em instalações e as despesas de manutenção se façam nas melhores condições de rentabilidade. Em contradição com a crença na eficácia de qualquer educação, deve tornar-se um postulado irrecusável a tese de que a educação pode ou não ter valor instrumental em relação ao desenvolvimento, dependendo de sua qualidade e de seu tipo. Quanto ao seu tipo de ensino, podemos dizer, de modo geral, na medida em que se torna preponderante o valor final da educação, reclamada como um meio que permitiria colocar aparentemente um país subdesenvolvido no nível educacional, do ponto de vista dos tipos e do grau de difusão, que se julgam próprios dos países adiantados, o resultado a que se chega é tornar nulo ou negativo o valor instrumental do ensino. É este, precisamente, o caso do nosso ensino secundário, cuja recente expansão, realizada na vigência de uma estrutura seletiva e inflexível que, no entanto, não consegue prevalecer sobre o desejo interesseiro ou demagógico de criar maiores oportunidades de educação por meio de empresas às vezes pouco escrupulosas, de “educandários gratuitos” ou de ginásios públicos instalados de afogadilho e dispondo de verbas insuficientes, – resultou na sua transformação em mecanismo de desencaminhamento de parcela considerável de nossa juventude das atividades realmente produtivas. Em contraste com a acelerada expansão do ensino secundário, está o moderado crescimento do ensino médio não secundário, isto é, o ensino industrial, agrícola e comercial. No entanto, não há setor educacional que, em comparação com o constituído por esses ramos de ensino, apresente maior margem de coincidência entre o valor final e o valor instrumental do ponto de vista do desenvolvimento. Essa coincidência justificaria não só crescentes inversões destinadas a promover o desenvolvimento escolar, mas também, com o fim de incentivar a matrícula, a permissão de acesso a seus diplomados, especialmente aos do ensino técnico-industrial, às escolas superiores de todos os ramos, em igualda- 206 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 de de condições com os diplomados pelo curso secundário, conforme a sugestão do professor Oliveira Júnior, pois é incontestável que “só poderia haver vantagem para o país em possuir nas profissões liberais alguns elementos com formação de grau médio nitidamente tecnológica”25. Mas, se o ensino industrial e o agrícola, pelo fato de exigirem instalações muito dispendiosas e que mais onerosas se tornam em virtude da pequena matrícula resultante de persistência de preconceitos contra o trabalho, só podem ser promovidos pela iniciativa do poder público, especialmente o federal, o ensino comercial, implicando um custo-aluno mais baixo, atenderia, de modo certamente mais consentâneo com as necessidades do desenvolvimento do país, ao desejo de ampliar as oportunidades de educação média, da parte iniciativa particular, caso esta fosse mais esclarecida ou tivesse objetivo mais alto que o da simples prestação remunerada de um serviço de grande demanda ou a busca demagógica de prestígio, fins para os quais a maior estimação social do ensino secundário o torna mais indicado. Mas, não só no campo de ensino médio, a procura irrefletida ou interesseira do desenvolvimento escolar com o valor final ou abstrato, conduziu a uma situação de neutralização ou negação do valor instrumental desse desenvolvimento. Também no campo do ensino primário e no ensino superior situações análogas se apresentam. No ensino primário, em relação ao qual já se verificaram em nosso país, como no mundo todo, de modo geral, esforços mais amplos e mais promissores que no campo do ensino secundário, no sentido de seu ajustamento às necessidades dos tempos modernos, essa situação se caracteriza, na descrição de Anísio Teixeira, pela “progressiva simplificação do ensino, com a redução dos horários para alunos e professores”; pela “redução do currículo a um corpo de noções e conhecimentos rudimentares, absorvidos por memorização, e a elementaríssima técnica de leitura e da escrita”; pela “improvisação crescente de escolas sem condições de funcionamento e sem assistência administrativa e técnica”26. 25 Idem, p. 92. 26 Anísio Teixeira, “A educação que nos convém”, op. cit., p. 22. educação e desenvolvimento nacional 207 No ensino superior, já se faz sentir a mesma crescente improvisação de escolas, “sobretudo daquelas em que a ausência de técnicas específicas permite a simulação, ou o ensino simplesmente expositivo, como as de direito, economia e filosofia e letras” ainda no diagnóstico de Anísio Teixeira27, ao qual conviria acrescentar que, também aqui, a iniciativa privada se coloca na vanguarda, mas freqüentemente, de modo mais interesseiro ainda, com o propósito de caça às subvenções governamentais e de posterior encampação total dos institutos pelo governo federal, o qual já se vê a braços com encargos financeiros desproporcionados, em face não só de outras despesas com os de mais graus de ensino, como das necessidades reais do desenvolvimento do país. Em vista da situação, aqui apenas esboçada, vigente nos vários graus e ramo da educação brasileira, podemos dizer que, se há em nosso problema educacional um aspecto quantitativo de aumento do número de matrículas, de unidades escolares, de professores, há também, não menos grave e não menos importante, um aspecto funcional que envolve a revisão dos princípios que informa cada tipo e cada grau de ensino, a investigação continuada das condições de funcionamento de cada um desses tipos e graus, o planejamento do conjunto do sistema escolar para o fim de fazê-lo servir, em todos e em cada um dos seus elementos constitutivos, os quais se devem articular dinâmica e harmoniosamente entre si, às necessidades do desenvolvimento. São aspectos, ambos, que se verificam igualmente nos países plenamente desenvolvidos, nos quais, sob o efeito do progresso tecnológico, foi possível e necessário, desde antes da Primeira Gerra Mundial, tornar progressivamente obrigatória a escola primária, intensificando-se, em seguida, a revisão crítica da educação elementar, que se continua após a última guerra ao mesmo tempo que se opera a simultânea revisão crítica da educação de nível médio e o esforço de prolongamento da obrigatoriedade escolar até este nível. Mas enquanto nesses países o aspecto funcional está simplificado pela circunstância de representarem seus sistemas escolares o resultado de uma experiência histórica de caráter mais genuíno, num país ainda 27 Idem, p. 23. 208 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 subdesenvolvido, como o Brasil, o aspecto quantitativo, complicado pela circunstância de serem transplantadas as instituições escolares, o que as torna de precárias raízes na realidade sociocultural, assume vulto gigantesco, pois implica vencer o subdesenvolvimento escolar ao mesmo tempo que o econômico, de tal sorte que os investimentos que se fazem num destes setores podem induzir à despesas possíveis no outro. As nações adiantadas, ao ingressarem no século XX, como diz Anísio Teixeira, viram-se aparelhadas com um sistema escolar que só caberia desenvolver e ampliar, em face das necessidades novas, que os tempos vinham trazer-lhes. O hábito da escola havia sido estabelecido, a previsão de recursos para a sua manutenção definitivamente implantada e, o que é mais, as conseqüências práticas da educação escolar reconhecidas como muito mais importantes do que as previstas, antes, de simples obra humanitária de esclarecimento28. É verdade que muitos desses países, cujos sistemas escolares têm suas origens na fase anterior ao desenvolvimento industrial, continuam afetadas por sobrevivência em progressivo retardo com relação às exigências da sociedade tecnológica, sobrevivência essas que sentem dificuldades em superar, conforme dissemos. Superá-las, no entanto, é mais fácil para esses países do que para um país subdesenvolvido, como o Brasil, resolver o problema que decorre do fato de ser aguçada a consciência da deficiência quantitativa do sistema escolar, modelado, aliás, segundo formas educacionais transplantadas, antes de que dispuséssemos dos recursos necessários à correção dessa deficiência, e enquanto aumenta, como efeito da transição para a fase de desenvolvimento, a pressão de uma população cada vez mais necessitada de educação escolar. Nossa situação, portanto, é uma situação de perplexidade, de confusão e contradição, como diz Anísio Teixeira, pois “atingimos a consciência de necessidades equivalentes às dos povos mais desenvolvidos em 28 Idem, p. 17. educação e desenvolvimento nacional 209 nossa época, mas desaparelhados de verdadeiras escolas, estamos a querer implantá-las com a filosofia de épocas anteriores”29. E o sinal visível dessa situação é, realmente, essa multiplicação puramente aparente de oportunidades educativas, a que alude ainda Anísio Teixeira. Tal situação resulta, em última análise, do fato de que a precipitação implicada pelas tentativas de transplantação, tendo de início determinado que instituições escolares permanecessem como que em estado de suspensão coloidal e com seu desenvolvimento quantitativo retardado, foi finalmente ultrapassada pela rapidez das transformações econômicas e sociais. A estrutura escolar que, há trinta anos, ainda poderia, em sua maior parte, ser considerada muito avançada em relação às exigência objetivas, hoje não mais satisfaz ao imperativo dessas exigências, as quais se exprimem de modo mais ostensivo na forma de uma desordenada expansão escolar que atinge especialmente aquele tipo de ensino médio que, tendo por destinação normal o ensino superior, menos assegura, quando essa destinação é frustrada, uma integração saudável dos adolescentes nas atividades de produção. Mas essas novas condições objetivas, que marcam a passagem de uma estrutura social e econômica predominantemente agrícola para uma estrutura crescentemente industrial, envolvem também a exigência de fazer da escola um instrumento de desenvolvimento, de tirar da expansão escolar o caráter de ônus improdutivo ao desenvolvimento total. É, portanto, uma tarefa de sincronização da educação com as necessidades do desenvolvimento a que se impõe, e essa tarefa envolve a revisão crítica da estrutura e do funcionamento do sistema escolar, a fim de que se torne possível o seu conveniente planejamento. Na parte em que essa revisão crítica enfrente o problema de ajustar a educação às condições da sociedade tecnológica de modo geral, muitas lições temos a tirar do esforço que, nesse sentido, vêm fazendo as nações plenamente desenvolvidas, e de cujos resultados novas transplantações teremos necessariamente de fazer. 29 Idem, p. 18. 210 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Mas, não só para determinar quais devam ser, segundo o critério de aceleração do desenvolvimento, essas transplantações anteriores que podem servir de pontos de apoio para o novo planejamento da educação nacional, é necessário uma cuidadosa interpretação dos aspectos peculiares de nossa evolução educacional. Antes que a era tecnológica se resolva em uma síntese cultural de âmbito certamente mais amplo que o de todas as sínteses anteriores, a educação, como as demais manifestações da cultura, deverá inserir-se no projeto nacional de cada povo, que procura suas raízes no seu próprio passado. Notas Nota A – Guerreiro Ramos. “O tema da transplantação na interpretação sociológica do Brasil”, Serviço Social, São Paulo, ano XIV, n. 74, 1954, p. 75. Em termos semelhantes se exprime Nelson Werneck Sodré em seu estudo histórico-sociológico da cultura brasileira: No diagnóstico dos estudiosos do passado, e alguns do passado ainda próximo, existe uma anomalia que não pode deixar de chamar a atenção de todos. É que tais estudiosos consideraram, e nisso estavam incorrendo em erro evidente, a transplantação como um ato de vontade. Colocavam o problema como se houvesse duas ou várias soluções, e a escolha má fosse feita entre elas. Ora, a realidade era bem diversa. Não havia duas ou mais soluções. No quadro da estrutura colonial – que avança além do período colonial – a imitação, a cópia, a aceitação de postulados externos sem exame, tudo aquilo que englobamos no conceito de transplantação, abrangendo desde instituições até idéias literárias, não era uma escolha, era o único caminho. A transplantação é um fenômeno específico do sistema colonial, não é um caso particular do Brasil. Dentro do sistema colonial, não há outra solução. Introdução aos problemas do Brasil, (Rio de Janeiro, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, 1956, p. 178) – No mesmo ciclo de conferências a que pertence o estudo citado, Guerreiro Ramos tratou da educação e desenvolvimento nacional 211 problemática da realidade brasileira, desenvolvendo a categoria mais geral de transplantação numa série de categorias analíticas que são as seguintes: duplicidade, heteronomia, alienação, amorfismo e inautenticidade. A interpretação do caráter transplantado da educação brasileira, que no presente trabalho é apenas esboçada, teria muito a lucrar se tentássemos a ampliação do sistema de referência proposto por Guerreiro Ramos à análise da situação educacional brasileira. Aliás, é de justiça ressaltar que a obra já publicada, de Guerreiro Ramos, desde o Progresso de sociologia no Brasil (Rio de Janeiro, Est. de Artes Gráficas, 1953) até à Introdução crítica à sociologia brasileira (Rio de Janeiro, Editorial ANDES, 1957), é rica não só de indicação esparsa sobre aspectos determinados dessa situação mas de análise de facetas de nossa realidade, cujos resultados podem ser extrapolados no sentido de sua aplicação aos nossos problemas educacionais. Nota B – Aludindo ao fato de a lei de ensino de 1827 – o único resultado concreto das preocupações em prol do ensino que se manifestaram depois da Independência e antes de permitir ao ato adicional que o encargo da instrução primária, fora do município da Corte, fosse transferido para as províncias – já fazer referência ao ensino mútuo, e reportando-se às esperanças que, depois, o chamado método de Lancaster continuou o despertar em relação à rápida difusão do ensino, observa Roberto Moreira que tal sistema não teve grande extensão prática no Brasil: Vários presidentes de Províncias lamentam a sua não aplicação, certos estavam de que ele poderia resolver o problema da instrução pública. Por outro lado, parece que o nosso problema não era o de atender, por um só professor, a um grande número de alunos. Os relatórios nos apresentam sempre escolas com pequenas matrícula, aquém dos mínimos aceitáveis mesmo moderadamente. O nosso povo vegetava no obscurantismo e não sentia grande necessidade de instrução [...] Um país pobre, cujo trabalho estava todo entregue ao braço escravo, devia ter as camadas populares em situações de miséria, com pouca possibilidade profissional, mormente nas áreas rurais ou nas cidades do inte- 212 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 rior, de modo que a instrução não teria função utilitária, parecendo mesmo luxo, próprio dos senhores ricos que podiam mandar seus filhos para as capitais, às aulas de latim e às academias. Acresce a tudo isso o problema do magistério, a que se referiam os presidentes como se tratasse de uma calamidade pública [J. Roberto Moreira, Introdução ao estudo do currículo da escola primária, Rio de Janeiro, Cileme, 1955, p. 27]. Diz ainda Roberto Moreira que “viveram os responsáveis pela instrução pública, ao tempo do Império, na angústia de um problema que não podiam resolver”, e que “tentávamos realizar, quase sem mudança ou adaptabilidade própria, o que se realiza na Europa” (idem, p. 33). Nota C – Podemos dizer que a meio caminho na passagem da atitude exemplarista à posição antiutopista, conservando em parte certos aspectos daquela atitude e antecipando traços desta posição, situa-se o imperativo da simples alfabetização como objetivo imedidato do esforço educacional brasileiro. Da atitude exemplarista conservou essa posição intermediária a avaliação da situação educacional brasileira segundo critério inspirado na situação dos países mais desenvolvidos: sendo uma característica desses países a alta taxa de alfabetização, alcançar uma taxa equivalente se afigurava o meio necessário e suficiente de nos alçarmos ao mesmo nível de desenvolvimento social e econômico dessas nações. Da posição antiutopista antecipa a atitude intermediária o “nível de aspiração” mais modesto e mais facilmente atingível diante das nossas condições de país pobre: ainda que não nos seja possível realizar uma educação mais completa e acabada, devemos dar ao povo aquele mínimo de instrução que consiste no domínio da leitura e da escrita, mínimo que é o máximo que se pode fazer nas condições vigentes. De tal atitude disse muito expressamente Anísio Teixeira: “A idéia de que não podíamos ter escolas como as estrangeiras, mas devíamos tentar a simples alfabetização do povo brasileiro, devemos convir, triste ou alegremente, foi a primeira idéia brasileira autóctone no campo da educação e, talvez, por isso mesmo, destinada a uma grande carreira” (“Padrões brasileiros de educação escolar e cultural”, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, vol. XXII, n. 55, p. 9, jul.-set. de 1954). educação e desenvolvimento nacional 213 Nota D – Karl Mannheim, Diagnóstico de nuestro tiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 1946, pp. 62 e ss. En resumen, la sociología se nos há aparecido desde el primer instante como una ayuda eficaz del maestro en sus esfuerzos por superar la compartimentización y la menguada concepción escolástica de la educación, ya que en sus enseñanzas le orienta hacia las necesidades de la sociedad. Tropezamos tambiém com la sociología como un auxiliar en la tarea de coordinar la práctica educativa com las influencias que provienen de instituciones distintas de la escuela, es decir, la amilia, la inglesia, la acción benéfico-social, la opinión pública, etc. Vimos que sólo puede captar el sentido auténtico de la educación si su funcionamiento se basa sobre un estudio a fondo de la conducta humana en sus aspectos sociológicos. Nos encontramos de nuevo a la sociología en calidad de elemento auxiliar en la interpretación de muchos de los conflitos y desajustes psicológicos de los indivíduos, mero reflejo de los desajustes presentes en su circunstancia social imediata. Por último, la sociologia se nos mostró, asimismo, como una ayuda para la comprensión de las fuentes profundas de deterioro de nuestra vida moral e cultural, originadas por la desentigración de la tradición y de la estructura social dominante [p. 68]. A contribuição positiva da aplicação da sociologia ao estudo da educação justifica o programa de uma sociologia educacional que, nas palavras de Fernando de Azevedo, pelo estudo das condições concretas da atividade educacional e suas relações com as outras manifestações, econômicas, políticas, religiosas, etc., da vida social, pretende conhecer a natureza dos fatos de educação, estabelecer as relações constantes entre os fenômenos pedagógicos e outras categorias de fatos sociais, entre o sistema social pedagógico e outras categorias de fatos sociais, entre o sistema social pedagógico e o sistema social geral, e chegar, por essa forma, à teoria dos mecanismos educacionais considerados de algum modo in abstrato, isto é, despojados das condições precisas de lugar e tempo [Sociologia educacional, São Paulo, Editora Nacional, 1940, p. 51]. A esse programa, formulado, como se sabe, sob a inspiração do pensamento durkheimiano, há certamente a incorporar as contribuições da 214 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 sociologia educacional norte-americana, a qual, embora dominada “menos pela idéia de observar a realidade social e refletir sobre ela do que pela de empreender a sua reforma ou reconstrução” (Fernando de Azevedo, 1940, p. 43), esforçou-se por ampliar os seus quadros de referência sob o efeito, entre outros estudos sociológicos, da “descoberta e interpretação do significado e função da cultura”, “da compreensão do impacto da mudança social” e da verificação empírica da importância da “dinâmica da classe social no crescimento e desenvolvimento dos educandos” (cf. Dan W. Dobson, “Educational sociology throught twentyfive years”, The Journal of Educational Sociology, vol. 26, n.1, pp. 2-6, setembro de 1952). Sobre classe social e educação: Theodore I. Lenn, “Social class: conceptual and operational significance for education” (The Journal of Educational Sociology, vol. 26, n. 2, pp. 51-61, outubro de 1952). Além desses aspectos macrossociológicos, cujo estudo tem constituído a tarefa predominante da sociologia educacional, deve esta incluir a aplicação de conceitos analíticos destinados a retratar os vários aspectos da vida da escola enquanto grupo social dotado de dinâmica própria e até mesmo possuidor de uma cultura em grande parte autógena, bem como traduzir os vários aspectos da relação entre professor e aluno. Para essa microssociologia da vida escolar, o livro de Willard Waller (Sociology of teaching, New York, John Willey, 1932) representou há 25 anos um trabalho pioneiro e que continua a ser o único da bibliografia norte-americana, ao que sabemos. Recentemente, a revista Educação e Ciências Sociais (Rio de Janeiro, ano I, n. 2, pp. 139-162, agosto de 1956) divulgou interessante tentativa de análise sistemática desses aspectos microssociológicos da educação, de autoria do professor Antonio Candido, sob o título “A estrutura da escola”. É preciso ainda acentuar, com referência aos aspectos macrossociológicos, que essa “teoria geral” dos fenômenos educacionais “considerados de algum modo in abstrato, isto é, despojados das condições precisas de tempo e lugar”, para conjurar o perigo do excesso de generalidade, a que se expõe como conseqüência da preocupação de apenas “observar a realidade social e refletir diante as tarefas de interpretação, reconstrução e condução dos sistemas escolares, a fim de que o conhecimento sociológico da educação, como todo pensamento, seja referido a uma situação e orientação educação e desenvolvimento nacional 215 no sentido de transformá-la. Uma das condições prévias e básicas para isso é que o conhecimento sociológico, sem diluir-se em história da educação, tenha sempre presente o caráter eminentemente histórico do fenômeno educacional. A história da educação, como todo conhecimento histórico, preocupa-se “com a percepção absolutamente exata do fato singular, tal como o deparamos em situações únicas”. Em contraposição ao ponto de vista da história, está o dessa teoria geral da educação considerada in abstrato, que trataria a educação como existente em um “mundo em geral”, precindindo das qualidades individuais de cada sistema pedagógico, a fim de procurar os fatores gerais que condicionam todos os sistemas escolares (cf. Karl Mannheim, Planificación y libertad social, México, Fondo de Cultura Económica, 1942, pp. 153 e 160). Entre o ponto de vista da história e o da teoria geral da educação, deverá situar-se um ponto de vista especial que, partindo do caráter essencialmente histórico da educação, como de toda realidade social, e sem dispensar certa teoria dos fatores gerais, visa, no entanto, a descobrir também aquelas leis especiais que regem a educação em um lugar e em um tempo dados (cf. idem, ibidem, p. 159). E para a inserção desse ponto de vista, ao qual corresponde também a concepção da história como campo de experimentação e reformas, a que alude Mannheim, faz-se necessário o conceito da problematicidade essencial da escola, da qual decorrem os problemas particulares que afetam cada escola de qualquer tipo e grau e o sistema escolar em seu conjunto. Nota E – Em seu estudo sobre situação e alternativas da cultura brasileira, ao tratar dos contatos culturais entre povos afastados no espaço, que se intensificam em conseqüência do progresso tecnológico, Roland Corbisier assinala um dos efeitos secundários da ampliação dos círculos de contato, que, ao mesmo tempo, se constitui como um perigo para a conservação do caráter original e até mesmo da sobrevivência das culturas que se iniciam na assimilação da técnica européia: A universalização da ciência e da técnica européia tornará cada vez mais intensa essa forma de contato, a distância, entre diversas culturas. O intercâmbio cultural, entre povos arcaicos e subdesenvolvidos e a moderna técni- 216 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 ca ocidental, tenderá a estabelecer uma forma de contato em que os povos da periferia, que são objeto e não sujeito da história, assumirão, cada vez mais, ao menos em primeiro momento, uma atitude passiva e receptiva, pois a incorporação da técnica européia é condição básica de sua emancipação. A contrapartida desse processo é a tendência crescente à uniformização, à destruição da originalidade regional e ao desaparecimento das culturas como “kosmos” autônomos e peculiares. Não se trata de progresso mas do preço que se vai pagar, no mundo todo, pela expansão da revolução tecnológica [Introdução aos problemas do Brasil, 1956, p. 199]. Resenhas Friedrich Froebel: o pedagogo dos jardins de infância autora cidade editora ano Alessandra Arce Petrópolis Vozes 2002 A obra Friedrich Froebel: o pedagogo dos jardins de infância, de Alessandra Arce, integra a coleção Educação e conhecimento, coordenada pelo professor Antônio Joaquim Severino, publicada pela editora Vozes. Essa coleção, que tem por objetivo apresentar linhas básicas do pensamento de grandes teóricos da educação, adquire um ganho maior com a obra sobre Froebel, um teórico de suma importância para a história da educação infantil. Ao introduzir a obra, Arce lembra que a denominação em alemão Kindergarten – kind: criança; garten: jardim – foi criada por Froebel para identificar as instituições para crianças em idade préescolar. O termo jardim-de-infância é coerente com sua concepção, pois para ele, a infância é comparada a uma planta que necessita de água, solo rico, nutrientes e luz do sol, tudo sob os cuidados de um bom jardineiro ou jardineira que saiba ouvir as necessidades de cada planta, ou seja, de cada criança. A autora lamenta a ausência de mais obras de Froebel, a única obra traduzida é a Educação do homem (UPF,2001) e a Revista do Jardim da Infância (1896-1897) uma tradução parcial produzida pela Escola Caetano Campos, espaço do primeiro jardim-de-infância público no Brasil. No primeiro capítulo, Arce preocupa-se em situar o leitor no tempo em que Froebel viveu. Para isso recorre ao historiador inglês E. Hobsbawm, especialmente à sua obra A era das revoluções (1996) que trata da história européia entre 1789 e 1848, fase que quase coincide com a de Froebel, (1782 a 1852). Esse período de guerra – como as napolêonicas – e Revoluções – como a Francesa, a Industrial e as de 1848 – faz triunfar a indústria do capitalismo, a liberdade e a igualda- 218 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 de para a sociedade burguesa liberal. Registra ainda dados históricos sobre uma Europa agrária com relações conflituosas entre campo e cidade que contrastavam com a rápida ascensão comercial, manufatureira e atividades intelectuais e tecnológicas. Neste período, o caminho para o ideal liberal do indivíduo eram as revoluções, assim a autora analisa brevemente a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra, uma nação que já apresentava características de uma economia capitalista anterior a essa revolução. Apesar da influência inglesa na economia européia, o texto lembra ainda a influência da França que, pelo Iluminismo, sustenta as principais categorias da concepção de um modelo liberal burguês na qual a educação desempenharia um papel essencial para formar o cidadão para o novo regime. Ressalta de forma substancial que nesse período – apesar dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade – as distinções sociais existiam e a chave para ascensão social era o talento de cada indivíduo, isso era exemplificado com o mito de Napoleão, um homem comum que chegou ao poder utilizando seu talento pessoal. Após as revoluções, abre-se então a carreira para o talento e a educação passa a significar o triunfo dos méritos, individualizando-se o fracasso e o sucesso, intensificando o desprezo da classe dominante pela massa de trabalhadores. A pouca inteligência atribuída aos pobres era motivo suficiente para mantê-los à beira da indigência trabalhando nas fábricas, incansavelmente, para dar exemplos aos filhos. Arce destaca os artistas e intelectuais que interferiam nos assuntos públicos com clara função social e relação direta com o público buscando desenvolvimento pleno do ser humano em um esforço para encontrar saída para os problemas sociais agravantes da época. O Romantismo é um exemplo dessa atitude, nele a infância era considerada o melhor da natureza humana e que era corrompida pela sociedade. Essas idéias deram suporte a muitos teóricos da época como Rousseau e o próprio Froebel, que consideravam a infância portadora de toda a bondade e pureza. Conclui este capítulo registrando que a Alemanha – da era das revoluções – em que Froebel viveu, era um país conservador e retrógrado. E a pedagogia deste autor é construída em meio às contradições e realidade social daquele momento histórico, daí a importância do cuidado da autora em localizar o tempo e o espaço em que Froebel viveu, objetivando facilitar a compreensão da vida, obra e princípios educacionais que ela abordará no segundo capítulo. resenhas Segundo Arce, a infância do autor pode ter influenciado em sua formação autodidata. O pai, pastor, ensinou-o a ler, escrever, calcular e principalmente os princípios religiosos do protestantismo, marca da concepção educacional froebeliana. Na universidade, estudou filosofia e ciências naturais que exerceram grande influência em suas concepções. Aluno de Schelling, Karl Christian e Krause, que faziam parte do movimento romântico, Froebel incorpora em sua pedagogia a natureza como obra perfeita de Deus, a unidade dos contrários e a harmonia das formas com as crianças que concretizam nos chamados “dons”. Para ele, a natureza é um símbolo do espírito divino e a criança deve viver em harmonia com esta, para naturalmente se harmonizar com o espírito divino. Ainda sobre a natureza, Froebel defende que ela é objetiva, real e permanente, possui uma unidade que é Deus, não desvincula homem da natureza cuja essência é espiritual, teológica – os dons vêm daí – e como um símbolo, a natureza deve ser reconhecida como um poderoso instrumento educacional e pedagógico. Distante do mundo acadêmico – considerado por ele como um espaço de conflitos distante da realidade – Froebel inaugura sua escola em uma fazenda longe dos grandes centros, mantendo-se alheio às discussões sociais e econômicas do período, ao contrário de Pestalozzi, de quem Froebel discordava, também de sua metodologia com crianças pequenas que desde cedo eram iniciadas na leitura e na escrita. Apesar das diferenças, Froebel incorporou vários princípios de Pestalozzi, entre eles a percepção como ponto de partida para a educação da primeira infância e a importância do papel da mulher como educadora nata nesse processo. Arce registra ainda que para este educador alemão, o processo de exteriorização e interiorização durante a primeira infância são confusos e para mediá-lo, necessita de vida e atividade, não de conceitos e palavras, para ele o professor deveria observar seu aluno para entender sua dinâmica, essência, potencial e talento, princípios exigidos para a sociedade de sua época. Na metodologia froebeliana, três pontos eram fundamentais: seguir Jesus – modelo da perfeição humana – preservando a liberdade de cada um para desenvolver seus talentos; desenvolver no educando o princípio de que o homem e a natureza possuem existência em Deus, orientando-o para uma vida pura e santa e respeitar a natureza, a ação de Deus e a manifestação espontânea do educando. 219 220 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 Em 1816, Froebel funda o Instituto de Educação em Griesheim, no qual permanece durante 13 anos e onde escreve sua mais importante obra filosófica A educação do homem, em 1826. Com esse livro, o autor introduz uma discussão da psicologia do desenvolvimento como fundamento da educação, atrelando a cada estágio – primeira infância, infância e idade escolar – um tipo de educação. Na escola, tudo deveria ser vivido e levar as crianças a pensar, defendia Froebel, o princípio da auto-atividade livre em sua escola fundamenta mais tarde os pilares do movimento escolanovista: o professor trabalhando baseado nos conhecimentos prévios dos alunos. Nessa obra, o autor enfatiza a necessidade de educar a infância em conjunto com a família, a infância se torna o centro da família e o talento da criança definiria seu lugar na sociedade, além de insistir na figura da mãe como educadora nata da primeira infância. Dá ênfase aos trabalhos manuais entendendo o trabalho como benéfico, mas que sem a religião embrutece o ser humano, visão esta que não se entende como crítica às condições de trabalho da época e sim para a pregação da aliança entre religião, temperança e laboriosidade, pensamento da ética protestante. Para a proposta da criança se autoeducar, Froebel elege o jogo e a brincadeira como referência, formas como a criança utiliza para expressar seu mundo e geradores do desenvolvimento da primeira infância. Criou brinquedos educativos chamados de “dons” como uma forma de desenvolver a inteligência e essência da criança brincando, para assim mostrar seu talento. Os seis primeiros “dons” de Froebel são explicitados neste capítulo no qual Arce lembra que esse material está reunido no livro Pedagogia dos jardins de infância, de 1917 e no jornal A Hora Dominical, no qual o autor publica posteriormente a continuidade de mais quatro de seus “dons”. Em 1840, Froebel funda o primeiro jardim-de-infância (Kindergarten), um centro para orientar e cultivar nas crianças menores de 6 anos, suas tendências divinas, sua essência humana através dos jogos e atividades livres. Um recanto entregue às mulheres, únicas capazes de cultivarem nas criancinhas seus talentos e germes da perfeição humana ligada a Deus. Com a expansão desses centros, Froebel inicia vários cursos para a formação das jardineiras, mulheres dotadas de todos os requisitos para a educação. Apesar de Froebel nunca ter se envolvido com política, em 1851 foi acusado de ateísmo e de ser socialista; foram proibidos resenhas os jardins-de-infância na Alemanha. Faleceu em 1851 sem que suas instituições voltassem a funcionar. A difusão da pedagogia froebeliana e sua influência no Brasil é analisada no terceiro capítulo no qual a autora discorre sobre o apoio que este educador teve das mulheres para a continuidade e expansão de sua obra pela Europa e Américas, como a Baronesa Von Marenholtz-Bulow que descreve em seu livro Reminiscences of Friedrich Froebel seus diálogos com ele até sua morte. Essa baronesa é responsável pela disseminação dos jardins-de-infância por toda a Europa. Na América, especialmente nos EUA, a pedagogia froebeliana é divulgada por Margarethe Schurz, Elizabeth Peabody e Susan Elizabeth Blow e é através do trabalho das duas últimas que essa pedagogia chega ao Brasil. Em 1896, na Escola Normal Caetano Campos, em São Paulo, cria-se o primeiro jardim-de-infância público do país, um espaço destinado para crianças da elite que contava com uma extensa equipe de professoras que traduziram trechos de Froebel na Revista do Jardim de Infância de 1896 a 1897. Arce salienta a importância dessa revista como fonte de estudos sobre a metodologia froebeliana no Brasil, destacando trechos dela para que o leitor conheça um pouco sobre o conteúdo desse material que vem sendo estudado por pesquisadores da área de educação infantil no Brasil. No capítulo quatro, a autora discorre sobre a atualidade da obra de Froebel, ressaltando mais uma vez a ligação de Froebel com sua época e a necessidade de ser estudado de forma cuidadosa. Lembra que os princípios do autor ainda repercutem na atualidade, especialmente no lema “aprender a aprender” difundido intensamente na corrente que se denomina como “construtivista”. O uso das brincadeiras e jogos na educação infantil teve Froebel como um dos seus precursores. A obra desse educador não pode ser desvinculada do seu período histórico na qual queria descobrir os talentos individuais da criança para inseri-lo melhor em seu meio, melhor adaptação social e a tão desejada harmonia com a humanidade. Com isso, vinha à tona o caráter individualizante da escola, na qual deveria atender aos interesses individuais da criança. Froebel parte de uma infância idealizada, crendo na criança como semente de pureza do amanhã, como se todos partissem do mesmo ponto e com as mesmas condições, um fato que não era verdadeiro na época, nem hoje. A autora 221 222 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 ainda questiona a força das idéias de Froebel presentes na atualidade e indaga se houve evolução ou apenas colocou-se o velho vinho em novas garrafas. Reforça sua indagação ressaltando se, como Froebel, não estaríamos adotando uma atitude romântica em relação à escola, colocando-a como solução para os problemas socioeconomicos e se ainda não temos mulheres que trabalham com crianças pequenas utilizando-se da figura idealizada da mãe sem assumir uma postura profissional como na pedagogia froebeliana. Arce conclui sua escrita com vários questionamentos atuais indicando para o leitor a importância de se estudar o autor e suas idéias no interior do contexto em que foram produzidas. Fecha sua obra com um capítulo sobre o “Uso do jogo” extraído do livro A pedagogia dos jardins de infância (1917) de Friedrich Froebel, ilustrado com alguns “dons” do mesmo autor. Diane Valdez Professora de História da Educação da Universidade Estadual de Goiás, mestra em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e doutoranda em História e Filosofia da Educação pela UNICAMP resenhas 223 Historia de la educación (Edad Contemporánea) autores cidade editora ano Alejandro Tiana Ferrer; Gabriela Ossenbach Sauter e Fernandes Florentino Sanz (coordenadores). Madri UNED 2002 Historia de la educación (Edad Contemporánea), obra que reúne artigos dos autores signatários e de seus colaboradores Federico Gómez R. de Castro (UNED), Manuel de Puelles Benítez (UNED), María del Mar del Pozo (Universidad de Alcalá), Agustín Escolano Benito (Universidad de Valladolid) e Julio Ruiz Berrio (Universidad Complutense de Madrid), apresenta-se como subsídio didático aos profissionais de educação que necessitam conhecer o sistemas educativos em que pretendem atuar. Entendem os coordenadores da obra que compreender o modo de constituição e a configuração mutante dos sistemas de ensino constitui elemento valoroso para a formação desses profissionais, uma vez que a história não só pode oferecer os recursos intelectuais necessários para a análise e interpretação perspectivadas daqueles sistemas, como também permitir o desenvolvimento de uma consciência crítica, que os imunizaria contra os determinismos e as explicações intemporais dos fatos educativos de que participam. Embora tendo definido previamente o público a que a obra pretende atingir de imediato, ou seja, os estudantes que desejam tornarse profissionais da educação no sistema de ensino espanhol, compreendem os autores que estudantes e profissionais de outros países, bem como os diletantes, terão nela um bom guia e fundamento para incursões ulteriores à matéria. A resenha desta obra justifica-se, pois, pelo reconhecimento de sua valia para o leitor 224 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 brasileiro, que nela poderá obter informações preciosas sobre assuntos e realidades entre nós vagamente conhecidos ou, por vezes, absolutamente ignorados1. Advertindo que a obra não se pretende completa ou exaustiva, os coordenadores afirmam ter selecionado para suas considerações apenas os temas universais mais importantes e significativos para um estudante que deseja trabalhar no sistema educativo espanhol, motivo pelo qual, aliás, tais temas se alternam com outros especificamente espanhóis. Para esta seleção, distinguiram na evolução histórica da educação na Idade Contemporânea (iniciada com a Revolução Francesa e ainda inconclusa) três grandes períodos, a cada um dos quais se dedica uma unidade. Embora admitam que em cada um dos países considerados a gênese e a evolução do sistema de ensino público tiveram características diferençadas, os coordenadores da obra postulam a existência de fenômenos comuns que permitem explicá-las como transformações de amplo escopo, que, tendo afetado primeiramente o mundo ocidental, converteram-se mais tarde em fenômeno universal. Os casos nacionais analisados no livro, entretanto, circunscrevem-se à mais imediata “vizinhança cultural e geográfica” e limitam-se, ainda de acordo com os coordenadores, aos países europeus cujos casos foram considerados relevantes para o cotejamento do caso espanhol, em cada uma das unidades. Tal decisão, assumida apesar dos inconvenientes do estreitamento e das prováveis acusações de eurocentrismo, teria atendido à necessidade de tratar os temas com maior profundidade. Os coordenadores da obra entendem que os sistemas educativos constituem parcelas determinadas dos sistemas sociais, nos quais surgem e se desenvolvem, e a cujo desenvolvimento servem. Por este motivo, sua formação e evolução não podem ser explicadas sem a concorrência dos fatores coetâneos de ordem econômica, política, social e cultural a que se encontram relacionados. Assim, em auxílio à mínima compreensão histórica, os capítulos que abrem as três unidades do livro repassam em linhas gerais o “contexto histórico”, de- 1 Esta obra, entretanto, não se encontra disponível em livrarias brasileiras. Ela integra o catálogo de publicações didáticas da Universidad Nacional de Educación a Distancia. Para acesso a outros títulos, informações e serviços, recomenda-se a consulta ao site http://www.uned.es. resenhas marcando o período e situando as grandes tendências que o configuram, à maneira de um manual de história. Advertem os coordenadores, entretanto, que o leitor deverá aprofundar em outras obras os seus conhecimentos de história geral, a fim de que possa compreender melhor os processos educativos analisados. A primeira unidade oferece uma visão panorâmica dos fatores que incidiram sobre a origem dos sistemas educativos nacionais nos países ocidentais selecionados (França, Alemanha, Espanha e Inglaterra), explicando como o Estado, entre finais do XVIII e princípios do XIX, tomou para si a tarefa de organizar um conjunto de instituições de amplitude nacional destinadas à educação formal, com o fim de oferecer ao menos o ensino elementar aos habitantes de seu território. O capítulo incide sobre os antecedentes imediatos do processo, situados no pensamento ilustrado do século XVIII e nos movimentos que culminaram com a queda do antigo regime na Europa, e sobre as relações entre Estado liberal e educação, no momento em que se promove a transição da “educação estamental” para a “educação nacional” e que se encarece a necessidade de os sistemas de ensino se converterem em agentes de difusão dos valores que promoveriam a consciência nacional e a integração da sociedade em torno da pátria. Justifica-se assim a preocupação daqueles Estados (com exceção da Inglaterra, apresentada como contraponto) com a instrução pública, embora seus projetos educativos não tenham tido aplicação imediata. A segunda unidade trata da evolução dos sistemas educativos, de meados do século XIX à segunda metade do século XX, e põe foco na relação entre educação e industrialização, fenômeno que se encontrava em germe na unidade anterior (e circunscrito ao caso da Inglaterra), mas que, sobrepondo-se aos condicionantes políticos que definiram o estágio anterior de gênese dos sistemas educativos, marcou este período com influxos sobre a organização e métodos da escola primária (com a ascendência do desenvolvimento científico e tecnológico na compreensão dos processos didáticos e dos fins almejados pela educação) e sobre a organização do sistema educativo (com a disseminação da escola primária e a “segmentação” e progressiva “democratização” da escola secundária nos sistemas nacionais). Os condicionantes políticos, por sua vez, ressurgem na análise da reação dos setores conservadores da sociedade, destacadamente a Igreja, 225 226 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 diante dos princípios liberais que presidiram ao avanço do Estado sobre a escola pública no período anterior. Por fim, a crescente complexidade do pensamento pedagógico exige nesta unidade um espaço, ainda que breve, para o estudo das correntes que acompanharam a evolução e extensão dos sistemas escolares ao longo do século XIX. Os sistemas educativos nacionais haviam prometido uma educação fundada nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, mas um dos resultados de sua implantação foi justamente a segregação dos educandos por classes sociais ou por ramos diferenciados, com o que se formaram sistemas duais ou bipolares. Em conseqüência, os conflitos sociais, que foram aumentando ao longo do século XIX, fizeram-se sentir também no mundo educativo, permitindo o aparecimento de diversos grupos e movimentos, que reivindicaram modelos alternativos e efetivamente igualitários. Dentre todas as tendências que influíram sobre a configuração dos sistemas educativos, a obra apresenta o socialismo, o fascismo e o movimento da Escola Nova, para a análise do qual os coordenadores sabiamente fizeram alargar-se o âmbito cultural e geográfico previamente definido, para que fossem abarcados os Estados Unidos, país para onde, ao longo deste período, o eixo civilizatório francamente foi se deslocando. A terceira unidade dedica-se à reconstrução dos sistemas educativos depois da Segunda Guerra Mundial, evento cujo impacto foi decisivo, tanto sobre as condições materiais das nações envolvidas, como sobre os modos de pensar a educação e a formação do homem. Pode-se afirmar que o impacto da guerra tenha acelerado transformações anteriormente anunciadas nos sistemas educativos, marcando o período com a expansão quantitativa, a abertura a novos públicos e a contribuição de tais sistemas para o desenvolvimento de novas formas de organização política e social. Neste processo de democratização, que não foi linear e homogêneo, podem ser identificadas várias fases (diversificadas consoante os blocos geopolíticos então formados): a fase de reconstrução dos sistemas educativos nacionais, fundada na revisão e redefinição dos níveis educativos e de seus currículos; a fase de expansão e desenvolvimento, orientada pela convicção de que a educação era fator chave para o desenvolvimento econômico; a fase de revisão crítica, em que as contradições e lacunas dos sistemas de ensino são vigorosa- resenhas mente criticadas, conduzindo à chamada crise mundial da educação, que teve lugar durante as décadas de 1970 e 1980. A derradeira fase caracteriza-se pelo acionamento de mecanismos de reforma permanente dos sistemas educativos e pelo enfrentamento entre as políticas neoliberais e social democráticas em matéria de educação. Deixada de lado na presente obra, dada a sua proximidade e à “necessidade de novos estudos”, a última fase foi substituída por um capítulo consagrado à evolução da educação na Espanha durante o franquismo, com o que se pretendeu atender aos interesses específicos do público-alvo primordial da publicação. Por terem querido salvaguardar o caráter didático da obra e a sua unidade, os coordenadores adotaram um esquema similar para o tratamento dos temas, procedimento que resultou em capítulos equivalentes em extensão e linguagem, de compartilhada e coerente perspectiva de análise. Com efeito, cada um dos colaboradores parece ter sacrificado o estilo pessoal em favor da coerência integral e da clareza de exposição, o que conta pontos positivos na avaliação da obra. Didaticamente orientadas são também as caixas com cronologias, biografias e conceitos-chave, que complementam os textos. Cada unidade inclui uma bibliografia comentada, para aprofundamento ulterior (a cargo do leitor), além de pequenas antologias de documentos considerados fundamentais para a compreensão dos temas. Destaque-se como positiva a opção, bem sustentada, de marcar os períodos da história da educação contemporânea por seus critérios intrínsecos, comprovando mais uma vez que a abordagem dos fatos educativos pode ter autonomia relativa diante dos fatores políticos e econômicos, sem que, entretanto, o peso destes seja ignorado ou dispensado na análise daqueles. Também valorosa é a alternância de antigos e novos temas da história da educação, ambos sustentados pelas mais recentes contribuições das pesquisas realizadas na área. A propósito, teria sido interessante incluir tópicos que, sem serem exaustivos ou desviarem-se do foco principal das análises (o Estado), trouxessem à cena com maior destaque os alunos e suas famílias, os professores e suas práticas cotidianas, os livros de leitura e os demais impressos de caráter pedagógico, de circulação e uso internos ou externos à escola. Por fim, um reparo a ser feito: com a ausência gritante de Portugal, o critério de vizinhança cultural e geográfica, alegado para a 227 228 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 seleção dos países cujos casos são estudados, vê-se contrariado. Já na primeira unidade, a publicação não apresenta a gênese do sistema educativo do país que, ao lado da Espanha, conforma a tradição cultural ibérica, fazendo com que o leitor perca a oportunidade de acercar-se de fatos relevantes como, por exemplo, as reformas pombalinas da instrução pública. Encabeçadas pelo Marquês de Pombal e forjadas no peculiar Iluminismo português – progressista, reformista, nacionalista, humanista e católico –, tais reformas teriam ilustrado bem os temas da secularização (com a expulsão dos jesuítas, que até então monopolizavam a educação no reino) e da modernização dos métodos de ensino (com a introdução da filosofia moderna e das ciências naturais na Universidade de Coimbra). Em que pese a lacuna mencionada, a obra em epígrafe reúne as qualidades exigidas por sua destinação primeira: clareza de objetivos, delimitação precisa, atualização, linguagem simples e uniforme, coerência entre os diversos autores, bom uso de recursos de apoio ao texto. É uma boa obra a recomendar aos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação, que com sua leitura poderão obter uma base sólida para os aprofundamentos necessários à compreensão da rica trama da história da educação contemporânea. Bruno Bontempi Júnior Professor do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Educação: História, Política, Sociedade da Pontifícia resenhas 229 Universidade Católica de São Paulo O exercício disciplinado do olhar: livros, leituras e práticas de formação docente no Instituto de Educação do Distrito Federal (1932-1937) autora cidade editora ano Diana Gonçalves Vidal Bragança Paulista EDUSF 2001 O livro constitui a publicação, na íntegra, da tese de doutorado da autora, defendida em 1999, no programa de pós-graduação em educação da Universidade de São Paulo (USP), sob orientação de Marta Carvalho. O trabalho de Diana tem como temática o estudo das práticas de formação docente presentes num espaço modelar: o Instituto de Educação do Distrito Federal. Sua periodização contempla o momento situado entre 1932 e 1937, em que a instituição afirmou-se como locus de experimentação e construção de práticas escolanovistas, sob a direção de Fernando de Azevedo e, posteriormente, Anísio Teixeira. Tendo em vista tal objeto, a pesquisa situa-se na confluência (ou entrecruzamento) de diferentes tradições de investigação em história da educação: o estudo das teorias pedagógicas – tendo como foco a Escola Nova, da profissão docente – centrando-se na sua formação, a análise das práticas sociais de letramento – tendo como cenário sua inserção no espaço escolar do Instituto. O trabalho da autora contribui ao articular tais temáticas, a partir de uma perspectiva historiográfica fundada na Nova História e, mais exatamente, a história cultural. Não se proclama uma filiação teórica ao longo do texto, nem se desenvolve uma apresentação da perspectiva metodológica utilizada. Ao contrário, a sólida fundamentação conceitual emana da pesquisa. Ao lançar mão de uma multiplicidade de fontes primárias (entrevistas, leis, decretos, regu- 230 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 lamentos, programas, plantas arquitetônicas, correspondências, fotografias, livros, revistas, artigos etc.), é possível construir um retrato do Instituto de Educação, em seu cotidiano, tendo como referência a apropriação do ideário escolanovista, através da institucionalização de práticas que materializassem seus pressupostos. Ao mesmo tempo, os diferentes atores se fazem presentes, resgatando-se o discurso institucional, a fala das alunas e professores, da direção. Tal polifonia é que irá dar sustentação ao trabalho, em que as análises se mostram diretamente articuladas e sustentadas na garimpagem, entrecruzamento e interpretação das fontes. É importante destacar essa questão, na medida em que grande parte da produção mais recente da história da educação no Brasil busca afirmar e proclamar sua filiação as correntes historiográficas contemporâneas, principalmente recorrendo à história cultural de Roger Chartier, citando ou parafraseando trechos dos autores, de maneira que certifique o leitor dessa filiação teórica. A autora supera tal perspectiva, dando a ver, em sua construção textual, o referencial teórico – metodológico que a sustenta. Assim é que a centralidade do estudo das práticas, a ênfase na apropriação dos discursos, a análise das materialidades que conferiam sentido ao projeto de formação docente, afirmam-se como eixos da investigação. O período histórico (e/ou objeto contemplado), a Escola Nova, traz alguns embaraços ao pesquisador da história da educação brasileira. O projeto escolanovista constitui talvez o período e objeto mais estudado nos trabalhos da área. Se isso permite ao investigador uma substantiva produção a partir da qual ancorar suas análises, por outro, encerra o perigo da repetição dos mesmos pressupostos já estabelecidos sobre o tema, aplicados a um aspecto ainda não contemplado. O trabalho de Diana supera tal percalço através de uma sólida e minuciosa investigação que faz emergir o conjunto de práticas que conferiam sentido ao projeto escolanovista, no interior de um espaço de formação docente. Assim é que a investigação se insere numa tradição de estudos sobre a Escola Nova, lançando, no entanto, um olhar diferenciado sobre o tema, que contribui para superar análises estabelecidas. Tal tradição de estudos é marcada por permanências e rupturas na perspectiva de compreensão do projeto escolanovista, que cabem ser mais bem compreendidas. resenhas Por muito tempo, os estudos ficaram presos ao discurso oficial ou jurídico, a partir da leitura construída pelos principais teóricos desse movimento de renovação sobre seu lugar na história da educação brasileira. Como demostram os trabalhos de Marta Carvalho, autores como Fernando de Azevedo produziram uma leitura sobre a educação em que o movimento escolanovista aparece como produção do novo, em completa ruptura com um passado de atraso e ignorância. Posteriormente, estudos ancorados numa visão fundada numa perspectiva de cunho sociológico tomaram o movimento escolanovista como expressão pedagógica do ideário socioliberal de seus formuladores, estabelecendo uma leitura mecanicista do mesmo. Mais recentemente, uma série de estudos, referidos numa perspectiva historiográfica de recurso sistemático a fontes primárias anteriormente desconsideradas, bem como a investigação dos fenômenos educativos contemplando a longa duração, produziu um olhar diferenciado. Nesse, a Escola Nova é compreendida no interior de uma série de movimentos históricos de renovação da educação voltados para a constituição de uma modernidade pedagógica. Tal modernidade, em sintonia com as transformações vividas nas sociedades ocidentais nos últimos três séculos, buscava produzir um projeto de formação das novas gerações, através de sua escolarização. Ao mesmo tempo, essa tradição de construção de uma modernidade pedagógica se deu marcada por sucessivas rupturas. É no interior desse movimento de permanências e deslocamentos que a Escola Nova adquire sentido e afirma sua singularidade. No trabalho da autora, por outro, destaca-se que a Escola Nova não constituiu um movimento único e homogêneo. A investigação busca dar visibilidade às significativas diferenças entre os principais atores voltados para a produção e circulação do ideário escolanovista. O trabalho confere centralidade à apresentação e análise das visões diversas que produziram acerca do lugar social da escola, sua organização e as estratégias de reformulação das práticas pedagógicas, bem como da formulação de um projeto de formação docente. Assim é que a perspectiva desenvolvida pela autora se mostra em diálogo com a recente produção historiográfica sobre a Escola Nova brasileira, a qual vem permitindo ressignificá-la, compreendendo tanto sua continuidade e ruptura em relação a movimentos pedagógicos anteriores, como contemplando as singularidades dos diversos projetos postos em cena no período. 231 232 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 Destaca-se, no caso dessa pesquisa, a análise das práticas desenvolvidas sob a direção de Anísio Teixeira, à frente da instituição, voltado para “a constante reflexão sobre o fazer” (p. 250) e as de Fernando de Azevedo, que o antecedeu, de ensino com uma sólida fundamentação científica, que deram origem a dispositivos diferenciados de formação, fazendo com que práticas fossem secundarizadas, abandonadas ou substituídas ao longo do período investigado. No interior do projeto escolanovista, a pesquisa contempla a profissão docente, em sua formação, outro eixo de investigações sistematicamente analisado na produção historiográfica mais recente. O estudo confere visibilidade a ousadia do projeto de formação de professores, principalmente na gestão Anísio Teixeira, caracterizado pela organicidade, sistematicidade e articulação da proposta em cena. Através do estudo da autora é possível perceber os dispositivos acionados pelos responsáveis pela escola, dispositivos esses voltados para a formação de um professor – pesquisador, cujas relações com o conhecimento deveriam ser mediadas pelo constante e sistemático contato com o escrito, através de variadas práticas de letramento, que se mostravam marcantes na escola. Evidencia-se como no cotidiano da instituição, pretendia-se o que a autora chama de exercício disciplinado do olhar, quer seja: “fosse o olhar sobre a criança, sobre as relações ensino–aprendizagem ou sobre o estudo dos textos, suporte de uma prática laboratorial que transformava o aluno em pesquisador e em objeto de pesquisa; o ensino em técnica e em permanente crítica”. Emerge do trabalho a formação de um professor munido de conhecimentos rigorosos nos diferentes campos da educação, ao mesmo tempo que capaz de aliar a prática à reflexão, com a leitura e produção de artigos e monografias, material que possibilitasse uma reflexão sistemática, principalmente sobre o aluno. A Escola Normal é retratada não como conjunto de princípios desvinculados das ações cotidianas da instituição, mas como sistema de práticas, cujo sentido articulava-se com uma proposta de formação desse professor-pesquisador. A constituição de diferentes dispositivos de experimentação e pesquisa não constituíam recursos erráticos, ou iniciativas fugazes, mas através do estudo de Diana evidencia-se a organicidade e coerência da proposta de formação, uma das estratégias fundamentais postas em cena no período de reformulação das resenhas práticas escolares sob a égide da Escola Nova. A instituição, percebida como espaço modelar, era pensada como locus de irradiação para o grosso do professorado e, sendo assim, eram formulados dispositivos de interlocução com os demais espaços escolares. Ao mesmo tempo, evidencia-se que o projeto posto em cena não se sustentava numa proposta de formação de professores que tivesse em conta as professoras concretas que ministravam aulas no Distrito Federal, ou que pretendiam ingressar na carreira docente. Ao formular um currículo voltado para uma formação de cinco anos de duração, com rígidos critérios de seleção para entrada na escola (até mesmo com a utilização de referenciais antropométricos), com exigência de aproveitamento superior aos demais espaços de formação, evidencia-se a concepção de constituição de um corpus profissional elitizado , distinto do grosso do professorado. É tal contradição que irá contribuir para o progressivo malogro ou abandono da arquitetura do modelo de formação pensado principalmente por Anísio Teixeira, embora marcas residuais tenham permanecido ao longo da história da instituição. Pensando na tradição de estudos sobre história da formação docente, verifica-se que as Escolas Normais, instituídas ainda que precariamente ao longo do século XIX, afirmaram-se como espaços privilegiados de qualificação profissional. Os diversos e sucessivos programas de formação, à parte suas significativas diferenças, tiveram em comum a transmissão de saberes e metodologias pedagógicas vinculadas sob o apanágio do novo, do moderno, em ruptura com os saberes da tradição, advindos da experiência do professorado, desqualificados e identificados com o passado ou a ignorância. Ao longo da história dos espaços de formação docente, deu-se o progressivo adensamento e sofisticação dos conhecimentos transmitidos no interior desses espaços, com a conformação de currículos, a entrada de novas disciplinas, que iriam exigir um tempo cada vez maior dedicado à formação do professorado. A especialização dessa formação iria marcar uma diferenciação entre os professores formados nas instituições e os que não tiveram uma qualificação oficializada. Com a Escola Nova, a formação docente afirmou-se como central para a consolidação de sua proposta, sendo que no Instituto de Educação, sob a gestão de Anísio Teixeira o curso era elevado à 233 234 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 formação superior. Com isso, reforçava-se a elitização da formação pretendida e seu fosso em relação ao conjunto do professorado. Tal experiência, marcada pelo arrojo de sua concepção e como aponta a autora, uma cetra arrogância na articulação do projeto foi progressivamente perdendo fôlego, não apenas pela demissão de Anísio Teixeira, mas sob efeito da implementação do Estado Novo. Continuaram alguns aspectos da instituição, realizados de forma irregular e residual, num curso agora em nível secundário e não mais superior, demonstrando o caráter descontínuo dos processos de formação docente postos em cena no Brasil. Em tempos de discussão quanto ao projeto de formação docente na contemporaneidade brasileira é enriquecedor lançar o olhar sobre as nossas “normalistas, vestidas de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador”, como cantava a música. Ou ao perturbarem, com seus ares modernos, o cotidiano do poeta provinciano, no dizer de Drummond e pensar nas permanências e rupturas no processo de constituição da identidade desse sujeito social. Maria Cristina Soares de Gouvêa Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) resenhas 235 Templos de civilização: a implantação da Escola Primária Graduada no estado de São Paulo, 1890-1910 autora cidade Fundação ano Rosa Fátima de Souza São Paulo editora UNESP 1998 Elaborado originalmente como tese de doutorado de Rosa Fátima de Souza1, Templos de civilização debruça-se sobre a fundação e institucionalização dos grupos escolares no estado de São Paulo entre os anos de 1890 e 1910. Fruto de um extenso levantamento documental e bibliográfico, a análise enquadra-se no conjunto de pesquisas históricas e historiográficas da educação brasileira que, principalmente, a partir de finais da década de 1980 tem privilegiado o caráter histórico das práticas educativas que caracterizam as instituições escolares. Dessa perspectiva, as modificações no modelo e cultura escolares dos estabelecimentos de ensino primário articulam-se no texto às características sociais, políticas e econômicas do estado de São Paulo do período. Por outros termos, o livro possibilita descortinar as maneiras como os grupos escolares incorporaram e se apropriaram e, do mesmo modo, como elaboraram, modificaram e retornaram à sociedade os discursos e representações de progresso, cientificidade e civilização presentes ao projeto republicano. Os interesses que motivaram a defesa da intervenção educacional como um instrumento de remodelação social e consolidação do regime republicano foram muitos. No correr da segunda metade do século XIX – destaque para as experiências testadas pelas escolas americanas de confissão protestante a partir, principalmente, da dé1 Defendida em abril de 1997 na Faculdade de Educação da USP, sob orientação de Maria Cecília Sanchez Teixeira. 236 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 cada de 1870 – acirraram-se os debates concernentes aos métodos, saberes e práticas escolares. Reconhecer as crianças enquanto seres em desenvolvimento, bem como portadoras de curiosidades, dúvidas e questionamentos, tornava-se uma constante na reflexão daqueles que se propunham a repensar a educação brasileira. Às escolas, além de repassar conhecimentos, caberia a função de ensinar regras de comportamentos e desenvolver o caráter dos alunos. Procedimentos higiênicos, modos bem-educados, importância do trabalho e predisposição à abdicação de interesses individuais em razão de aspirações coletivas eram alguns dos ensinamentos que complementariam o ler, escrever e contar nos espaços e tempos escolares. Desse modo, instrução e educação deviam caminhar juntas no processo de formação das crianças. Foi no bojo dessas propostas de reformulação educacional que as idéias de Jean-Henri Pestalozzi ganharam destaque na arena educacional. Reunindo “[...] o apelo à experiência e à observação, o estímulo à curiosidade da criança, a organização do programa partindo do concreto para o abstrato, do simples para o geral, do conhecido para o desconhecido” (p. 170), caracterizava-se o “método intuitivo” como um deslocamento nas práticas e saberes escolares. Afinal, deviam os alunos não só “escutar” os ensinamentos, mas também observá-los e intuí-los pelas atividades dos professores. Como argumenta Rosa F. de Souza, os republicanos muito se apropriaram desse conjunto de ideais de reforma educacional para consolidar a distância que os separava dos tempos passados. Apregoavam, então, a necessidade de “[...] fundar uma escola identificada com os avanços do século, uma escola renovada nos métodos, nos processos de ensino, nos programas, na organização didático-pedagógica; enfim, uma escola moderna em substituição à arcaica e precária Escola de Primeiras Letras existente no Império” (p. 29). Nesse movimento, no início da década de 1890, regulamentavase a lei que estabelecia a criação dos grupos escolares no estado de São Paulo. Alocados em prédios de arquitetura monumental, com espaços reservados ao “[...] gabinete para a diretoria, sala para arquivo, portaria, depósito, biblioteca, laboratórios, oficinas para trabalhos manuais, ginásio, anfiteatro e pátios para recreio” (p. 128), cada grupo podia comportar de 4 a 10 escolas isoladas. Em relação à precariedade e ao improviso das edificações (paróquias, cadeias, cômodos de comércio) e das práticas de ensino (en- resenhas sino individual, método lógico de alfabetização) que, via de regra, definiam as escolas públicas do Império, destaca a autora que significaram os grupos escolares uma tentativa de racionalização administrativa e pedagógica. Racionalização administrativa, porque estabelecia a reunião de escolas isoladas e a setorização do trabalho pelos espaços e tempos escolares. Racionalização pedagógica, porquanto estipulava a classificação dos alunos, o ensino simultâneo, o método analítico de alfabetização e o método intuitivo. Adentrar aos Templos de civilização, alicerçada por um levantamento de fontes primárias e secundárias realizado com muita propriedade, permitiu à autora indiciar, também, a função social que os republicanos delegaram à educação. A rígida distribuição e controle dos espaços e tempos escolares; a “classificação igualitária (homogênea) dos alunos” (p. 33); o aperfeiçoamento dos exames de avaliação; a fragmentação das matérias e atividades; o quadro de horários; o repicar dos sinos à entrada, recreio e saída; a divisão dos alunos em salas homogeneizadas; as marchas, cantos e exercícios ginásticos que ditavam o ritmo das atividades; a “passagem do aluno de lugar inferior para superior na mesma classe, o elogio perante a classe, o elogio solene perante as classes reunidas, distribuição de cartões de boa nota, cartões de merecimento e louvor e a inclusão do nome do aluno no quadro de honra” (p. 147); dentre outros aspectos demonstravam que a obediência, organização e vigília constituíam-se como elementos fundamentais no cotidiano dos grupos escolares. A esse ambiente disciplinar interno aos grupos devem ser acrescentados os cuidados e requintes tomados durante a construção dos monumentais edifícios; as festividades de encerramento de ano; os desfiles dos batalhões infantis; as exposições escolares, o “[...] ir e vir da escola [que] correspondia a uma apropriação do espaço urbano, um itinerário de reconhecimento da cidade por meninas e meninos, a coabitação das ruas, praças, calçadas por diferentes grupos sociais” (p. 126); as comemorações cívicas que se encarregavam de abrir a escola “[...] à cidade, à rua, à sociedade, aos alunos, aos seus pais, aos seus amigos e suas famílias [...]” (p. 261). A descrição e análise das circunstâncias internas aos grupos e suas implicações com o ambiente urbano paulista possibilitaram Rosa F. de Souza afirmar que 237 238 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 Os republicanos deram à educação um lugar de destaque, sendo o grupo escolar representante dessa política de valorização da escola pública; dessa forma, eles conferiam a um só tempo: visibilidade à ação política do Estado e propaganda do novo regime republicano. [...]. Em certo sentido, o grupo escolar, pela sua arquitetura, sua organização e suas finalidades aliava-se às grandes forças míticas que compunham o imaginário social naquele período, isto é, a crença no progresso, na ciência e na civilização [p. 91]. Um investimento educacional a serviço da modernização, higienização e disciplinamento do meio social: assim pode ser definida a experiência dos grupos escolares paulistas que, em um certo sentido, devem ser vistos “[...] no interior dos projetos de modernização e de construção de novas formas de gestão das cidades e de seus habitantes implementados pelo poder público no Estado de São Paulo” (p. 92). O investimento justificava-se. O final do século XIX e início do XX foi um período muito conturbado. Um enorme contingente de estrangeiros invadiu São Paulo em busca de melhores condições de vida. Em terras brasileiras, depararam-se com um grande número de nacionais que, do mesmo modo, disputavam cotidianamente oportunidades de emprego. A abundante oferta de mão-de-obra ocasionou não só a desvalorização salarial, mas também elevou o número de indivíduos que não encontrando trabalho aglomeravam-se nas localidades de maior movimento das cidades. Golpes, prostituição, jogatinas, sujeiras, degradação, roubos, drogas passaram a se constituir como uma constante no cenário urbano paulista. Esse quadro de degradação, cada vez mais presente ao cotidiano urbano, contrastava aos ideais defendidos e amplamente divulgados pelo projeto republicano. Nesse sentido, organizar, higienizar e disciplinar a população das cidades apresentavam-se como questões fundamentais para a tentativa de ingressar São Paulo no movimento do moderno. Sob essa ótica, a experiência educacional paulista foi modelar. Acompanhando, de certo modo, nos dizeres da autora, o “[...] caminho percorrido pelo café [...] a distribuição regional da criação dos primeiros grupos escolares [...]” (p. 93) privilegiou aquelas localidades que, por terem sido alvos de levas de imigrantes, apresentavam elevada concentração urbana. Era nessas cidades que “morava o perigo das multidões” (p. 92). resenhas 239 De fato, a conformação de procedimentos salubres, a profusão de regras de sociabilidade e a divulgação dos ideais republicanos perpassavam todos os aspectos dos grupos escolares. Objetivavam educar não apenas o corpo docente e discente, mas exercer “influências modernas” em toda a sociedade. Nessa direção, pode-se compreender a monumentalidade das edificações em função de uma intenção de recortar e divulgar na sociedade um espaço grandioso e específico destinado à educação. A homogeneização dos alunos e adoção de novos métodos e práticas como uma tentativa de transformar os espaços e tempos escolares em dispositivos disciplinares e higiênicos. A intensa valorização e (re)significação de aspectos do cotidiano escolar (uniformes, cadernos, festividades, cânticos, hinos etc.) enquanto insígnias à República. No entanto, entraves à implementação dos grupos escolares foram sentidos logo nos primeiros anos de suas existências. Os “[...] diferentes tipos de escolas primárias, diferentes programas de ensino e diferentes níveis de formação de professores” (p. 60) dificultaram tremendamente esses investimentos educacionais que almejavam uniformizar e padronizar o ensino público paulista. De qualquer modo, pondera a autora, as discussões e efetivas alterações promovidas pelos grupos escolares no modelo e cultura escolares do estado de São Paulo foram importadas por outros Estados e auxiliaram a compor o padrão do ensino primário brasileiro. Aproximadamente sete décadas, foi esse o período em que estivemos sob as influências dos Templos de civilização. O trabalho de Rosa F. de Souza apresenta-se como uma instigante e coerente investigação acerca da criação e implementação dos grupos escolares paulistas. O mergulho realizado pela autora na “caixapreta” dessas instituições modelares em busca de práticas e saberes escolares contribui, assim, para a abertura do campo histórico e historiográfico, permitindo que outros elementos sejam incorporados à reflexão sobre a educação paulista e brasileira de finais do século XIX e início do XX. José Cláudio Sooma Silva Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Educação e Historiografia da Universidade de São Paulo (USP) 240 revista brasileira de história da educação n° 6 ago./dez. 2003 Nota de Leitura Negativos em vidro: coleção de imagens do Colégio Antônio Vieira (1920-1930) autora cidade editora ano Stela Borges de Almeida Salvador EDUFBA 2002 A publicação dos resultados desta pesquisa significa uma contribuição, não só para o campo da história da educação, mas também para o tratamento e análise da fotografia como fonte documental. Iniciado com a elaboração do guia de fontes fotográficas para a educação na Bahia, o estudo teve continuidade em sua tese de doutorado, apresentada nesta obra. A partir da coleção de fotografias do Colégio Antônio Vieira, uma série com uma temática definida, Stela Borges de Almeida constrói uma interpretação das imagens e da representação por elas engendrada, e aponta diversas outras possibilidades de análise, estimulando olhares. A obra foi estruturada em cinco partes. A primeira, dedicada à transcrição de entrevistas realizadas com: o padre José Manuel Sanchez, diretor do colégio de 1960 a 1963, que realizou uma organização das fotografias com o objetivo de preservar a memória do colégio; o padre Carlos Bresciani, jesuíta estudioso da história da Companhia de Jesus; o professor Thales de Azevedo, aluno do colégio de 1914 a 1919, médico e professor; e, Pierre Verger, fotógrafo francês que residiu durante muito tempo na Bahia. Ao evocar, com as entrevistas, lembranças de pessoas diretamente ligadas à instituição, suscitadas pelas imagens, ou ao incorporar olhares mais distantes, ainda que com alguma relação com a temática das fotos, a autora procurou constituir o que chamou de “Um ponto de partida”, título da primeira parte de seu livro. A atuação dos padres jesuítas não se restringia ao âmbito escolar, conforme se constata pela observação de imagens da cidade apresentadas na segunda parte do trabalho, “Imagens da cidade da Bahia”. A 242 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 autora amplia a análise das fotografias, ao lembrar que, apesar de as imagens retratarem a remodelação da paisagem urbana, destacando aspectos que sugerem beleza, a cidade enfrentava, no mesmo período, diversas mazelas sociais, que não figuram entre os elementos enfocados. Inserido na cidade, seja pelas relações sociais estabelecidas pelos alunos, seja pela relação simbólica estabelecida pelo olhar dos jesuítas ao produzir imagens da cidade, ou, ainda, pela determinação espacial, o Colégio Antônio Vieira foi o foco articulador dessas relações. “Imagens do espaço escolar” trata, especificamente, dos espaços ocupados pelas práticas educativas religiosas do colégio na cidade de Salvador, desde a sua fundação, em 1911. A última parte, “Grupos photographicos”, subdivide-se de acordo com os eixos temáticos do catálogo do acervo. “Os professores e os alunos” é o primeiro dos temas, e expõe aspectos dos processos disciplinares e hierárquicos nos quais se fundamentavam as práticas pedagógicas, religiosas e sociais jesuíticas, no colégio e na cidade. O conjunto das imagens de grupos de professores e alunos permite investigar a historicidade do período, expressa no vestuário, por exemplo, e as relações estabelecidas no âmbito escolar. Os jesuítas produziram um conjunto de imagens, resultante de suas pesquisas realizadas em Salvador e no interior do estado da Bahia. Esse conjunto é apresentado em Os naturalistas. As imagens foram utilizadas como recurso pedagógico, divulgadas em uma revista de circulação internacional e dispostas em uma exposição realizada no colégio, entre 1920 e 1930. Além dessas imagens, foram apresentadas também aquelas relativas aos seguintes eixos temáticos: Os congregados Marianos, O teatro e a música, Os escoteiros e Os esportes, constituídos por imagens de práticas e aspectos relativos à vida religiosa, educativa, social e cultural da instituição, evidenciando preocupações que nortearam as atividades e personagens que encarnaram as práticas e as simbologias. Agrupadas em Outras imagens, algumas singulares fotografias permitem múltiplas interpretações. No tocante à metodologia e ao conjunto documental, a obra não se restringiu à análise das fontes; é fruto de um projeto que abrangeu a recuperação das imagens em negativos em vidro, a organização do conjunto em eixos temáticos e a catalogação. Nesse sentido, Negati- nota de leitura 243 vos em vidro: Coleção de imagens do Colégio Antônio Vieira, 19201930 constitui-se também como um instrumento para outras pesquisas na área de história da educação na Bahia. Para facilitar o acompanhamento da análise das imagens fotográficas, o catálogo do acervo foi desmembrado e colocado ao final de cada um dos eixos temáticos trabalhados nas respectivas partes da obra. No anexo, o catálogo foi apresentado integralmente. Rachel Duarte Abdala Mestranda em História da Educação da Faculdade de Educação – USP 244 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 Orientação aos Colaboradores A Revista Brasileira de História da Educação publica artigos, resenhas, traduções e notas de leitura inéditos no Brasil, relacionados à história e à historiografia da educação, de autores brasileiros ou estrangeiros, escritos em português ou espanhol, reservando-se o direito de encomendar trabalhos e compor dossiês. Os artigos devem apresentar resultados de trabalhos de investigação e/ou de reflexão teórico-metodológica. As resenhas devem discorrer sobre o conteúdo da obra e efetuar um estudo crítico, além de poder versar sobre textos recentes ou já reconhecidos academicamente. As notas de leitura devem trazer uma notícia de publicação recente. Seleção dos trabalhos Os artigos são submetidos a dois pareceristas ad hoc, sendo necessária a aprovação por parte de ambos. No caso de divergência dos pareceres, o texto será encaminhado a um terceiro parecerista. A primeira página deve trazer o título da matéria, sem indicar nome e inserção institucional do autor. Deve conter também o resumo em português ou espanhol e o resumo em inglês (abstract), com extensão máxima de sete linhas, e cinco palavras-chave em português ou espanhol e em inglês. Em folha avulsa, o autor deve informar o título completo do artigo em português e em inglês, seu nome, titulação e instituição a que está vinculado, projetos de pesquisa dos quais participa, endereço, telefone e e-mail. As resenhas e notas de leitura são avaliadas pela Comissão Editorial. Normas gerais para aceitação de trabalhos Os originais devem ser encaminhados em três vias impressas e uma cópia em disquete, observando-se o formato: 3 cm de margem superior, inferior e esquerda e 2 cm de margem direita; espaço entre linhas de 1,5; fonte Times New Roman no corpo 12. Os trabalhos remetidos devem respeitar a seguinte padronização: Extensão mínima e máxima, respectivamente: • Artigos – de 30 mil caracteres a 60 mil caracteres (aproximadamente de 15 a 30 páginas). Cada resumo que acompanhar 246 revista brasileira de história da educação n° 6 jul./dez. 2003 o artigo deverá ter, no máximo, 700 caracteres (contando espaços). Para contar os caracteres no Word, no item “Ferramentas”, a opção “Contar palavras”. Para as palavras-chave, consultar as Bases de Dados: Lilacs, Medline, Sport Discus. • Resumos e abstracts – os resumos e abstracts dentro de cada artigo não devem ter mais de 4 linhas cada. • Resenhas – de 8 mil caracteres a 15 mil caracteres (aproximadamente de 4 a 8 páginas). • Notas de leitura – de 2 mil caracteres a 4 mil caracteres (aproximadamente de 1 a 2 páginas). As indicações bibliográficas, no corpo do texto, devem vir no formato sobrenome do autor, data de publicação e número da página entre parênteses, como, por exemplo, (Azevedo, 1946, p. 11). As referências no final do texto devem seguir as normas da ABNT NBR 6023:2000. Notas de rodapé, em numeração consecutiva, devem ter caráter explicativo. Vale notar que todas as citações devem vir entre aspas e não devem estar em itálico, salvo trechos que se deseja destacar. A Comissão Editorial não aceitará originais apresentados com outras configurações. A revista não devolve os originais submetidos à apreciação. Os direitos autorais referentes aos trabalhos publicados ficam cedidos por um ano à Revista Brasileira de História da Educação. Serão fornecidos gratuitamente aos autores de cada artigo cinco exemplares do número da revista em que seu texto foi publicado. Para as resenhas e notas de leitura publicadas, cada autor receberá dois exemplares. Os originais devem ser encaminhados à Comissão Editorial, com sede no Centro de Memória da Educação – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. Av. da Universidade, 308 – Bloco B – Terceira Fase – Sala 40, CEP 05508-900, São Paulo-SP. Informações adicionais podem ser obtidas no e-mail: cmemoria @fe.usp.br ou no telefone (11) 3091-3194, das 13h às 18h. CONTENTS EDITORIAL 7 ARTICLES The catholic newspaper Novidades: meaning(s) of educate Maria José Remédios 9 A history of reading for teachers: an analysis of the production and circulation of specialized knowledge in educational manuals (1930-1971) Vivian Batista da Silva 29 The journal Escola Argentina: thoughts about a school magazine in the twenties and thirthies Miriam Waidenfeld Chaves 59 Public instruction and teachers’ formation in Minas Gerais (1825-1852) Walquíria Miranda Rosa 87 The teaching of History of Education and the production of meanings in classroom Clarice Nunes 115 A look on teaching of History of Education in the pedagogicals courses in Belo Horizonte Luciano Mendes de Faria Filho e José Roberto Gomes Rodrigues 159 National development and education Geraldo Bastos Silva 177 BOOK REVIEWS Friedrich Froebel: o pedagogo dos jardins de infância By Diane Valdez 217 Historia de la educación (Edad Contemporánea) By Bruno Bontempi Júnior 223 O exercício disciplinado do olhar: livros, leituras e práticas de formação docente no Instituto de Educação do Distrito Federal (1932-1937) By Maria Cristina Soares de Gouvêa 229 Templos de civilização: a implantação da Escola Primária Graduada no estado de São Paulo, 1890-1910 By José Cláudio Sooma Silva 235 READING NOTES Negativos em vidro: coleção de imagens do Colégio Antônio Vieira (1920-1930) 241 By Rachel Duarte Abdala GUIDES FOR AUTHORS 245
Download