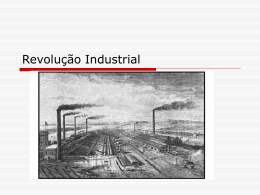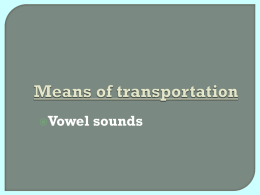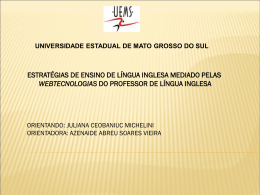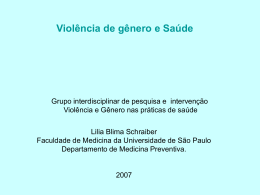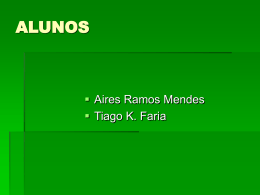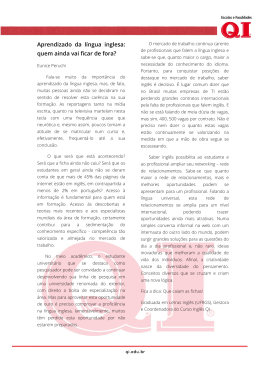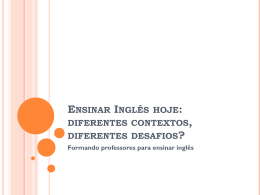OLANDINA DELLA JUSTINA PRESENÇA E USO DE ANGLICISMOS NO COTIDIANO BRASILEIRO: a visão de pessoas comuns UFMT Cuiabá-MT, 2006 OLANDINA DELLA JUSTINA PRESENÇA E USO DE ANGLICISMOS NO COTIDIANO BRASILEIRO: a visão de pessoas comuns Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Estudos de Linguagem-Mestrado, área de ensino/aprendizagem de línguas, linha de pesquisa: ensino/aprendizagem de língua estrangeira, promovido pelo Instituto de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso, desenvolvido sob a orientação da Profa. Dra. Ana Antônia de Assis-Peterson, pré-requisito para a obtenção do título de Mestre. UFMT Cuiabá, 2006 FICHA CATALOGRÁFICA J96p Justina, Olandina Della. Presença e uso de anglicismos no cotidiano brasileiro: a visão de pessoas comuns./ Olandina Della Justina. – Cuiabá: A autora, 2006. 130p. Orientadora: Profa. Dra. Ana Antônia de Assis-Peterson Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Mato Grosso. Instituto de Linguagens. Campus de Cuiabá. 1. Lingüística. 2. Língua. 3. Semântica. 4. Lexicología. 5. Léxico. 6. Estrangeirismo. 7. Anglicismo. 8. Língua Inglesa. 9. Cidadão Comum. 10. Cotidiano. 11. Brasil. I. Título. CDU – 81’373.45 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO INSTITUTO DE LINGUAGENS DISSERTAÇÃO APRESENTADA À COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM – MESTRADO: “Presença e uso de anglicismos no cotidiano brasileiro: a visão de pessoas comuns” Professores Componentes da Banca Examinadora: Profa. Dra. DILYS KAREN REES Examinadora Externa (UFG) Profa. Dra. MARIA INÊS PAGLIARINI COX Examinadora Interna (UFMT) Profa. Dra. ANA ANTÔNIA DE ASSIS PETERSON Orientadora Cuiabá, 20 de fevereiro de 2006. À Giovana, João Lucas e João Batista pelo imenso amor de todos os dias, Aos meus pais, Bernardo e Leonila (in memorian) pela educação e pela vida, Aos meus irmãos, Cecília, Inês, Francisco, Madalena, Pedro, Tina e Teka e aos seus filhos e filhas pela amizade e carinho de uma vida inteira. AGRADECIMENTOS Agradeço imensamente a todos que participaram, de forma direta ou indireta, ao longo de minha vida, de cada passo dado para chegar ao mestrado e concluir meu estudo. Também à Mãe Celestial pelas bênçãos e amparo de todos os momentos. À UNEMAT e FAPEMAT pelo apoio no estudo e desenvolvimento da pesquisa. Aos participantes, anônimos para este estudo, mas não para o meu coração, por cederem seu tempo e valiosos conhecimentos para que eu pudesse desenvolver a pesquisa. À Profa. Dra. Ana Antônia de Assis Peterson, minha querida orientadora, pela paciência e maneira generosa que compartilha os seus preciosos conhecimentos e pela presença marcante em todas as fases do curso. À Profa. Dra. Maria Inês Pagliarini Cox pela gentileza e competência com que me acompanhou ao longo de todo o mestrado e pela disponibilidade em contribuir, também nesta fase final, com seus ricos saberes. À Profa. Dra. Dilys Karen Rees por gentilmente aceitar compor a banca final e pelas preciosas contribuições para a reestruturação do trabalho e à Profa. Dra.Deise Prina Dutra pelas sugestões iniciais. Ao João Batista e Terezinha pela imensa contribuição na organização da idéias e pelo apoio quanto às leituras e correções dos textos. Aos professores do MeEL, coordenação e técnicos administrativos pela gentil contribuição e trabalhos prestados em benefício do programa. Aos meus colegas de mestrado pela amizade e companheirismo em todas os momentos do curso. All the world’s a stage, And all the men and women merely players They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts. (William Shakespeare – from “As you like it”) RESUMO JUSTINA, Olandina Della. Presença e uso de anglicismos no cotidiano brasileiro: a visão de pessoas comuns. Dissertação de Mestrado em Estudos de Linguagem. Orientadora: Profa. Dra. Ana Antônia de Assis-Peterson. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 2006. Esta dissertação apresenta o resultado de uma pesquisa qualitativa sobre a visão de pessoas comuns (profissionais que atuam com comércio, programas de intercâmbios entre países, saúde, beleza, bancos, serviços domésticos e de informática) em torno da presença e uso de anglicismos no cotidiano brasileiro. Os dados foram obtidos através de entrevistas qualitativas e direcionadas para as atividades profissionais e/ou sociais de cada participante (em número de 14), contemplando os anglicismos comumente usados em suas atividades. Três grandes temas emergiram a partir da leitura dos dados. Dois foram organizados como crenças e um como ações do homem comum relacionadas aos anglicismos. a) As crenças estão distribuídas em: 1) Língua inglesa: insígnia de maxi-valorização e de busca de identificação com o Outro – associado com status social e econômico e 2) Língua inglesa: insígnia de influência da mídia que é vista como agente disseminador dos anglicismos no cotidiano brasileiro. Como agem os homens comuns mediante os anglicismos, refere-se às ações e evidencia que as pessoas comuns podem não entender o sentido do termo em inglês, mas sabem como desempenhar a função prática ou instrumental relacionada a ela. A análise e interpretação dos dados foram feitas sob três vertentes teóricas: a) a vertente do “apelo esnobe” marcada pela conformidade a um padrão de prestígio usufruído pela língua inglesa; b) a vertente da crítica ao imperialismo norte-americano com base no sentimento ufanista e nacionalista em que a aceitação subserviente da língua e cultura norte-americana significa desvalorizar e agredir a língua e a cultura brasileira; c) a vertente pragmática ou instrumental em que as pessoas têm ao seu redor outras estratégias disponíveis com base em experiências concretas de que podem lançar mão para executar suas tarefas sociais e profissionais. Palavras-chaves: anglicismos no cotidiano brasileiro, crenças do homem comum, pesquisa qualitativa. ABSTRACT JUSTINA, Olandina Della. The presence and use of Anglicisms in the Brazilian daily life: the viewpoint of common people. Master Thesis in Studies of Language. Thesis. Supervisor: Profa. Dra. Ana Antônia de Assis-Peterson. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 2006. This Master Thesis presents the results of a qualitative research about the viewpoint of common people (professionals that work with commerce, foreign country exchange programs, health, beauty, banks, domestic services, computer services) about the presence and use of Anglicisms in the Brazilian daily life. Data were collected by the use of qualitative interviews and addressed to the professional and social activities of each of the fourteen participants regarding the Anglicisms frequently used in their activities. Three themes were highlighted out of the data analysis and interpretation. Two of them were organized as beliefs and one as action of the common man related to the Anglicisms. The beliefs are distributed in: 1) English language: insignia of maxi-valorization and search of identification with the other - associated with social and economic status and 2) English language: insignia of media influence - seen as the publicizing agent of the Anglicisms in the Brazilian daily life. How the common men act face to the Anglicism – refers to the actions and shows the common people may not understand the meaning of the English word but know how to do the task related to it. The interpretation and discussion of the data were conducted under three theoretical guidelines: a) the “snobbish appeal” principle marked by the conformity to a pattern of prestige kept by the English language; b) the critique to the North-American imperialism principle based on a patriotic and nationalist feeling in which the submissive acceptance of North-American language and culture means to devalue and attack the Brazilian language and culture; c) the pragmatic or instrumental principle in which people have around them other available strategies based on concrete experiences which they can use to perform their social and professional tasks. KEYWORDS: Anglicisms in the Brazilian daily life, common people’s viewpoint, qualitative research. LISTA DE FIGURAS 01. Figuras da Introdução – Fachadas de estabelecimentos comerciais .......... 01 02. Figuras do Capítulo 1 - Pressupostos Norteadores da Pesquisa – Imagens de bens de consumo fotografadas em supermercados ............................... 10 03. Figuras do Capítulo 2 – O Percurso da Pesquisa - Imagens capturadas ao longo das ruas de Várzea Grande, Sinop e Cuiabá .................................... 35 04. Figuras do Capítulo 3 – Crenças do Homem Comum sobre a Presença e Uso de Anglicismos – Imagens de bens de consumo fotografados em veterinária, supermercado e loja de cosméticos .......................................... 52 05. Figuras das Considerações Finais – Fachadas de estabelecimentos comerciais representando a “adaptação criativa brasileira” e a mistura da língua inglesa com a portuguesa ................................................................. 89 06. Figuras das Referências Bibliográficas – imagens de produtos alimentícios à disposição do homem comum em supermercados ..................................... 92 LISTA DE QUADROS 01. Quadro com definições de crenças organizado com base em Pajares........................................................................................................... 23 02. Quadro com biodata dos participantes da pesquisa..................................... 48 SUMÁRIO Dedicatória ............................................................................................. iv Agradecimentos ...................................................................................... v Resumo ................................................................................................. vii Abstract ................................................................................................ viii Lista de Figuras ..................................................................................... ix Lista de Quadros ................................................................................... x INTRODUÇÃO ..................................................................................... 01 Organização da dissertação …………...………………………………………………. 06 Capítulo 1: PRESSUPOSTOS NORTEADORES DA PESQUISA ......... 10 1. Os anglicismos fazem parte do cotidiano brasileiro ............................................ 12 2. Há legitimidade no conhecimento comum ......................................................... 18 3. As crenças do homem comum podem auxiliar na compreensão científica do uso da linguagem .......................................................................................................... 21 4. Língua e cultura, globalização e mundialização são indissociáveis na construção do conhecimento comum moderno ........................................................................ 26 5. O uso de anglicismos não é uma atividade neutra ............................................. 29 6. O uso de empréstimos do inglês é polêmico: dissonâncias entre a lingüística e a ortodoxia gramatical ................................................................................................ 32 Capítulo 2: O PERCURSO DA PESQUISA ................................................. 35 2.1 A opção metodológica ........................................................................................ 36 2.2 O cenário e os participantes da pesquisa ......................................................... 39 2.3 A análise dos dados – abordagem interpretativa ............................................. 49 Capítulo 3: CRENÇAS E AÇÕES DO HOMEM COMUM EM TORNO DE ANGLICISMOS ................................................................................................... 52 Primeira Seção: DESCRIÇÃO DAS CRENÇAS E AÇÔES .................................... 54 a) DAS CRENÇAS .................................................................................................. 54 Crença 1- Língua inglesa: insígnia de maxi-valorização e de busca de identificação com o outro ................... ......................................................................................... 54 Subcrença 1 – A língua inglesa é símbolo de status, beleza, qualidade ................ 55 Subcrença 2 – A língua inglesa é ponte de acesso a bens econômicos e culturais 63 Subcrença 3 – A língua inglesa ameaça a língua e cultura brasileiras .................. 67 Crença 2 - Língua inglesa: insígnia de influência da mídia .................................... 73 b) DAS AÇÕES Como agem os homens comuns mediante os anglicismos .................................... 76 Segunda Seção: DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ...................... 83 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 89 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... APÊNDICE A: Roteiro da entrevista realizada com 93 Genilda (empregada doméstica) ............................................................................................................. 99 APÊNDICE B: Roteiro da entrevista realizada com Clóvis ( promoter, proprietário e instrutor de academia de ginástica) ...................................................................... 100 APÊNDICE C: Entrevista realizada com Genilda (empregada doméstica) ........ 101 APÊNDICE D: Entrevista realizada com Clóvis ( promoter, proprietário e instrutor de academia de ginástica) ......................................................................................... 115 b INTRODUÇÃO No dia-a-dia é difícil discriminar com certeza o verdadeiro do falso, a ciência da “ideologia”. Talvez fosse preciso considerar que nosso conhecimento de mundo é uma mistura de rigor e poesia, de razão e paixão, de lógica e mitologia. (Michel Maffesoli) No final da década de 90 do século XX, há cerca de 06 anos, em tempos de economia globalizada e da expansão do inglês como “língua mundial”, um projeto de lei do Deputado Aldo Rebelo (Projeto de Lei 1676/99)1 e outro da Deputada Jussara Cony (Projeto de Lei nº 65/2000) chamaram bastante a atenção dos lingüistas por quererem legislar sobre o uso de estrangeirismos (mais especificamente, o uso de elementos em inglês, os anglicismos) considerados exagerados no Brasil. Na visão do deputado, tal excesso estaria lesando o patrimônio cultural brasileiro e descaracterizando a própria língua portuguesa e deveria haver uma lei que coibisse o seu uso propondo que dentro de 90 dias, após a publicação da lei, qualquer expressão em língua estrangeira deveria ser substituída. As reações contrárias ao projeto provocaram vários debates na mídia e culminaram com a publicação de uma revista temática e do livro Estrangeirismos: guerras em torno da língua, organizado pelo lingüista Carlos Alberto Faraco (2001), em que vários lingüistas discutiram, à luz das descobertas da ciência da Lingüística, o ideário nacionalista conservador embutido em uma concepção de língua portuguesa avessa à influência externa, impermeável à diversidade lingüística e construída como única, pura, monolítica. Um dos argumentos veiculado pelo discurso da soberania nacional e proteção da identidade brasileira dizia que usar inglês no cenário brasileiro era excluir as pessoas que não entendem ou não aprenderam essa língua. Nesse sentido, o uso de anglicismos promoveria um processo de exclusão social. Garcez e Zilles (2001:51-52) contrapõem-se a esse “raciocínio lingüisticamente preconceituoso” salientando que o problema não está “em não ver que usamos a linguagem, com ou sem estrangeirismos, o tempo todo, para demarcarmos quem é de dentro ou de fora do nosso círculo de interlocução, de dentro ou de fora dos grupos sociais aos quais queremos nos associar ou dos quais queremos nos diferenciar”. Conforme esses autores, há outros meios muito mais eficazes de fazer exclusão pelo uso da 1 Hoje, o Projeto de Lei 1676/99 (agora 1676-D/99) de Aldo Rebelo (o deputado atualmente ocupa o cargo de Presidente do Congresso Nacional) tramita em forma de Substitutivo do Senado Federal à lei de autoria do Senador Amir Lando e do Projeto de Lei nº 65/2000 da Deputada Jussara Cony (Informações obtidas em www.camara.gov.br). linguagem como o da “exigência de uso da variedade da língua falada pelas classes dominantes como única forma legítima de acesso à mobilidade social e ao poder”. Esse debate ou “guerra em torno das línguas” em que a compleição da vida social se faz, de um lado, embasada por uma visão de lingua(gem) como pura e única e, de outro, como constituída na pluralidade, diversidade, mistura, junto ao fato de que havia autoridades incomodadas, na época, com o uso excessivo de anglicismos, como o deputado Aldo Rebelo e a deputada Jussara Cony, levou-me a perguntar de que forma o homem comum, ou seja, “os não lingüistas, os leigos, as pessoas comuns que fazem parte da sociedade e que desconhecem os estudos lingüísticos” (de Assis-Peterson, 2004)2, percebe o uso de termos e expressões da língua inglesa presentes no seu cotidiano, nas ruas, em nome de estabelecimentos comerciais, em estampas de camisetas, propagandas em “outdoors” 3, rótulos de produtos, textos publicitários, na informática, etc. Afinal, não há como negar a inclusão (outros diriam a “invasão”) da língua inglesa na vida cotidiana não só brasileira, mas também de muitas outras nacionalidades, tendo em vista que a organização social de qualquer sociedade depende da distribuição econômica, de conhecimento lingüístico e de atos pragmáticos para ter acesso a recursos materiais e simbólicos. O foco deste estudo, portanto, é entender como pessoas comuns vêem o uso de termos e expressões em língua inglesa inseridos em sua vida cotidiana e que valores atribuem a eles. Os debates travados entre os lingüistas e outros profissionais, formadores de opinião, entre os quais políticos, jornalistas, professores de gramática, gramáticos puristas, em torno de estrangeirismos podem ser desconhecidos para as pessoas comuns, no entanto, a construção de suas idéias interessa à ciência e à própria sociedade, pois pode evidenciar características da sociedade em que vivemos de modo a proporcionar dados valiosos não só para os pesquisadores e lingüistas interessados em melhor compreender o processo sociolingüístico e cultural do uso da linguagem, mas também para compreensão de mundo das pessoas comuns. O homem é influenciado pelo meio em que vive, no/pelo qual constrói sua identidade, o seu “eu” a partir do “nós”, conforme propõe Bakhtin (1992). Os pontos 2 Comunicação Pessoal. O termo outdoors é mantido ao invés de billboards por ser esse o termo de senso comum utilizado por brasileiros ao se referirem aos cartazes estampados nas ruas. 3 de vista do homem comum podem, portanto, nos ajudar a vislumbrar outros sentidos, a ressoar em contraposição aos outros discursos que marcam a língua no Brasil tais quais os veiculados pela Lingüística (o discurso da ciência) e outros marcados por preconceitos e perigosamente dogmáticos. Em sintonia com Rajagopalan (2003:130), acredito ser importante que os lingüistas (ou especialistas) ouçam os “leigos”, os “não-lingüistas” (na nossa designação aqui, o homem comum ou pessoas comuns) porque também possuem um vasto conhecimento sobre questões relativas à língua, à literatura e à linguagem (embora tal conhecimento não seja reconhecido pela comunidade lingüística enquanto científico). É no “leigo” – representante de grande parte da sociedade – que, também, estão refletidas e se inter-relacionam todas as características da sociedade num sentido mais amplo. O propósito deste trabalho é, então, “ouvir” o homem comum e legitimar cientificamente o seu conhecimento construído ao longo de experiências de vida. Pretendo juntar à voz do “político” (no caso, refletindo a voz do gramático purista) e à voz do lingüista, a voz do homem comum ao realizar esta pesquisa esperando que a pluralidade de pontos de vista adicione aprofundamento, riqueza e densidade a nossa compreensão do fenômeno “anglicismos no cotidiano brasileiro.” Talvez, o português brasileiro nunca tenha sido tão afetado como hoje em função da evolução na área das tecnologias e comunicação, sendo forçado a adotar novas formas e funções lingüísticas, provenientes tanto de outras variantes lingüísticas da própria língua portuguesa (a língua local), quanto da língua inglesa (a língua global). É um novo tempo, de novas línguas, de novos modos de pensar, fazer e ser. A mudança, contudo, não é exclusiva em termos dos setores da sociedade que recebem influência (saúde, educação, mídia, negócios, indústria e política) ou dos participantes da sociedade (classes sociais, intelectuais, pessoas comuns, grupos étnicos, mulheres, homens, crianças, etc.) nos quais estão inculcados. Todos são afetados. Os termos originários do inglês presentes em nossa língua têm recebido diversas denominações como estrangeirismos (Faraco, 2001:09; Garcez e Zilles, 2001:15; Bagno, 2001:49), estrangeirismos ingleses (Sardinha e Bárbara, 2005:97) empréstimos (Garcez, 2001:15) ou anglicismos definidos por Garcez e Zilles (2001:21) como “elementos do inglês”. Para minha pesquisa usarei os termos empréstimos do inglês e anglicismos por entender que melhor traduzem as características das expressões oriundas do inglês presentes em nossa língua, pois geralmente são adaptadas ao “jeito brasileiro” alterando sua estrutura fonética (predominantemente), morfológica e semântica original. O termo estrangeirismo imprime a noção de algo distante, estranho e alheio à nossa cultura. Sob o prisma das noções de transculturalidade que se aproxima da significância de tradução (Hall, 2003; Robins, 1991; Bhabha, 1990), mestiçagem (Gruzinski, 2001) e transculturação (Fernando Ortiz, 1983) aqui compreendidos pelas transmutações, trocas e reciprocidade entre culturas que se tornam misturadas, mestiças e convivem na modernidade bem como da transglossia que Cox e Assis-Peterson (2002) entendem que se as línguas que se misturam entre si indistintamente, vazando uma na outra num processo de mestiçagem lingüístico-cultural. Assim, penso que a expressão “empréstimo” representa melhor a sua função e significância, pois ao tomarmos algo emprestado nos é permitido usá-lo à nossa maneira, introduzindo-o em nossa cultura. Portanto, podemos imprimir aos empréstimos de outra língua as características estruturais da nossa e ressignificá-los num movimento de aproximação com o nosso contexto. Atualmente, no português do Brasil, os anglicismos representam o maior número de empréstimos lingüísticos se comparados com palavras de outras línguas (francês, italiano, espanhol, árabe, etc.). Tal fato está associado, segundo alguns autores citados por Ortiz (1996:14), a uma nova ordem mundial metaforicamente traduzida por “primeira revolução mundial” (Alexander King, 1991), “terceira onda” (Alvin Toffler, 1980), “sociedade informática” (Adam Shaff, 1990), “aldeia global” (McLuhan, 1989) e “mundialização” (Renato Ortiz, 1996). Além desses, o termo “globalização” é muito utilizado nas ciências econômicas, a partir das quais o uso expandiu para outras ciências (Antony McGrew (1992) apud Hall (2003); Hall (2003), Lessa entre outros. Daí, o uso de expressões em inglês não ser um fenômeno exclusivo do Brasil. Mediante o uso midiático e via internet, elementos do inglês entram em casas do mundo todo. Para o professor de inglês, envolvido com questões lingüísticas e ideológicas, cuja visão de linguagem está centrada no uso da língua nas práticas sociais, é importante entender de que maneira esse inglês presente na vida social do brasileiro o interpela ou não. Visões recentes de ensino comunicativo-interacional de língua inglesa incentivam o professor a vislumbrar os anglicismos como meio de ensinar e discutir a língua inglesa, com o objetivo de proporcionar ao professor um olhar mais amplo e crítico sobre seus usos no cenário urbano brasileiro e de observar as implicações sociais em seu entorno. Assim, neste estudo4, por meio de entrevistas qualitativas, busquei compreender como pessoas comuns (profissionais que lidam com comércio, esportes, saúde, beleza, bancos, serviços domésticos e de informática) constroem e explicitam nas suas falas o que pensam a respeito da presença e uso do inglês exposto em cartazes, na rua, em mercadorias, camisetas, na imprensa falada e escrita, na mídia, internet, isto é, nos produtos e objetos, nos meios de comunicação e ferramentas profissionais presentes nas atividades que realizam diariamente na sua língua e cultura. Em outras palavras, de que forma estariam esses brasileiros pensando e convivendo com anglicismos em situações cotidianas de convívio social e/ou profissional e que valores lhes atribuem. Para tanto, as seguintes perguntas nortearam o estudo: 1. Qual a visão do homem comum acerca da presença de expressões da língua inglesa no seu cotidiano e que valores atribuem a elas? 2. Como o homem comum convive e como age com a presença de anglicismos em suas atividades profissionais e/ou sociais? Em quais aspectos há rejeição ou aceitação aos anglicismos? 3. Quais pressupostos sócio-culturais e políticos estão “por trás” das crenças com relação ao uso da língua inglesa no cenário cotidiano brasileiro? Organização da dissertação Este estudo, além da Introdução e Considerações Finais, está organizado em três capítulos. Nesta Introdução, apresento as razões que me influenciaram na escolha do tema e a definição de homem comum ou pessoas comuns ligada à idéia de aproximação com o senso comum em torno da presença de empréstimos do inglês em atividades profissionais e/ou sociais num contexto mundial de globalização da 4 A presente pesquisa está integrada ao projeto “Fricções lingüístico-culturais no escopo do ensino e aprendizagem de inglês – Ouvindo e observando participantes da escola, família e comunidade”, coordenado pela Profa. Dra. Ana Antônia de Assis-Peterson e vinculado ao Grupo de Pesquisa “Transculturalidade e Educação Lingüística”, registrado no CNPq. economia e mundialização da cultura. Justifico a opção pelos termos “anglicismos” e “empréstimos do inglês” por melhor traduzirem o uso da língua pelo viés da transculturalidade e transglossia. No Capítulo 1, apresento os pressupostos norteadores da pesquisa, os quais amparam teoricamente os encaminhamentos do estudo. No primeiro pressuposto, “Os anglicismos fazem parte do cotidiano do brasileiro”, discuto a ubiqüidade de empréstimos do inglês em várias atividades da vida do brasileiro. Aponto e exemplifico alguns setores marcados pela presença de anglicismos. No pressuposto 2, “Há legitimidade no conhecimento comum”, trato sobre a legitimação do conhecimento comum, proposto por Maffesoli (1984), tido como aspecto crucial nesta pesquisa, para compreender o uso de anglicismos no cenário urbano brasileiro. No item 3, “As crenças do homem comum podem auxiliar na compreensão científica do uso da linguagem”, apresento discussões e definições de crenças, num sentido mais amplo e também voltado para o ensino/aprendizagem de línguas, situando a definição de crenças eleita para minha pesquisa. O pressuposto de número 4, “Língua e cultura, globalização e mundialização são indissociáveis na construção do conhecimento no mundo moderno”, contempla algumas definições de cultura e discussões em torno de seus limites e conceitos no contexto da modernidade. Como língua e cultura estão ligadas, são vistas sobre o mesmo aspecto: da transculturalidade e da transglossia que emergem de um processo sincrético e misto formado pela interlocução entre línguas e culturas diferentes. O quinto pressuposto, “O uso de anglicismos não é atividade neutra”, expõe sobre a expansão do inglês pelo mundo e suas implicações. A disseminação da língua não é tida como algo neutro para alguns autores que apontam a penetração de ideologias através da língua e argumentam que têm como “pano de fundo” interesses políticos, econômicos e culturais de países do Primeiro Mundo. No último pressuposto, “O uso de empréstimos do inglês é polêmico: dissonâncias entre a lingüística e a ortodoxia gramatical”, apresento os conflitos entre os lingüistas, que entendem o uso de anglicismos como um processo natural da língua e os “anti-anglicistas” que os vêem como invasão à nossa língua. Entre as rajadas de prós e contras aos empréstimos do inglês, as pessoas comuns se encontram muitas vezes alheias às batalhas, mas não essencialmente ao uso de anglicismos em sua vida. Logo, têm seus conceitos e crenças elaboradas, o que lhes permite opinar sobre o fenômeno e expor como o vivencia. O Capítulo 2 contém a ótica da pesquisa, de caráter qualitativo e de base etnográfica bem como os procedimentos metodológicos empregados em que enfatizo a entrevista qualitativa, meio fundamental para capturar a matéria-prima analisada posteriormente. Brevemente, descrevo os cenários urbanos escolhidos para a pesquisa e os 14 participantes que contribuíram para o estudo relacionandoos com suas atividades e os anglicismos comumente usados nelas. O Capítulo 3 consta de duas seções nas quais apresento a descrição e a análise dos dados. A primeira está dividida em duas partes: a) Das Crenças e b) Das Ações. Na parte “a”, descrevo as crenças das pessoas entrevistadas de forma a elucidar e buscar o entendimento de suas falas em relação ao uso de empréstimos do inglês no seu ambiente profissional e/ou social. Na parte “b”, descrevo as ações dos participantes declarada em suas falas destacando sua maneira de agir e interagir com os anglicismos. A parte “a” apresenta duas crenças (a primeira é dividida em subcrenças) que emergiram nos depoimentos dos participantes. Na Crença 1: Língua Inglesa: insígnia de maxi-valorização e de busca de identificação com o Outro – trago as falas dos entrevistados relacionadas à busca de identificação com os Estados Unidos e permeadas pelo sentimento de que a língua inglesa representa o que é chique, bonito e de boa qualidade (Subcrença 1); a língua inglesa impulsiona nas pessoas comuns o desejo ou a necessidade de ter bens econômicos e culturais, onde permeiam anglicismos, para desempenhar suas atividades profissionais e/ou sociais de modo eficiente e vantajoso (Subcrença 2); no entanto, o desejo ou necessidade de identificação com o Outro gera aversão aos anglicismos marcado por um sentimento nacionalista em defesa do Brasil (Subcrença 3). Quanto à crença 2: Língua Inglesa: insígnia de influência da mídia, para alguns dos participantes, os anglicismos são amplamente disseminados e sustentados pela mídia que divulga empréstimos do inglês com o objetivo de vender o produto e influenciar as pessoas, os consumidores. A parte “b” – Das ações: como agem os homens comuns mediante os anglicismos – estabelece uma função prática ou instrumental para o uso de empréstimos do inglês. Situa os anglicismos como signos despidos do significado original (no inglês) e veste uma “roupagem” de significado próprio ligado à operacionalização funcional dentro de sua atividade. O signo, por vezes, não é percebido como um vocábulo de língua estrangeira. Na segunda seção, faço a Discussão e Interpretação dos Dados os quais associo a três vertentes ou princípios teóricos: a vertente do “apelo esnobe” e adesão ou rejeição à cultura norte-americana, a da crítica ao imperialismo norte-americano e a instrumental ou pragmática. Nas Considerações Finais, apresento e comento sobre as principais descobertas da pesquisa situando a visão do homem comum sob a égide das três vertentes (do “apelo esnobe”, da crítica ao imperialismo norte-americano e a da função pragmática ou instrumental) e suas implicações. Estabeleço uma posição de equilíbrio diante dos pólos opostos da rejeição sumária e da aceitação resignada priorizada pela necessidade instrumental ou prática de agir com e pela língua inglesa. Por fim, aponto as limitações e contribuições do estudo. Capítulo 1 PRESSUPOSTOS NORTEADORES DA PESQUISA É preciso deixar claro quanto às propostas de enfrentamento da hegemonia da língua inglesa, a condição de que seja uma proposta realista. Isto é, ela deve reconhecer não só a realidade dos fatos, mas também do nosso limitado poder em fazer frente a algo que está acontecendo em escala mundial. (Kanavillil Rajagopalan) Esta pesquisa foi orientada por alguns pressupostos presentes e pertinentes à literatura de estudos lingüísticos que discutem aspectos socioculturais e políticos diante da expansão da língua inglesa no mundo e no contexto urbano brasileiro. Inicialmente, argumento que os anglicismos fazem parte do cotidiano brasileiro enfocando a presença de empréstimos do inglês descritos em várias atividades comuns ao brasileiro. Na seqüência, com base principalmente em Maffesoli (1986), discuto a legitimidade do conhecimento comum. O autor assume uma posição equilibrada e não extremista entre os conhecimentos empírico e científico. Essa idéia ponderada entre os dois saberes permite observar o senso comum, excluindo as concepções estereotipadas e arbitrárias e não exigir dele um cientificismo positivista. Na tentativa de descortinar o conhecimento do homem comum, optei também por organizar as descobertas a partir da discussão de crenças. Entendo que a noção de crenças pode contribuir para a compreensão científica do uso da língua, ou mais especificamente, do uso de anglicismos por pessoas comuns. Como acredito que língua e cultura são noções permanentemente ligadas, apresento algumas definições em que fenômenos lingüísticos e culturais são vistos num processo de entrelaçamento de características culturais e lingüísticas alusivas a diferentes povos e línguas. No entanto, o processo de expansão da língua inglesa não é tido como neutro para alguns teóricos como Pennycook e Rajagopalan. Há o entendimento de que a disseminação do inglês imprime, através da língua e cultura, valores ideológicos guiados por interesses econômicos, políticos e culturais de países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. Para concluir, apresento a polêmica desencadeada pelo Projeto Lei 1.676D/1999, do deputado (também jornalista) Aldo Rebelo, em torno da presença de expressões estrangeiras em nossa língua, que suscitou a reação indignada de vários lingüistas. Tal debate entre os antiestrangeirismos (Rebelo, por exemplo) e os lingüistas (Faraco e outros) foi um dos motivos a me levar a examinar a visão das pessoas comuns em relação ao uso dos anglicismos no seu cotidiano. 1. Os anglicismos fazem parte do cotidiano brasileiro Os anglicismos fazem parte do nosso cotidiano e a sua ubiqüidade é facilmente notada, uma vez que se faz presente desde o desjejum, no biscoito cream cracker ou pão Pullman, nas várias marcas de carros (Palio fire, adventure, weekend, fox), que usamos para ir ao trabalho, no aparelho de som: rádio ou CD player, nos comandos (power, fast forward, rewind, etc.), nas músicas que dele ouvimos (Money no bolso, é tudo o que eu quero, money no bolso, saúde e sucesso...), nas fachadas das lojas, centros comerciais que avistamos pelo caminho (Fancy Calçados, Speed Pneus, Bob’s Lanches, Mister Sound, Mister Pão, Shopping Popular, Big Lar, Delicious Fish, etc), no notebook ou laptop que é utilizado no trabalho, desde os comandos para desempenhar as tarefas mais simples (delete, save, shift, backspace, etc.) até as navegações pelos sites que oferecem notícias, novidades, dados de pesquisas, livros em inglês, no coffee-break, na marca da bebida (Sprite, Red Bull, Passport, Kaiser – em lata ou long neck Keep Cooler, etc.) que nos acompanha na happy hour juntamente com um cheese-egg, cheese bacon ou outro qualquer, em pleno rush da saída do trabalho para, então, no acalanto do lar, assistir, na telinha, filmes, séries, propaganda, shows, telenovelas que trazem inúmeras expressões em inglês. Na lista de telenovelas gostaria de destacar “América ”5 que era uma versão do “sonho americano”. Merece um destaque especial neste trabalho porque retratava o sonho cultivado por uma grande parcela dos brasileiros e de pessoas de outros países da América Latina: chegar aos Estados Unidos para conseguir ascensão econômica traduzida na metáfora “fazer a América”. Para tal intento, correm todos os riscos. Lá chegando, muitos vivem e trabalham clandestinamente. A trama considerava a cultura estadunidense adotada pelos peões de rodeio, desde o estilo da festa até o vestuário de quem dela participava, quase sempre embalada pelas canções com ritmo e letras importadas dos EUA. Era o “American way of life” em evidência, mais precisamente o estilo country, na cidade paulista de Barretos (famosa pelos rodeios) e em todo o Brasil. No caso da telenovela, a cidade de Boiadeiros era que trazia as características dessa cultura americanizada tanto na aparência como no gosto musical das pessoas. Aparecia, também, nas expressões 5 Telenovela da Rede Globo, da autora Glória Peres, apresentada no horário das 20h (Brasília), com início em abril/2005 e término em novembro/2005. – com sotaque marcado – de personagens que as usavam para a comunicação ou para ostentar um certo status e o desejo de parecer mais “americanizado”. A cultura estadunidense está presente também na telenovela da Rede Globo Bang Bang, de autoria de Mário Prata, exibida no horário das 19h (Brasília). A bem humorada trama retrocede na história – para o período de exploração do Oeste, no século XIX (em torno de 1800 a 1870) e o enredo apresenta, como em América, o “jeito americano” de se vestir e agir naquele período histórico. O retrato da cultura dos Estados Unidos apresentado às crianças, jovens e adultos que assistem à novela simplesmente veste “uma nova roupa” para chegar aos lares dos brasileiros e, de forma bem humorada, caricaturiza os personagens, suas ações e os acontecimentos dando à cultura estadunidense uma “cara de Brasil”. Tais exemplos ilustrativos deixam evidente que, até em telenovelas, apontadas como fortes audiências para o entretenimento da maioria das pessoas, independentemente de classe social, acostumadas a mostrar temas do cotidiano dos brasileiros, é marcante a influência norte-americana. Ainda no universo da grande mídia, podemos ver propagandas de escolas de inglês destinadas para um público jovem com boa situação financeira. As escolas buscam representar a língua como status social e objeto de satisfação e sofisticação para “ser bem sucedido” (vide comercial da Escola CCAA). Who let the dogs out ? É a expressão que vemos e ouvimos (cantada) na propaganda da Volkswagem. A top model internacional, Gisele Bündchen, ilustra o comercial de uma fábrica de cosméticos repetindo diversas vezes: I ♥ my body (forma escrita) e I love my body (cantada). O reality show intitulado Big Brother Brasil6, que envolve milhões de brasileiros nos conflitos dos confinados em uma casa montada para esse fim no estúdio da Rede Globo de Televisão, apresenta todos os anos, diariamente, por um período de cerca de três meses, quadros como o big spy, o big boss e os BBBs7. A televisão por assinatura nos oferece uma infinidade de programas que têm os nomes em inglês (Cartoon Network, Discovery Kids, HBO Family, Globo News, Fox, Geographic, History Channel, Animal Planet, CNN entre outros). Às vezes tais 6 Anualmente é apresentada (Rede Globo de Televisão) uma versão do programa, diariamente, por um período de aproximadamente três meses. Em cada versão, os participantes são diferentes, geralmente pessoas pouco conhecidas na mídia. Segundo Nicola et alli (2003:31), a tradução literal é “Grande Irmäo”. No entanto, há a definição em qualquer dicionário inglês e pode significar indivíduo ou instituição/organização que exerce total controle na vida das demais pessoas. 7 Big Brothers são os participantes do programa que ficam confinados na casa do Big Brother. programas apresentam conteúdo traduzido, mas made in the USA e há aqueles que conservam o conteúdo na língua original, ou seja, na língua inglesa. São poucos os exemplos aqui apresentados (ao tratarmos de mídia televisiva) em tantos canais de TV disponíveis para todos, através dos quais são propagadas informações das mais diversas, nos formatos de vários tipos e gostos chegando às pessoas de todas as esferas sócio-econômicas (com exceção da TV a cabo, ainda restrita a uma parcela mais abastada). As redes de TV apresentam de manhã até a madrugada desenhos animados, filmes, noticiários, documentários, talk shows, programas de marketing, entre outros que, se não são importados, proporcionam ao brasileiro o convívio com empréstimos do inglês, entrevistas na língua inglesa e o acesso à cultura e às ideologias dos países de 1 o mundo – Estados Unidos e Inglaterra principalmente. Os brasileiros que têm condições de acesso à internet se comunicam com o mundo através dela, testemunham sua rápida evolução desde 1988, quando o primeiro acesso foi feito8. Conforme pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha (apud Ercília: 2000: 45), no final de 1999, o Brasil já era o sexto país que mais usava a internet. Crianças, adolescentes e adultos têm acesso a sites, em sua grande maioria, escritos em inglês ou oferecidos, além da língua do autor do texto, na língua inglesa. No site da Turma da Mônica (www.turmadamonica.com.br), por exemplo, acessado por milhares de crianças brasileiras, encontramos os quadrinhos de Maurício de Souza nas línguas portuguesa e inglesa, o que oportuniza e disponibiliza o contato deste público, além das agradáveis e divertidas histórias, com o inglês. Esse é apenas um exemplo entre os inúmeros que poderíamos citar quando tratamos de sites ou conteúdos disponíveis na internet. Não apenas para a utilização da internet, mas também de outros benefícios e necessidades geradas pelo uso do computador no nosso dia-a-dia, a linguagem da informática está inserida em grande parte das atividades humanas. E nessa uma boa parte dos comandos e funções preserva a sua terminologia em inglês. Freqüentemente, testemunhamos situações em que o usuário desconhece a língua, mas reconhece as funções e os comandos não se preocupando em saber o seu significado ou a sua tradução. Assim, mesmo que os termos estejam presentes, não 8 Segundo Maria Ercília nos apresenta no seu livro A Internet, os primeiros acessos foram trocas de mensagens Bitnet, no Laboratório de Computação Científica e na FAPESP (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo). é imprescindível, para muitos usuários, saber a língua inglesa para usar a linguagem da informática. Por exemplo, usuários logo aprendem que o vocábulo Mouse não é o animalzinho, mas um objeto, um equipamento do hardware. Dessa forma, pouco vai interessar ou interferir no propósito do usuário se o termo mouse significa, originalmente, camundongo. Da mesma forma, as rádios AM e FM tocam músicas internacionais e nacionais que têm expressões ou são totalmente em língua inglesa. Os adolescentes ou teens tentam acompanhar com a letra que conseguiram pela internet ou que a professora de língua inglesa trouxe para a aula. No entanto, muitas vezes, os jovens balbuciam supostas palavras (nonsense musicais) embalados pelo ritmo e melodia da canção, sem preocupação com a letra ou o que ela significa, como fazem alguns conjuntos e bandas que tocam (e cantam) pelos bailes e bares afora. No mundo da moda podemos contemplar uma grande quantidade de empréstimos lingüísticos: fashion, top model, legging, cotton, tie-dye, glamour, hippie-chic9 etc. Alguns novos looks são apresentados na São Paulo Fashion Week, na Rio Fashion Week ou, até mesmo, na II Evento de Moda Fashion de Sinop. A moda comercializada nas lojas comuns difere da moda desenhada por estilistas famosos. No entanto, em ambas o uso anglicismos é freqüente e tem status reforçado tanto em novas tendências semeadas pelos grandes stylists internacionais quanto àquelas destinadas ao consumidor comum. Os anglicismos estão presentes em marcas (Brasil Country, Cowboy Forever, St. John’s Bay, Peep, etc.) ofertadas para todas as idades e estilos até palavras e frases escritas, especialmente em camisetas, com mensagens significativas, algumas pouco convencionais, outras sem nexo, totalmente fora de contexto e de propósito, podendo ser mal interpretadas por quem conseguir decifrá-las: “Easy Adventure”, “I’m a witch!”, “Where the boy are”, “Bad Boy” (é nome de grife e faz muito sucesso entre os jovens que a usam juntamente com as palavras escritas na camiseta) entre várias outras. Há quem opte pelo stylist ou pelo personal styler na escolha do melhor look para ficar altamente fashion. 9 De acordo com Nicola, Terra, Menón (2003:133): “O hippie-chic, no contexto da moda, é uma versão mais requintada e comercial de hippie, baseado em estampas coloridas e psicodélicas, no estilo indiano, nas calças boca-de-sino ou em jeans com aparência de usado, nos sapatos plataforma e sandálias”. Nas academias de ginástica ou com o auxílio de um personal trainer, os exercícios físicos recebem os nomes mais variados: fly, step,body jump, jumping. O termo fitness, por exemplo, é usado na mídia e ultrapassa o muro da linguagem especializada. Empresas comercializam e nomeiam abundantemente produtos cosméticos para cuidar da vaidade e saúde de todas as idades: gloss, After Shave, Shampoo Kids, Dreams, Afro Hair, Hair Life entre incontáveis marcas e produtos que embelezam e beneficiam a saúde das pessoas. Nos salões de beleza, o uso de anglicismos, além de marcar presença predominante nas marcas de produtos cosméticos, é vasto. Aparece no vocabulário usado com clientes, eventos e treinamentos, revistas e livros destinados a profissionais da área. Tomamos como exemplos algumas expressões comumente usadas no meio e estampadas em revistas que tratam sobre o assunto: “Seu cabelo fica mais fashion com este corte!”10. “(...) Ao lado, cabelos eriçados, no melhor estilo black power e make-up super luminoso em tons de cobre e “Dread Fake – os dreadlocks postiços garantem um novo visual sem mudanças radicais (exemplos extraídos da Revista Cabelos & Cia, 2002); “ Moicano Fashion – (...) Criação exclusiva do hairstylist Neandro Ferreira com apliques by Washington Bueno do salão carioca Crystal Hair (Revista pour Coiffeurs-Guia do Profissional, 2002); “Xuxa, look novo, vida nova. (Revista Cabelos & Cia, 2002). Em livros, revistas e jornais que circulam pelo cenário nacional encontramos vários com títulos completos ou parciais e títulos de seções, readaptados foneticamente ao nosso sotaque. Tomamos como exemplos: “A Dieta de South Beach”, “Teen”, “Folhateen”, “Todateen”, “Fashion” entre outros. Quando o assunto em questão é referente a esportes, podemos elencar vários vocábulos que já passaram por um processo de aportuguesamento, tais como: futebol>football, basquetebol>basketball, andebol>handball, voleibol>volleyball, tênis>tennis. Verificamos, também aqueles que conservam a escrita inglesa: mountain bike, motocross, paintball, boxe, body boarding, rafting, surf, stock car, sky surf, squash, etc. Juntamente com o nome do esporte aparecem vários comandos e regras em inglês: match point, round, replay, set, pit stop, etc. 10 Expressão utilizada por uma cabeleireira ao se referir a uma cliente que acabara de efetuar o corte de cabelo em um salão de beleza da cidade de Cuiabá, setembro de 2004 (Informação verbal). É impossível irmos a um shopping center, supermercado, loja de roupas ou de eletrodomésticos, lanchonete, entrarmos em casa, no nosso carro, sairmos à rua sem vermos como a língua inglesa se faz presente em nossa vida, na nossa língua e na ideologia dos brasileiros. Todavia, o Brasil não é o nosso o único país de língua portuguesa que faz uso de termos estrangeiros. Em Portugal, foi lançado em 2001 um novo dicionário contendo 750 novos estrangeirismos.11 Assim, vemos que o homem comum está socialmente situado num cenário lingüisticamente misturado, transglóssico e repleto de empréstimos do inglês. Quer dizer, o português do Brasil não é puro como querem alguns gramáticos puristas, tampouco a presença de anglicismos na língua portuguesa é apenas um fato lingüístico como querem outros. Entender os efeitos de sentido delineados nos discursos em torno do inglês faz-se necessário. Como vimos, em suas atividades, das mais simples às mais complexas, o brasileiro convive com, usa e visualiza palavras que podem ser compreendidas (ou não), (re)interpretadas e ajustadas às suas necessidades de uso. Paiva (1996) tratou da presença de empréstimos do inglês no mundo, no Brasil e, mais especificamente em Belo Horizonte, apresentando exemplos de termos usados e coletados na capital mineira. Ela destacou o desejo desenfreado em aprender a língua, manifestado por grande parte das pessoas principalmente nas grandes cidades onde as vantagens profissionais são maiores para a pessoa que se comunica em inglês. A autora se referiu ao uso e presença de anglicismos como reflexo da dependência econômica, política e cultural dos Estados Unidos. Em seu artigo Social Implications of English in Brazil (1999:326), Paiva, ao se referir às implicações sociais do uso de termos em inglês, apontou as classes sociais altas como as responsáveis pela inovação lingüística no nível de empréstimo lexical e afirmou que os membros da elite econômica e intelectual brasileira usam a língua inglesa como uma estratégia para diferenciá-los das classes populares. Logo, sob o ponto de vista da autora, se de um lado, funciona como ferramenta ideológica e acentua diferenças sociais, por outro lado, o seu conhecimento pode ser instrumento de mobilidade social. Ortiz (2003), assevera que a circulação dos bens culturais ( a língua também) não pode ser pensada em termos de difusão, mas sim de mundialização. A cultura é 11 Fonte: www.oca.org.br/pipemail/seminário/2001-April000583.html mundializada, a propagação de elementos de uma cultura não extermina ou reprime a local, mas convive com ela. As características culturais locais convivem com as tendências globais e as reinterpretam ao permitir-lhes a presença no seu contexto. Para o autor, a língua inglesa é tida como língua mundial, sua presença não é fortuita tampouco inocente. Entretanto, a língua inglesa presente nos diversos espaços geográficos e culturais não se constitui numa uniformidade lingüística, ao contrário, há grande diversidade determinada por usos e estilos particulares. O inglês penetra em domínios distintos (informática, tráfego aéreo, colóquios científicos, etc.) e se consolida como língua das relações internacionais. A transversalidade da língua inglesa como língua mundial exprime a globalização da vida moderna e sua mundialidade preserva os outros idiomas. Podemos ver, portanto, que há alguns anos, o uso de anglicismos tem crescido notadamente pelo fortalecimento e expansão da mídia, internet e o processo de globalização que estamos vivenciando. O lingüista, o gramático purista e as pessoas comuns vivem juntos o mesmo fenômeno sócio-lingüístico-cultural e político e a partir deles constroem suas crenças, seus pensamentos e agem no seu dia-a-dia. 2. Há legitimidade no conhecimento comum O sociólogo e pesquisador Michel Maffesoli (1988) reconhece o conhecimento empírico, a sabedoria popular e consagra a experiência diária de todo ser humano como representante de poder cognitivo que serve aos estudos da sociedade e propõe uma senso(comum)nologia que aceite o ponto de vista e a conhecimento do vulgus (do latim, significa o homem comum). Para ele, o conhecimento comum situado historicamente ou restrito a um momento sócio-histórico favorece descobertas científicas. Quando fala da senso(comum)nologia, ele diz o seguinte: A experiência do mundo, que é vivida coletivamente, corresponde a experiência do pensamento que apenas dá realce a este ou àquele traço, que o compara a outros, que deles faz uma imagem ou que o metaforiza, em resumo, trata-se da atitude ideal-típica, que pode exercer-se tanto sincrônica, quanto diacronicamente. É isto exatamente “a senso(comum)nologia” (Maffesoli, 1986:227). A concepção maffesoliana do saber sociológico afasta-se do cientificismo de inspiração positivista e propõe a consideração do conhecimento comum, excluindo estereótipos, conotações absurdas e simplistas e vê na realidade societal um objeto digno de investigação. A língua, como importante elemento constitutivo da sociedade, também é modificada e pensada com base no uso comum, influenciada pelo conhecimento empírico desenvolvido pelas pessoas integrantes da sociedade, entre elas, o homem comum. Para Maffesoli (1998), o conhecimento comum que é sedimentado, compartilhado e propagado no ambiente sócio-cultural de pessoas comuns se constrói nas experiências que formulam métodos, caminhos, meios de atingir objetivos e evoluir. Para o autor (1988: 259), “A complexidade cotidiana, a ‘cultura primeira’ merece uma atenção específica – e isto propus que se denominasse um conhecimento comum”. Do autor, destaco também o trecho a seguir que assegura ao senso comum uma fonte de pesquisa e compreensão dos fenômenos constitutivos de uma sociedade, portanto, importante para a ciência: De uma maneira ou de outra, numerosos filósofos ou sociólogos insistiram no fato de que existe uma pré-apreensão do meio circundante, a qual tem condicionado a ação humana. É justamente o interessante tema da sabedoria popular ou do bom senso – o que chamei de “cinestesia social”- que podemos agora reconhecer como um elemento estrutural de equilíbrio que temos a obrigação de observar na vida das sociedades. Ainda que trivializada pelas discussões típicas de bares ou botequins ou pela “conversa jogada fora”, esta sabedoria não deixa de se constituir em auxílio de incalculável valor para o enfrentamento com o destino, com o tempo que passa (...) Trata-se, naturalmente, de categorias gerais, mas que não deixarão de diluir-se nas criações minúsculas do cotidiano. Donde o sociólogo deve procurar ter por este “senso comum” quando de suas elaborações teóricas (Maffesoli:1988:226-227). A proposta do autor é engendrada pela visão de que deve haver um equilíbrio, ausência de radicalismos, um elemento mediador ao se realizarem estudos acerca da sociedade. Se de um lado, ele critica a secura e arrogância de certas práticas científicas, especialmente aquelas de uma posição positivista, de outro, afirma que o pesquisador deve resistir aos discursos estereotipados, às concepções absurdas e “manter os pés no chão”, sem deixar se envolver por conceitos que podem afetar ou se desviar dos propósitos da ciência. Maffesoli entende que o rigor excessivo ou o extremismo pode afastar o pesquisador da realidade. Para ele, o discurso sobre o social deve saber escutar o discurso do social salvaguardando a representação de uma sociedade plural e dar atenção multiforme à vida cotidiana. Outro aspecto importante observado por Maffesoli é no sentido de que a sociologia pode servir de apreensão dos valores culturais e estes, por sua vez, são necessários para a compreensão de jogos econômicos, políticos, culturais, administrativos e cotidianos que permeiam as situações sociais. Quando o pesquisador se inscreve na organicidade das coisas e das pessoas, de modo natural, poderá compreender cientificamente a vida cotidiana. Segundo Schütz, citado por Maffesoli (1986: 227), é necessário haver um diálogo contínuo entre o conhecimento com base no senso comum e as construções intelectuais, científicas para que a realidade social possa ser compreendida e interpretada com coerência pelo pesquisador. Em outras palavras, o autor afirma o seguinte: Deve haver uma relação constante, um vaivém permanente entre o “estoque de conhecimentos” à disposição dos indivíduos e as construções intelectuais. Assim, conceitos construídos pelo sociólogo, com vistas à apreensão da realidade social devem apoiar-se no senso comum dos homens vivos, no mundo social. Sendo assim, entre os participantes (homens comuns) – entendidos como fonte potencial de informações no curso da compreensão científica de uso e variações da linguagem – o pesquisador pode buscar e encontrar respostas para os questionamentos que instigam a comunidade científica a entender determinados processos lingüísticos, culturais e sociais que permeiam e caracterizam a linguagem global e local, no caso, a forte presença de anglicismos. A subjetividade é formada a partir da vivência do homem em seu meio social. Desta forma, é na busca da compreensão de sua identidade, de como pensa o homem comum, como constrói e é influenciado por suas crenças que podemos definir ou propor discussões relativas aos fenômenos que ocorrem, de forma holística e/ou particular, naquela comunidade lingüística. Portanto, para este estudo, o conhecimento dos participantes é considerado através de suas crenças e ações perante o uso de anglicismos no seu ambiente. 3. As crenças do homem comum podem auxiliar na compreensão científica do uso da linguagem Esta pesquisa tem como foco as crenças dos participantes construídas ao longo de suas vidas e a partir de suas experiências acerca da presença de expressões da língua inglesa no cenário em que vivem, com especial atenção aos anglicismos usados em sua atividade profissional e/ou social. O estudo de crenças interessa à ciência, prova disso são as pesquisas (Barcelos, 1999, 2000, 2004; Pajares, 1992; Madeira, 2005; Fernandes, 1999; André, 1999; Pereira, 2003; Murphy, 2000; Leffa, 1991; entre outros) envolvendo professores e alunos que têm se tornado mais freqüentes na Lingüística Aplicada, o que contribui para reflexões em torno do ensino/aprendizagem de línguas e o papel das crenças nesse processo. Não apenas a área de ensino/aprendizagem de línguas demonstra interesse sobre o estudo de crenças. Pajares (1992) diz que as crenças são vistas como preocupação da Filosofia, pois algumas vezes são tidas como um mistério que nunca é claramente definido, especialmente se a concentração estiver nos campos espirituais e religiosos. Além da Lingüística Aplicada e da Filosofia, o interesse pelo assunto perpassa por diversas áreas e tem aumentado consideravelmente, conforme afirma: (...) as crenças são um assunto de investigação legitimada em campos tão diversos como medicina, direito, antropologia, sociologia, ciência política, negócios bem como na psicologia onde atitudes e valores têm sido um foco de pesquisa social e de personalidade (Pajares,1992:308)12. Na área educacional, mais precisamente ligada à aprendizagem de línguas, Barcelos (2004: 130-131) apresenta diferentes termos propostos por diversos autores que se aproximam do significado de crenças: “representações dos aprendizes” (Holec,1987); “filosofia de aprendizagem de línguas dos aprendizes” (Abraham & Vann,1987); “crenças culturais” (Gardner,1989), “conhecimento metacognitivo” (Wenden,1986); “representações” (Riley,1989), “teorias folclóricolingüísticas de aprendizagem” (Miller & Ginsberg,1995); “cultura de aprender línguas” (Barcelos,1995); “cultura de aprender” (Cortazzi & Jin, 1996) e “cultura de 12 No original: (…) beliefs are a subject of legitimate inquiry in fields as diverse as medicine, law, anthropology, sociology, political science, and business, as well as psychology, where attitudes and values have long been a focus of social and personality research. aprendizagem” (Riley,1997). A diferença entre eles está relacionada ao tipo de pesquisa e à agenda dos pesquisadores, porém tal proliferação de termos mostra a importância em reconhecer o fenômeno que está sendo estudado. Barcelos (2000:15) acredita que a filosofia de Dewey é bastante abrangente para a compreensão do papel das crenças na aprendizagem de línguas, pois enfatiza que as crenças são baseadas nos contextos e nas experiências. De acordo com Dewey, para fazer parte de um contexto social, o ser humano interage e se adapta a ele. Nessa interação (troca entre indivíduo e ambiente) tanto as pessoas moldam quanto são moldadas, modificam e são modificadas. O ser humano tem um caráter ativo na troca, há uma negociação, não apenas imposição unilateral e uma troca de experiências entre homem e meio ambiente. A experiência vista por Dewey, nas palavras de Barcelos, não é um estado de consciência, mas um tipo de ajustamento e reajustamento das atividades. Cada ação é uma resposta a ações prévias e uma testagem de hipóteses. As crenças são hipóteses que testamos e avaliamos e podem consistir em mudanças nas ações. Dewey (1938), citado por Barcelos (2000:16), assim define experiência: “(...) não é um estado mental, mas a interação, adaptação e ajustamento dos indivíduos ao meio ambiente. É o modo humano de ver o mundo”13. Logo, as experiências humanas não são permanentes, acabadas. Existe uma mudança contínua no seu diálogo com o contexto social, lingüístico, cultural e histórico em que a pessoa vive. Os princípios da continuidade e da interação é que constituem a experiência e esta, por sua vez, dialoga com as crenças que cada ser humano elege para si num movimento de construção, reflexão e reconstrução permanente do seu pensamento e ações. Para melhor ser compreendido o conceito de crenças, dizem alguns autores, há de se estabelecer uma distinção entre crença e conhecimento, pois quando colocamos em paralelo os termos conhecimento e crenças, é possível que encontremos dificuldades em separá-los conceitualmente sem se tornarem confusos. Se Pajares (1992) argumenta que é difícil saber exatamente onde o conhecimento termina e a crença começa, Nespor (1987) apud Pajares (1992:309) alia as crenças à emoção, afetividade e o conhecimento à razão e cognição. Distingue os termos da seguinte maneira: 13 No original: “Experience is not a mental state but the interaction, adaptation, and adjustment of individuals to the environment. It is the human mode of being in the world.” As crenças têm componentes afetivos e avaliativos mais fortes do que o conhecimento e o afeto tipicamente operam independentemente da cognição associada com o conhecimento. O conhecimento de um domínio difere dos sentimentos sobre um domínio, uma distinção similar àquela entre autoconceito e auto-estima, entre conhecimento de si próprio e sentimentos de autovaloração14. Pajares (1992:313) sugere uma distinção que afirma ser talvez artificial, mas comum para a maioria das definições: “a crença é baseada na avaliação e julgamento; o conhecimento é baseado no fato objetivo” 15. A distinção de Madeira (2005:19) de que o conhecimento é o que se tem como resultado de pesquisa científica enquanto crença é o que se “acha”, se assemelha à de Pajares. Já para Barcelos (2000:34), o conhecimento obedece a uma justificativa epistemológica enquanto as crenças não. Se o conhecimento, de acordo com a distinção dos autores, se aproxima da racionalidade, da cientificidade e da concretude do pensamento e ações e crenças têm sua base nos contextos e experiências do ser humano, isso não significa que devemos separar um do outro, pois como nos ensina Dewey (1938), citado por Barcelos (2000), ao separarmos o conceito de conhecimento do conceito de crenças e também de nossa maneira de agir no mundo, isso implica na perda de importantes aspectos que as crenças podem trazer. A seguir, apresento um quadro (Quadro 1) organizado com algumas definições de crenças propostas por estudiosos citados por Pajares (1992) e os respectivos conceitos traduzidos do seu artigo. AUTORES Abelson (1979) Brown e Cooney (1982) Sigel (1985) 14 DEFINIÇÃO Definiu crenças em termos de pessoas manipulando o conhecimento para um propósito particular ou sob uma circunstância necessária. Crenças são disposições para a ação e principais determinantes do comportamento embora as disposições sejam tempo e contexto específico – qualidade que tem implicações importantes para pesquisa e avaliação. Crenças são construções mentais da experiência – freqüentemente condensadas e integradas no sistema ou conceitos que são asseguradas como verdades e guiam nosso comportamento. No original: “Beliefs have stronger affective and evaluative components than knowledge and that affect typically operates independently of the cognition associated with knowledge. Knowledge of a domain differs from feelings about a domain, a distinction similar to that between self-concept and selfesteem, between knowledge of self and feelings of self-worth.” 15 No original: “Belief is based on evaluation and judgment; knowledge is base on objective fact.” Harvey (1986) Nisbett e Ross (1980) Dewey (1933) Rokeach (1968) Kitchener (1986) Nespor (1987) Crenças são representações individuais da realidade que têm validade suficiente, verdade ou credibilidade para guiar o pensamento e o comportamento. Crenças são proposições explícitas aceitáveis sobre as características de objetos e classes de objetos. Crença é o terceiro significado do pensamento, algo além dele próprio pelo qual seu valor é testado; ele faz uma asserção sobre alguma espécie de fato ou algum princípio ou lei. Crenças são qualquer proposição simples, consciente ou inconsciente, inferida do que uma pessoa diz ou faz, capaz de ser precedido pela seguinte expressão: “ Eu acredito que ...” Processos cognitivos em que um indivíduo recorre para monitorar a natureza epistêmica dos problemas e o verdadeiro valor das soluções alternativas. Construções ou definição de tarefas, visão prescrita de um processo cognitivo necessário para compreender esta função e identificar quatro níveis de pensamento: processamento interno, recursos, controle (ou processos metacognitivos) e crenças. Na área de ensino/aprendizagem de línguas, Murphy (2000:11), por exemplo, define crenças como: um sistema complexo e interligado de conhecimento pessoal e profissional que serve como teorias implícitas e mapas cognitivos para experimentar e responder à realidade. As crenças incluem componentes afetivos e cognitivos e freqüentemente são mantidas tácitas16. Essa definição evidencia que crenças nem sempre são explícitas, cabendo ao pesquisador atentar para uma leitura daquilo que as pessoas declaram ou somente implícito como um meio de desvelar as crenças que possuem. Devido à abrangência de termos, áreas e propostas de pesquisas ligadas a crenças, Pajares (1992:309) apresenta uma série de termos que as definem de uma forma ampla: (...) atitudes, valores, julgamentos, axiomas, opiniões, ideologia, percepções, conceituações, sistemas conceituais, pré-conceituações, disposições, teorias implícitas, teorias explícitas, teorias pessoais, processos mentais internos, estratégias de ação, regras de prática, princípios práticos, perspectivas, repertórios de compreensão, estratégia social17. Silva (2005), em sintonia com Kalaja (2003) e Barcelos (2004), assegura que as crenças são interativas, dinâmicas, emergentes e recíprocas. 16 No original: “A complex and inter-related system of personal and professional knowledge that serves as implicit theories and cognitive maps for experiencing and responding to reality. Beliefs rely on cognitive and affective components and are often tacitly held.” 17 No original: “(...) attitudes, values, judgements, axioms, opinions, ideology, perceptions, conceptions, conceptual systems, preconceptions, dispositions, implicit theories, personal theories, internal mental processes, action strategies, rules of practice, practical principles, perspectives, repertories of understanding, and social strategy.” Idéias ou conjuntos de idéias para as quais apresentamos graus distintos de adesão (conjecturas, idéias relativamente estáveis, convicção e fé). As crenças na teoria de ensino e aprendizagem de línguas são essas idéias que tanto alunos, professores e terceiros têm a respeito dos processos de ensino/aprendizagem de línguas e que se (re) constroem neles mediante as suas próprias experiências de vida e que se mantêm por um certo período de tempo (Silva apud Silva et alli, 2005). As crenças sofrem influência do meio social, lingüístico, cultural e histórico e nele são desenvolvidas direcionando o comportamento e atitudes tomadas pelas pessoas no dia-a-dia. Uma vez que o contexto muda permanentemente desde valores morais, comportamento, recursos tecnológicos entre outros, também as crenças sofrem alterações. Antes de surgir a televisão, a informática e a internet, certamente as pessoas comuns cultivavam crenças com diferentes características sincronicamente estabelecidas. Elaboradas com a experiência, influenciam experiências e crenças posteriores das pessoas num movimento cíclico e contínuo de mudanças na interação com o meio. A metáfora “comecei a ver com outros olhos” traduz a possibilidade de mudança a partir de oportunidades de experimentar algo novo ou de repensar os conceitos e crenças já existentes. Neste estudo, quando menciono crenças do homem comum, refiro-me às construções pessoais, ao julgamento e aos valores atribuídos aos fatos e fenômenos vivenciados no seu contexto social, lingüístico, cultural e histórico e que influenciam as suas ações. As crenças podem ser entendidas como o conhecimento intuitivo implícito, constituídas de pressupostos sócio-culturais baseados nas experiências que resultam da interação e trocas recíprocas do ser humano com o contexto macro e micro-social em que vive. Na área de ensino/aprendizagem de línguas no Brasil, intensifica-se o número de pesquisas relacionadas a crenças especialmente de professores e alunos (Barcelos, 1999, 2000, 2004; Madeira, 2005; Silva et alli, 2005; Pereira, 2003; entre outros), mas pouco se sabe ainda sobre o que pensam as pessoas comuns em relação ao uso dos empréstimos do inglês no seu cotidiano.18 Neste trabalho, pretendo contribuir para a área do estudo de crenças, focalizando as crenças do homem comum por acreditar que seu estudo pode beneficiar a ciência no sentido de 18 Um dos trabalhos pioneiros nesta área no Brasil foi o artigo de PAIVA, Vera Lucia de Menezes e. A Língua Inglesa no Brasil e no Mundo. In Paiva, V. L. M. (org.) Ensino de Língua Inglesa: reflexões e práticas.Campinas, SP: Ed. Pontes, 1996. No entanto, seu trabalho não considera a visão êmica dos participantes. encontrar respostas ou propor reflexões no que diz respeito aos fatos da linguagem e aos fenômenos sociolingüísticos e culturais presentes no seu cotidiano. 4. Língua e cultura, globalização e mundialização são indissociáveis na construção do conhecimento no mundo moderno Falar sobre cultura nos remete a um emaranhado de discussões, definições e concepções sobre o assunto. Assim, recorro a alguns autores que conceituam cultura com o objetivo de desvelar os traços e domínios que elucidam o que ela representa para a ciência. Burke (2003:06-07) define o termo cultura como atitudes, mentalidades e valores e suas expressões, concretizações ou simbolizações em artefatos, comportamento e representações. Santos (2002) também considera tudo aquilo que caracteriza a existência humana de um povo, nação ou grupo no interior de uma sociedade, como se caracteriza, concebe e organiza a vida social como cultura. Na definição de Dubois (1973), língua é cultura são dois elementos indissociáveis, isto é, o estudo lingüístico implica na descrição de uma cultura, pois a lingüística contém uma série de escolhas sobre a forma de representar o mundo. Para ele, a cultura compreende todas as formas de representar o mundo exterior, as relações entre os seres humanos, povos e indivíduos e inclui o juízo explícito ou implícito feito sobre a linguagem ou seu exercício. Kramsch (1998:03), por sua vez, também diz que “a língua é o principal meio pelo qual nós conduzimos nossas vidas sociais. Quando é usada em contextos de comunicação, está ligada com a cultura de maneira múltipla e complexa 19”. Para ela, as palavras refletem o ponto de vista, atitudes e crenças. Logo, a língua expressa a realidade cultural. A linguagem (verbal ou não-verbal) incorpora a realidade cultural, pois a maneira como os membros de uma comunidade ou grupo social usam a fala, escrita ou linguagem visual, criam significados compreensíveis para as pessoas do grupo. Kramsch entende que a linguagem também simboliza a realidade cultural uma vez que os falantes se identificam com outros através da língua, é um símbolo de identidade social, e rejeitá-la seria o mesmo que rejeitar o grupo e sua cultura. 19 No original: “Language is the principal means whereby we conduct our social lives. When it is used in contexts of communication, it is bound up with culture in multiple and complex ways.” Dessa forma, neste estudo, entendemos que as crenças são delineadas pela cultura (práticas sociais) e pela língua (práticas comunicativas), uma influencia a outra. Concordo com Kramsch ao apontar o entrelaçamento cultura e linguagem/língua quando afirma que a língua expressa a realidade cultural. No caso do uso de expressões da língua inglesa na língua portuguesa, portanto, não há apenas apropriação lingüística, mas também cultural. O conceito de cultura abaixo proposto por Cox & de Assis-Peterson (2003: 07) evidencia as naturezas contraditórias, conflitantes de práticas simbólicas, culturais e lingüísticas, quando se admite que cultura e língua são entidades heterogêneas e mutáveis. A cultura é o conjunto colidente e conflituoso de práticas simbólicas ligadas a processos de formação e transformação de grupos sociais, uma vez que, por esse ângulo, podemos aninhar a heterogeneidade, o inacabamento, as fricções e a historicidade no âmago do conceito. Se cultura e língua envolvem práticas sociais e comunicativas e se essas relações podem ser contraditórias e conflitantes, a presença de uma cultura e língua (a cultura norte-americana e a língua inglesa), decorrente dos avanços da globalização, em outro contexto lingüístico-cultural pode despertar sentimentos e comportamentos contraditórios entre as pessoas. Renato Ortiz (2003) aponta que a existência de processos globais transcende os grupos, as classes sociais e as nações. Mesmo que não haja o deslocamento do homem de sua casa, o mundo penetra no seu cotidiano. Conforme o autor, isso não significa que o global se afaste das particularidades, mas que as especificidades são encontradas em sua totalidade. Em outras palavras, o que era “distante” aparece em nossa vida e muda nossos hábitos, comportamento e valores. Conforme Ortiz (2003:31), “uma cultura mundializada corresponde a uma civilização cuja territorialidade se globalizou. Isto não significa, porém, que o traço comum seja sinônimo de homogeneidade”. Assim, para entender o homem comum é preciso situá-lo na sociedade global, dentro dessa totalidade imposta pela globalização econômica e mundialização de cultura e sua disseminação pelo planeta. Coexistir com uma cultura mundializada significa conviver com elementos que interferem no modo de vida do ser humano que, por sua vez, acaba por desenvolver formas de enfrentar os desafios nas atividades sociais e profissionais. O autor assegura que a língua inglesa é uma “língua mundial” (ao invés de “internacional” ou “global”, por exemplo, porque essas terminologias a associam apenas aos aspectos econômicos da globalização) que se adapta aos padrões das culturas específicas. Nesse sentido, sua transversalidade e mundialidade preservam outros idiomas e a diversidade determina estilos e registros particulares de uso da língua. Segundo Ortiz (2003:87-89), nas literaturas que tratam sobre a cultura contemporânea e o contato cultural nas sociedades atuais, há a tese insistente de “americanização do mundo” que permeia o senso comum. Essa tese se divide em duas vertentes que são a ideologizada norte-americana e a crítica ao imperialismo. A primeira vertente está ligada à idealização do povo dos Estados Unidos e de sua história. Seus costumes, modo de vida e padrão de conforto são adotados pelas pessoas de todos os lugares. Os produtos de consumo norte-americanos são conhecidos e vendidos em todo comércio. Na segunda vertente, a economia, política e cultura são vistas como exercício do poder. Haveria um poder imperial ao arbitrar a paz mundial em função de interesses políticos e poder econômico. O objetivo seria implantar políticas de dependência cultural e econômica para reforçar a dependência política e cultural de outros países e promover o enfraquecimento das culturas nacionais em favor dos interesses norte-americanos. No entanto, Ortiz faz ressalvas a essas teses. Para ele, tanto a americanização do mundo quanto a crítica ao imperialismo são parciais, pois evidenciam a submissão das partes pelo avanço capitalista e a colonização cultural. A dificuldade com a tese da americanização está em esquecer de analisar a globalização como processo e se fixar na difusão dos elementos estadunidenses. Além disso, reduz a cultura a seus produtos, seu valor explicativo é frágil e as expressões culturais são associadas aos seus bens econômicos. Assim, cultura e economia seriam dimensões equivalentes. Para o autor, a crítica ao imperialismo, aparentemente oposta da americanização, também está associada à compreensão da difusão e aculturação, se afirma por meio de mecanismos de dominação e reforça a perspectiva substancialista da existência de uma cultura norte-americana. Além disso, o antitimperialismo prevê culturas alienadas, negadora do outro, as quais asseguram uma contraposição entre o nacional e o estrangeiro e se desloca para a questão da autenticidade das culturas nacionais. Portanto, tanto a tese ideologizada norte-americana quanto a crítica ao imperialismo se movem com pressupostos semelhantes e se contrapõem à visão da circulação de bens culturais (inclusive a língua inglesa) em termos de mundialização e não de difusão o que tem maior consistência no mundo moderno caracterizado como transcultural e transglóssico. 5. O uso de anglicismos não é uma atividade neutra De acordo com Berlitz (1982: 21), o uso de uma língua pode suplantar o de outra, em longo prazo, como podemos observar nos processos de colonização de vários países. O contato entre línguas pode, ainda, resultar numa língua misturada resultando num pidgin – língua auxiliar, segunda língua, criada por pessoas que não têm nenhuma língua em comum (Trask, 2004:228) – ou, posteriormente, num crioulo – quando o pidgin se torna a língua materna de uma comunidade lingüística (Calvet, 2002:167). Hoje, o inglês é a língua mundial usada amplamente por pessoas falantes de outras línguas em processo contínuo de expansão devido à globalização. Conforme Pennycook (1994), a expansão do inglês pelo mundo tem razões políticas, econômicas, sociais e até militares estabelecidas como meta pela GrãBretanha e pelos Estados Unidos. Na sua visão, a Grã-Bretanha investiu na expansão da língua camuflando seus reais interesses políticos e comerciais como “propaganda cultural” através do Conselho Britânico, órgão do governo criado com o objetivo de expandir a língua e a cultura inglesa. Os investimentos na divulgação do inglês podem ser verificados já antes da Segunda Guerra quando uma mudança na política, estabelecida inicialmente pelo Conselho Britânico, deslocou a ênfase da propaganda cultural para o campo educacional. Houve alterações em terminologias e na política de expansão: os países do Terceiro Mundo assistidos pelo Conselho passariam de desenvolvidos para em desenvolvimento e de processo de colonialismo para recurso de desenvolvimento. A posição do Conselho Britânico como órgão não-governamental manteve a continuidade da política colonialista camuflada em projetos educacionais e materiais didáticos por eles ofertados. Para Pennycook (1994: 151-153), a influência dos Estados Unidos foi sentida, principalmente, após a Segunda Guerra através de várias instituições políticas, econômicas, acadêmicas, culturais e filantrópicas (Fullbright, Rockefeller Foundation entre outras). As instituições filantrópicas, que ofertavam o ensino da língua/cultura entre outros benefícios, tinham como pano de fundo a ideologia liberal, o capitalismo e o imperialismo estadunidense. O autor afirma: A maior influência dos Estados Unidos foi na era pós-guerra e, portanto, mais como poder neocolonial do que colonial. (...) Os Estados Unidos consolidaram o seu poder através de uma vasta organização de instituições – políticas, econômicas, acadêmicas e culturais20 (Pennycook: 1996:153) Moura (1984:11) também diz que a difusão da língua inglesa após a Segunda Guerra não foi aleatória. Obedeceu a um planejamento cuidadoso de penetração ideológica e conquista de mercado pelos Estados Unidos que pretendiam se estabelecer como potência mundial. Teve um sucesso sem precedentes na exportação e uso de padrões de comportamento, gostos artísticos e hábitos de consumo. Pennycook (1994:158) afirma que, mais recentemente, a posição da língua inglesa e suas relações com as forças econômicas globais mudaram o discurso passando de intervencionismo para monetarismo. A língua e seu ensino são vistos como mercadoria global em linha com o processo do capitalismo globalizado. Ele diz que, apesar do ensino da língua inglesa e sua expansão serem vistos como benéficos, neutros e naturais por algumas pessoas (entre elas há os professores de inglês, por exemplo), visando o conhecimento lingüístico e não o domínio político, não é o que se verifica em materiais distribuídos pelo Conselho Britânico e USIS (United States Information Service), os quais deixam explícito que os países do Primeiro Mundo (dotados de inteligência, riqueza, competência) são exemplos a serem seguidos pelo terceiro mundo. É inegável que a língua inglesa se estabeleceu como língua global, alcançando o status de língua franca das comunicações internacionais alçando vôo com a manifestação do grande poder econômico e político alavancado por meio da Revolução Industrial e disseminado pelas campanhas supra citadas. Os Estados 20 No original: “The greatest influence of the United States has been in the post-war era and thus as more of a neocolonial than as a colonial power.(…) The United States consolidated its power through a vast array of institutions – political, economic, academic and cultural. Unidos conseguiram o mesmo intento que a Grã-Bretanha devido ao poder político, econômico e militar da Segunda Guerra solidificando o inglês na posição que sustenta atualmente. Segundo Lacoste (2005), há séculos a difusão de algumas línguas acontece pelo mundo. Na colonização de alguns países, a língua do colonizador foi imposta dizimando, em alguns casos, as línguas autóctones. Atualmente, o neo-imperialismo não tem mais necessidade de conquistar territórios para exercer seu domínio econômico e cultural. Os Estados Unidos são vistos como a hiperpotência mundial, que têm como herança colonial a língua inglesa. Na União Européia, a necessidade de uma língua em comum e pelo próprio processo de globalização também é o inglês. A mundialização do inglês tem conseqüências geopolíticas – toda rivalidade de poderes (e de influências) sobre territórios – e faz parte de conflitos de poderes em nível mundial. O Brasil, como outros países do Terceiro Mundo, sofreu influências da GrãBretanha antes da Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, somou-a à influência dos Estados Unidos no que se refere à expansão da língua que trouxe (e ainda traz) consigo não somente aspectos lingüísticos, mas valores culturais, ideologias políticas e sociais. Filmes, músicas e outros produtos de consumo ingleses e estadunidenses começaram a fazer parte da vida dos brasileiros, especialmente com a instalação e expansão da televisão nos anos 50. Além da promoção da língua pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos (são os países que aparecem com destaque nos materiais didáticos), há um grande investimento em propagandas de sua língua, cultura e seus produtos objetivando angariar vantagens políticas, sócio-econômicas e culturais ligadas ou não ao estudo e ao conhecimento da língua e setores que promovem e comercializam produtos. Por essas razões, os empréstimos do inglês presentes na vida do brasileiro não são neutros tampouco “inocentes”. Eles têm como motivação inicial os bens econômicos, políticos e culturais divulgados pela mídia, tecnologia, materiais didáticos e produtos de consumo vinculados à moda, música, artes, esportes, etc. Se não existissem os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos e/ou da Inglaterra, com ênfase ao primeiro nos tempos modernos, talvez a presença da língua inglesa no mundo ou no Brasil não fosse tão intensa. Entretanto, a língua inglesa e os anglicismos que se expandem pelo mundo não resguardam e nem sempre conservam as características da língua falada nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Por vezes, assume características, significados e “sotaques” de cada contexto no qual é usada dentro de um processo sincrético e mestiço de uma língua que se mundializa, mesmo que não seja despida de interesses. 6. O uso de empréstimos do inglês no Brasil é polêmico: dissonâncias entre a lingüística e a ortodoxia gramatical. Segundo Bagno (2002:60), até o início do século XX, a língua francesa detinha o status de língua estrangeira mais falada no Brasil. Aos poucos, foi substituída pela língua inglesa devido a políticas de penetração e expansão da língua, valores culturais e políticos. Propostas em defesa da pureza da língua materna datam daquela época quando Castro Lopes, um médico, criticava na imprensa o uso abusivo de galicismos (palavras e expressões da língua francesa) no português brasileiro, propondo que deveriam ser substituídos por neologismos de base latina erudita. Seu intento serviu somente para críticas e chacotas de intelectuais da época (Faraco, 2002:09). Hoje esse sentimento de xenofobia ou zelo, como afirmam alguns, renasce sob a égide da globalização que, segundo nacionalistas, provoca efeitos nefastos à língua portuguesa e à identidade nacional. O deputado Aldo Rebelo, com seu Projeto de Lei nº 1676/1999 (atual 1976-D que se encontra tramitando pelo senado), suscitou uma grande polêmica ao propor medidas restritivas ao uso de estrangeirismos (leiam-se os de origem inglesa) que, em sua opinião, constituem ameaça à própria estrutura lingüística da língua portuguesa descaracterizando-a e, em conseqüência, atingindo a soberania nacional do povo brasileiro, já que a imposição da língua inglesa é também imposição de uma outra cultura, no caso, a cultura norte-americana. À vertente ufanista de Rebelo, somam-se alguns professores, escritores, jornalistas e gramáticos partidários da ortodoxia gramatical do “português correto, erudito, culto e puro”. Para esse grupo, o uso de estrangeirismos constitui uma violação à língua portuguesa, símbolo da identidade nacional. De opinião contrária aos antiestrangeirismos, alguns lingüistas, ao tomarem conhecimento do projeto de lei do deputado Rebelo, perceberam que, mesmo após mais de um século de pesquisas lingüísticas, os seus resultados continuam desconhecidos para muitos formadores de opinião e preconceitos decorrentes de uma visão de linguagem centrada na norma culta ainda prevalecem. Conforme a ciência da lingüística, a adoção ou empréstimos de termos estrangeiros é resultado de um processo natural que envolve a situação sócio-histórica e o processo de transformação da língua portuguesa no Brasil impulsionada pelo contexto mundial. Logo, para os lingüistas, os empréstimos fazem parte das transformações lingüísticas pelas quais passam todas as línguas. Nesse sentido, a língua é construída e reconstruída pelas pessoas que dela fazem uso, não por decretos ou normas ditadas. Assim, os empréstimos da língua inglesa não podem ser tidos como ameaça à língua-materna (língua portuguesa), uma vez que ocorrem, principalmente, em nível lexical não interferindo na estrutura gramatical da língua que é viva, se modifica e palavras renovam os seus significados, alguns termos permanecem, outros passam por alterações e outros caem em desuso. Mesmo que conservem a grafia original, os empréstimos de fonemas são raros, pois os falantes aplicam nas palavras estrangeiras os seus sistemas fonológicos, desenvolvidos dentro da língua materna. De acordo com Carvalho (1989), o empréstimo lingüístico é a forma mais produtiva de renovação lexical na língua portuguesa e esta renovação é parte da mutabilidade própria das línguas humanas. Além disso, Schmitz (2002:104-105) assinala: Os idiomas são palcos de mestiçagem e de interculturalidade e não devem ser vistos como baluartes ou fortalezas da nacionalidade, pois as nações-estados contêm diferentes etnias com diferentes identidades. A presença de estrangeirismos na língua portuguesa de nenhuma forma ameaça a cultura brasileira amplamente definida como literatura, música, teatro, folclore e dança. A aversão ao estrangeirismo, portanto, se aproxima do preconceito lingüístico dirigido ao modo de falar das classes sociais menos favorecidas que representam a maioria na sociedade brasileira e não falam de acordo com a norma cultua ou padrão. Do ponto de vista de alguns lingüistas, na política de “colonização”, é muito mais agressiva ao patrimônio nacional a dominação econômica, política e cultural, a presença de uma língua estrangeira é apenas uma conseqüência. Sobre essa questão, Paiva (1996: 26) assevera: Acreditamos que não compete ao lingüista sugerir ao governo medidas restritivas, pois o problema lingüístico é apenas um reflexo da dependência econômica, política e cultural. Se as relações de dependência forem alteradas, certamente também haverá alterações no comportamento lingüístico. De acordo com Rajagopalan (2005:149-150), na América Latina há desconfiança em relação ao uso da língua inglesa que se confunde com as pretensões estadunidenses de intromissões em outros países presenciadas ao longo da história. Uma das formas de enfrentamento diante da “invasão” do inglês é a tendência das pessoas a erguer uma muralha de rejeição psicológica contra a língua inglesa e tudo o que ela representa, outra forma é a sua aceitação resignada. No entanto, o autor argumenta que essa atitude de rejeição não é aconselhável, nem a atitude de subserviência, pois se traduzem em “enfrentamento quixotesco” e “derrotismo covarde”, respectivamente. Argumenta que o importante é apenas “conscientizar-se da ideologia que está por trás da expansão da língua inglesa” e adotar uma atitude de resistência consciente e conseqüente diante do inglês, “uma atitude realista”. No debate engendrado pela lei do deputado Aldo Rebelo concernente aos estrangeirismos, Rajagopalan (2003) salienta que cada lado (os lingüistas de um e os gramáticos ortodoxos de outro) marcou sua posição irredutível sobre o assunto. Dessa forma, o projeto de lei teve o benefício de suscitar o debate e serviu para que os lingüistas se manifestassem publicamente em direção à discussão de políticas lingüísticas com a preocupação de que as suas descobertas científicas sejam ouvidas pelo leigo e não fiquem à disposição apenas de um grupo seleto dentro das universidades. Da mesma forma, tal debate me levou a querer investigar a visão do homem comum com a preocupação de que as suas crenças sejam conhecidas e sirvam para contribuir com a construção do conhecimento sobre o assunto e, talvez, oferecer novos ângulos à questão. Capítulo 2 O PERCURSO DA PESQUISA No understanding of a world is valid without representation of those members´ voices. (Michael H. Agar) 2.1 A opção metodológica Esta pesquisa tem caráter qualitativo de base etnográfica uma vez que se caracteriza pela busca da compreensão dos pontos de vista das pessoas acerca da presença de anglicismos nas suas atividades sociais e profissionais cotidianas e por buscar na descrição e interpretação dos dados em contexto natural um componente cultural. Quer dizer, a crença dos participantes (visão êmica21) em relação à presença e ao uso do inglês no seu cotidiano é vista como constituinte dos valores culturais de um grupo. De acordo com Spradley (1980:5-6), a preocupação da etnografia é com o significado que têm as ações e os acontecimentos para as pessoas. Alguns desses significados são expressos pela linguagem, outros pelo comportamento. Para ele, em toda sociedade as pessoas fazem uso de sistemas complexos de significados para organizar seu comportamento, compreendê-lo em relação a si e às outras pessoas e para dar um sentido ao seu mundo. Estes sistemas de significados constituem sua cultura que Spradley (1980:6) define como “o conhecimento adquirido que as pessoas usam para interpretar experiências e gerar 22 comportamento” . Para Spradley, o trabalho de campo envolve um estudo disciplinado para descobrir como é mundo para as pessoas que aprenderam a ver, ouvir, falar, pensar e agir de formas diferentes. Para a coleta de dados utilizei a entrevista qualitativa. Antes de iniciar as entrevistas propriamente ditas, segui alguns passos necessários para ter uma visão mais ampla da presença de empréstimos do inglês, incidência e formas de manifestações em relação às atividades desempenhadas pelo homem comum. Assim, Duranti (1997:172) a define: “A perspectiva êmica é a que favorece o ponto de vista dos membros da comunidade em estudo e, portanto, tenta descrever como os membros determinam o significado a um dado ato ou a diferença entre dois diferentes atos” No original: “The emic perspective is one that favors the point of view of the members of the community under study and hence tries to describe how members assign meaning to a given act or to the difference between two different acts”. 21 22 No original: Culture is the acquired knowledge people use to interpret experience and generate behavior. Em um primeiro momento, nos cenários urbanos das cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Sinop, observei se e que expressões em inglês encontravam-se ao alcance do homem comum em propagandas, fachadas de lojas, produtos comercializados em supermercados, academias de ginástica, lojas de cosméticos e utilizados em salões de beleza, vestuários vendidos em lojas de confecções e calçados etc. Alguns dos cenários e produtos foram registrados com fotos que são mostradas nas páginas de abertura de cada capítulo desta dissertação. Eu um segundo momento, procurei estudar o que era singular de cada atividade, ou seja, observei a presença de anglicismos em diversas esferas de atividades profissionais e/ou sociais e coletei materiais (fotos, livros, revistas, materiais da internet, embalagens, materiais de propaganda dos meios de comunicação, filmes e músicas) que apresentavam conteúdo com a linguagem especializada em língua inglesa utilizada nas atividades. Essas duas estratégias me levaram à escolha dos participantes da pesquisa com base nas suas atividades profissionais e cotidianas que, de uma forma ou de outra, os levava ao contato e o uso de empréstimos do inglês na sua vida diária. No momento das entrevistas, para apreender as crenças de alguns dos participantes, usei fotos, anúncios de revistas e jornais, produtos que continham nomes em inglês. Ao entrar em contato com os participantes da pesquisa, pessoas de diferentes profissões, expliquei-lhes o objetivo da pesquisa e salvaguardei-lhes os seus direitos e princípios éticos comuns em pesquisas acadêmicas: respeito à privacidade e ao anonimato, acesso aos resultados do trabalho e acesso ao material coletado. Os esclarecimentos nesse sentido foram importantes para a pesquisa, uma vez que a maioria dos participantes não havia participado de estudos de tal natureza. De forma amável, os participantes da pesquisa se dispuseram a conceder informações e expressar livremente sua opinião, através das quais emergiram os temas e crenças que são apresentados no próximo capítulo. As entrevistas foram conduzidas levando em conta sugestões de vários autores (Mason, 2002; Denzin & Lincoln, 1998; Fontana & Frey, 1998 e Rubin & Rubin,1995). Em geral, a entrevista é vista como uma conversa informal em que a função do pesquisador é saber ouvir e oferecer prompts para que o seu interlocutor continue a falar. O pesquisador deve ficar atento ao idioma do interlocutor para poder construir sentidos. Segundo Fontana & Frey (1998: 47-51), a entrevista é uma das formas mais poderosas para compreender os seres humanos e na qual há atenção às vozes e sentimentos dos respondentes. Mason (2002,62-64), por sua vez, explica que a entrevista qualitativa tende a envolver a construção e reconstrução do conhecimento mais do que a exploração dele, é fortemente dependente da capacidade do participante falar, interagir, conceituar e lembrar. Além disso, possui as seguintes características: é uma troca interacional; assemelha-se a uma conversa informal com um propósito; constitui-se em uma narrativa com um tópico-central ou temático – o pesquisador tem tópicos, pontos de discussão e temas a serem seguidos; baseia-se no pressuposto de que o conhecimento é situado e contextual. Para Rubin & Rubin (1995: 5-7), a entrevista qualitativa tem por princípio descobrir o que os outros pensam e sabem, evitando impor aos entrevistados o mundo e os conceitos do pesquisador, isto é, os entrevistadores qualitativos estão mais interessados na compreensão e conhecimentos dos entrevistados do que em categorizar pessoas ou acontecimentos e há flexibilidade quanto ao fluxo e escolha de tópicos para condizer com aquilo que o participante sabe e sente. Realizei, nesta pesquisa, entrevistas individuais com o objetivo de “conversar” com os participantes, aprofundar e apreender as crenças relativas ao uso do inglês na sua vida pessoal e profissional. O tempo de duração de cada entrevista variou de uma hora a uma hora e meia. Todas foram gravadas em áudio e transcritas para serem analisadas. Cada entrevista teve um roteiro específico e foi preparada para cada participante com base em informações, fotos, anúncios de revistas e jornais, amostra de produtos que continham expressões em inglês retiradas das atividades cotidianas que havia pesquisado, sem, no entanto, perder de vista os tópicos-guia que deveriam ser introduzidos em todos os diálogos de forma a possibilitar respostas que me auxiliassem a entender o fenômeno estudado. O local e horário das entrevistas foram escolhidos pelos participantes para que pudessem se sentir à vontade. As entrevistas ocorreram nas suas casas ou nos seus ambientes de trabalho. Compreendendo, portanto, a entrevista como uma situação social, de interação dialógica, estabelecida para em determinado momento falar especificamente de um assunto, procurei conduzi-la como uma conversa informal cujo assunto principal era a presença de anglicismos no cotidiano dos participantes, com ênfase aos termos usados em suas atividades valendo-me dos domínios teóricos delineados pelos autores citados. 2.2 O cenário e os participantes da pesquisa A pesquisa foi desenvolvida com pessoas da zona urbana de três cidades do Estado de Mato Grosso: Cuiabá, Várzea Grande e Sinop. Cuiabá é a capital do Estado de Mato Grosso com aproximadamente 483.30023. Está localizada na mesorregião centro-sul mato-grossense. Várzea Grande situa-se à margem direita do Rio Cuiabá, defronte à capital. Logo, o rio demarca a fronteira entre os dois municípios. Possui 215.298 habitantes, conforme censo 2000 do IBGE. Uma vez que Cuiabá e Várzea Grande estão geograficamente lado a lado, é comum boa parte da população dos dois municípios desenvolverem suas atividades (profissionais ou não) em ambas. Deste modo, não podemos entender a divisão política e geográfica como marcador significativo para a pesquisa, uma vez que abundam nos dois a presença de termos e expressões da língua inglesa. Sinop é a sigla de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, empresa responsável por seu planejamento e colonização. Localizada no centro-norte do Estado, seu número de habitantes é de 74.83124. É uma cidade jovem, com 25 anos de emancipação e a cidade em que moro. É formada, em sua maioria, por pessoas oriundas dos estados da região sul do Brasil, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, as quais trouxeram consigo (e ainda trazem, pois o fluxo migratório é grande) costumes e o desejo de ascender economicamente e progredir juntamente com os colonizadores. Nas três cidades misturam-se às culturas locais diferentes culturas e falares de pessoas que vieram de outras partes do Estado de Mato Grosso e de outros estados do Brasil para desenvolver atividades diversas, típicas grandes cidade. Em Cuiabá, Várzea Grande e Sinop todos nós (pessoas comuns ou não) podemos testemunhar uma imensa constância de anglicismos presentes em diversas atividades da vida urbana moderna. Conforme pude observar, à entrada 23 24 Censo 2000. Fonte: ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demográfico_2000 Censo 2000 (op. cit) das cidades, o viajante que ali chega é recepcionado por um grande número de outdoors com propagandas de vários tipos de produtos e nomes de casas comerciais escritas em inglês tais quais: Venha para uma happy hour; Aki tem peixe – Delicious Fish; Venha ver nosso show room, etc. Nas fachadas de comércios são inúmeras as expressões em inglês: Big Lar; Speed Pneus; CVC – Cuiabá Vídeo Center; City Lar; Princess Cabeleireiro; Classic Cabelereiro; etc. A ubiqüidade dos anglicismos se estende por vários setores e atividades desenvolvidas pelas pessoas comuns que moram ou transitam pelos bairros centrais e periféricos das cidades. Foram entrevistadas quatorze pessoas que se inserem no perfil de homem comum, delineado nesta pesquisa, e que desenvolvem atividades profissionais e sociais nas quais há uma incidência maior ou menor de expressões da língua inglesa. Entrevistei uma vendedora de loja de artigos importados, um servidor da Secretaria de Segurança do Estado, uma gerente de empresa de intercâmbios (também vendedora de cosméticos), uma atendente de biblioteca, uma empregada doméstica, uma publicitária (profissão de formação, porém não a exerce (é dona de casa e desenvolve serviços sociais voluntários), uma administradora e proprietária de loja de roupas e calçados, uma cabeleireira, uma médica veterinária, um técnico em informática, um bancário, uma empresária e comerciante (de locadora de vídeo e loja de produtos importados e brinquedos), um pugilista amador e um instrutor de ginástica (também proprietário de academia e promoter). São jovens e adultos, de sexo feminino ou masculino, com idade entre 19 e 59 anos. Seis dos entrevistados residem em Cuiabá, outros seis em Sinop e dois em Várzea Grande. Alguns exercem mais de uma profissão ou atividade, as quais foram consideradas na entrevista ao se tornarem relevantes para a compreensão de sua visão frente aos termos do inglês. Apenas dois participantes nunca tiveram contato formal com a língua inglesa (a empregada doméstica e a gerente de intercâmbios). Os demais estudaram de 02 a 12 anos em escolas regulares e 04 em cursos livres. O contato com palavras e expressões da língua inglesa compartilhado entre todos os entrevistados em geral são: a visualização de letreiros e fachadas de comércios variados, em bancos, na mídia, marcas de produtos de consumo (alimentícios, limpeza, vestimenta), eletro-eletrônicos (comando e marcas), etc. A seguir, por ordem da data de realização das entrevistas, realizo uma breve descrição dos participantes desta pesquisa para contextualizá-los na sua atividade de trabalho e o uso de termos em inglês. 1) Mara25 (vendedora de loja de produtos importados) Mara tem 23 anos de idade. É vendedora há um ano de uma loja que comercializa brinquedos, produtos eletrônicos, CDs, doces e balas e celulares. Sua especialidade é a venda de aparelhos celulares. Trabalhou anteriormente como ajudante num salão de beleza e lidava com cosméticos escritos em inglês.Teve contato formal com a língua inglesa apenas na 5ª e na 6ª série na qual suspendeu os estudos. Declarou achar o seu conhecimento de língua inglesa insuficiente para entender termos e expressões nessa língua. Antes de se mudar para o Mato Grosso, morava em Mato Grosso do Sul. Em sua atividade de trabalho convive com anglicismos através dos produtos que vende. Na sua especialidade – venda de celulares – as funções send, talk, end, on, off, power etc. de alguns manuais e algumas marcas são escritas em língua inglesa. 2) Dario César (agente de segurança estadual) Dario tem 41 anos. Recentemente, passou a ocupar o cargo de agente de segurança estadual. Tem uma história de vida profissional construída em entidades sindicais, lidando com trabalho burocrático e também de auxiliar administrativo. Estudou a língua inglesa de 5ª a 8ª série do ensino fundamental e chegou ao primeiro semestre do Curso de Letras quando interrompeu seus estudos. Afirma que o seu conhecimento da língua é insuficiente, teve muita dificuldade ao ingressar no curso superior (que interrompeu em seguida por motivos particulares). O que mais o motiva a aprender a língua é o fato de gostar de bandas de rock, daí, buscar entender as letras das músicas, especialmente da banda Scorpions. Antes de morar em Mato Grosso, residiu no Espírito Santo. 3) Diná (gerente de empresa de intercâmbio) 25 Todos os nomes mencionados são fictícios. Diná tem 59 anos. Recentemente (início de 2004), começou a dedicar-se à atividade de gerente de intercâmbios em Mato Grosso. Desenvolveu por 10 anos a atividade de massoterapeuta e por 24 anos a de vendedora de cosméticos no Estado do Rio Grande do Sul. Concluiu o ensino médio, no entanto, não teve contato algum com a língua inglesa. Estudou formalmente e fala com fluência o alemão, adquirido com os pais e na escola. Conviveu com palavras da língua inglesa por ser o nome de vários produtos cosméticos que vendia e, atualmente, está familiarizada com palavras e expressões que aparecem em propagandas (revistas e sites) de sua empresa. 4) Luíza (atendente de biblioteca) Luíza tem 19 anos e é atendente de biblioteca de uma universidade particular exercendo a sua primeira atividade profissional. Está fazendo o curso superior Controle de Obras. Teve contato com a língua inglesa em escola pública no ensino fundamental (5ª a 8ª) e nos três anos do ensino médio e estudou por mais três anos em curso de idioma, oferecido pelo laboratório de línguas de uma universidade com o propósito de aprender a língua para usar em alguma atividade profissional. Luíza declarou que consegue usar e entender a língua em algumas situações. Em sua atividade dá informações, faz empréstimo de materiais disponíveis na biblioteca e auxilia os usuários sobre determinados assuntos a serem pesquisados via internet. Sendo assim, precisa saber informações a respeito de obras escritas em inglês, publicadas em áreas de várias ciências nas quais há oferta de materiais bibliográficos como revistas, livros, seções de jornais, sites da internet entre outros no seu local de trabalho. Além desse contato, lê esporadicamente materiais impressos e conteúdo de sites destinados ao público jovem em que aparecem anglicismos ou são totalmente em inglês. Afirma ter interesse por músicas em língua inglesa e aprecia estudar suas letras para se aperfeiçoar na língua e por diversão. 5) Vera Lúcia (formada em publicidade) Vera Lúcia tem 46 anos, desenvolve trabalhos voluntários e administra o lar. Anteriormente, ocupou o cargo de assistente social. Formou-se em Publicidade com especialização em Marketing. Estudou a língua inglesa nos ensinos fundamental (5ª a 8ª) e ensino médio (os 3 anos), Inglês Instrumental – Comunicação (3 semestres) e 3 semestres em curso oferecido por um Centro de Idiomas de uma universidade. Diz ter se esforçado para conhecer o idioma, mas tem antipatia pelos norte-americanos, o que acredita interferir na sua aprendizagem. Antes de chegar a Mato Grosso (há mais de 14 anos), morou nos Estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Os anglicismos aparecem em grande número na linguagem especializada de sua formação superior, bem como na venda do produto publicitário: marketing, telemarketing, marketing mix, marketing share, briefing, layout, outdoor, design, management etc conforme seu depoimento. 6) Marilene ( proprietária e administradora de loja de confecções) Marilene está com 43 anos. Administra o lar, é proprietária e administradora de loja de confecções. Comercializa roupas feitas (infantil e adulto), calçados, cama, mesa e banho. Sua loja tem um nome nacional, mas vende camisetas com mensagens, produtos e marcas escritos em inglês. Marilene concluiu o ensino médio tendo contato com a língua inglesa no ensino fundamental (5ª a 8ª) e no médio (3 anos), mas considera insuficiente aquilo que aprendeu no ensino formal. Mudou-se de São Paulo para Mato Grosso ainda criança. 7) Genilda (empregada doméstica) Genilda tem 31 anos e trabalha atualmente com serviços domésticos. Trabalhou, anteriormente, na organização da seção de verduras de um supermercado. Concluiu a 4ª série do ensino fundamental. Não teve contato formal algum com a língua inglesa. Veio do Paraná para Mato Grosso há 16 anos. O contato que tem com termos da língua inglesa está nas marcas de produtos alimentícios e de limpeza. 8) Renata (cabelereira) Renata tem 35 anos de idade. É cabeleireira há 15 anos. Antes foi vendedora e proprietária de mercearia por 6 anos. Nasceu e sempre morou em Mato Grosso. É formada no ensino médio tendo contato formal com a língua inglesa no ensino fundamental e no médio, mas afirmou não ter aprendido coisa alguma. No salão de beleza onde desenvolve sua atividade profissional há vários cosméticos para cuidados com o cabelo e pele escritos em inglês de que faz uso constantemente: Yellow, Mega Hair , Afro Hair, Italian Color, Blue Light, Bio Soft, Beauty Color, Evolution, Golden Brown entre outros. 9) Talita (médica veterinária) Talita tem 26 anos, é formada em medicina veterinária que é a sua primeira atividade profissional. O local onde trabalha tem o nome escrito em língua inglesa e na sala de espera da clínica há quadros com animais e expressões escritas em inglês. Teve contato formal com a língua nos ensinos fundamental e médio, bem como num curso livre (2 anos) com o objetivo de preparar para o vestibular. Atualmente convive com marcas de ração (Dog Show,Champ, Fresh,Smart etc.), nomes de uma infinidade de raças de animais ( cães: Pitbull Basset Hound, Cocker Spaniel Inglês Yourkshire Terrier, Beagle, Boxer,Bulldog, Clumber Spaniel, American Toy Terrier, American Eskimo Dog, Border Collie, Collie e gatos: American Short Hair, Bobtail, Ragdoll, Turkish Angora, Manx, Munchkin) e outros usados na sua área como: pet, pet shop, toy etc. 10) Rafael (técnico em informática) Rafael tem 22 anos. É técnico em informática há 5 anos e já exerceu as profissões de secretário em empresa de turismo bem como de atendente em lanchonete ou “lancheria”, no seu modo de dizer. Está cursando o ensino superior – Licenciatura em Física. Ele residiu nos estados de São Paulo, Paraná e há 17 anos está em Mato Grosso. Estudou a língua inglesa em escolas públicas por 7 anos – ensinos fundamental e médio – e em curso livre por 5 anos. Diz simpatizar por diferentes línguas, pois através delas pode conhecer outras culturas e usá-las na sua profissão. A informática é uma das áreas mais bombardeadas por anglicismos. A maioria dos equipamentos de hardware e software é criada e distribuída pelos Estados Unidos e juntamente com a tecnologia, importamos as palavras, diz ele. Muitas, inclusive para quem lida permanentemente com a informática, se ocorresse uma tradução “atrapalharia” devido ao hábito e a automatização ao fazer uso de comandos, funções e programas em inglês. A internet é ferramenta básica de quem necessita conhecer as novas tecnologias que surgem e modificam a área “a galopes”, continua ele. Sendo assim, o profissional da área de informática que conhece a língua inglesa – no mínimo aquele que a lê – ganha tempo, dinheiro e aperfeiçoamento profissional de forma mais rápida e eficaz. Aqueles que desconhecem a língua assimilam os comandos de forma automática e funcional para atingir seus objetivos e fazer uso dos avanços da informática. 11) José Luís (bancário) José Luís tem 44 anos e é bancário há 23 anos. Formou-se no Curso de Pedagogia e é Especialista em Sociologia da Educação. Reside em Mato Grosso há 10 anos e, anteriormente, morou em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Estudou a língua inglesa no ensino fundamental e médio, dois semestres no Curso de Letras (o qual interrompeu) e iniciou um curso no laboratório de línguas de uma universidade. O contato com os anglicismos em sua profissão ocorre mediante termos introduzidos na linguagem bancária, tais como: personal banking, mastercard, leasing, boom, benchmarking, ação Golden Share, call entre outros. A internet também tem papel importante no desenvolvimento de sua atividade, sendo necessária a operacionalização de funções, programas e sites escritos em inglês. 12) Kátia (empresária e comerciante de locadora de vídeo e loja de produtos importados) Kátia tem 34 anos e exerce as atividades de empresária e comerciante há 10 anos. Antes de se dedicar às atividades atuais, foi vendedora de imóveis. Mora em Mato Grosso há 28 anos e já residiu em Minas Gerais e Distrito Federal. Ela estuda Administração de Empresas (curso superior) e lida com comércio e locação de fitas de vídeo e DVD, bem como com a venda de produtos importados, brinquedos e artigos de decoração. Seus estabelecimentos têm nomes em língua inglesa. Estudou inglês nos ensinos fundamental e médio e mais três anos em um curso livre. Declarou que lê e escreve em inglês, mas tem dificuldade em falar a língua. O inglês aparece nas atividades que desenvolve, além de dar nomes às suas lojas de produtos importados e de comércio e locação de fitas de vídeo – muito conhecidas e procuradas no seu contexto urbano em que estão estabelecidas – e nos filmes importados (títulos, falas dos personagens etc.), nomes de produtos de decoração, brinquedos e orientações em manuais de instruções. 13) Clóvis (proprietário e instrutor de academia de ginástica e promoter) Clóvis está com 41 anos. É proprietário de academia e de loja na qual vende produtos de ginástica, suplementos alimentares e energéticos. É, também, instrutor de ginástica e promoter (atua na organização de desfiles e cursos de moda e de concursos de beleza). Já exerceu as profissões de modelo, manequim, professor e foi proprietário de escola particular que oferecia aulas desde a educação infantil até o ensino médio. Está em Mato Grosso há 12, vindo do Estado de São Paulo. O estudo formal da língua inglesa foi realizado durante sete anos nos ensinos fundamental e médio aos quais se soma um ano em curso livre. Sua academia não tem nome em inglês, somente sua loja. Segundo suas declarações, os clientes não a chamam de “loja” ou “lojinha”, mas utilizam o nome em inglês quando se referem ao estabelecimento. Em todas as atividades que desenvolve, encontramos anglicismos. Destacarei aqui apenas alguns: a) Ligados à ginástica: fitness, spinning, jumping, fitness, bike class, personal trainer, Body Systems, step; b) suplementos alimentares e energéticos: Mega Mass, Água Mineral Levíssima Sport Cap, Red Bull; c) Mundo da moda e beleza: top model, look, fashion, underwear, book, design,hit da moda. 14) Alisson (pugilista amador) Alisson tem 25 anos, pratica boxe e trabalha em serviços gerais numa indústria madeireira. Estudou até o segundo ano do ensino médio quando interrompeu seus estudos. Teve contato formal com a língua inglesa no ensino fundamental e no médio. Nasceu e mora em Mato Grosso. O uso de anglicismos nas suas atividade está ligado, principalmente, à prática esportiva do boxe. O boxe do Brasil importou a luta e várias palavras da Inglaterra e conserva muitos comandos, golpes e regras na língua inglesa: round, upper, sparring, clinch,infighting, contender, challenger, bruiser, cut man, knee man, manager, promoter, break ,draw, WO (walk over), corner entre outras. Como vimos, os empréstimos do inglês estão presentes nas atividades, acima descritas, desenvolvidas pelos participantes da pesquisa. Os termos da língua inglesa, por vezes, assumem significâncias específicas dentro de cada atividade e pode diferir para outras atividades. A palavra break, por exemplo, no mundo do boxe, refere-se a uma ordem usada pelo árbitro para os lutadores se separarem de um clinch (situação em que os dois pugilistas estão se segurando mutuamente sem trocar socos) enquanto para o dançarino é um estilo de dança e para o participante de um evento é o intervalo para o café. É a polissemia demarcada pela linguagem especializada usada dentro de cada atividade. Dessa forma, com base nas falas dos participantes, construídas ao longo de suas experiências de vida, tentarei desvelar suas concepções em relação aos fenômenos da linguagem – mais especificamente com relação aos anglicismos em suas atividades profissionais e/ou sociais – e de como a linguagem se manifesta em suas vidas (com ênfase à sua atividade, mas também considerando o universo sociolingüístico onde forma e reconstrói suas crenças e seu pensamento). No quadro a seguir sintetizo as características descritas dos participantes, considerando as atividades atuais e anteriores, nível de escolaridade e período de contato formal com a língua inglesa, dados importantes para a compreensão das experiências vividas e como construíram suas crenças em relação aos empréstimos do inglês. QUADRO 2: Biodata dos participantes da pesquisa ATORES SOCIAIS IDADE 23 01.MARA 41 02.DARIO CÉSAR 59 03. DINÁ ATIVIDADE ATIVIDADES ATUAL ANTERIORES Vendedora – loja 1. vendedora de de artigos roupas importados, brinquedos e doces 2. auxiliar de salão de beleza Servidor da Secretaria de Segurança do Estado Gerente de empresa de intercâmbios 1. Auxiliar Administrativo 2. Serviços burocráticos em entidades sindicais 1. Massoterapêuta (10 anos) Atendente de biblioteca Nenhuma 1.Dona de casa 2. Trabalhos voluntários em comunidade 05. VERA LÚCIA 46 6ª série do ensino fundamental TEMPO DE ESTUDO DO INGLÊS EM ESCOLA REGULAR OU CURSO LIVRE LÍNGUA INGLESA/ TEMPO DE CONTATO 5ª e 6 ª séries – escola pública 2 anos 1º semestre do Curso de Letras 5ª a 8ª e 1 semestre do Curso de Letras 4 anos e meio ensino médio Nenhum Nenhum 2. vendedora de cosméticos (24 anos) 19 04.LUÍZA ESCOLARIDADE Cursando ensino superior – área técnica 1.Curso Superior em Publicidade Assistente Social 2. Especialização em Marketing 5ª a 8ª e ensino médio – escola pública 10 anos Curso em centro de idiomas universitário (3 anos) 5ª a 8ª e ensino médio Inglês Instrumental -Comunicação – (3 anos) 11 anos e meio Curso de extensão universitária (3 semestres) 06. MARILENE 07. GENILDA 08. RENATA 09. TALITA 43 31 35 26 Proprietária e administradora de loja de roupas e calçados Empregada doméstica Cabeleireira Médica veterinária 5ª a 8ª e ensino médio – escola pública Balconista de loja ensino médio Organizadora de seção de verduras – supermercado 4ª série do ensino fundamental Proprietária de mercearia e vendedora 2º ano do ensino médio 5ª a 8ª e ensino médio – escola pública Bolsista em projeto de pesquisa universitário Curso Superior – Medicina Veterinária 5ª a 8ª e ensino médio – escola pública Nenhum 7 anos Nenhum 6 anos 9 anos Curso livre-2 anos 10. RAFAEL 22 Técnico em Informática 1. Secretário de empresa de turismo 2. Chapeiro em lanchonete Curso Superior incompleto – Licenciatura em Física 5ª a 8ª e ensino médio – escola pública Curso livre – 5 anos 12 anos 44 11. JOSÉ LUÍS Bancário 34 12.KÁTIA 41 13. CLÓVIS Empresária e comerciante – loja de brinquedo e decorações e locadora de vídeo 1. Proprietário, administrador, instrutor de academia de ginástica 2. Promoterconcursos de beleza, modelo e manequim 14. ALISSON 25 1. Pugilista amador Serviços em gráfica Vendedora de imóveis 1. Modelo e manequim 2. Professor e proprietário de escola Serviços com agropecuária Curso Superior – Pedagogia Especialização em Sociologia da Educação 5ª a 8ª e ensino médio – escola pública 8 anos 2 semestres do Curso de Letras Curso Superior Incompleto – Administração de Empresas 5ª a 8ª e ensino médio – escola pública Curso Superior – Educação Física 5ª a 8ª e ensino médio – escola pública 10 anos Curso livre – 3 anos 8 anos Curso livre – 1 ano 2º ano do ensino médio 2. Plainista 5ª a 8ª e ensino médio – escola pública 6 anos 2.3 A análise de dados – abordagem interpretativa Durante e após a coleta de dados – realização de entrevistas e transcrição – e mesmo no decorrer das entrevistas, fiquei sempre atenta aos possíveis sentidos que poderiam sinalizar temas recorrentes e relevantes ao tópico da minha pesquisa. Prestar atenção nos termos, nas metáforas, no tom das vozes foram estratégias utilizadas por mim para mapear os sentidos. Ao ler os dados, o pesquisador busca não só descrevê-los, mas analisá-los e interpretá-los. Fiz inúmeras leituras das transcrições até que alguns temas surgissem e pudessem ser interpretados. Para Wolcott (1994:12-16), a interpretação direciona para questões processuais de significados e contextos26 (...) Associada com o seu significado, o termo interpretação é bem completo para 26 No original: “Interpretation addresses processual questions of meanings and contexts.” marcar um limiar no pensar e escrever no qual o pesquisador transcende os dados factuais e analisa cautelosamente e começa a investigar o que é para fazer deles27. Quer dizer, a análise interpretativa utiliza os dados coletados, mas não se restringe literalmente a eles. Ela envolve uma leitura de outras informações, dados e informações implícitas, ou seja, é uma leitura através e além dos dados. Mason (2002:149), nesse sentido, diz que “uma leitura interpretativa envolverá você na construção ou documentação de uma versão de como você pensa, significa ou representa os dados, ou o que você pensa que pode inferir a partir deles”28. A autora complementa sua argumentação com a seguinte afirmação de Blaikie (2000: 115; citado em Mason, 2002: 56): Os interpretativistas estão preocupados com a compreensão do mundo social que as pessoas produzem e reproduzem através de suas atividades contínuas. Essa realidade cotidiana consiste de significados e interpretações dados pelos atores sociais às suas ações e às ações de outras pessoas, de situações sociais e de objetos natural e humanamente criados29. Assim, nesta pesquisa, os participantes da pesquisa, embora pertencentes a cidades diferentes, comungam entre si a vivência no espaço urbano, a sincronia no tempo e o desenvolvimento de uma atividade. Os valores construídos ao longo de sua vida atribuem significados aos processos nos quais estão engajados. A declaração desses valores e significados nas entrevistas serve de matéria-prima para a interpretação do fenômeno da presença dos anglicismos em nosso contexto social, cultural, histórico e político. Para Rubin e Rubin (1995:31), o interpretativismo pode, com êxito, sustentar um estudo que usa técnicas de entrevistas, onde o objetivo seja explorar a compreensão coletiva e individual das pessoas. Foi esse o objetivo desta pesquisa. 27 No original: “Associated as it is with meaning, the term interpretation is well suited to mark a threshold in thinking and writing at which the researcher transcends factual data and cautions analyses and begins to probe into what is to be made of them. 28 No original: “An interpretative reading will involve you in constructing ou documenting a version of what you think the data mean or represent, or what you think you can infer from them.” 29 No original: “ Interpretativists are concerned with understanding the social world people have produced and which they reproduce through their continuing activities. This everyday reality consists of the meanings and interpretations given by the social actors to their actions, other people´s actions, social situations, and natural and humanly created objects.” Tendo como apoio as teorias, segui alguns passos para analisar os dados coletados que, primeiramente, eram transcritos após cada entrevista. Para organizar os tópicos no texto e identificá-los, dispus números equivalentes a cada um que emergia marcando-os com canetas que os destacavam e de maneira que pudesse facilitar sua localização em etapas posteriores. Numa ficha à parte, escrevi os números paralelamente aos títulos dos tópicos. A cada nova entrevista, os tópicos que se repetiam ao longo dos textos recebiam os números correspondentes aos das entrevistas anteriores. Para os diferentes, outros números, em escala crescente, eram marcados e adicionados à ficha 1. Ao mesmo tempo, foram elaboradas mais duas fichas (2 e 3). Na ficha 2, eram escritos os nomes dos participantes e os números dos tópicos que apareciam em suas entrevistas para facilitar a localização no momento da elaboração do texto de descrição e análise. Na ficha 3, eram dispostos os números dos tópicos e a incidência de repetição nas falas de cada participante, uma espécie de mapeamento. Esses passos foram importantes para observar a variação e incidência dos tópicos emergentes para chegar às crenças e ações dos participantes com relação aos anglicismos que fazem uso. Os tópicos serviram de categorias recorrentes ou divergentes e, inicialmente, mais restritas para depois se ampliarem, porém sem perder as especificidades, no documento final. A cada entrevista, descobria detalhes ou repetição de conceitos que me oportunizavam interpretar e inferir os temas que me levariam a pontuar as crenças e ações relacionando-as com as teorias consultadas para a pesquisa. Descartar alguns tópicos e agrupar outros foi necessário no processo de seleção e análise. Assim, a partir desses passos, pude sistematizar as duas grandes crenças, sub-crenças e ações dos participantes e promover a discussão dos dados. O texto de análise foi construído através da transcrição de trechos das entrevistas acompanhados da interpretação e reflexão das falas dos participantes. A análise me permitiu chegar às três vertentes teóricas relacionadas ao que as pessoas comuns vivenciam quanto aos anglicismos presentes em suas atividades. Capítulo 3 CRENÇAS E AÇÕES DO HOMEM COMUM EM TORNO DE ANGLICISMOS Em cada face humana há uma história e uma profecia. (Samuel Taylor Coleridge) Este capítulo, contendo a descrição, análise e interpretação dos dados coletados junto aos participantes, é o resultado da ordenação das informações avolumadas nas entrevistas sobre a presença e o uso de empréstimos do inglês no cotidiano urbano brasileiro. A análise atenta para uma releitura daquilo que os homens e mulheres comuns declararam, num processo de interpretação que busca a interlocução com teorias reconhecidas no meio científico. Para sistematizar as descobertas, inicialmente, dividi o capítulo em duas seções: Na primeira, apresento a descrição dos dados organizados em duas partes: a) Das Crenças e b) Das Ações. A parte “a”, Das Crenças, está dividida em dois tópicos os quais identifico como crenças que estão dispostas da seguinte maneira: 1) Língua inglesa: insígnia de maxi-valorização e de busca de identificação com o Outro – os participantes entendem que o uso de anglicismos é uma forma de buscar identificação com a língua/cultura norte-americana para obtenção de status social e econômico. Essa crença está subdividida em três subcrenças (Subcrença 1: A língua inglesa é símbolo de status, beleza e qualidade; Subcrença 2: A língua inglesa é ponte de acesso a bens econômicos e culturais; Subcrença 3: A língua inglesa ameaça à língua e cultura brasileiras. Na crença 2: Língua inglesa: insígnia de influência da mídia – algumas pessoas comuns entendem que as palavras em inglês se alastram por influência da mídia. A parte “b” corresponde às ações do homem comum ao conviver com os anglicismos no seu contexto social e no profissional. O tópico referente a essa parte, Como agem os homens comuns mediante os anglicismos, evidencia que muitos empréstimos do inglês presentes em nossa língua, apesar de, muitas vezes, não serem notados pelas pessoas comuns como portadores de significado ou de que estejam grafados em língua estrangeira, são compreendidos e incorporados por meio da funcionalidade dos produtos e objetos nas práticas sociais e comunicativas cotidianas. Na segunda seção, apresento a discussão dos resultados com base na análise e interpretação das crenças inferidas pela descrição das falas e crenças dos participantes que são explicadas a partir de três vertentes: a vertente do “apelo esnobe” (Ortiz, 2003: 193), a da crítica ao imperialismo norte-americano (Ortiz, 2003:87) e a instrumental ou pragmática. Na vertente do “apelo esnobe”, os participantes destacam a força simbólica positiva da influência dos termos em inglês por força do prestígio que o inglês imprime aos objetos de desejo. Na vertente da “crítica ao imperialismo norte-americano”, evidencia-se o sentido ufanista em que as expressões da língua inglesa são retratadas como uma ameaça à língua portuguesa, cultura e economia brasileira. Por último, “na vertente pragmática ou instrumental”, os participantes assumem diante da presença das expressões em inglês no seu cotidiano uma atitude instrumental a modo de não se intimidarem com o “diferente” (os anglicismos) e buscarem recursos contextuais que facilitem as tarefas que precisam desempenhar quando se deparam com expressões em inglês mesmo sem saber o seu significado imediatamente. Primeira Seção − DESCRIÇÃO DAS CRENÇAS E AÇÕES a) DAS CRENÇAS: Crença 1 − Língua inglesa: insígnia de maxi-valorização e de busca de identificação com o Outro A Crença 1 se pauta na idéia de que o brasileiro usa expressões da língua inglesa como uma insígnia de valorização e meio de expressar o desejo de identificação com o mundo desenvolvido (especialmente os Estados Unidos) via o uso da linguagem e de consumo de produtos escritos em língua inglesa. Essa crença está subdividida em três subcrenças. Na Subscrença 1, a língua inglesa é símbolo de status, beleza e qualidade, os participantes imprimem ao uso dos anglicismos esses valores. A insígnia de beleza salienta características intrínsecas da língua inglesa associadas à noção de que o inglês é chique, elegante, diferente e a insígnia de boa qualidade destaca características extrínsecas do produto importado ou da língua importada que se traduzem em demonstração de competência da tecnologia e cultura norte- americanas. Na Subcrença 2, a língua inglesa é ponte de acesso a bens econômicos e culturais, os empréstimos do inglês são entendidos como um meio para conhecer a língua e a cultura de outros países bem como facilitar o acesso ao uso de tecnologias fabricadas, principalmente pelos Estados Unidos, propiciando ascensão social e econômica. Na Subcrença 3, a língua inglesa: insígnia de ameaça à língua e cultura brasileiras, a presença e uso de anglicismos no cenário nacional são tidos como ameaça, agressão e desvalorização da língua portuguesa e da cultura brasileira por alguns participantes. Subcrença 1: A língua inglesa é símbolo de status, beleza e qualidade Os participantes desta pesquisa acreditam que o inglês representa status social, poder econômico e conhecimento cultural. O termo “chique” (sofisticação e elegância) é predominantemente usado para adjetivar o uso da língua inglesa, associando-a a produtos de qualidade, belos e elegantes. Nas falas dos participantes abaixo, por exemplo, a carga simbólica das palavras escritas em inglês está relacionada com “loja bonita e de boa aparência”, restaurante “elegante”, valorização do produto como “diferente, bonito, atraente e melhor”. O inglês eu acho chique o nome. Tem várias lojas de tipos de nomes diferentes e acho que é por boniteza, não sei, para dar uma frente pra loja mais legal (Mara vendedora). Fica chique, você vê um restaurante que tem nome em inglês, banco em inglês dá um ar de chique (Vera Lúcia - formada em publicidade). Primeiro, se torna mais chique. A pessoa tá preocupada com a valorização do produto. Então colocando uma coisa em inglês, a sensação é de glamour (Kátia empresária e comerciante). O povo pensa que é bonito, é diferente (José Luís - bancário)30 Conforme Kátia, empresária e comerciante, os anglicismos agregam um valor maior ao produto comercializado, pois há uma sensação de bem-estar e elegância quando as pessoas usam um objeto bonito, sofisticado. É como se houvesse uma relação estabelecida entre inglês – beleza – qualidade – bem estar. Sentir-se em glamour (por sinal um anglicismo), significa estar extasiado, inebriado em magia e encantamento. Em outras palavras, do ponto de vista psicológico, a pessoa 30 Ao se referir ao uso de termos da língua inglesa. fortalece a auto-estima e se embriaga na sensação de êxtase ao usar um produto ou estabelecimento que tenha nome em inglês. José Luís, por sua vez, embora não falando de si, menciona “o povo” para justificar a preferência quanto ao uso de empréstimos do inglês pelo fato de as pessoas atribuírem à língua inglesa o status de belo e diferente. Da mesma forma, a empregada doméstica Genilda, no excerto abaixo, explica que ela própria não usaria expressões em inglês para nomear estabelecimentos comerciais, mas acredita que pessoas optam pelo uso de palavras da língua inglesa por acreditarem que é uma língua bonita a imprimir significado maior ao produto que comercializam. Ela, no entanto, prefere expressões em português por achar a sua língua materna, a língua portuguesa, muito bonita. Entrevistadora: Genilda, a gente vê que há salões de beleza escritos em inglês. Por exemplo: Princess, Classic,... Há nome de lojas escritos em inglês ... O que você acha que leva as pessoas a colocar nome de loja, por exemplo, escrito em outra língua? Você colocaria em uma sua ? Genilda: Não! Entrevistadora: Por que não ? Genilda: Porque eu acho que o português é tão bonito, as palavras em português... Eu creio que preferiria o português. Entrevistadora: E o que você acha que leva as pessoas a colocar tantos nomes de lojas e produtos em inglês? Genilda: Sei lá! Pela beleza dos nomes, pelo gosto, pelo significado do produto que eles trabalham. Quando lhe perguntei que marca de xampu preferiria, Darling (oferecido comumente nos supermercados, farmácias e lojas de cosméticos em geral) ou “Querida” (marca hipotética – tradução da primeira), ela disse que optaria por “Querida”, caso não conhecesse os produtos. Não sei... se eu não conhecesse nenhum dos dois, poderia ser que eu ficasse com o “Querida”. É uma palavra mais bonita de dizer. Talvez seja “Querida” que eu pegaria (Genilda - empregada doméstica). Na entrevista com o pugilista Alisson, mencionei que, além da área da sua profissão (box), ele convive com termos em inglês no comércio, nos aparelhos de som que manuseia habitualmente, em camisetas (no momento da entrevista, por acaso, estava usando uma camiseta com a expressão “Funny Competitions – Basketball”), perguntei-lhe o que achava que levava as pessoas a usar palavras da língua inglesa para nomear as coisas. Embora tenha salientado que o português deveria ser usado no lugar de empréstimos do inglês, também vincula o uso do inglês à idéia de beleza/status da língua inglesa. Sei lá ... pra ficar mais bonito! Porque pra mim eu acho que se nós estamos em um país deveria ser a língua dele, ou talvez por incentivar a pessoa a ver o significado, talvez (Alisson-pugilista). Por falar em beleza, a cabeleireira Renata trabalha diariamente com pessoas que buscam modificar e melhorar a aparência, que valorizam a estética e a beleza e investem para chegar a bons resultados. Ela convive com inúmeras marcas e nomes de produtos escritos em inglês como: Mega Hair, Yellow, Italian Color, Brown Hair, Yellow, etc. Perguntei-lhe se entraria num salão com o nome em inglês ou noutro escrito em língua portuguesa, prontamente optou pelo primeiro por considerar que o nome em inglês é mais “chique” e “chama mais a atenção”. Entrevistadora: Vamos supor que houvesse dois salões: o primeiro, “Princesa Cabeleireira” e o segundo “Princess Cabeleireira”. Em qual você entraria ? Renata: Eu acho que no “Princess”! Entrevistadora: Você está me dizendo que você entraria no “Princess”. Por quê ? Renata: Eu tô dizendo que é o mais chique, chama mais a atenção. Ela contou que os seus clientes dão preferência aos produtos escritos em inglês por entenderem que são melhores. Aponta que os cursos e eventos de beleza oferecidos como atualização e aperfeiçoamento profissional aos cabeleireiros e que são intitulados em inglês são mais valorizados pelas pessoas que freqüentam o seu salão. A presença de expressões da língua inglesa contribui para que lhes sejam atribuídos maior status que os nacionais, de acordo com o excerto a seguir: Entrevistadora: (Mostrando nomes de eventos para cabeleireiros divulgados em revistas da área) Aqui, por exemplo, “Mega Show”. Aqui já tá “Feira Mineira. Antes tava a “Fashion Hair”. Em qual você iria ? Renata: Eu acho que na outra. Entrevistadora: Por que você iria na outra ? Renata: Porque o povo falaria: “Ah, você foi na feira!” Como foi que você falou Feira Mineira, já falam com deboche. Entrevistadora: Você preferiria a “Fashion Hair”? Renata: Isso! Se eu fosse nessa (referindo-se à Feira Mineira), eu falaria que fui na outra. Entrevistadora: É mais chique ? Renata: Mais chique. É porque o povo cobra, acha que você aprendeu até mais coisas. Às vezes não. Às vezes até é o básico. Na visão de Renata, “o povo”, os seus clientes valorizam o local, o serviço, os produtos e eventos cuja imagem está associada com nomes em inglês. Na condição de vendedora, percebe que há mais retorno econômico em vista da crença de que “o que é de fora, é melhor”. Para a médica veterinária Talita, o conceito de beleza atribuído ao empréstimo do inglês também é importado juntamente com a palavra, resultado de uma cultura estabelecida que busca a valorização e identificação com o que é americano, o mais bonito. As pessoas devem achar que fica mais bonito clínicas com nome americano. Acho que já vem de uma cultura americanizada (Talita - médica veterinária). Rafael e Dario César, por sua vez, associam condições sócio-econômicas ao poder da língua inglesa. Rafael vê os anglicismos como símbolo de produtos importados, comuns na informática, desde os equipamentos (hardware) até os programas operacionais que vende e pelos quais oferece assistência técnica aos clientes. Acrescenta que as pessoas usam produtos escritos em inglês por uma questão de status social, para parecer mais abastado economicamente, simular poderio econômico, pois o importado é caro e está ao alcance de pessoas de bom poder aquisitivo. Portanto, o uso de empréstimos do inglês pode ser um meio de mostrar ou camuflar a real posição social delas, atribuindo-lhe um valor simbólico de riqueza e status econômico. Nessa função, o uso do inglês é marca de identidade para distinguir aqueles que têm acesso ao poder social e econômico e aqueles que não têm. A população em si sempre busca o novo, o importado, para aparentar uma certa condição melhor de vida, mas na verdade fica mais caro (...) A pessoa quer mostrar que ela tem uma certa condição de vida melhor que a outra, Como ela vai fazer isso? Comprando coisas que uma outra não teria condições (Rafael – técnico em informática). Quem tem o domínio econômico, entende-se que seja admirado, quem é rico, a impressão é que seja mais inteligente do que o pobre, embora muitas vezes seja o contrário. Então, na moda, por exemplo, é chique falar fashion, é chique. Então, dá a impressão que aquilo é melhor, é mais gostoso, é mais útil, é melhor para ser usado (Dario César – agente de segurança) Dario César acredita que o uso do inglês no momento é uma questão de mercado, mas conforme o curso da história, no futuro, poderá ser a língua chinesa a ocupar o espaço da inglesa hoje, uma vez que no panorama econômico mundial há indícios de que a China será a maior potência econômica do mundo num futuro próximo. Uma boa metáfora para traduzir o que ele afirma seria: “Se o império ruir, a língua e sua valorização estarão nos escombros”. O chinês, a importância disso no chinês é pela perspectiva econômica mundial. Existem muitas pesquisas que apontam que a China dentro de 50 anos vai ser a maior potência econômica do mundo e de forma isolada. Então, em termos de negócio, pensando em negócio, eu acho que seria importante até por uma questão mesmo de mercado de trabalho. Mas existe outro aspecto também que é importante observar que não vai mudar, que os chineses são digamos assim, uma população numerosa de forma incomparável, o povo mais numeroso do mundo. Então, se cada ser humano, de cada cinco ser humano um é chinês, então a gente não pode menosprezar o conteúdo desse povo, então a gente não pode menosprezar a língua. Em cada cinco consumidores do planeta, um consumidor é chinês. Então, talvez aprender o chinês ─ como dizia o antigo ditado ─ pode ser um negócio da China também. Para Clóvis, que trabalha com academia de ginástica e eventos de moda e beleza e, portanto, com pessoas preocupadas não só em manter a saúde através de exercícios físicos, mas também com a beleza e boa aparência, os anglicismos representam a busca da renovação, é um meio de acompanhar as mudanças e novidades de países do primeiro mundo, é “diferenciado, belo, mais novo, mais chique”. Nas academias e no mundo da moda, o inglês, ou seja, “o estrangeiro”, nas palavras de Clóvis, é usado por simbolizar o desejo das pessoas envolvidas com essas áreas: elegância, beleza e sofisticação. Tudo, o que vem de fora soa melhor, é diferenciado, é belo, é mais novo, mais chique. E infelizmente nessa área de beleza e de estética é o que pede, é o que vale (Clóvis – instrutor de ginástica e promoter). Ao observar o perfil da clientela com a qual Clóvis desenvolve suas atividades profissionais, posso dizer que a maioria é da classe média e alta. Para essas pessoas, é importante ostentar, na aparência física e no meio social, as características de países ricos, tanto no hábito quanto nas expressões. Isso faz com que as áreas da beleza e a estética “peçam o que é estrangeiro e o valorizem” – conforme o participante declara. Luíza, a atendente de biblioteca, associa os empréstimos do inglês à noção de beleza e de ostentação de conhecimento. O status social da pessoa, portanto, está também na demonstração do conhecimento que detém de uma língua estrangeira, ou seja, “se usa é porque sabe” e saber uma língua é elegante, é bonito, oferece status. Eu acho que a maioria, pelo menos os que eu conheço, nem percebem e acham bonito. Talvez eles achem bonito, porque você tem uma língua, fala uma língua. De repente você joga uma outra palavra, é bonito. “Eu sei falar”, entendeu ? Coisa assim (Luíza – atendente de biblioteca). Além de estar ligado à idéia de status e beleza, o uso de anglicismos, para alguns participantes, é visto como símbolo de boa qualidade. Para Vera Lúcia, Renata, Talita e Clóvis, por exemplo, a presença de termos da língua inglesa está associada à qualidade dos estabelecimentos (salão de beleza, academia de ginástica, por exemplo) ou dos produtos como o melhor medicamento veterinário, o melhor xampu, creme e tintura de cabelo, o melhor sistema de ginástica, a grife em destaque entre outros. Quando perguntei à Vera Lúcia, especificamente por ser publicitária, se achava que os produtos com nomes em inglês relacionados aos bens de consumo interferiam na escolha ou eram bem aceitos por um consumidor, não hesitou em responder que percebe desde jovem existir a cultura de que o que “é importado, veio de fora, deve ser bom”, isto é, as pessoas em geral relacionam o importado (escritos em inglês) a produto de boa qualidade e como de qualidade superior ao nacional. Nós somos criados a não valorizar o que é nosso e a valorizar o que vem de fora. Então, aparentemente, dá um ar de que é melhor do que passar em português. “Nossa, porque isso aqui é importado, veio de fora, deve ser bom.” Alguns têm idéia de que o importado deve ser bom, do que é importado é melhor do que o nosso. Isso é desde a minha adolescência, de que a calça jeans americana era melhor do que a nossa rancheira. (Vera Lúcia – formada em publicidade). Renata também categoriza como de melhor qualidade o salão de beleza que tem nome em inglês. Ela deixa explícita a preferência de seus clientes ao valorizarem os eventos que somam anglicismos ao seu título e dela própria quando opta por entrar no salão Princess ao invés do salão Princesa, já mencionado. Tal preferência, além de ter conexão com o status do anglicismo, tem relação com aquilo que as pessoas vêem quanto ao local e pensam ser mais qualificado, ou seja, que apresenta uma melhor qualidade na oferta dos produtos. Entrevistadora: Você colocaria o nome de um salão de beleza seu em inglês? Nós temos, por exemplo: “Princess”, “Classic” e outros nomes por aí. Você colocaria um nome assim ? Renata: Eu acho que sim. Colocaria. Entrevistadora: O que você acha que leva as pessoas a optar por nomes em inglês? Renata: Eu não sei explicar o porquê... Alguns devem pensar que porque o salão tem esse nome deve usar produtos mais qualificados. Quando perguntei à Talita, médica veterinária, sobre as razões que levavam as pessoas a usar termos em inglês na sua área e por quem eram influenciados, salientou que os nomes em inglês apresentados nas marcas de produtos veterinários são símbolos da qualidade dos produtos obtidos através do avanço em pesquisas científicas e tecnologias empregadas em sua área pelos e nos países desenvolvidos. Acredita que nos países desenvolvidos a veterinária é mais respeitada, de maior alcance e onde as tecnologias e ciência são mais rapidamente desenvolvidas. Já os nomes em inglês nas clínicas ou nas lojas veterinárias estão atrelados à cultura da americanização de que aquilo que é bom vem de fora. De usar nomes na nossa área, por exemplo, o nome de lojas, eu acho que é por causa da americanização, dessa cultura de vir coisas de fora. Agora, na questão de produtos e ração é porque a veterinária é uma ciência que tá crescendo agora, tá sendo valorizada agora. Nos países mais desenvolvidos a veterinária é mais respeitada, mais usada. Então, todos os produtos, os melhores produtos ainda são desenvolvidos fora do Brasil. Primeiro vem a tecnologia de fora, por exemplo, rações, produtos, muitos são daqui. Até tem fábrica aqui, mas a tecnologia, os estudos, as pesquisas são feitas todas fora, então já vem com o nome em inglês. A maioria dos nossos produtos, os melhores ainda são os importados.Na questão da vacinação, as melhores vacinas ainda são as importadas (Talita – médica veterinária). A boa qualidade do produto importado está, portanto, associado à idéia de maior confiabilidade e credibilidade no uso de produtos não só para Talita, mas também, para Clóvis, proprietário de academia de ginástica, conforme o excerto seguinte: Entrevistadora: Como eu percebi em sua fala, em questão de minutos você despejou uma série de termos da língua inglesa. O que você acha que leva as pessoas na área de ginástica a optarem por termos da língua inglesa e não um termo semelhante em língua portuguesa ? Clóvis: Eu acho que falta aquela confiabilidade, porque tudo que é importado tem aquela impressão de ótima qualidade. Hoje, tudo o que a gente monta, até o sistema de musculação é computadorizado e vem tudo em inglês. Já vem pronto pra nós. Eu penso que é devido a isso, o que vem de fora simplesmente tem mais credibilidade do que o que nós temos aqui. Em relação aos produtos de beleza, mesmo que a cabeleireira Renata não tenha certeza quanto ao nome do produto ou seu sentido, a presença de um termo escrito em inglês é logo associada ao produto que propicia os melhores resultados. Entrevistadora: (Referindo-se à escolha por um produto com nome em inglês) Você acha que isso faz diferença para um cliente? Renata: O nome que você tá querendo dizer? Entrevistadora: É. Renata: Eu não sei se é por causa do nome. É que ele é mais aprofundado, mais estudado o produto. Acho que aplicam mais dinheiro também do que um produto mais simples, menos consistente, trata menos o cabelo. No entanto, o importado do Paraguai, muitas vezes também escrito em inglês, os famigerados “made in Taiwan”, “made in China”, que geralmente trazem consigo a fama de baixa qualidade, de descartável (pouca durabilidade) são atração popular por serem bonitos, conforme Mara, vendedora que trabalha numa loja que vende tais produtos populares juntamente com os nacionais. No entanto, ela salienta que sua preferência é pelo produto nacional porque esses produtos importados de baixo preço não oferecem qualidade por estragarem facilmente. Entrevistadora: Quanto a um aparelho de som, você preferiria um importado, que tem nome em inglês, ou você preferiria o nacional? Mara: Eu preferiria o nacional, porque o importado ultimamente dá muito problema, a gente quebra muito a cabeça. Prefiro o nacional mesmo. Entrevistadora: Por que tem pessoas que preferem os importados? Mara: É porque é chique, é uma coisa diferente. “Ah, eu vou comprar aquilo porque tem isso daqui, isso daqui! Ah, tem uma loja que eu nunca parei de comprar, eu acho que tem uns bonito lá! Eu podia levar um daqueles ali!” Mas eu sei que não adianta levar uma “daquele ali” só por boniteza, não adianta levar uma coisa só por boniteza. Então, é melhor você levar uma coisa boa, garantida, que você vai ter garantia do que você levar uma coisa só pra enfeitar, pra achar bonito, para os outros chegar e “Ah, que bonito! Que não sei o que...” Mas sabe que a idade daquilo não vai durar muito, então eu já fico meio assim. A maioria dos participantes assume, pois, uma postura de relativa aceitação e compreensão à insígnia da língua inglesa como algo belo, sofisticado, diferente e melhor. Nas falas aqui transcritas, apenas dois participantes (Mara e Alisson) parecem suspeitar da “beleza” da língua inglesa e da “eficiência e qualidade” de produtos importados. De tal modo, pode-se entender que os produtos aos quais se referem são aqueles de baixo preço, normalmente comprados pelas classes populares que trazem a insígnia de beleza, mas a língua portuguesa também é bonita. Já os produtos de baixo preço com nomes em inglês podem ser bonitos, mas são de pouca funcionalidade ou estragam rapidamente. Subcrença 2: A língua inglesa é ponte de acesso a bens econômicos e culturais Para alguns participantes, o uso de termos e expressões da língua inglesa no cenário cotidiano brasileiro expressa o desejo de identificação com o mundo desenvolvido e representado, principalmente, pelos Estados Unidos, citado constantemente pelos participantes. A Inglaterra é mencionada, porém, poucas vezes, e a Austrália, Nova Zelândia e Canadá aparecem apenas uma vez nas falas de dois dos 14 participantes. Dessa forma, a presença de anglicismos revela a possibilidade de acessar bens econômicos e culturais, principalmente, novas tecnologias indispensáveis para o bom desempenho profissional e participação em uma sociedade globalizada. Em outras palavras, o mundo acadêmico e o profissional propiciam meios e necessidades de adentrar ao mundo do capital, às tecnologias do Primeiro Mundo. Rafael, ligado à área da tecnologia (informática), relaciona os termos em inglês à importação dos produtos e tecnologias, o que é plenamente justificável na linguagem da informática em que os hardwares e softwares são trazidos dos EUA para o Brasil. Os anglicismos presentes em sua atividade estão relacionados principalmente com o uso de bens de consumo ligados à informática. (...) na informática tudo é fabricado fora, tudo é importado, a fabricação que tem aqui é muito pequena, acaba importando tudo e a maioria das pessoas acabam importando também o nome usado nos equipamentos que acabam estando ligados com a tecnologia importada. Não que o nome seja importado também, mas tá intimamente ligado com o produto que está à venda na empresa (Rafael – técnico em informática). Ao saber que ele estava estudando inglês, perguntei-lhe acerca do motivo do estudo. Ele disse que em tempos de mundo globalizado saber inglês é importante para o seu futuro, pois é a língua que serve como instrumento profissional na área empresarial ou da informática e em estudos universitários, como também a que lhe possibilitará a comunicação e contato com outras culturas. Entrevistadora: O que levou você a procurar fazer um curso livre ? Rafael: Eu procurei estar fazendo o curso livre devido o interesse na língua, porque a gente deve estar sempre pensando no futuro e o futuro hoje em dia, o inglês se não me engano é o mais falado no mundo. Então, em nível empresarial, para se estar crescendo no nível empresarial, você tem que falar. Se você quer fazer um mestrado ou doutorado, você tem que saber pelo menos dois idiomas. Não ficar apenas no idioma, no caso, como eu posso falar... Você tem que procurar conhecer novas culturas. Entrevistadora: Isso você considera bom para sua vida e para a sua profissão? Rafael: Sem sombra de dúvidas! É uma coisa excelente, construtiva tanto pra minha profissão quanto para o meu eu, é uma nova cultura, é um novo modo de ver as coisas no mundo. Hoje todos estão falando em globalização. Todo mundo falando nessa interligação de países e sem sombra de dúvidas, é necessário estar se comunicando com essas pessoas e nem sempre essas pessoas vão estar falando no idioma da gente. Kátia também associa os anglicismos aos objetos e tecnologias produzidos e importados da cultura dos Estados Unidos. Como proprietária de locadora de vídeos, destaca Hollywood na condição de responsável pela exportação de palavras da língua inglesa importadas juntamente com os filmes distribuídos para o Brasil. Na sua profissão, precisa estar informada sobre os filmes e o inglês para atender bem os clientes. Então o cliente fala: “Ah, eu vi um filme assim, assado, mas eu não sei o nome” porque o nome estava, geralmente em inglês. Então pelo que ele fala, você tem que estar por dentro ou estar lendo o que vai sair nos Estados Unidos ou em Hollywood, vamos dizer assim... Pra tá trazendo para o seu cliente (Kátia – empresária e comerciante). Aí entra um pouco de tecnologia que eu falei, porque um DVD, por exemplo, é pura tecnologia. Um CD é pura tecnologia. Coisa que o Brasil está fazendo, mas por tecnologias desenvolvidas por eles. (Kátia – empresária e comerciante) Quando lhe perguntei o que achava da presença do inglês no cenário urbano brasileiro, ela defendeu a presença de expressões da língua inglesa, pois acredita ser ela um meio de conhecer outra língua e outra cultura e de ser o instrumento de comunicação nas transações comerciais. Querer conhecer o inglês é oportunizar e ampliar as perspectivas de intercâmbio comunicativo e comercial com outros países, ou seja, é ampliar o “mundinho” do brasileiro e sair do provincianismo. Eu acho benéfico, porque eu acho que deveria saber umas quatro ou cinco línguas. Eu penso assim. Como eu sou burra, mal sei o português e um pouquinho de inglês, eu gostaria de saber muito mais. Mas eu acho interessante às pessoas saberem outras línguas, outras culturas, é uma coisa assim só para o conhecimento da pessoa. Imagina você fazer uma viagem de negócios, uma transação...Você vai ficar naquele mundinho? Eu prefiro ir pra Miami fazer compra, eu procuro alguma coisa nesse sentido pra mim, mas têm pessoas que não pensam realmente. Você vê que a cultura nossa é muito pequena, falha, não só no ensino de inglês, mas também no geralzão (Kátia – empresária e comerciante). Diná também entende que o conhecimento da língua inglesa pode resultar em benefício profissional na sua área, gerente de intercâmbios culturais e profissionais, além de ampliar o conhecimento cultural pessoal. Revelou o desejo de querer fazer um curso de inglês para poder melhorar o seu desempenho comunicativo para atender os clientes sem a necessidade de um intérprete. Eu quero fazer inglês bem rápido agora. Eu já assisto filme e não coloco para o português. Assisto em inglês pra ver se eu entendo o que eu estou vendo, mesmo que eu não saiba falar, mas eu quero ver se eu entendo o que a história está me mostrando, mesmo que eu não entenda as terminologias, mas eu vou tentar fazer porque eu sei que isso me traz cultura, me faz pensar, raciocinar também. (Diná – gerente de intercâmbios) O meu interesse em aprender a língua inglesa é porque se eu continuar no que estou fazendo, cada dia mais eu vou ter que contatar com pessoas de outros países. Talvez amanhã ou daqui a alguns dias alguém possa ligar pra mim desses países que um cliente meu deixou o meu endereço e eu não vou poder entendê-los. Essa é a minha preocupação: eu quero poder me comunicar com eles, pelo menos entendê-los. Ou quando, por exemplo, eu vou receber um grupo de americanos e vou levar para conhecer o Mato Grosso, eu vou ter que pegar um intérprete. Pra mim intérprete não é o que eu gosto. Eu gosto de conversar contigo e conversar igual a você. Se eu tenho que ter um intérprete pra você me entender, isso já quebra o diálogo, na minha opinião. (Diná – gerente de intercâmbios) Para o bancário José Luís, o inglês penetra na língua portuguesa em decorrência do comodismo e passividade dos brasileiros, conveniência econômica e pelo desejo e necessidade de ter acesso à tecnologia criada e exportada pelos Estados Unidos, presente em vários objetos que usamos. No meu caso, como bancário, eu vejo essa entrada de palavras... são os americanos com sua tecnologia, entrando e vendendo para nós e nós simplesmente comprando e aceitando, porque nós ainda não detemos essa tecnologia. Nós já temos tudo isso nos micro-computadores, na nossa televisão, no vídeo cassete, nos DVDs e por aí afora (José Luís - bancário). Somada à influência lingüística, ao falar da sua profissão como veterinária, Talita deixa claro que, juntamente com a importação dos produtos vendidos e usados no tratamento de animais e a tecnologia empregada em produtos veterinários dos Estados Unidos, ocorre a importação de uma tendência cultural de valorizar a medicina veterinária (e lucrar com a atividade!). A veterinária é uma ciência que está crescendo agora, está sendo valorizada agora. Nos países mais desenvolvidos, a veterinária é mais respeitada, mais usada. Então todos os produtos, os melhores produtos ainda estão vindo de fora do Brasil. Primeiro vem a tecnologia de fora, por exemplo, rações, produtos, muitos são daqui, até tem a fábrica aqui, mas as tecnologias não são daqui, as pesquisas são feitas todas fora, então já vem com o nome em inglês (Talita – médica veterinária). No entanto, como diz o ditado popular “nem tudo que reluz é ouro”. Ao desejo de identificação com os Estados Unidos, associado a bens desejados (riqueza, desenvolvimento, modernidade, cultura), se junta uma terceira subcrença a busca de identificação com os Estados Unidos numa demonstração de atitude subserviente acarreta perda de identidade nacional. É disso que tratamos na Subcrença 3 abaixo. Subcrença 3: A língua inglesa ameaça à língua e cultura brasileiras Se o uso de anglicismos no cotidiano de brasileiros funciona como propaganda imprimindo status, beleza e qualidade (Subcrença 1) ao objeto, à atividade profissional, ao estabelecimento comercial, ou possibilita acesso a bens econômicos e culturais (Subcrença 2), há também uma percepção, por parte de alguns participantes, de que o uso de expressões da língua inglesa consiste em ameaça, desvalorização, agressão à língua portuguesa e à cultura brasileira como uma forma de colonização lingüístico-cultural do Brasil, de submissão à cultura americana. Por exemplo, Diná, a gerente de intercâmbios, acredita que o uso de palavras estrangeiras é resultado da insegurança de brasileiros ao buscarem identificação com países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos. Para ela, ao usar a língua inglesa, os brasileiros elevam a língua e a cultura do Outro e inferiorizam o Brasil. Entrevistadora: O que você pensa da presença de tantas palavras escritas em língua inglesa no nosso contexto, em qualquer lugar do Brasil que você vai você encontra... O que você pensa sobre isso? Diná: Eu penso que em parte os brasileiros fazem isso porque eles têm um pouco de insegurança. Eu tenho impressão porque esses são países desenvolvidos e nós ainda não. Então as pessoas pensam assim: “Vou dar um nome que seja em inglês, ou em francês ou qualquer outro idioma” e que isso vai dar uma outra ênfase para aquilo que eles estão fazendo, que é uma maneira ainda de ver os países desenvolvidos lá no pedestal e olhar nós brasileiros como se estivéssemos mendigando de outros países. (Diná – gerente de loja de intercâmbio) Diná, a gerente de intercâmbios, aquela que quer fazer o seu curso de inglês porque entende que isso é importante para a sua profissão, por outro lado, critica o uso de expressões estrangeiras em estabelecimentos comerciais por achar que as pessoas estão desvalorizando a cultura brasileira. Ela se autodenomina patriota por dar preferência a nomes nacionais. A sua escolha pessoal seria usar termos da língua portuguesa, pois para ela, se não há trocas mútuas na relação de igualdade entre as línguas portuguesa e inglesa, o brasileiro se apouca mediante o uso de anglicismos e desvaloriza a sua identidade ao substituir palavras de sua língua por termos de outras. Entrevistadora: E o que você acha de nomes escritos em inglês, por exemplo, no comércio? Diná: Sinceridade? Eu acho que é não valorizar o que é nosso. Mas isso é opinião minha, porque eu jamais ia propor que se você vai começar um comércio, você vai por um nome em inglês, em francês ou sei lá. Eu não iria te criticar. Eu, pessoalmente, daria sempre nome que tenha a ver com o país onde eu moro, o país que me acolhe... aquela história minha como patriota. Entrevistadora: Você falou que seria não valorizar o que é seu. Você poderia esclarecer melhor? Diná: Sim. Por exemplo, eu vou dar um nome em inglês a minha empresa que eu trabalho, se a minha empresa tivesse um nome em inglês as pessoas perguntariam “por que um brasileiro com um nome em inglês?” Eu iria parar pra pensar realmente, por que os estrangeiros não escolhem nomes nossos, eles colocam o deles. Então, nós precisamos valorizar o que é nosso, que é brasileiro. Não que eu seja bairrista, não, tanto que eu amo esse intercâmbio, esse trazer pessoas, esse levar alunos, esse trazer alunos. Eu quero um trabalho bonito de trazer gente de fora para vir conhecer a minha cultura. Induzi-los a levar que eles vão ter que dar nomes para os trabalhos deles em português não. Diná entende língua e cultura como tudo o que diz respeito à existência social de um povo, nação ou grupo no interior de uma sociedade (Santos: 2002), como patrimônio do Brasil. Ao mesmo tempo em que vê significância no trabalho de intercâmbio ao favorecer o conhecimento entre países e sua cultura, salienta os perigos advindos desse contato, no sentido da adoção de termos em língua inglesa. Para ela, cada país deve valorizar a sua própria língua e cultura sem induzi-las ou impô-las ao outro. Quando lhe perguntei se vocábulos em inglês deveriam ser proibidos no Brasil para nomear estabelecimentos comerciais ou produtos, ela, referindo-se especificamente aos Estados Unidos, disse não se importar se um determinado objeto tiver qualidade, mas prefere atribuir um nome em língua portuguesa a um suposto estabelecimento comercial de sua propriedade por ser uma maneira de valorizar o Brasil. Para ela, o ato de repelir a língua do outro implicaria em afrontar o país falante daquela língua e seria um agravo que poderia gerar desentendimentos entre países, ou seja, entre Brasil e Estados Unidos. Bom, por exemplo, esses nomes não me incomodam. Cada um cada um. Desde os meus aparelhos que tem nomes importados, se eles são bons pra mim eu não vou brigar para que eles sejam trazidos ou traduzidos para a minha língua. Por que que eu vou brigar? Eu não quero briga com os Estados Unidos. Eu não quero briga com país nenhum, eu quero viver em paz. Mas se eu tiver que dar um nome, eu tiver que escolher então eu... não vou mudar o nome, eu não, eu tenho que mudar a mim, se cada um muda a si, o mundo melhora. (Diná – gerente de loja de intercâmbio). Rafael, o técnico em informática, aquele que percebe a importância do inglês para a sua profissão e vida pessoal, igualmente, considera o uso de expressões da língua inglesa no cenário cotidiano como aceitação do modelo de vida norteamericana salientando, que ao usar anglicismos, o brasileiro tenta camuflar a realidade e a identidade brasileira de país ainda em desenvolvimento para mostrar traços de país desenvolvido. Para ele, parece haver um processo de transmutação cultural na atitude e conduta de brasileiros ao tentarem ser aquilo que não são para esconderem sua condição de país pobre, não desenvolvido. Eu acredito que temos hoje, os primeiros países do mundo, no caso dos Estados Unidos fala em inglês. Eu acredito que seja uma forma de tentar se tornar um pouco, um país de primeiro mundo, se assemelhar, igualar-se, tentar maquiar como se fosse um país de primeiro mundo, na verdade não somos (Rafael – técnico em informática). Por sua vez, a publicitária Vera Lúcia entende os empréstimos do inglês como resultado de uma penetração programada e ideológica dos Estados Unidos baseado em um “modelo a ser seguido”, lapidado na idéia de competência e perfeição que influencia as pessoas a buscarem identificação através da “cópia do modelo” divulgado. Aponta que os brasileiros “mesmo sendo melhores” se submetem ao poderio estadunidense como autênticos colonizados. Para ela, usar a língua portuguesa é assumir a identidade brasileira, é explicitar amor pelo Brasil, valorizar o que é nacional. Se o Brasil é valorizado no exterior, por que os brasileiros não podem fazer o mesmo? Mais praticamente como sendo... como os colonizados. Praticamente em todos os níveis. Os Estados Unidos, ele sempre teve com a cordinha dizendo para onde a gente ia e deixava de ir. E esse trabalho... ele fez um trabalho na consciência das pessoas, de que lá é um país muito feliz, que a família americana é perfeita e blá, blá, blá. A gente sempre, os idiotas, querendo copiar esse modelo, que não é bem assim, para nós não combina. Eu acho que nós temos que mostrar o Brasil mesmo, o Brasil está na moda. Temos que mostrar pros brasileiros que lá já gostam da gente, então agora o pessoal daqui tem que gostar (Vera Lúcia – formada em publicidade). Vera Lúcia, conforme o excerto abaixo, afirma ter estabelecido ao longo de sua vida, mais precisamente a partir de sua adolescência, uma grande resistência a tudo o que tem relação com os Estados Unidos, inclusive quanto à aprendizagem da língua e a presença de anglicismos na sua área de formação e no seu contexto social. Para ela, tudo o que vem de lá é impregnado de uma ideologia americana que objetiva conseguir riqueza e poder com a colonização de outros países e de que o Brasil é inferior. Ela afirma que, mesmo tendo consciência de que a língua inglesa não seja somente dos Estados Unidos, não consegue se desvencilhar dessa idéia, criada desde a sua adolescência e a partir da leitura de livros que tratavam da penetração estadunidense na América Latina. Para ela, os EUA prejudicam o mundo todo por terem como meta apenas conseguir vantagens econômicas e políticas na relação com outros países. Entrevistadora: Não sei se estou certa, mas estou sentindo na sua fala uma certa resistência à língua inglesa. Você poderia justificar o porquê ? Vera Lúcia: Olha, desde a minha adolescência eu tenho uma resistência não é nem pela língua inglesa, é pelo método, a ideologia americana. Nunca aceitei muito a ideologia americana desde a minha época então, da década dos anos 60 que todo mundo usava aquela calça Lee, escrito com “e”, não sei o que, aquele negócio todo. Eu nunca aceitei isso. Eu não sei o que é, sabe. Eu comecei a ler sobre o que eles faziam com a América Latina e que eles fazem ainda. Entrevistadora: Mas na sua concepção, o que eles fazem ? Vera Lúcia: Eu acho que eles fazem mal ao mundo todo. Eles levaram o Brasil... Li em vários livros que levam as coisas pra trás. Eles são totalmente materialistas, sabe. Tá na deles, eles querem enriquecer, querem ter poder, mas eu sou mais humanista, eu sou mais pro lado europeu, uma tendência mais humanista do que eles. Não é certo, de repente, eu generalizar, dizer que não gosto de ninguém, mas eu tenho essa antipatia já de muito tempo e aquilo é um trabalho que foi feito em mim mesmo de associar o inglês à ideologia americana. Entrevistadora: No caso a sua repulsa, pode-se dizer, é por causa dos Estados Unidos, não seria, no caso, por causa da Inglaterra ou de outros países ... Vera Lúcia: É por causa dos Estados Unidos, a mentalidade deles... que apesar de tudo combina com o inglês, que combina com alguns descendentes dessa linhagem de inglês. Mas o meu problema é isso mesmo: me irrita a língua porque eu lembro deles, é engraçado, é um processo engraçado que até eu não sei explicar, mas é isso que acontece. Na visão de Marilene, a proprietária de loja de confecções, o uso de nomes em inglês para lojas, comércios e produtos serve como meio de priorizar e abrir espaço em benefício dos “americanos” consistindo em desvantagem para as empresas nacionais. O brasileiro estaria perdendo lucros e espaço dentro do seu país para os estrangeiros. Esses aspectos convergem para o entendimento de que ela atesta uma desvalorização da nossa língua e dos produtos nacionais em detrimento do americano ao usar anglicismos. Entrevistadora: E você acha viável a americanização, colocar nomes, por exemplo, em língua inglesa ? Você acha viável para nós? O que você acha de escrever nomes em língua inglesa já que você está falando em americanizar? Marilene: Eu não acredito que tenha vantagem nisso, por quê? Porque nós estamos deixando de existir enquanto empresas, como nome, para dar mais atitude para os americanos, ao invés de investir num nome brasileiro, dar mais ênfase para os nossos artigos aqui. (Marilene – proprietária de loja de confecções) Ao lhe perguntar se colocaria daria um nome em inglês para um estabelecimento comercial, afirmou sua crença de que isso estaria “tirando o nosso mérito”: Entrevistadora: Você colocaria o nome da sua loja em inglês ? Marilene: Não. Entrevistadora: Por quê ? Marilene: Não por preconceito. Porque eu acho que no Brasil eu estaria assim... tirando o mérito nosso aqui, eu não faria não. Eu acho que o mérito é nosso aqui e vai ficar aqui. O bancário José Luís vê o uso de expressões da língua inglesa também como ato de desvalorização do Brasil e agressão à língua portuguesa. Quando lhe perguntei se usaria camisetas com expressões em inglês, ele justificou que já o fez, mas sabendo o significado. Entrevistadora: Você usaria uma camiseta escrita em inglês ? José Luís: Já usei, mas sempre sabendo o que estava escrito ali. Portanto, continuo falando que a gente valoriza a língua inglesa ao invés do português, sendo que moramos no Brasil e falamos português, mas o povo pensa que é bonito, é diferente. (...) Nós deixamos de falar o que é nosso para falar o que é deles, isso já é uma forma de desvalorização, não estamos valorizando o nosso. No entanto, para ele, apesar das palavras em língua inglesa consistirem numa “agressão” à língua portuguesa no cenário urbano, diz não ser contra a sua presença desde que as pessoas entendam o que elas significam. Acho que essas palavras agridem a língua portuguesa, mas também não sou contra a presença delas, desde que exista uma familiarização com esta língua e que passe a ser um processo normal e de aceitação (José Luís – bancário). O agente de segurança Dario César acredita que a presença de anglicismos é um meio de imposição e de poder que exercem os Estados Unidos sobre aqueles que usam, mas desconhecem o seu significado. No entanto, o conhecimento da língua é importante como ferramenta comunicativa. Para ele os anglicismos são impostos, pois, mesmo desconhecendo o significado, as situações geradas pela modernidade impõem o seu uso. (...) a partir do momento que você fala uma coisa, mas não sabe o significado, a gente tá fazendo papel de bobo na mão, digamos assim, dos americanos. Mas eu vejo que também é uma coisa muito difícil de ser evitada. Para isso deveria haver, podemos dizer, consciência maior de até que ponto isso é ruim, porque uma coisa é você conhecer a língua por uma questão de necessidade e até mesmo por causa do conhecimento, mas outra é você ter essa língua, esses termos impostos como é hoje. Hoje você precisa falar, usar, por exemplo aquela pecinha do computador que você manuseia (...) você é obrigado a adotar como mouse. Então à medida que é imposto ... Eu vejo tudo o que é imposto é porque não é bom, porque se fosse bom não precisaria ser imposto (Dario César – agente de segurança estadual) As falas dos participantes nesta seção e algumas na Subcrença 1 (caso de Mara e Alísson) deixam entrever que, na relação de identificação com a cultura norte-americana, marcada por aspectos intrínsecos e extrínsecos de que “o de fora é bonito e melhor”, e por aspectos de ganhos sociais e financeiros (Subcrença 2), a presença de anglicismos na sociedade brasileira constitui-se também em ameaça à língua e cultura brasileira, aguçando o aspecto ufanista na medição de forças entre a língua/cultura brasileira e a língua/cultura americana. Nesse caso, a língua portuguesa também é bonita, os produtos nacionais e a cultura brasileira também são de boa qualidade. Crença 2: Língua inglesa: insígnia de influência da mídia A presença, uso e valorização de empréstimos do inglês, sob o ponto de vista de alguns participantes, revelam um outro sentido associado ao intenso uso de expressões em inglês: a influência da mídia como promotora e disseminadora de idéias e estilo de linguagem que propaga e reforça o uso de expressões em língua inglesa ao usá-las em propagandas em outdoors, revistas, jornais, etc. com o objetivo de chamar a atenção do consumidor, como estratégia de marketing para melhor vender o produto de consumo que está sendo divulgado. A atendente de biblioteca Luíza, por exemplo, assinala: (...) Dá pra colocar uma palavra em português, não precisa buscar uma palavra na outra língua. Isso é questão, principalmente na mídia, chamar muito o leitor, o telespectador, tenta prender ele de alguma forma (Luíza – atendente de biblioteca). Marilene, no ramo das confecções, reforça a idéia de que a televisão influência o consumo no mercado de confecções, principalmente, divulgando o gosto americano de se vestir. Para ela os nomes em inglês são um grande chamariz para o consumidor ao despertar o desejo pelo importado. Tudo que a mídia insere na televisão aquilo vira modinha, atualizou-se. Então, o que acontece no mercado de roupa e calçado queira ou não é influenciado pela mídia, não importa a marca, mas os modelos para se atualizarem elas são influenciadas pela mídia querendo ou não. (....) Acabamos vivendo o que realmente influencia os autores hoje, artistas de televisão, por exemplo. Eles usam muito a moda americana, você sabe que hoje a maioria das pessoas da mídia eles estão mais com roupas da grife americana do que nossa (Marilene – proprietária de loja de confecções). Para impressionar o consumidor, só para impressionar o consumidor. Um nome diferente chama a atenção, ou às vezes até aquela pessoa grava aquele nome, tudo que estiver dentro daquele salão que ele vai trabalhar,o que qualquer outro falou. O que tem o nome brasileiro, português, ele vai trabalhar com os mesmos artigos porque a maioria dos cosméticos hoje tem uma boa parte que é importada. Então o fato dele trabalhar com a mercadoria importada ele não precisa trabalhar exatamente com um nome importado também, que é um nome de fantasia, que ele está colocando na loja nome de fantasia. Isso é só para impressionar mesmo o consumidor, não tem outra, eu não usaria outro termo, acho que é isso mesmo (Marilene – proprietária de loja de confecções). Clóvis, proprietário e instrutor de academia de ginástica e promoter, é enfático ao afirmar que as expressões em inglês é apenas uma estratégia de marketing para atrair a atenção do consumidor e para marcar a diferença no mercado competitivo. Usar inglês converge com as expectativas do mercado, embora a tradução dos termos para a língua materna não impede a qualidade do trabalho da empresa. Diálogo 1: Entrevistadora: Você acha que se você não usasse termos da língua inglesa dentro da sua profissão aqui na sua academia faria alguma diferença para os seus clientes, deixaria de ser procurada ou não? Clóvis: Eu acho que não, são termos que vem de fora, então se todas as academias usassem termos que não fossem nenhuma palavra em inglês, eu acho que a gente estaria adaptado da mesma forma. Às vezes você chega para um aluno e diz que agora nós filiados no “body system”, na hora ele quer saber o que é o “body system”. É diferente de você falar que é franqueado em umas aulas que já vêm coreografadas. Então é diferente você falar em inglês, é o termo em inglês que faz a diferença o soar do inglês como marketing dentro da empresa é bom. Entrevistadora: Você acha que impressiona mais? Clóvis: Impressiona mais! Entrevistadora: Você acha que dá um resultado maior para sua academia? Clóvis: Sim. Dá um resultado maior. Para Vera Lúcia, a publicitária, o papel da mídia muitas vezes “democratiza” o conhecimento ao usar expressões em inglês. Algumas expressões divulgadas como Fashion Week, por exemplo, podem ser compreendidas por muitas pessoas que acompanham esse evento independentemente de situação sócio-econômica. Seria um termo pertinente à comunicação universal e que transcende as fronteiras dos países falantes do inglês. Nesse momento, o termo em inglês insere a platéia ou o espectador num contexto globalizado, mundial funcionando como instrumento de comunicação. Todavia, ressalva que os anglicismos veiculados pela mídia são marketing burro quando esses não são compreendidos pela maioria das pessoas. Isso aí a maioria convive e é uma coisa mundial. Nesse ponto a língua inglesa está sendo usada para se entender no mundo todo. É uma atitude diferente. Não inclui só aqui ou só os Estados Unidos. Só que ele é mundial. “Fashion Week” de São Paulo tudo tem. Então vem muita gente de fora, os costureiros são estrangeiros, também tem brasileiros, mas têm estrangeiros. Então é uma questão de todo mundo se entender e saber o que ta acontecendo. Aí é interessante.A hora que você vê “fashion”, você já vê moda, manequins, modelos. Então você já faz uma a ligação de “fashion”. Aí já é um facilitador, por quê ? Porque todos os meios de comunicação estão ali mostrando o que é fashion. Entrevista fulano, a costureira, o estilista (...) Agora, esses termos que você não conhece quase e que é inserido num jornal, revista ou num “outdoor” ... Agora, esses termos que você não conhece quase e que é inserido num jornal, revista ou num “outdoor”...É, aí é um “marketing” burro que fala. Essas coisas eu não gosto. Mas aí é uma questão que a moda é universal e que o “fashion” é justamente uma mensagem dos outros países, na moda e do Brasil. Então tem que ser uma língua que todo mundo entenda (Vera Lúcia – formada em publicidade) Da mesma forma, o bancário José Luís e a empresária e comerciante Kátia reconhecem que as expressões em inglês nas suas atividades de trabalho ou no cenário urbano são estratégias de marketing para promover o estabelecimento comercial, a atividade ou o objeto a ser vendido e atrair o cliente-alvo que aprecia o diferente, o estrangeiro como reflexo da influência da mídia. O inglês está presente com palavras soltas ou em algumas frases por aí, portanto eu vejo que nomes de lojas, mais as fantasias que são as mais utilizadas é “marketing”, ou seja, as pessoas acham bonito estar ali com nome em inglês, acreditam que também isso valoriza mais o seu comércio no mercado, por isso eu vejo que utilizam no sentido de que nós brasileiros mesmo, estamos gostando de que o inglês está entrando, então, isso pode valorizar, o comércio pode chamar mais a atenção (José Luís – bancário). Eu acho que “marketing”, você pode ver que a maioria desses nomes em inglês, vamos dizer assim, é “marketing” e a gente estuda muito em relação a isso. Na realidade o desenvolver de todo comércio vem de lá, vamos dizer assim, eles fazem estudos em cima de produtos de como vai sair, qual a aceitação, então isso tudo é “marketing”, e muitas, vamos dizer assim, algumas palavras chaves passam a ser usadas em inglês, ou em francês, em que língua que for, mas que têm o peso, que têm uma importância. (Kátia – comerciante e proprietária de loja de produtos importados e locadora de vídeos) É inegável a influência da mídia na vida das pessoas. Hoje, dificilmente podemos encontrar um lar que não tenha aparelho de TV e rádio. Os comerciais lançados na mídia afetam a sociedade de consumo – crianças, adolescentes, adultos e idosos. Materiais para todos os gostos e crenças chegam ditando regras e estabelecendo diferentes linguagens e signos que são assimilados pela nossa cultura. A mídia divulga, influencia e impõe tendências mercantis com base no que o consumidor almeja, quer dizer, ao mesmo tempo em que a mídia pesquisa/sente as necessidades e desejos do consumidor, ela lhe impõe, sutil ou agressivamente, os produtos desejados, agindo no pensamento e ditando a linguagem ao consumidor. Essa troca mútua entre mídia x anseios das pessoas está conectada com as tendências do marketing, entendido aqui como o estudo das atividades comerciais que, com base no conhecimento das necessidades e da psicologia do consumidor, procura dirigir a produção adaptando-a ao mercado. Os participantes desta pesquisa compreendem o poder da mídia na divulgação de uso de anglicismos, de grande penetração no cotidiano urbano brasileiro, e apontam o uso de anglicismos como excelente estratégia de marketing, reproduzindo o modelo difundido pela mídia, para favorecer a venda de produtos e/ou serviços por imprimir-lhes uma marca diferencial. b) DAS AÇÕES: Como agem os homens comuns mediante os anglicismos Os anglicismos presentes na vida do homem comum para alguns participantes se caracterizam por uma espécie de não-visibilidade referente ao sentido (significado) do signo que é apenas notado como significante ou materialidade física sonora ou escrita. Quer dizer, o sentido atribuído ao anglicismo pode não ocorrer em conseqüência da relação significado e significante, mas por força da aprendizagem na prática. Assim, a maioria das pessoas diante de empréstimos do inglês cujo sentido não compreendem se valem dos recursos contextuais disponíveis ao seu redor como, por exemplo, a própria embalagem de um produto para determinar o seu conteúdo. No caso de produtos alimentícios, limpeza, cosméticos entre outros a leitura é feita pelo formato, indicações e imagens do rótulo, na ausência de tradução. No manuseio de aparelhos eletrônicos, computador, TV ou som, o comando de determinadas operações é realizado por meio de atividades repetitivas de erro e acerto para descobrir como operacionalizá-los. Aliás, na cultura brasileira, é muito comum até mesmo na leitura de manuais em português aprenderem a operação executando-a ou pedindo a alguém que explique como fazê-la. Além disso, muitos que têm o hábito de recorrer a manuais buscam a função das palavras escritas em inglês em figuras representativas sem necessariamente recorrer a sua tradução. Dessa forma, o anglicismo se neutraliza como palavra de outra língua e dá lugar a um comando operacional. Para a vendedora da loja de produtos importados Mara, por exemplo, a palavra play (presente em aparelhos de TV, rádios, celulares e brinquedos) apenas representa o meio pelo qual a função de ligar o aparelho se realiza sem que ela precise compreender o que a palavra significa. Entrevistadora: Por exemplo, o “play”, o que significa “play” em inglês tem ou não importância? Mara: Não, não tem importância, porque todo mundo sabe que é videogame, é um jogo de videogame então já não procura muito porque a maioria do pessoal já sabe. Entrevistadora: (Mostrando a função play do gravador usado na entrevista): E nesse caso? Mara: “Play” todo mundo sabe que tem... é ali que a gente vai ligar o aparelho e tudo. Entrevistadora: Sem se incomodar com o que significa? Mara: Sem se incomodar, aí tem muitas coisas que às vezes, tem coisas lá que é do Paraguai, aí quando chega alguma coisa que vem do Japão que vem com os nomes esquisitos aí tem hora que a gente tenta identificar. No excerto acima, ela relaciona o vocábulo play com dois contextos sem considerar o seu significado na língua de origem. No primeiro momento, ela associou play ao uso de videogame em que a palavra play pode significar o comando “jogar” ou “iniciar o jogo”. No segundo contexto, play está ligado à função de acionar. Ligar o aparelho torna-se um ato automático para a maioria das pessoas que possui objetos com comandos em inglês. Em ambas as situações, Mara assegura que não é necessário saber o significado da palavra, mas saber executar a ação. Segundo o bancário José Luís, tanto para ele quanto para seus colegas de trabalho no banco, palavras em inglês, mesmo não sendo compreendidas não os impedem de operacionalizar os processos indicados por elas. Diálogo 1: Entrevistadora: Você acha que a presença de termos na língua inglesa beneficia ou atrapalha a sua profissão ou a sua vida? José Luís:: No meu dia-a-dia ela não atrapalha, estou falando particularmente no meu dia-a-dia. A questão é que às vezes esses nomes em inglês que vem para nós, nós não trabalhamos a palavra em si e sim a operacionalização.. Então o nome fica como nome técnico puramente da operação em que nós vamos trabalhar. Não só eu, mas percebo isso em toda a agência. Diálogo 2: Entrevistadora: Você nunca teve curiosidade ou habitualmente você não procura traduzir de forma mais literal? José Luís: Olha, eu percebo em mim e até nos colegas que não se busca a tradução ao pé da letra, mas fazer com que a operacionalização aconteça, a meta seja atingida e o objetivo da operação também seja atingido em prol de uma coisa maior que se chama a permanência do banco. Os diálogos a seguir, enumerados de 1 a 3, também revelam que Genilda, a empregada doméstica, se vale de outras estratégias que não entender o significado da palavra em inglês para comprar os produtos que recebem nomes em inglês, tais como ler o rótulo (escrito em língua portuguesa) na embalagem ou a própria embalagem pode também revelar o conteúdo. Às vezes, chega a abrir a embalagem para ver o que contém como no caso dos lenços umedecidos Baby Wipes por não saber qual seria o seu conteúdo se baseando apenas no nome. Diálogo 1: Entrevistadora: Você não se preocupa com o nome, com o que significa? Você liga mais para o produto? Genilda: É, eu procuro mais o produto mesmo, vejo para serve no rótulo, não vou muito pelo nome não. Diálogo 2: Entrevistadora (Mostrando a imagem do creme para cabelos Hair Life): Se você batesse os olhos aqui, por exemplo, como você leria essa palavra? Genilda: Não consigo ler não. Entrevistadora: Se eu lesse para você Hair Life, faria algum sentindo ou não? Genilda: Eu conheço o produto pelo vidro. Diálogo 3: Entrevistadora: Aqui, por exemplo, só está a marca e como você conseguiu identificar que é lenço umedecido, “Baby Wipes”? Genilda: É porque eu já usei, então eu conheço. Quando eu comprei pela primeira vez eu abri para ver. Entrevistadora: Você percebe então pela embalagem? Genilda: Pela embalagem. Se for pelo nome fica meio difícil. Dario César, agente de segurança estadual, acredita que expressões em inglês, embora vistas ou usadas pelas pessoas, são percebidas, mesmo grafadas em inglês, como parte integrante da língua portuguesa. O uso dos anglicismos é apreendido pela convivência com outras pessoas de forma automatizada sem estar vinculada ao significado original ou à noção de que determinada palavra está escrita em inglês. Ele atribui essa “indiferença” ou “passividade” aos anglicismos àquilo que chama de “falta de cultura” dos brasileiros e à “imposição sutil de forças econômicas”. Olha, pelo que eu observo a maioria, a grande maioria acaba sendo indiferente. Igual eu estava dizendo há pouco, a maioria usa termos que não sabem o significado. Fala coisa que não tem a menor idéia do que significa, mas fala porque ouviu alguém dizer, viu escrito em algum lugar, e a grande maioria acaba sendo indiferente até porque a grande maioria não tem um conhecimento mais aprofundado sobre nenhum tipo de cultura, nem sobre a nossa própria cultura, então isso faz com que as pessoas sejam indiferentes. Muitas vezes tem termos em inglês e as pessoas pensam que é em português, e as vezes não sabe que é inglês. Então eu penso que acaba sendo indiferente, mas isso é também uma coisa que é normal, a gente tem que observar que é normal, esse tipo de imposição é uma imposição muito sutil, a imposição econômica não é aquela imposição pura que chega e fala que você é obrigado a fazer uma coisa, ela é colocada devagarzinho, mesma coisa aquele tempo “fashion” que eu estava falando agora pouco, acaba muitas vezes até mais gostoso você falar e acaba que a pessoa sendo embriagada com essa coisa do chique, do bonito, do mais importante, do mais grandioso, e acaba as vezes assimilando isso de forma talvez não possa ser voluntária, que muitas vezes as pessoas não sabe, mas de uma forma totalmente passiva sem nenhum tipo de questionamento e sem nenhum tipo de rejeição também (Dario César – agente de segurança estadual). Diná, a gerente de intercâmbios, que por muitos anos vendeu cosmético e ainda conserva alguns clientes, fazendo esse trabalho esporadicamente, apresentou-me o catálogo dos produtos de venda com vários nomes em inglês e observou que não é preciso saber inglês ou o significado das palavras para desenvolver suas atividades profissionais com desenvoltura. Não somente ela, mas também os consumidores, pois o interesse tanto dela quanto dos clientes é o efeito que o cosmético causa na pele, a fragrância e atuação do produto. Entrevistadora: Quando você vendia esses produtos, como que convivia com esses nomes? Diná: Nós trabalhávamos com amostra. Então você tinha o nome, mas trabalha com o produto em si. Então você não precisava se especializar no nome, você se especializava no que o produto faz, o que ele contém, o que vai fazer na tua pele, qual a fragrância, e sempre tocando, fazendo com que o produto seja sentido pela pessoa, não pelo nome, mas pela fragrância, e pelo o que vai fazer na pele. Então essa era a nossa maneira de trabalhar. Entrevistadora: Então em termos de significado você nunca se incomodou? Diná: Não. As pessoas nunca me perguntaram o que aquilo significava e sim o que aquilo fazia. Entrevistadora: O mais importante era a função? Diná: A função. Ninguém nunca perguntou por que deram esse nome, o que ele significava. A publicitária Vera Lúcia acredita que os anglicismos usados na publicidade não são compreendidos pela maioria das pessoas, mas apenas por aquelas de poder aquisitivo melhor e que tenham algum conhecimento da língua inglesa. Portanto, seriam impróprios se o objetivo for atingir consumidores de forma mais abrangente. Entrevistadora: Quanto à presença de termos na propaganda, qual o nível de influência que você acha que tem em relação àquelas pessoas que os visualizam? Vera Lúcia: Inglês, quem sabe o inglês vai entender, quem não, eu acho até meio burro você colocar um termo em inglês dentro de uma publicidade. Que o consumidor você quer quem? Quer todo mundo que tem poder aquisitivo? Nem todo mundo vai entender aquilo, vai sacar o que é. Então não sei se funciona muito. Entrevistadora: Com as pessoas que você convive, você acha que as pessoas compram produtos escritos em inglês por quê? Você acha que elas se preocupam em saber o que tem ou o que significa a marca? Termos como “diet”, “light” escritos em inglês, por exemplo, para um consumidor, qual o significado? Vera Lúcia: É, depende do estudo do consumidor, da classe social, a maioria, a massa... A intenção da propaganda é vender muito, a empresa não quer vender só pra um segmento. O ideal é quanto mais vender mais lucro tanto para a comunicação quanto para a empresa. Então, não atinge todos os gostos. Agora, existe aquele produto que é direcionado pra segmento tal. Aí sim, pode ser utilizado, por exemplo um “outdoor” em inglês. Você colocar em inglês não funciona pra todo mundo, pra minoria, apesar de que o inglês tem muita gente, agora os cursos que estão tendo nos colégios em inglês ... Marilene, a proprietária e administradora de loja de confecções e que esporadicamente vende roupas, considera que o fato de desconhecer o significado de palavras ou textos da língua inglesa não interfere na escolha ou rejeição de uma peça do vestuário, pois as pessoas a escolhem pela beleza ou por desejarem o que o outro tem. Entrevistadora: Mas a grande maioria entende ou não? Marilene: A grande maioria não entende o que está escrito. Entrevistadora: Não compra? Marilene: Às vezes compra, a grande maioria não entende, mas alguns compram, porque o outro está usando, porque ele acha bonito, porque o filho da fulana está usando. Então eu também quero. A cabeleireira Renata também declarou que os empréstimos do inglês presentes em atividades que desenvolve no seu dia-a-dia no salão de beleza, no banco onde tem uma conta e faz operações monetárias e nos supermercados onde compra produtos para seu consumo não lhe trazem problema por não saber o significado do nome de algum produto em inglês. Ela desempenha suas ações sem o menor problema. Por exemplo, no salão o que lhe interessa é saber o custo/benefício do cosmético e se o seu efeito é o desejado pelo cliente. Diálogo 1: Sobre as tintas destinadas a colorir os cabelos que a cabeleireira tem no seu salão: Entrevistadora: As mais caras geralmente são escritas em outra língua, ou não? Renata: Sim, em outra língua. Por exemplo, essa de dezoito é “Evolution”, eu não sei o que quer dizer “Evolution”, mas é caríssima. A “Italy”. Nos diálogos abaixo, quando lhe foi perguntado se conhecia o termo personal banking, associou o termo personal a outro contexto, com o significado de “treinador”, provavelmente fazendo analogia ao personal trainer da academia de ginástica. Também diz não prestar atenção nas expressões em inglês nos produtos de supermercados. Diálogo 2: Entrevistadora: “Personal banking”, por exemplo, termo de banco, já diz alguma coisa para você? Tem algum significado para sua vida, você entende o que é? Renata: “Personal” quer dizer treinador, agora o bank [bεĩki]... Entrevistadora (Mostrando uma revista escrita Personal Banking): Bank não seria banco? Renata: Não eu não prestei a atenção, é escrito assim? Entrevistadora: Você nunca prestou atenção? Renata: Nunca prestei a atenção. Entrevistadora: Você vai ao banco? Renata: Vou, eu tenho conta, tenho tudo. Entrevistadora: Mas você não liga? Renata: Não. Diálogo 3: Entrevistadora: No mercado que você vai quando bate os olhos nos produtos, você consegue ver algum escrito em outra língua? Renata: Não. Eu não prestei a atenção. A médica veterinária Talita comenta que o hábito em usar determinado produto prioriza a sua função, e os anglicismos passam a não ser percebidos como palavras de outra língua não sendo nem mesmo imprescindíveis que se conheça o significado para desenvolver suas atividades profissionais. Além disso, hoje há rótulos que descrevem o produto em português. Entrevistadora: Você atenta para termos na língua Inglesa, ou para você o que importa é se é uma boa ração, se a vacina é boa e não importa se está escrito em inglês ou não, ou faz alguma diferença? Talita: Para mim não, tem os termos em inglês, mas as explicações já vêm todas em português. Então para mim não tem diferença. É diferente para a gente, do que para o cliente, pois, desde a faculdade a gente já está presente na nossa vida, as rações e vacinas tal marca, com nomes em inglês é como se fosse em português para gente, talvez para o cliente tenha mais problema, mas para a gente não tem. Rafael, o técnico em informática, esclarece que as pessoas do seu convívio profissional (técnicos em informática) e social (especificamente jovens) não percebem ou não dão atenção para o significado de palavras, expressões ou textos e músicas escritos ou falados/cantados em língua inglesa. Na área da informática, as funções do hardware e a operacionalização de softwares é que são importantes e resultam em atos automatizados, após aprendizagem em ação por erro e acerto, por parte dos usuários dos computadores e programas. Entrevistadora: Esses outros técnicos tiveram a preocupação que teve de estudar a língua inglesa e se não fizeram isso, como eles lidam com os termos escritos em inglês? Rafael: Eu não conheço ninguém que tenha feito o curso, não sei se por falta de interesse ou por falta de condição mesmo, financeira, mas, porque um curso bom hoje é caro. Eles acabam trabalhando mecanicamente, aprendendo com o erro. Na relação social com outros jovens, Rafael comenta que músicas em inglês atraem pela melodia e ritmo da canção e que a maioria não atenta para o conteúdo ou a letra da música. Entrevistadora: Na maioria dos jovens do seu convívio eles gostam, e das pessoas, elas gostam de ouvir música em inglês, elas procuram, buscam saber e entender o que é, ou eles preferem músicas em português? Rafael: Acredito que grande parte goste da música em inglês, mas, na minha concepção eles não têm o interesse em saber o está querendo dizer a música, não tem interesse em saber o que a letra quer passar para você, se é uma música que tem um som legal, eles estão ali escutando o som. Kátia, na função de proprietária de loja de produtos importados, afirma que seus clientes, até mesmo crianças pequenas que não têm a menor noção de língua inglesa, identificam o brinquedo de sua preferência pela logomarca da empresa. Eles não sabem nem o que que é. Se ele vê, até pela logomarca da empresa, como é colocado no mercado, passa em televisão e tudo mais, eles já decoraram. Então eles olham e os olhinhos correm assim... `Eu quero mãe, eu quero aquele carrinho!’ Então eles já sabem aquela marcazinha lá: “Hot Wills” é o carrinho que eles querem (Kátia – comerciante e proprietária de loja de importados e de locadora de vídeo) Quando mostrei ao pugilista Alisson que estava usando uma camiseta com palavras em inglês (inclusive já desgastada possivelmente pelo tempo de uso), disse não saber o que elas significavam. Entrevistadora: Você, por exemplo, está usando uma camiseta escrita em língua inglesa, você tem preferência quando você vai comprar se é escrita em língua portuguesa ou inglesa? Você atenta para o significado? Alisson: Não, quando eu compro lá nem sei o que está escrito. Também esclareceu que, nas atividades rotineiras, ele prioriza a aplicabilidade prática das funções do aparelho de som ao invés de buscar o significado em inglês. Entrevistadora: No seu aparelho de som, por exemplo, está on, off, você já atentou que está tudo escrito em língua inglesa? Alisson:: Algumas palavras a gente sabe pelo fato de estar mexendo e o próprio aparelho ensina, mas não tentei pesquisar para saber o que é, não. Para os participantes deste estudo, a compreensão do significado de anglicismos por homens e mulheres na língua de origem ou mediante sua tradução não são os únicos recursos para entender expressões de outra língua. As pessoas têm ao seu redor outras estratégias com base em experiências concretas de que podem lançar mão para executar suas tarefas sociais e profissionais. Segunda Seção: DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS As crenças e subcrenças, inferidas a partir das entrevistas realizadas com os participantes, podem ser associadas a três vertentes ou princípios teóricos: a vertente do “apelo esnobe” e adesão ou rejeição à cultura norte-americana, a da crítica ao imperialismo norte-americano e a instrumental ou pragmática. O termo “apelo esnobe”31 é utilizado por Ortiz (2003: 193) como um dos traços a caracterizar a língua inglesa como língua mundial em que a modernidade- 31 Devo dizer que a discussão do princípio do “apelo esnobe” de Renato Ortiz (1994) e usado aqui por analogia para discutir os meus dados me foi apontado pela minha orientadora, Ana Antônia, em comunicação pessoal, bem como as metáforas da bricolage e bricoleur a serem usadas mais adiante associadas à vertente da função pragmática em forma de analogia. mundo substitui a língua inglesa como sendo britânica ou americana. Conforme Ortiz: A tradição e as artes não se configuram mais como padrões mundiais de legitimidade. (...) Por serem globais, independentes das histórias peculiares a cada lugar, pela sua amplitude, abarcam o planeta como um todo, e por expressarem um movimento sócio-econômico que atravessa as nações e os povos, os novos padrões de legitimidade superam os anteriores. (Ortiz, 1994:191-192) O exemplo da língua inglesa é sugestivo, diz Ortiz (1994: 192), porque ao se caracterizar como língua mundial, deixa de ser inglês britânico ou norte-americano perdendo sua territorialidade original para se constituir “em língua bastarda”, adaptada às distorções que as culturas lhes infligem”. Ortiz prossegue dizendo que hoje o inglês falado e escrito em diferentes países não anglófonos é no fundo uma variedade lingüística acrescida de marcas nativas. No entanto, assinala Ortiz, isso não quer dizer que tal realidade do inglês no cenário internacional resulte apenas do desejo de comunicação entre as pessoas ou povos. Há outras fontes de autoridade em instância mundial. O prestígio das palavras inglesas na música, na informática, nos esportes e a absorção desses termos não correspondem a nenhum anglicismo (empréstimos de palavras), mas “trata-se da conformidade a um padrão hegemônico de prestígio” associado ao inglês. De acordo com Ortiz (1994: 193), a utilização de alguns termos em inglês mostra que na publicidade ela não se deve a questões de comunicação, mas a um “apelo esnobe” (termo introduzido por Gorback e Schroder in Greenbaum 1985: 231 e citado por Ortiz, 2003:193) em que as pessoas que usam inglês muitas vezes o entendem mal ou não o entendem. A Crença 1 (Língua inglesa: insígnia de maxi-valorização e de busca de identificação com os Estados Unidos) e as Subcrenças 1 (A língua inglesa é símbolo de status, beleza e qualidade e identificação com a cultura norte-americana) e 2 (A língua inglesa é ponte de acesso a bens econômicos e culturais) podem ser associadas a essa primeira vertente, uma vez que os participantes da pesquisa demonstraram que não é preciso compreender o que se está dito em inglês (o significado), basta notar o significante (o que se apresenta em inglês) para que a pessoa use expressões ou produtos em inglês ou o próprio objeto seja associado a status, beleza e qualidade. Nessa vertente, portanto, os participantes destacam a força simbólica positiva da influência dos termos em inglês por força do prestígio que imprime aos objetos de desejo ou acesso aos bens culturais e econômicos. O princípio do “apelo esnobe” também está presente na Crença 2 (Língua inglesa: insígnia de influência da mídia). É extramente comum encontrarmos anglicismos, especialmente em revistas destinadas prioritariamente a leitores do high society32 e classe média, ou seja, a “grã-finagem” brasileira ou como apresenta o Dicionário Aurélio, o “soçaite”, um termo similar e já aportuguesado definido como “elite econômica da sociedade que se distingue por suas atividades mundanas”. Em revistas de moda, páginas de propagandas, artigos de fofocas de pessoas famosas encontramos em abundância empréstimos do inglês bem como nas revistas destinadas aos homens de negócios nas quais, às vezes, há trechos completos escritos em inglês. Os participantes desta pesquisa mencionaram a influência da mídia no sentido de realçar os atributos de seus produtos mediante o uso de expressões em inglês reforçando o padrão de prestígio social e econômico do inglês ou de “apelo esnobe”. O marketing dos produtos mencionado pelos participantes tem suporte na visão ideologizada do uso da língua inglesa no contexto brasileiro. A mídia se veste de uma língua que tem status privilegiado para vender os seus produtos e a ideologia norte-americana. O “apelo esnobe” permeia a posição da mídia em usar a língua inglesa (língua de um país “rico e poderoso”) para sustentar uma posição simbólica que impõe status àquilo que divulga. Disneylândia, Hollywood, o “sonho americano”, o American way of life são constantes nos meios de comunicação. Como podemos perceber, palavras em inglês são utilizadas pela mídia mesmo que essas tenham outras correspondentes em língua portuguesa, o que se configura em um apelo esnobe para marcar posições simbólicas diferenciadas na sociedade. Tal aspecto é notado pelos participantes. Nesse sentido, segundo Paiva (1996: 26), “a importação de palavras estrangeiras atende muito mais a uma necessidade simbólica de identificação com uma sociedade de grande poder político e econômico do que a necessidade de nomear novos conceitos e objetos”. Conforme Garcez & Zilles (2001:22-21), a máquina capitalista globalizante age sobre as mídias (da informação, do entretenimento e da publicidade) no sentido de que elas não deixem de explorar as associações semióticas entre a língua inglesa e o grande repositório de recursos simbólicos, econômicos e sociais mediados pela mídia. O uso de anglicismos, para os autores, marca a diferenciação 32 De acordo com Nicola et alli (2003:133) significa alta sociedade, elite. entre quem dispõe de capital simbólico para consumir e a massa não-consumidora em linha com o pensamento de Bourdieu (1983) de que as forças simbólicas determinam o mercado lingüístico entre os que falam, ou seja, os que têm poder – que manipulam e ditam regras – e os que escutam, quer dizer, os que agem e se comportam com base nas regras ditadas pelos primeiros. Tal aspecto também é notado pelos participantes. A vertente da crítica ao imperialismo norte-americano oferece suporte à Subcrença 3 (Língua inglesa: insígnia de ameaça à língua e cultura brasileira) em que se evidencia o sentido ufanista em contraposição ao sentido de adesão à cultura norte-americana proporcionado pela insígnia de status social e acesso a bens cultuais e econômicos. Os participantes desta pesquisa percebem as expressões em inglês como uma ameaça à língua portuguesa, cultura e economia brasileira. Nesse sentido, eles se aproximam da crença do deputado Rebelo (2001: 181) de que a dominação de um povo se dá também através da imposição da língua. Com a globalização, diz Rebelo, esse fenômeno se repete não de forma violenta, mas impertinente, insidiosa e preocupante e se manifesta de forma abusiva, enganosa e lesiva ao patrimônio nacional. No entanto, os participantes não demonstram tal ira dispensada pelo deputado às expressões em inglês a ponto de dispensar o seu uso no cotidiano. Uma terceira vertente, a da função pragmática ou instrumental ( presente na parte “b”: Das ações: como agem os homens comuns mediante os anglicismos), atravessa as duas primeiras oferecendo um equilíbrio entre a adesão subserviente e a rejeição irada. Nessa vertente, no caso de não conhecerem o significado da palavra, os participantes assumem uma atitude pragmática, semelhante a um bricoleur em processo de bricolage (Levi-Strauss: 1966, 2003), diante das expressões em inglês no seu cotidiano lançando mão da improvisação e de suas experiências concretas ao recorrerem a recursos disponíveis ao seu redor para compreender a palavra e executar a tarefa. Os conceitos de bricoleur e bricolage foram usados na antropologia por Claude Levi-Strauss (1966, 2003), ao estudar grupos indígenas, para entender a natureza processual de como as pessoas trabalham com recursos materiais e simbólicos de modo concreto, improvisado e criativo. O bricoleur é, portanto aquela pessoa (ou grupo de pessoas) que pode se identificada com “aquele-que-é-paupara toda-obra” ou representada no ditado popular “quem não tem cão caça com gato”, isto é, aquele que é capaz de usar quaisquer materiais que encontram ao seu redor para executar determinada tarefa ou objetos. Bricolage é o processo de montar pequenos fragmentos aqui e ali em uma forma ou estrutura. Hoje é um conceito desdobrado abrangendo outras áreas de estudo como a interação comunicativa e de definição de relações pessoais. Aqui ele serviu para explicitar que as pessoas comuns, muitas vezes, ao invés de usar uma abordagem abstrata na resolução de um problema, agem com base nas suas experiências concretas improvisando como um bricoleur modos de desempenhar suas tarefas. Rajagopalan (2005:140-150) ao examinar propostas de enfrentamento em relação “à invasão da língua inglesa em nossa vida” discute alguns tipos de atitudes recorrentes na literatura: a rejeição sumária do inglês em que se ergue uma muralha de rejeição psicológica contra o idioma e contra tudo que ele representa e a aceitação resignada do inglês sob o argumento de que não há o que fazer diante da expansão do inglês do mundo. Os participantes desta pesquisa atribuem valores positivos e negativos ao uso de expressões em inglês, no entanto, não se arrimam apenas de atitudes derrotistas ou de enfrentamento quixotesco de que nos fala o autor. A vertente do pragmatismo (fazer uso do inglês para servir aos seus objetivos) lhes permite enfrentar a “invasão” de anglicismos de modo realista, conforme Rajagopalan aponta, em que a língua inglesa pode servir aos interesses dos participantes, não o contrário. Para concluir este capítulo retomo Maffesoli (1988), o estudioso do conhecimento comum, para dizer que o conhecimento dos participantes desta pesquisa, vistos como pessoas comuns (não são especialistas em linguagem), é construído com o propósito de suprir suas necessidades impostas pela própria modernidade. Esse conhecimento é construído, compartilhado e propagado no ambiente sócio-cultural de uma economia globalizada ou cultura mundializada que imprime a toda pessoa conviver com tecnologias e linguagens repletas da cultura estrangeira. Para tanto, as pessoas improvisam, formulam novas formas para atingir seus objetivos. Essas três vertentes demonstram que dicotomias embora instigantes não sejam suficientes para mostrar a complexidade envolvida em questões de linguagem que podem ser abordadas de diferentes perspectivas que mais se atritam do que vivem em harmonia. Assim, a voz do político, do jornalista, do gramático purista e do homem comum pode oferecer diversos ângulos ao fenômeno em estudo, e quase nunca um só. Este estudo demonstrou que há entrecruzamentos de princípios (outros diriam discursos) nas crenças dos participantes desta pesquisa em relação aos anglicismos que ora se aproximam mais da idéia de homogeneidade da força capitalista que impõe padrões hegemônicos de língua e cultura e ora se afinam mais com a visão de fragmentação das culturas em que se permite a improvisação, o escape. Também demonstrou que conceber nossos participantes como pessoas comuns que pensam e têm sentimentos e não como pessoas ingênuas, apolíticas, acríticas à presença de anglicismos pode acrescentar uma nova camada de sentido ao conhecimento científico. CONSIDERAÇÕES FINAIS Se as transformações recentes nos levam a afirmar a existência de uma sociedade global, isto significa que a problemática nacional adquire um só sentido. Só iremos entendê-la quando a situarmos dentro desta nova totalidade. (Renato Ortiz) A presença de anglicismos no contexto urbano não é privilégio do Brasil nem de países em desenvolvimento e tampouco as atitudes das pessoas em relação aos termos em inglês deixam de despertar a ira de um grupo de pessoas que tentam legislar sobre o assunto (França, Espanha, por exemplo) e outros que tendem a conviver com eles (Japão) de forma menos conflituosa. Neste estudo, percebemos que no Brasil as crenças inferidas acerca da presença e uso de anglicismos convergem para três princípios diferentes: 1. Os anglicismos denunciam um sentimento de esnobismo ou prestígio atribuindo ao inglês uma valoração positiva por estar associado à idéia de beleza, elegância, superioridade de objetos, modernidade, desenvolvimento e, em conseqüência, acesso a bens culturais e econômicos propagados pelos Estados Unidos. 2. Os anglicismos sob a égide do apelo esnobe suscitam dois tipos de atitudes, ora num movimento de aproximação com a língua e cultura norte-americana, eles despertam sentimentos de resignação e identificação, ora sob a égide da crítica ao imperialismo norteamericano despertam a recusa à adesão e a ira dos participantes por se sentirem atingidos na sua identidade nacional ao perceberem que sua língua e cultura estão sendo desvalorizadas. 3. Os anglicismos sob a égide da função pragmática ou instrumental são acolhidos em uma atitude realista quando os participantes diante da necessidade de usá-los em atividades profissionais o fazem com o propósito de desempenharem suas tarefas. Seja sob o princípio do apelo esnobe, da função pragmática, ou da crítica ao imperialismo norte-americano, os brasileiros demonstram estar sintonizados e ser inevitável a mundialidade e expansão do inglês na vida cotidiana. A função pragmática embutida nos outros dois princípios e que permeia a maioria das falas dos participantes, parece imprimir um sentido realista, equilibrado e eficiente às atitudes de aceitação resignada ou de embate derrotista. Embora os dois primeiros princípios estejam atrelados à tendência de perceber a língua inglesa como norteamericana e, com todas as conseqüências que isso possa acarretar, os participantes desta pesquisa também percebem que o inglês perde, de certa forma, sua territorialidade original para se constituir em língua sem pátria ou, nos dizeres de Ortiz (1994: 192) em língua “bastarda”, adaptada às distorções que as culturas lhe infligem. Anglicismos ou estrangeirismos acabam sendo acolhidos por questão prática, sejam eles compreendidos ou não, originalmente aceitos ou transformados pelas marcas lingüísticas e culturais brasileiras. Essa visão pragmática os exime de entrar num embate acirrado ao modo do Projeto de Lei do político Aldo Rebelo atacando os estrangeirismos como ameaça à integridade da língua portuguesa e soberania nacional, ou ao modo dos lingüistas que os vêem como parte do processo natural das línguas vivas em que expressões em língua estrangeira, geralmente se insurgem no léxico, sofrem diferentes processos de transformação, ora sendo incorporadas, ora sendo aportuguesadas, ora sendo descartadas, conforme discutimos nos pressupostos deste trabalho. Para concluir, gostaria de apontar algumas limitações e implicações que reconheço neste estudo. Primeiro, o estudo é limitado pelos seus números de participantes (quatorze) e de entrevistas (uma com cada participante). No entanto, tendo em vista o tempo limitado para elaborar uma dissertação de mestrado, tal escolha me pareceu realista. No entanto, se existe essa limitação, ela é mais relevante em pesquisa quantitativa, já que aqui o objetivo do meu estudo não buscou generalizações para todos os grupos, mas um entendimento de como quatorze participantes retratam sua visão acerca dos anglicismos ao seu redor, nas suas atividades sociais e profissionais. Segundo, neste estudo, não tentei induzir padrões normativos de como as pessoas devem reagir diante da presença ou uso de anglicismos no cotidiano urbano brasileiro. Por exemplo, não tentei apresentar aos participantes as teorias da expansão ideológica do inglês como inculcação do regime capitalista. Ao contrário, tentei descrever a forma e o processo de entendimento dos participantes do meu estudo. Gostaria também de mencionar algumas contribuições deste estudo para futuras pesquisas. Primeiro, o fato da maioria dos participantes ter declarado que, quando não conhece o sentido da palavra em inglês, procura identificá-lo por meio de recursos disponíveis ao seu redor mediante o uso de outros recursos materiais para executar a tarefa, nos levou a pensar na noção de bricolage e de bricoleur, usada na antropologia e na etnografia para explicar ações de grupos culturais, que em um processo analógico pode ser usado para explicar a atitude realista na reação pragmática diante de anglicismos que devem ser entendidos para desempenho de tarefas profissionais. A metáfora da bricolage me parece relevante para ser explorada em futuros estudos para entender a interação simbólica em processos de comunicação diante de anglicismos. Segundo, apesar deste estudo ter caráter introdutório e exploratório (é a minha primeira pesquisa qualitativa), acredito que, ao trazer um aspecto pouco explorado ainda na área da Lingüística Aplicada − o ponto de vista de pessoas comuns acerca da presença e uso de estrangeirismos no cotidiano urbano brasileiro − possa ter contribuído com o debate acerca dos estrangeirismos desencadeado por lingüistas e gramáticos puristas, formadores de opinião, e com a crença de que o conhecimento do homem comum pode fornecer subsídios valiosos para a compreensão do fenômeno aqui estudado. Terceiro, como professora de Língua Inglesa acredito que os resultados deste estudo também podem contribuir para o ensino de inglês no sentido de compreender as percepções de pessoas comuns sobre o uso da linguagem e quais as implicações que trazem para suas vidas. As concepções da maioria dos participantes são, também, de alunos, ex-alunos e de pessoas que têm contato, de alguma maneira, com a aprendizagem e o ensino de língua inglesa (e fazem uso!) nas escolas ou no meio social. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Seriam imprescindíveis esses estrangeirismos? Não. Desejados? Sim, por muitos de nós. Fazem mal? Tanto quanto as ondas que vieram antes como a dos galicismos – passageiros, na maior parte; incorporados sem cicatrizes os mais úteis ou simpáticos. (Pedro M. Garcez e Ana M. S. Zilles) AGAR, Michael H. The professional stranger. 2nd edition. USA: Academic Press, 1996. ANDRÉ, Marli Eliza D.A. Etnografia da Prática Escolar. 8ª ed. São Paulo: Papirus, 2002. ANDRÉ, Maximira Carlota da Silva. Preocupado com o Futuro do Ensino de LE? Uma sugestão: Mergulhe no oceano de crenças educacionais de professores da língua alvo e as otimize. Anais do XIV Encontro de Professores Universitários de Língua Inglesa. Departamento de Letras Anglo-Germânicas. FALE/ UFMG. Belo Horizonte, 1999. p.233-239. BHABHA, Homi (org.).Narrating the Nation. London: Routledge, 1990. BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico – o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2003. BAKHTIN, M. (Volochinov, V.N.) Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Ed. Hucitec, 1992. BARCELOS, Ana Maria F. Understanding Teachers´ and Students´ Language Learning Beliefs in Experience: a deweyan approach. Tese de Doutorado. University of Alabama, USA, 2000. ____________________. Crenças sobre Aprendizagem de Línguas, Lingüística Aplicada e Ensino de Línguas. Revista Linguagem e Ensino, vol. 7, nº 1. Pelotas, RS, 2004. p. 123-156. BERLITZ, Charles. As Línguas do Mundo. São Paulo: Círculo do Livro, 1982. BURKE, Peter. Hibridismo Cultural. São Leopoldo-RS, Editora Unisinos, 2003. CALVET, Louis-Jean. Sociolingüística: uma introdução crítica. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2002. CANEVACCI, Massimo. Sincretismos: uma exploração das hibridações culturais. Tradução: Roberta Barni. São Paulo: Studio Nobel, Instituto Cultural ÍtaloBrasileiro, Istituto Italiano di Cultura, 1996. CARVALHO, Nelly. Empréstimos Lingüísticos. São Paulo. Àtica. 1989 COX, Maria Inês Pagliarini. Crique aqui: um signo mestiço. Signum:Estudos da Linguagem. Londrina: Ed. UEL, v. 04, p. 84-112, 2001. Revista COX, Maria Inês Pagliarini e ASSIS-PETERSON, Ana Antonia de. Transculturalidade & transglossia: para compreender os fenômeno das fricções lingüístico-culturais em sociedades contemporâneas sem nostalgia. Mimeo, 2003. DENZIN, Norman K. e LINCOLN, Yvonna S. Collecting and Interpreting Qualitative Materials. USA: Sage Publications – International and Professional Publisher, 1998. DUBOIS, Jean. Dicionário de Lingüística. São Paulo: Ed. Cultrix, 1973. ERCILIA, Maria. A Internet. São Paulo: Ed. Publifolha, 2000. FARACO, Carlos Alberto (org.). Estrangeirismos guerras em torno da língua. São Paulo: Ed. Parábola, 2002. __________________________.Norma-padrão brasileira. In: BAGNO, Marcos (org.). Lingüística da Norma. São Paulo: Editora Loyola, 2002.p. 37-61. FERNANDES, Vera. A Influência das Crenças dos Alunos do Curso de Letras da UCPel no Desenvolvimento da Autonomia. Anais do XIV Encontro de Professores Universitários de Língua Inglesa. Departamento de Letras AngloGermânicas. FALE/ UFMG. Belo Horizonte, 1999. p.315-319. GARCEZ, Pedro e ZILLES, Ana Maria S. Estrangeirismos – desejos e ameaças. In: FARACO, Carlos Alberto (org.). Estrangeirismos – Guerras em Torno da Língua. São Paulo: Ed. Parábola, 2001. p. 15-36. GUARESCHI, Pedrinho A. Comunicação e Poder a presença e o papel dos meios de comunicação de massa estrangeiros na América Latina. PetrópolisRJ: Ed. Vozes, 1990. GREENBAUM, S. (org.). The English Language Today. Oxford: Pergamon Press, 1985. GRUZINSKI, Serge. O Pensamento Mestiço. Trad. Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. 7a.edição.Rio de Janeiro: DP&A Ed.,2003. KRAMSCH, Claire. Language and Culture. Oxford: Oxford University Press, 1998. LACOSTE, Yves. Por uma abordagem geopolítica na difusão do inglês. In: Lacoste, Yves & Rajagopalan, Kanavillil (org.) A Geopolítica do Inglês. São Paulo: Editora Parábola. p. 7-11. LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. 4ª ed. São Paulo: Ed. Papirus, 2003. LÜDKE, Menga, ANDRÉ, Marli E. D. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. MADEIRA, Fabio. Crenças de Professores de Português sobre o Papel da Gramática no Ensino de Língua Portuguesa. Revista Linguagem & Ensino, vol. 8, nº 2. Pelotas, RS, 2005. p. 17-38. ______________ Alguns Comentários sobre a Pesquisa de Crenças no Contexto de Aprendizagem de Língua Estrangeira. Revista Estudos Lingüísticos XXXIV, 2005. p. 350-355. MAFFESOLI, Michael. O Conhecimento Comum. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1988. MASON, Jennifer. Qualitative Researching. 2nd ed. London: Sage Publications, 2002. MOURA, Gerson. Tio Sam chega ao Brasil – a penetração cultural americana. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984. MURPHY, Elizabeth. Teachers` Beliefs About Teaching and Learning French as a Second or Foreign Language in Outline Learning Invironments. Tese de Doutorado. Universitè Laval: Québec-Canada, 2000. NICOLA, José et alli. 1001 Estrangeirismos de Uso Corrente em Nosso Cotidiano. São Paulo: Ed. Saraiva, 2003. OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky e o Processo de Formação de Conceitos. In: TAILLE, Yves de la; OLIVEIRA, Marta Kohl; DANTAS, Heloysa. Piaget, Vygotsky, Wallon. São Paulo: Summus, 1992. p.23-34. ORTIZ, Fernando. Do Fenômeno Social da “Transculturação” e de sua Importância em Cuba. Trad. Lívia Reis. In. Ortiz, Fernando. El contrapunteo cubano del azúcar y del tabaco. Cuba: Editorial de Ciências Socialies, La Habana, 1983. ORTIZ, Renato. Mundialização e Cultura. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1993 e 2003. PAIVA, Vera Lucia de Menezes e. A Língua Inglesa no Brasil e no Mundo. In Paiva, V. L. M. (org.) Ensino de Língua Inglesa: reflexões e práticas.Campinas, SP: Ed. Pontes, 1996. ___________________________. Social Implications of English in Brasil. Anais do XIV Encontro de Professores Universitários de Língua Inglesa. Departamento de Letras Anglo-Germânicas. FALE/ UFMG. Belo Horizonte, 1999. p.326-330. PAJARES, M. Frank. Teachers´Beliefs and Educational Reseach: cleaning up a messy construct. Revista Review of Educational Research, vol. 62, nº 3. University of Florida, USA, 1992. p.307-332. PERINA, Andrea Almeida. As Crenças dos Professores de Inglês em Relação ao Computador: coletando subsídios. Dissertação de Mestrado: PUC-SP/LAEL:2003. PENNYCOOK, Alastair. The Cultural Politics of English as an International Language. London and New York: Longman, 1994. PILLA, Éda Heloisa. Os Neologismos do Português e a Face Social da Língua. Porto Alegre, RS: AGE Editora, 2002. RABELO, Aldo. Projeto de Lei n 1676/99. In: FARACO, Carlos Alberto (org.). Estrangeirismos – Guerras em Torno da Língua. São Paulo: Ed. Parábola, 2001. p. 177-187. RAJAGOPALAN, Kanavillil. Por uma Lingüística Crítica – linguagem, identidade e a questão ética. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. _____________________. A geopolítica da língua inglesa e seus reflexos no Brasil. In: Lacoste, Yves & Rajagopalan, Kanavillil (org.) A Geopolítica do Inglês. São Paulo: Editora Parábola. p. 136-159. RICHARDS, Jack C. & LOCKHART, Charles. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Hong Kong: Cambridge University Press, 1996. ROBINS, K. Tradition and translation: national culture in its global context. In: Corner, J. and Harvey, S. (orgs.). Enterprise and Heritage: crosscurrents of national culture. London: Routledge, 1991. RUBIN, Herbert J. & RUBIN, Irene S. Qualitative Interviewing – the art of hearing data. London, Sage Publications, 1995. SANTOS, José Luiz. O que é cultura ? 14ª ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1996. SARDINHA, Tony B. e BARBARA, Leila. Freqüência e Uso de Estrangeirismos Ingleses no Português Brasileiro: um estudo baseado em corpus. Revista Brasileira de Lingüística Aplicada. Vol. 5, nº 1.Belo Horizonte-MG, 2005. p. 97-114. SCHMITZ, John Robert. O Projeto de Lei n 1676/99 na Imprensa de São Paulo. In: FARACO, Carlos Alberto (org.). Estrangeirismos – Guerras em Torno da Língua. São Paulo: Ed. Parábola, 2001. p. 85-106. SCHÜTZ, Ricardo. O Inglês e o Português no Mundo. http://www.sk.com.br/skstat.html.Online. 4 de agosto de 2003. _________________. O Inglês como Língua http://www.sk.com.br/sk-ingl.html. Online, 20 de dezembro de 2002. Internacional. SILVA, Kleber A.; ROCHA, Cláudia H.; SANDEI, Maria de Lourdes R. A Importância do Estudo das Crenças na Formação de Professores de Línguas. Revista Contexturas, nº 8. São Paulo: APLIESP, 2005. p.19-40. Spradley, James P. Participant Observation. London: Holt, Rinehart and Winston, 1980. TRASK, R.L. Dicionário de Linguagem e Lingüística. Trad.: Rodolfo Ilari. São Paulo: Ed. Contexto, 2004. WEBSTER. The New Lexicon Webster’s Encyclopedic Dictionary of the English Language. New York: Lexicon Publications: 1991. WEEDWOOD, Barbara. História Concisa da Lingüística. Trad.: Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2002. APÊNDICE A - Roteiro da entrevista feita com Genilda Questionar, a partir das imagens de produtos e objetos que tenham anglicismos e observar os seguintes aspectos: 01. Genilda identifica e utiliza produtos e objetos com nomes em inglês? 02. Ela consegue perceber que estão em outra língua? 03. Quais as estratégias que utiliza para adquirir ou usar um produto que tenha terminologias em língua inglesa? 04. O que ela pensa da presença de anglicismos na vida dela e de outras pessoas? Por que são usados? 05. Tem preferência por palavras ou produtos escritos na língua portuguesa ou inglesa? E as pessoas com as quais convive? Buscar a justificativa. 06. Pedir que enumere produtos que usa em língua inglesa (que são “estranhos, diferentes, desconhecidos” para ela). 07. Solicitar se tem curiosidade ou procura saber o que significam as expressões na língua de origem. Se houver, que meios usa? 08. Acredita que no seu dia-a-dia, os anglicismos ajudam ou atrapalham o desenvolvimento de suas atividades? 09. Pensa que os anglicismos deveriam permanecer, serem coibidos ou substituídos? 10. Num sentido mais amplo, como define, descreve, vivencia e entende a presença e uso de anglicismos nas atividades que desenvolve. APÊNDICE B - Roteiro da entrevista feita com Clóvis Introduzir os seguintes tópicos e questionamentos ao longo da entrevista: 01. Perguntar sobre sua profissão/atividades, se gosta, como a desenvolve, o que pensa e como a vivencia. 02. Verificar se observa os anglicismos em sua profissão. 03. O que pensa a respeito da presença e uso de anglicismos em suas atividades? 04. Há preocupação em saber o significado na língua de origem? 05. O que acredita que leva as pessoas a usarem anglicismos? 06. Nas suas atividades, a presença de empréstimos do inglês ajuda ou atrapalha? 07. Quais as estratégias que usa para identificar comandos e termos escritos em língua inglesa nas suas atividades? 08. Pensa que os anglicismos deveriam permanecer, serem coibidos ou substituídos? 09. Prefere expressões escritas em língua inglesa ou portuguesa? E os seus clientes? Justificar a opção. 10. Qual o papel dos anglicismos em sua profissão? 11. Estabelecer um paralelo entre expressões comumente usadas em suas atividades (língua inglesa e língua portuguesa) e observar como define e qual a opção feita. 12. Num sentido mais amplo, como define, descreve, vivencia e entende a presença e uso de anglicismos nas atividades que desenvolve. APÊNDICE C -Entrevista feita com Genilda Materiais utilizados: gravador e fita cassete; fotos e imagens de produtos comestíveis, de limpeza, bebidas e cosméticos; aparelhos de som; camisetas com palavras em língua inglesa. Data: 25 de novembro de 2004 Local da entrevista: residência onde trabalha Duração: 1 hora Número de páginas da transcrição: 13 Entrevistadora: Genilda, eu vou lhe mostrar algumas figuras de produtos que a gente encontra em mercados. Eu gostaria que você desse uma olhada e visse se você conhece esses produtos e para que você acha que servem. Esse, por exemplo, você conhece? (Apresentando a imagem de toalhas de cozinha da marca Snob) Genilda: Papel higiênico. Entrevistadora: Você observa o nome quando você usa, por exemplo? Genilda: Eu não observo isso muito não. Entrevistadora: Se a gente perguntasse hoje sobre essa marca, por exemplo, você saberia? (Indicando a imagem) Genilda: Hoje eu não saberia dizer. Não guardo na mente, não. Entrevistadora: Se você vai ao mercado e vê o Snob, não interessa o nome dele, para você interessa o produto ou o quê? Genilda: O produto, o preço também. Entrevistadora: O nome para você, é comum ou parece estranho? O que você acha quando você bate os olhos? Genilda: Não é comum, não sei dizer se é comum. Entrevistadora: Você acha que ele é da nossa língua? Genilda: Não. Entrevistadora: De que língua ele poderia ser? Genilda: Inglês? Entrevistadora: É, mas isso para você tem alguma importância? Genilda: Para mim creio que não. Entrevistadora: E esse produto agora? (Mostrando a imagem da toalha de papel de cozinha Top Residence.) Genilda: Esse eu já conheço, eu já usei. Entrevistadora: O que você olha nele, quando você pega, você se preocupa, por exemplo, com o nome dele, isso é familiar para você? Genilda: É, eu já usei, não uso freqüentemente desse mesmo, mas já usei. Entrevistadora: Como você diria o nome dele? Genilda: Residence? Entrevistadora: Para você significa o que residence? E esse top, o que significa pra você? Ou não tem importância? Genilda: Para mim não tem importância. Entrevistadora: Você batendo os olhos, o residence lembra você de alguma coisa? Genilda: O lar, né? O lar que é a residência. Entrevistadora: E este, para que você usa esse tipo de produto? (Apresentando as toalhas de papel para cozinha da marca Kitchen) Genilda: Esse eu nunca usei. Entrevistadora: Você no mercado, você bate os olhos, você vê que o que está escrito aqui, não é familiar para você? Genilda: Não. Entrevistadora: Você nunca usou, então. Você se incomoda escrita que não é familiar? com esse tipo de Genilda: Às vezes sim, porque dependendo do produto que a gente não souber ler não sabe o que é. Se você não conhece, não consegue ler, não dá para entender saber o que é. Entrevistadora: Como você leria, por exemplo, essa marca? Genilda: Kitchen [kit∫εĩ]? Entrevistadora: Você não faz nem idéia do que seja, para que seja? Genilda: Não. Entrevistadora: Isso incomoda muito você quanto você vai ao mercado, por exemplo, e se depara com nomes estranhos assim? Genilda: Não me incomoda, porque eu procuro comprar os que eu já conheço somente, os que eu faço uso, não me incomoda muito por isso. Entrevistadora: Que tipo de produto, você lembra agora, que você usa, que marca? Genilda: Difícil é lembrar a marca agora. No momento não lembro. Entrevistadora: Vamos passar para outra. Por exemplo, você bate os olhos nesse produto, você sabe para que serve ou poderia supor para que é, ou até mesmo entender o que está escrito? (Mostrando os guardanapos de papel Snack) Genilda: Não entendo o que está escrito, não conheço esse produto. Entrevistadora: Isso atrapalha você? Genilda: Atrapalha, porque talvez é uma coisa que você precisa usar você não sabe, não conhece o produto, não sabe o que é. Entrevistadora: Não sabe o que está escrito. Genilda: Pode até usar e não usar por não conhecer. Entrevistadora:: Quando você se depara com alguma coisa estranha que você não consegue ler ou não identifica o que você faz? Genilda: Eu deixo. Deixo para trás. Entrevistadora: Aqui, por exemplo, você consegue identificar para que serve, o que é ou que palavra que é? (Apontando os guardanapos de papel da marca Lips). Genilda: Lips. É isso? Entrevistadora: Sim. Genilda: Sabonete, né? Entrevistadora: Na verdade são guardanapos. Genilda: Ah, nem parece. Entrevistadora: Mas o nome assim, você (+)33 O que você pode supor que seja lips? Genilda: (+) Entrevistadora: Você não se incomoda também em saber, entender? Genilda: Não procuro muito, não. Entrevistadora: Aqui, por exemplo, nós temos Eficaz, este produto de limpeza aqui (apontando o detergente Vanish), você já usou ele? Genilda: Não. Essa marca não. Entrevistadora: E esse aqui? (referindo-se ao detergente Superclean). Genilda: Já. Entrevistadora: Como você chama? Genilda: Eu já comprei, mas eu (+) Superclean (superklĩ)? Entrevistadora: Sim. O que você acha que significa isso? Genilda: (+) Entrevistadora: Você não se preocupa com o nome, com o que significa? Você liga mais para o produto? Genilda: É, eu procuro mais o produto mesmo, vejo para serve no rótulo, não vou muito pelo nome não. Entrevistadora: Vanish, por exemplo, você teria alguma idéia do que significa? Genilda: Não. Não tenho idéia. Entrevistadora: E se tiver, por exemplo, um Eficaz e um Vanish, faz alguma diferença para você levar um ou outro quando você vai comprar? Genilda: Às vezes eu procuro pelo preço. Entrevistadora: Então não incomoda você o que ta escrito, qual a marca? Genilda: Não. Me interesso pelo valor também. Entrevistadora: Aqui são produtos de beleza, você conhece algum desses? (Mostrando imagens de Hair Life, Viena Hair) 33 A convenção (+) significa que houve uma pausa na fala ou o turno não foi preenchido. Genilda: Já vi, só que nunca usei. Eu não conheço, nunca usei, já vi nas prateleiras , mas não conheço. Entrevistadora: Quando você vai ao mercado, você se interessa em olhar. Que significado que traz para você? Genilda: Esses produtos eu não olho, porque eu nunca fui de comprar esse tipo de coisa, creio que serve para cabelo, para tintura, nunca me interessei. Entrevistadora: Você não pinta o cabelo. Genilda: Não, nunca pintei. Entrevistadora: (Mostrando a imagem do creme para cabelos Hair Life)Se você batesse os olhos aqui, por exemplo, como você leria essa palavra? Genilda: Não consigo ler não. Entrevistadora: Se eu lesse para você Hair Life (hεr laif), faria algum sentindo ou não? Genilda: Eu conheço o produto pelo vidro. Entrevistadora: Esse aqui talvez seja mais familiar para você (Mostrando o Shampoo Clear). Genilda: É, com certeza. Entrevistadora: O que você desses produtos serem escrito em outra língua, como darling, clear, porque você acha que tem tantos produtos escritos em outra língua nos supermercados e que a gente usa? Genilda: Não sei por que, eu creio que (+) será que vem de lá, de outros países? Entrevistadora: Não, também existem produtos nacionais que são escritos assim. Genilda: Não faço idéia por que. Entrevistadora: Você se deu conta porque tanto gente usa escrito em outra língua? Genilda: É com certeza porque se o que não é brasileiro vem para cá pode ler, né. Agora o significado eu não entendo, não. Entrevistadora: Não o significado da palavra em si, o que você acha que leva as pessoas a pôr esses nomes nos produtos e o que leva as pessoas a consumirem tantos produtos escritos em outra língua? Genilda: Eu creio pela qualidade que deve ter. Entrevistadora: Você acha que o produto que vem escrito em outra língua seria melhor ou pior? Genilda: Depende de como se faz o produto. Eu por exemplo a linha Capi Vida eu já conheço, agora o outro eu nunca usei, não conheço. Entrevistadora: E o nome clear, por exemplo, significa alguma coisa, o darling, por exemplo, tem algum significado para você? Genilda: Pra mim não. Entrevistadora: Se no lugar desse Darling, fosse Querida faria alguma diferença? Genilda: Não sei se faria alguma diferença. Entrevistadora: Se tivesse dois xampus, um escrito darling e outro escrito querida qual você compraria? Genilda: Não sei. Se eu não conhecesse nenhum dos dois, poderia ser que ficasse com o Querida. É uma palavra mais bonita de dizer. Talvez seja Querida que eu pegaria. Entrevistadora: E esse tipo de produto você já viu? Seria para criança. A palavra baby, por exemplo, você acha que ela é da nossa língua? Genilda: Baby? Creio que não. Entrevistadora: Você usa o baby normalmente? Genilda: Não. Já usei essa marca no meu filho. É lenço umedecido, né? Mas não gostei. Entrevistadora:: Como você sabe que é lenço umedecido? Genilda: Eu leio no rótulo. Entrevistadora: Aqui, por exemplo, só está a marca e como você conseguiu identificar que é lenço umedecido “Baby Wipes”? Genilda: É porque eu já usei, então eu conheço. Quando eu comprei pela primeira vez, eu abri para ver. Entrevistadora: Você percebe então pela embalagem? Genilda: Pela embalagem. Se for pelo nome fica meio difícil. Entrevistadora: E esse produto aqui, você usa? (Apresentando a imagem do creme dental Close Up). Genilda: Dessa marca não. Entrevistadora: Como você chama? Genilda: Close up (krozapi). Entrevistadora: Você sabe, que batendo os olhos é aquilo? Genilda: Creme dental. Entrevistadora: E para você Close Up, é familiar para você, ou é esquisito? Genilda: O nome é esquisito. Eu acho esquisito, diferente. Entrevistadora: Aqui, é um produto que todo mundo usa, como você chama? (Mostrando o curativo Band-Aid). Genilda: Band (+) Band-Aid (bãdeidĵi). Entrevistadora: Como você conseguiu identificar que é Band-Aid, se está escrito em outra língua? Como você conseguiu identificar? Genilda: Algumas palavras a gente consegue. Algumas palavras eu consigo ler. Identificar eu não sei. Eu aprendi assim, eu creio que na escola eu devo ter aprendido. Entrevistadora: Aqui, por exemplo, essa marca o que significa para você? (Mostrando imagens dos bloqueadores solares Kids e Baby Block) Genilda: Eu não sei. Entrevistadora: Agora eu vou mostrar para você alguns produtos alimentícios, bebidas, para ver se você conhece, o que você acha. Por exemplo, o primeiro aqui? (Apontando o refrigerante Sprite versão Diet) Genilda: Sprite (ispraiti). Pesquisadora: E essa palavra em cima, para você significa alguma coisa? Genilda: Diet (+) dietético, né?. Entrevistadora: Quando você bate os olhos sabe que é Sprite, e você sabe o significado na nossa língua? Genilda: Não. Entrevistadora: Faz alguma diferença para você se é Sprite ou se é Guaraná? Genilda: Depende o gosto, para mim. Eu prefiro o Guaraná. Entrevistadora: Então não interesse se está escrito em outra língua? Genilda: Não. Entrevistadora: E você conhece? Genilda: Não. Entrevistadora: Popcorn, tem algum significa para você e termo light, por exemplo? (Mostrando a imagem da pipoca para forno microondas Popcorn versão light) Genilda: O light é light (+) Popcorn eu não conheço. Entrevistadora: Aqui você bate os olhos você acha que seja o que? (Imagem do repositor energético Susteen que apresenta no rótulo um líquido rosa sendo derramado no copo). Genilda: Suco. Entrevistadora: E aqui, como você chamaria? (Referindo-se à imagem do produto Diet Shake). Genilda: Eu não sei o que é isso. Suco também? Entrevistadora: É alguma coisa semelhante. Você leria como? Genilda: (Sampi)? Entrevistadora: E esse produto também: Will34 é comum você usar? Genilda: Não, eu não uso ele. Para que é de pôr no sorvete, parece. Entrevistadora: Esse, por exemplo? (Apresentando o chocolate Hershey´s White). Genilda: Eu não conheço, não sei. Entrevistadora: É chocolate. Que tipo de chocolate você acha que seja? Genilda: Não faço a mínima. Entrevistadora: White significa alguma coisa para você? Genilda: Não. Entrevistadora: Esse você conhece? (Apontando os biscoitos Club). Genilda: Conheço. 34 Marca de calda de chocolate para coberturas. Entrevistadora: O que você acha da marca do produto, por exemplo, significa o que para você? Genilda: É uma marca boa para mim. Já comprei vários produtos dessa marca. Entrevistadora: Que palavra que você acha que é? Genilda: Marilan? Entrevistadora: Não, não, a marca o nome? Você acha que significa o quê? Genilda: Não sei. Entrevistadora: É Club (kl^b), né? Genilda: Club(klubi). Entrevistadora: Mas a maioria fala como se escreve, a maioria fala club (klubi). E isso aqui o que significa para você. (Mostrando a imagem dos biscoito Hobby). Genilda: O nome eu não sei. Entrevistadora: O que é hobby para você? Genilda: Gosto. Entrevistadora: Big bolão, por exemplo (apresentando a imagem de um pacote das balas Big Bolão), a gente vê em Cuiabá, por exemplo, Big lojas, Big lar, Big bolão. O que você acha que significa esse big? Genilda: Grande. Entrevistadora: Grande? Genilda: Eu creio que sim. Entrevistadora: E como você aprendeu que big é grande? Genilda: Eu imagino. Entrevistadora: Será que alguém falou? Genilda: Não, eu imagino que seja, pelo fato de “Big Loja”, é uma big loja de variedades, enorme, grande. “Big Lar” é um supermercado enorme. É pelo fato de ser grande. Big bolão, é porque tem um pequenininho e tem um grande. Entrevistadora: Big para você é uma coisa grande? Genilda: Eu creio que sim. Entrevistadora: E aqui para você, o que significa? (Mostrando os salgadinhos da marca Baby Boy). Genilda: Baby boy. Entrevistadora: Você não se preocupa se tem uma palavra estranha, por exemplo, nos produtos, isso não te incomoda? Genilda: Se eu conhecer, usar ele e gostar eu não me incomodo não. Entrevistadora: Esses produtos, por exemplo, você lê aqui Big Chicken (mostrando os congelados de frango) te remete à que? Você lê na embalagem o que é na língua portuguesa, como você age? Genilda: Pela figura que a gente conhece, pela figura exposta na caixa. Entrevistadora: Os títulos assim, você nem se incomoda também em saber o que é? Genilda: Não. Entrevistadora: Aqui também né. (Mostrando os congelados Chicken Friends). Genilda: É Entrevistadora: Chicken Friends (t∫ikεn frεnds) por exemplo. Esse você conhece já? Genilda: Esse já. Entrevistadora: A marca, por exemplo. Esse nome, por exemplo, diz alguma coisa? Genilda: Eu não consigo ler esse nome. (Mostrando a imagem da embalagem dos cereais Snow Flakes). Entrevistadora: Snow Flakes ( snou fleiks)? Genilda: Não lembro, não sei. Entrevistadora: Genilda, a gente vê que em salão de beleza escritos em inglês. Por exemplo: Princess, Classic. Há nomes de lojas escritos em inglês. O que você acha que leva as pessoas a colocar nome de loja, por exemplo, escrito em outra língua? Você colocaria em uma sua? Genilda: Não! Entrevistadora: Por que não? Genilda: Porque eu acho que o português é tão bonito, as palavras em português. Eu creio que preferiria o português. Entrevistadora:: E o que você acha que leva as pessoas a colocar tantos nomes de lojas e produtos em inglês? Genilda: Sei lá! Pela beleza dos nomes, pelo gosto, pelo significado do produto que eles trabalham. Entrevistadora: Se você tivesse uma fábrica de perfumes, você colocaria mais nomes na nossa língua ou em outra língua? Genilda: Eu creio que colocaria na nossa língua. Entrevistadora: Por quê? Genilda: Por que colocar nome estrangeiro ou em outras línguas, se a nossa também tem como você colocar nome bonito, um nome significativo para ele. Eu colocaria em português. Entrevistadora: Você tem equipamento eletrônico na sua casa, você vê lá nas funções, por exemplo, quando você vai ligar que tem play, stop, você tem conhecimento do que significa em outra língua? Genilda: Sim. Entrevistadora: Como você lida com isso, como você aprende a manusear o aparelho de forma que você consiga ouvir música, por exemplo? Como você aprendeu a mexer se é em outra língua? Genilda: Apesar de não conhecer a língua inglesa a gente assiste muita televisão, você vê muita coisa que você aprende ali. E aí você vai mexendo ata encontrar. Por exemplo, se eu compro um celular eu não sei mexer nele, vou ter que mexer nele para conhecer. É assim que eu aprendo. Entrevistadora: Para você seria melhor que fosse na nossa língua? Genilda: Ah, com certeza. Entrevistadora: Você preferiria então que fosse/ Genilda: Em português. Entrevistadora: Por quê? Genilda: Porque a gente sabe. Entrevistadora: Aqui, por exemplo, você consegue ver aqui que produto que é? (Apresentando a imagem de um rádio gravador e CD player). Genilda: Sim. Entrevistadora: Que produto é esse para você? Genilda Um rádio, um CD. Entrevistadora: Então, CD é o quê? Genilda: Eu não sei não. Entrevistadora: O que é um CD player pra você? Você ouve falar no CD player e tal? Genilda: Não sei não, o lá de casa não é assim, e para começar eu nem uso CD. Entrevistadora: Como você chama o aparelho de CD? Genilda: Rádio. Entrevistadora: Rádio, né. Acho que é isso. Eu só queria ver como você vive com todas essas palavras diferentes e se isso é difícil para você, se você consegue tranqüilamente conviver e não faz diferença. Genilda: O nome não faz diferença, porque a gente procura olhar mais o produto do que o nome. Mas é difícil você mexer no aparelho de som, por exemplo, aprender em aparelho de som fica difícil se você não souber mexer acaba estragando o aparelho, se fosse em português era super fácil. Entrevistadora: Eu só gostaria te mostrar alguns produtos a mais pra você. Esse produto aqui, por exemplo (referindo-se à imagem do detergente Fresh). Como você lê? Genilda: Fresh (frε∫i). Entrevistadora: É compreensível pra você? Genilda: É diferente, para mim não tem nada a ver com o produto. Entrevistadora: Aqui, você bate os olhos, por exemplo, o termo fresh (frε∫), você falou fresh (frε∫), você não falou fresh (fre∫), e como você sabe que é fresh ( frε∫)? Genilda: Eu devo ter ouvido já alguém falar (+) na televisão mesmo. Entrevistadora:: Que significado você acha que tem o fresh? Genilda: É um produto de limpeza profunda, uma limpeza rápida, creio que seja isso. Entrevistadora:: O termo fresh você acha que seja isso? Genilda: Pode ser, não tenho certeza. Entrevistadora: Se a gente pegar aqui o gravador está escrito stop e eject, tem algum significado para você. Genilda: Stop, é para desligar. Entrevistadora:: E eject? Genilda: Não sei. Entrevistadora: O rec seria o quê? Genilda: Não sei. Entrevistadora: Play? Genilda: É para ligar. Entrevistadora: Está certo. É isso. Genilda, aqui eu tenho uma camiseta que não está escrito na nossa língua. Para os seus filhos, você compra camiseta assim, com palavra que não seja escrito na nossa língua? Genilda: Eu procuro não comprar. Não só pelo fato de que eu não conheço a palavra e o significado, mas pela minha doutrina também. Entrevistadora: Ah é! O que a sua doutrina diz? Genilda: Que a gente não pode usar emblemas ou palavras que a gente não conheça, principalmente inglês, porque você não sabe o que está escrito. Pode estar escrito palavrão ou qualquer coisa que não seja agradável aos olhos de Deus. Entrevistadora: Muito interessante. A sua doutrina já prega isso também? Então você nunca compra para seus filhos uma camiseta escrita em inglês? Genilda: Não. Entrevistadora: E se eles ganhassem, por exemplo? Genilda: Eu procuro saber o que está escrito pra poder usar. Porque eles têm algumas camisetas que eu ganho da minha irmã lá de São Paulo, eu procuro saber, se tiver alguma palavra indecente eu não uso. Entrevistadora: Como você procura saber? Genilda: Eu já cheguei mandar para o professor dela ler as camisetas, o boné que o meu filho ganhou. Aí ele explica pra ela, então eu deixo usar. Outras coisas que eu não conheço, as figuras indecentes também eu não deixo usar. Entrevistadora: OK, Genilda. Obrigada ! APÊNDICE D - Entrevista feita com Clóvis Materiais utilizados: gravador e fita cassete; imagens de produtos e anúncios e propagandas em revistas de modas, artigos e conteúdo de revistas destinadas a profissionais da ginástica em academias (fitness), marcas de produtos destinados aos freqüentadores de academias (sucos, lanches, repositores energéticos, vestuário e equipamentos de ginástica – expostos no empresa) em língua inglesa. Data: 01 de fevereiro de 2005 Local da entrevista: empresa onde trabalha Duração: Aproximadamente 1 hora. Número de páginas da transcrição: 15 Entrevistadora: Clóvis, eu gostaria que você falasse das atividades profissionais que você desenvolve, como você vê essas atividades profissionais, as experiências que você tem, as vantagens e desvantagens dessas atividades que você que são dividias entre academia de ginástica e como promotor de eventos. Clóvis: Eu gosto dessas atividades que envolvem mexer com pessoas. Eu sempre gostei de mexer com pessoas, essas duas áreas envolvem isso. Então, eu agora como dono de academia e instrutor, a gente instruir os alunos quanto à carga, peso, atividades física, a dieta mais apropriada para o tipo físico. E na área da moda, que eu sempre lidei, aqui em Cidade A35 a área da moda é mais restrita porque poucas lojas e confecções, desde que eu vim para cá eu faço o Miss Cidade A, inclusive há quatro anos que as misses daqui ganham como Miss Mato Grosso e representaram o Mato Grosso no Miss Brasil. Em ano x, nós tivemos a felicidade de ter a Cláudia daqui de Mato Grosso como Miss Brasil. São atividades na área que eu gosto. Eu estou sempre em contato com o público, eu gosto bastante de falar e as pessoas gostam de ouvir. Eu me dou bem nessas áreas, tenho facilidade de fazer amizades e expressar minha opinião e fazer com que as pessoas acatem o que eu falo. Entrevistadora: Eu vejo que essas duas atividades que você desenvolve, estão ligadas à beleza, ao cuidado com o corpo, enfim o ponto que têm em comum é busca da beleza. Eu vejo tanto numa área como em outra a presença de muitos termos da língua inglesa, inclusive no cartão que você me entregou de sua empresa, 35 Nome fictício. O nome da cidade, o ano e os nomes de pessoas, empresas e lojas que aparecem durante a entrevista são todos fictícios. há termos escritos em língua inglesa. Como você convive com essas palavras e com esses termos? Clóvis: Como são termos que a gente usa diariamente, a gente aprende a conviver. Hoje nem parece serem termos em inglês, como tem os exercícios físicos como o “fly”, “body jump”, “step”, “jump”, e hoje todo mundo entende. Como por exemplo, se você falar “cama elástica” poucas pessoas entendem. Se eu digo “tem aula de body jump” todos entendem. Esses termos a gente aprende a usar no dia-a-dia, não em curso, são termos que já vêm prontos e que a gente é obrigado a assimilar. Entrevistadora: Você se preocupa em buscar uma tradução ou você usa os termos conforme a ligação da função que eles desempenham? Clóvis: Na área da musculação, os termos em inglês eles descrevem praticamente os exercícios, como o “fly” que é uma abertura de braços com o peso. Então são coisas que no dia-a-dia nós convivemos. Como o tempo da gente é muito corrido acabamos pensando nesses termos quando estamos mais sossegados, como o “Body System”. Quando fizemos a franquia dele, ficamos pensando o que queria dizer. Então sabemos o que pode significar, mas tem gente que pede a tradução do exercício: “ Por que fly?” Entrevistadora: Para você o que é o “Body System”? É uma empresa, o que é dentro da ginástica? Clóvis: O Body System é uma empresa na área de fitness que desenvolve nove tipos de formatos de aulas. A aula já vem pronta, essas aulas são apresentadas nos workshops a cada noventa dias. Então, a cada noventa dias muda a música, muda a coreografia. Essas novidades são trazidas para a sala de aula, tanto que as mesmas aulas dadas daqui são as aulas dadas lá na Companhia Atlética em São Paulo, na Bioritmo, nas grandes academias de São Paulo. Entrevistadora: É uma empresa nacional ou de outro país? Clóvis: É uma empresa australiana que está há doze anos está aqui no Brasil, os exercícios mais conhecidos deles é o body jump que é uma coreografia com peso e barra, body combat que é artes marciais e o body balance que é ioga. Entrevistadora: Como eu percebi na sua fala, em questão de minutos você despejou uma série de termos da língua inglesa. O que você acha que leva as pessoas, na área de ginástica, a optarem por termos da língua inglesa e não um termo semelhante da língua portuguesa? Clóvis: Eu acho que falta aquela confiabilidade, porque tudo que é importado tem aquela impressão de ótima qualidade. Hoje tudo que a gente monta, até o sistema de musculação é computadorizado e vem tudo em inglês, já vem pronto para nós. Eu penso que é devido a isso, o que vem de fora infelizmente tem mais credibilidade do que nós temos na nossa língua. Entrevistadora: Para você enquanto profissional, instrutor e proprietário de academia de ginástica, esses termos na sua profissão ajudam ou atrapalham? Clóvis: São termos usados no meu dia-a-dia, no meu cotidiano acabam passando naturalmente. No começo se nós falarmos para o aluno fazer um exercício tipo o fly, ele já não esquece mais. Eles têm facilidade de guardar os termos, porque não são todos os termos que são americanos tem dorsal, da polia. Mas eu já notei que os termos que são em inglês eles têm mais facilidade de guardar, não fazem questão de mudar isso. Entrevistadora: Não atrapalha? Clóvis: Não atrapalha de forma alguma Entrevistadora: Ajuda na sua profissão? Em que sentido poderia ajudar? Clóvis: Não ajuda, mas também não atrapalha, porque se tivesse que mudar o que já vem pronto, eu teria uma mão de obra muito grande, porque todos os meus instrutores que geralmente vêm de outras academias também conhecem. Então, isso iria causar um transtorno, então o que me atrapalharia seria mudar o que já vem pronto de fora. Entrevistadora: Você diz que já vem pronto, você acha que lá no comecinho deveria ser traduzido, deveria ser mudado ou deveria permanecer assim mesmo? Clóvis: Eu não sou aquele “tupiniquim” que quero que tudo seja na língua portuguesa, como eu acho que tudo tem as influências americanas, que não é só na área do fitness. Na área da moda você vê “São Paulo Fashion Week”, o Miss Brasil mesmo, ele é com dois “s”. A Miss Brasil desfila com a faixa do Brasil escrito com “Z”. Então tudo já vem de fora, importado. Na minha opinião, eu não mudaria, deixaria do jeito que tá. Entrevistadora: Você já citou alguns termos, mas tem vários termos na sua atividade. Vamos pegar primeiro a área da ginástica, o que vem à mente que você sabe que é em inglês, que você tem segurança em dizer que é em inglês? Ou por exemplo, termos que passaram por um processo de transformação, que deixou de ser em língua inglesa e que já está incorporado na nossa língua. Clóvis: Eu não me preocupo em tentar mudar, eu acho que o que deixa mais prático é o nosso cotidiano que é um facilitador, porque todo o estudo que eu pego de fora já vem com esses termos. Alunos que já malham em outras academias eles já vêm com esses termos. Isso não ocasiona de precisar passar esses termos para o português ou achar que isso vai me trazer uma facilidade, parece que os termos em inglês são mais facilmente assimilados pelos alunos do que os em português. Não me interessa em mudar. Entrevistadora: Quando surge um termo novo da língua inglesa, como você procede para entender dentro da sua profissão? Clóvis: Eles lançaram o “body balance” que é o mesmo sistema do “body system”. Então, eu não sabia o que era o “Body balance”, a gente busca para saber o que é, a definição da aula e a definição dos termos. Então quando vem algum termo novo que a gente não sabe, nós vamos atrás buscar saber. No workshop é passado a tradução para o português do que significa o termo para a gente explicar para o aluno e qual a relação que tem com o exercício que eles estão fazendo. Entrevistadora: Por que workshop e não oficina? Por que você acha que existe essa diferença? Por que se usa o workshop e não oficina? Clóvis: Como eu falei, essa franquia vem da Austrália. Então, eu creio que tudo que é americanizado as pessoas acham mais interessantes. Como eu disse para você, todos os meus instrutores que são para esses cursos, eles mesmos marcam workshop na agenda, aprendem a escrever, ninguém coloca oficina ou vai ter um curso do Body Balance ou do Body Combat. Todo mundo escreve workshop. Entrevistadora: Você acha que se você não usasse termos da língua inglesa dentro da sua profissão aqui na sua academia faria alguma diferença para os seus clientes, deixaria de ser procurada ou não? Clóvis: Eu acho que não, são termos que vem de fora, então se todas as academias usassem termos que não fossem nenhuma palavra em inglês, eu acho que a gente estaria adaptado da mesma forma. Às vezes, você chega para um aluno e diz que agora nós somos filiados no Body System. Na hora ele quer saber o que é o Body System. É diferente de você falar que é franqueado em umas aulas que já vêm coreografadas. Então é diferente você falar em inglês, é o termo em inglês que faz a diferença, o soar do inglês como marketing dentro da empresa é bom. Entrevistadora: Você acha que impressiona mais? Clóvis: Impressiona mais! Entrevistadora: Você acha que representa um resultado maior para sua academia? Clóvis: Sim. Dá um resultado maior. Entrevistadora: Quando você lida com esses termos, ou mesmo seus alunos, procuram mais um entendimento da função ou eles querem saber também o que significa mais ao pé da letra? Clóvis: Tem alunos que pedem o significado, porque no programa que a gente imprime para o aluno existem termos em inglês. Por exemplo, existe o fly, muitos vêm me perguntar o é “pulling” o que é o “fly”. Se você for explicando no momento, com o movimento do exercício, ele assimila rápido. É diferente de você explicar para ele sem mostrar o exercício. Fly na verdade por ser asa, abertura de braços. Então se você fala fly e mostra o exercício o aluno acompanha o que você fala aí a pessoa entende mais fácil, muda o sentido quando mostramos o exercício e o significado ao pé da letra. Tanto que alguns perguntam se fly não é asa, porque tem alguns alunos que já têm um pouco de conhecimento na área de inglês e associa. Entrevistadora: Qual o significado do termo “Personal Trainer” para você? Clóvis: Todos que pedem um personal trainer querem um acompanhamento de um profissional da área com acompanhamento exclusivo como aluno. Por exemplo, em um determinado horário (das sete às oito). Inclusive eu tenho alguns instrutores da academia que trabalham exclusivo para os alunos e em outro horário. Eles trabalham individualmente, mas aí eles pagam à parte, os alunos que querem exclusividade do personal pagam à parte. Entrevistadora: E hoje, se fosse introduzido treinador pessoal? Clóvis: Aí nós temos que explicar o que é, porque todos chegam e dizem se temos um personal trainer. Até hoje eu vi ninguém chegar e perguntar se eu tenho um cara que pode acompanhar sozinho, nunca ninguém me pediu isso, já vem com o termo personal trainer. Entrevistadora: Por que você acha que as pessoas usam esses termos comumente? Eles buscam um significado ou eles já colocaram uma definição específica para aquela pessoa? Clóvis: Eu acho que eles nem buscam o significado, é um definição de uma classe na área de Educação Física, de uma pessoa que vai me ensinar, de um instrutor. Instrutor é diferente de um personal trainer. O instrutor dá atenção e instrui a academia inteira. Agora, se o aluno chega e fala que quer um personal, é só para ele. Muitas vezes a pessoa nem sabe o quer dizer personal trainer, mas ela já sabe que é uma pessoa que vai dar atenção exclusiva para ela na área de fitness. Entrevistadora: Nunca ninguém cogitou que pudesse usar um termo diferente para esse tipo de profissional? Clóvis: Nunca, já fazem oito meses que eu sou dono da academia e ninguém questionou isso. Entrevistadora: Você acha que é por hábito que as pessoas usam esses termos? Clóvis: É um hábito, são os termos novos que chegam com as profissões novas. Agora tem até aquele personal stylist que veste as pessoas. É um termo americanizado, hoje ninguém fala personal estilista, ele não fala que quer um personal para me vestir, ele já vem com o termo pronto da forma que aprendeu. Entrevistadora: Digamos que sejam dois exemplos, um poderia ser “ Fitness Show” e o outro fosse o “Show de Ginástica”, ou Amostra de Ginástica, em qual você iria? Clóvis: Nós iríamos saber o workshop o que é. Como eu disse para você, tudo que vem de fora, o brasileiro é assim, na verdade a gente sabe que nós estamos muito à frente de muitos países nessa área do fitness, mas tudo que é importado, tudo que vem em termos em inglês ele causa mais confiabilidade. Isso eu falo para qualquer área, até na escola, se você pegar um método, uma parte em inglês, você vê que chama mais a atenção do pai, chama mais atenção do aluno e dá mais confiabilidade. Pois existe uma mesma empresa aqui no Brasil que faz o que a “Body System” faz, mas eles não atingem 10% da camada. Ele é um programa mais barato e usa o nome nacional. Entrevistadora: E você conhece o método? Clóvis: Conheço. É um método bom também. Só que é como eu falei para você, agora eles são fundadores da pró-fitness. Eles estão trazendo uma empresa venezuelana para trazer um nome estrangeiro para acoplar nesse nome e agregar mais uns tipos de aulas para que melhore o atendimento. A de fitness eles vieram pessoalmente aqui, mas como o Body System está em todas as academias do país, a confiabilidade é muito maior, a dificuldade dessa empresa nova é de entrar no mercado que hoje já predomina uma marca super conhecida. Entrevistadora: Você acha que diante desse fato a língua é coadjuvante, ela interfere, ou as pessoas optam mais pelo fato de ser importado, de ser americano independente da língua ou não? Clóvis: Eu acho assim, de uns tempos para cá eu tenho notado cada vez mais uma influência da língua inglesa no meio da gente. Antes não existiam esses termos que hoje são usados, parece que nem são mais termos em inglês, já são termos abrasileirados, que já fazem parte da nossa língua. Acabamos acoplando dentro do dia-a-dia da vida da gente. Não é mais uma questão de você querer usar ou não, você é obrigado a usar. Tudo hoje, você pega uma revista na área de fitness, ela tem um monte de termos técnicos em inglês e você é obrigado a saber, acaba tendo que interagir. O que eu acho é que existe um “interagir” da língua inglesa com o português não é um diferencial é um interagir, está entrando dentro da língua nacional e está virando termo da língua nacional. Entrevistadora: Mas só voltando ao evento, você optaria pelo evento escrito em língua inglesa, porque você faria isso? Clóvis: Aquela confiabilidade, com certeza um curso desses, com pessoas de fora dando palestras de outros países, com certeza eu encontraria a tecnologia de ponta para a minha área. Mesmo que eu venha a participar desse outro curso, por exemplo, congresso, com propaganda que irão estar apresentando uma feira com produtos de última geração, exposta para quem quiser comprar. Mas no caso de uma feita escrita em inglês, a gente já imagina que virão produtos importados, tudo que vem de fora é novidade. Como eu falei, tá mudando essa concepção, o Brasil é o 6º país na área do fitness já. Então, percebe-se que o Brasil está buscando, só que o tem feito o Brasil crescer foram essas áreas americanas que vieram para cá e que estão fazendo o fitness no Brasil dar uma mudada geral de 180º na academia. Entrevistadora: Essa presença maciça e mesmo a presença enquanto método, enquanto empresas aqui dentro, principalmente pelo que você tem destacado as norte-americanas, incomodam você? Clóvis: Não. Não me incomoda em nada, é um diferencial para se buscar, muitas vezes a gente deixa de optar por um produto nacional pra comprar um produto importado. Os dois podem ter boa qualidade, já é do brasileiro buscar, nem que for para dar uma olhada no produto importado ele vai dar. Nem que esse custo possa ser diferente do que fator aquisitivo do que ele possa ter, mas ele vai buscar pelo interesse em saber. Entrevistadora: Você normalmente opta pelo importado ou pelo nacional? Clóvis: Se eu tenho condição financeira, eu opto sempre pelo importado. Eu fechei agora essas duas franquias de aulas, fiz opção por essa franquia pelo conhecimento já, são franquias que começaram juntas praticamente, mas a Body System é uma franquia que cresceu e a outra parece que não, são esses diferenciais que fazem que a gente tenha o interesse de sempre buscar lá fora, pois tudo que vem de fora é melhor. Entrevistadora: Bem na entrada aqui da sua loja está escrito “Shop Suplementos”, quando você bate os olhos assim em shop, o que lhe vem a mente? Clóvis: Seria a loja do suplemento, se fosse loja do suplemento dentro de uma academia não soaria legal para a academia, porque tudo acompanha. Os nomes todos acompanham, eu optei por shop, fica mais legal. Shop Suplementos, pronto, casou. Entrevistadora: Esse é o nome da sua loja? Clóvis: Isso. Entrevistadora: Shop Suplementos? Clóvis: É. Entrevistadora: Você optou então pelo nome shop ao invés de outro. Clóvis: Shop Suplemento, porque fica um termo mais bonito um termo que chama a atenção, diferente de loja do suplemento, ou comércio do suplemento. Hoje todos gravam os termos, dizem: “A shop está aberta, está fechada”. O pessoal liga para mim: “A shop já está aberta”, “já tem gente na shop ”. É um termo que tem facilidade de pegar. Entrevistadora: É por isso que você acha mais bonito? Clóvis: É tudo marketing. Entrevistadora: Vamos agora para o outro setor da sua atividade, a atividade de promoter que você desenvolve. Quais são as vantagens e desvantagens e como você desenvolve essa atividade? Clóvis: Agora não, eu tenho a minha academia assistente, tenho a minha academia. Eu já vivi disso, agora não, mas eu tenho bastante experiência, aqui na Cidade A quando querem fazer um desfile, todos me procuram antes. Eu já fiz bastante aqui, quando eu tinha mais tempo, agora o que me poda para mexer com essa área de moda é o tempo que eu me dedico aqui na minha empresa. Entrevistadora: Eu vejo que quando eu me refiro às palavras da língua inglesa, eu vejo que é outra área que tem uma presença maciça, como você vê a presença dessas palavras inglesas no mundo da moda? Clóvis: A moda brasileira, de uns quatro anos para cá, é que a moda brasileira engatou na moda internacional. Hoje se ouve falar de alguns estilistas brasileiros ali fora. Mas antes, tudo que era bom era importado, toda roupa que era importada era Calvin Klein ou outra. Eram marcas que vinham para o Brasil, eram marcas caras. Então, tem muitas marcas nacionais que têm nomes em inglês, isso tem ficado, mas, a moda brasileira avançou bastante. Então, termos que são usados hoje na moda é porque vieram praticamente todos importados, a presença da moda no Brasil só começou a crescer com a influência da moda americana, italiana, Milão, Paris. Como por exemplo, São Paulo Fashion Week, hoje é um evento que quase noventa por cento é feito com estilistas nacionais, mas para abrilhantar, sempre trazem alguma modelo americana, e sempre trazem uma marca de fora de algum estilista americano. Entrevistadora: Por que você acha que eles usam São Paulo Fashion Week ao invés de Semana da Moda em São Paulo? Clóvis: Pelo marketing. São Paulo Fashion Week é a facilidade de gravar o diferencial. Em São Paulo existe a Semana da Moda, que acontece antes do Fashion Week. Aconteceu agora faz uns dez dias atrás, a Semana de Moda em São Paulo. Só que o São Paulo Fashion Week é o “São Paulo Fashion Week” até hoje. É um evento maior, mais glamuroso, todos os estilista disputam um espaço no São Paulo Fashion Week. É o peso da língua inglesa ainda no Brasil. Entrevistadora: Você estava falando das palavras importadas no mundo da moda. Você lembra, assim, das palavras que você usa no seu dia-a-dia quando você lida com moda? Clóvis: Tem alguns termos técnicos que a gente usa, exemplo, fashion. Isso é fashion, isso não é fashion. Entrevistadora: O que é o fashion para você? Clóvis: O fashion é que está na moda, démodé, não sei nem o que é, mas démodé é que está fora de moda. Entrevistadora: Tá fora de moda? Clóvis: É, não sei o que é, démodé é o que caiu fora de moda e o fashion é o que está acontecendo. Mas tem várias palavras em inglês, que são usadas hoje. O personal stylist, agora me deu um branco, mas tem bastante. Entrevistadora: Eu fiz aqui uma lista de palavras. Para você o que soa melhor, estilista ou personal stylist? Clóvis: O estilista é aquele que desenha a roupa e o personal stylist é aquele que veste a pessoa. Exemplo: as atrizes, as modelos elas têm um personal que veste elas. Você vai em uma festa tal. O personal stylist vai dizer “ Você vai usar esta roupa, com esta bijouteria ou com a jóia, com esse sapato e com essa bolsa. É essa a diferença. Hoje já existe essa diferenciação, do estilista que é aquele que desenha e que cria a roupa do personal. Entrevistadora: Moda e fashion? Clóvis: O fashion é mais usado, porque fashion é mais fashion! (risos) Entrevistadora: Fashion Rio e o Rio Moda, por exemplo, Curitiba Fashion Art, e Arte da Moda de Curitiba. Para qual você iria? Clóvis: O Curitiba Fashion Art, com certeza! Entrevistadora: Por quê? Clóvis: É o eu falei, tudo que é termo. Existem profissões ligadas, especialmente a área de beleza, estética, se você falar a questão de cremes importados. Tudo o que vem de fora soa melhor, é diferenciado, é belo, é mais novo, mais chique. E infelizmente nessa área de beleza e de estética é o que pede, é o que vale. Entrevistadora: Você acha que faz diferença para as pessoas que estão inseridas no mundo da moda? Gostam de usar esses termos ou não? Clóvis: Elas gostam de usar e existem termos que são usados em inglês e muitas pessoas usam, sabem o que é o termo só não sabem passar ele para o português. “Underwear” muita gente fala, mas não sabem o que significa em inglês. Entrevistadora: Como é definido o termo underwear para as pessoas que fazem uso do termo? Clóvis: Underwear é mais roupa íntima, mas usamos também para shortinho, roupa leve, saia curta, blusinha, roupinha, tipo a roupinha do dia-a-dia, modinha mais curtinha, a modinha mais sensual, mais curta, mais fresca. Entrevistadora: Roupas leves? Clóvis: Mais leves! Isso, exatamente! Ele não define só roupas íntimas, tem essa definição também para roupas mais leves. Entrevistadora: Design e desenho, têm alguma diferença? Clóvis: Design é aquele que cria a moda, agora desenho é aquele que não foi formado ainda, que está aprendendo a desenhar. Designer é aquele que já chegou no top do topo. Olandina: Estaria acima do desenhista? Clóvis: Muito acima. Na área de moda sim. Entrevistadora: Designer, por exemplo, e estilista? Clóvis: O estilista ele cria o estilo, o designer vai botar isso no papel. O estilista vai criar todo um estilo. Existem roupas que não dá para se usar na rua, aqueles vestidos, aquelas roupas enormes e tal. Mas são tendências que os estilistas pegam e jogam na passarela e depois os designers criam as roupas em cima daquilo que foi apresentado. Entrevistadora: Ah, sim! Clóvis: Então, tem essa diferenciação também. Entrevistadora: Digamos que se houver duas grifes e que você deveria optar por uma delas para um desfile seriam: Crystal Fashion e a outra Moda Cristal. Qual você acha que chocaria mais? Clóvis: Crystal Fashion. Seria até um exemplo de uma etiqueta que teria tudo para chegar e estourar. Agora, Moda Cristal, se eu chego para você e digo, é uma confecção, e como é nome da confecção é Moda Cristal, todo mundo vai achar que é uma confecção de fundo de quintal, de fundo de casa de quem está começando e tal. Há diferença, né? Não adianta, a influência da língua inglesa na nossa língua é grande. Hoje quer queira ou não o brasileiro tem que falar um pouco de inglês. Ele já aprende até a falar um pouco, é “hot dog” o “cachorro quente”. Até nos cardápios das lanchonetes daqui, eles trocaram o termo cachorro quente por hot dog. Entrevistadora: Faz alguma diferença o book e o álbum? Clóvis: Toda modelo que vai buscar uma carreira solo, ela tem que fazer o book. Esse book é pedido em toda agência, agência de publicidade ou agência de modelos, pedem o book da modelo. Entrevistadora: E não o álbum? Clóvis: E não o álbum. O álbum vai soar assim: o álbum de fotos da casa dela, que ela tirou totalmente na casa dela, um álbum assim, do conforto da casa dela. Agora o book não. É um livro profissional, para a vida profissional dela. Entrevistadora: Enquanto modelo? Clóvis: Isso, enquanto modelo. Com fotos do que ela já fez. O book seria um livro da vida dela. Pra ela atingir o grau de modelo que ela deseja, ela vai colecionando porque dentro dos books de modelo tem as capas de revistas que elas fazem, tem as fotos de editais, então elas vão formando o book. Entrevistadora: Que são vários estágios? Clóvis: Isso, então o termo book para álbum é diferenciado. Apesar de ser a mesma coisa. Se for na tradução é a mesma coisa. Só que para a gente que mexe na área é um termo totalmente diferenciado. Exemplo: eu vou trazer meu álbum de fotos, mas eu não quero ver teu álbum de você com tua cachorra, teu papagaio, com a tua mãe ao lado. A gente quer teu book fotográfico, a gente quer o teu book empresarial. Entrevistadora: Ah, tá. Clóvis: Já virou um termo. Já o último termo na moda é esse aí, não existe álbum na moda brasileira, o que existe é o book. Entrevistadora: Entre look e visual? Clóvis: Look também. Entrevistadora: Existe uma diferença? Clóvis: O look é mais agressivo, a gente já fala nem que a outra palavra venha, um look mais sensual, abrasileirado. A primeira palavra tem que ser look. Não é o visual o mais sensual, é o look o mais sensual. Então, são palavras que já fazem parte, já tinham que estar nos dicionários de língua portuguesa porque são palavras que ninguém vai mudar, porque ninguém vai chamar um book de álbum e muito menos um look de visual. Ninguém vai fazer isso. Entrevistadora: Você acha politicamente correto? Clóvis: Que está correto o uso do inglês na língua nacional? Entrevistadora: Isso! Clóvis: Olha, eu não sei se seria certo ou se seria errado. O país que hoje não acompanha isso, é como eu falei, o país, a profissão e a pessoa que não acompanha esse crescimento ela está totalmente fora do mercado. Então hoje eu nem ligo. Se fosse aquela visão tupiniquim, como eu já falei, dizer “não” e que tudo tem que ser do Brasil, dar valor às coisas do Brasil. Ótimo! Eu sou brasileiro, visto verde e amarelo, amo o Brasil e é um país que eu não troco por nada, mas na área empresarial, a gente é obrigado a conviver com esses termos e a gente não pode mudar. Como eu falei, hoje já faz parte da linguagem do brasileiro. Entrevistadora: Você mudaria se você tivesse possibilidade de fazer? Clóvis: Não mudaria porque pra mim isso não iria mudar em nada. Como eu falei, eu não mudaria, eu acho que é um diferencial em termos de cultura. A pessoa que aprende de termos pequenos ela acaba, queira ou não, é como eu falo, tem horas que você ouve umas palavras em inglês, você vai passar. Quando chega na área que surge alguma coisa nova na área de inglês, algum exercício novo, como o body balance”, eu fiquei pensando o que é balance. Então o balance se você for pegar na tradução do balance para o português não tem muito a ver com que quer dizer o termo body balance da aula do body balance. Esse balance que eles colocaram na aula foi assim, de equilíbrio, porque é tudo ioga, de movimentos de alongamento onde você faz equilíbrio, desestressa e tal. Então, não adianta mais tentar pegar o inglês “na lata”, e tentar passar ele para o português para definir um termo. Não existe mais isso. Entrevistadora: Cada atividade... Clóvis: Cada atividade você é obrigado, por exemplo, o balance a generalizar ele. Não adianta pegar um termo assim único, tem pegar um termo mais amplo, porque a língua inglesa já faz parte, e eu não mudaria não, hoje eu convivo muito bem com isso, de vez em quando eu tenho dificuldades com meus alunos e não atrapalha. Entrevistadora: Não atrapalha? Clóvis: Não atrapalha em nada não. Entrevistadora: Eu enumerei algumas grifes aqui, Água Doce, André Lima, Cavalera, Complexo B, BR Men´s Wear, Blue Man? Você conhece? Algumas dessas? Clóvis: A que eu conheço a BR eu conheço, a Blue Man e algumas não. Entrevistadora: Para você adquirir ou colocar, por exemplo, num desfile, faria alguma diferença se fosse em língua portuguesa? Aqui no caso, as primeiras que eu elenquei Água doce, André Lima, Cavalera. E se fosse em língua inglesa faria alguma diferença? Você optaria por qual? Clóvis: Por exemplo, para uma passarela, a Cavalera já é um marca conhecida. Hoje ela não tem o peso de uma Ellus e da BR. Mas hoje a Cavalera é mais forte que a Blue Man. É como eu falo... Entrevistadora: Água doce? Clóvis: Água doce, como eu falo assim, o soar da Água Doce... Eu prefiro iniciar com uma Ellus, que é um marca fortíssima. Aí você pega uma BR que também é ali de fora, aí você intercalaria com outras nacionais. Mas o chamariz seria realmente alguma coisa de fora. Entrevistadora: Carro chefe seria? Clóvis: Carro chefe seria em inglês. É como eu falo para minha área. E quem falar que não existe isso é demagogia, que uma pessoa que mexe na área de moda e fitness que dá para ficar alheio a todos esses termos e falar que não se pode usar, que isso não pode estar acoplado na língua portuguesa hoje. Entrevistadora: O pessoal que você lida aqui no mundo da moda e mesmo na academia é mais ou menos de que nível sócio-econômico? Clóvis: Aqui na academia o nível é classe A. Logicamente que eu tenho pessoas de classe mais baixa. Mas a grande maioria é “A”. Entrevistadora: E na moda? Clóvis: Moda também é a mesma coisa. É como eu falo para você, a moda, esta parte estética, essa parte da beleza gera uma auto-estima para as pessoas. É como eu falei, 90% das pessoas que me procuram aqui na academia é para a parte estética. Não é só pra manter forma, pra manter a saúde. Se dizem que é só pra saúde, mentira, 90 % é para a parte estética. Hoje a parte estética no mundo é muito importante. Quem não souber desses termos, é considerado fora da moda, uma pessoa “out”, então você pega assim... Entrevistadora: Pessoa out? Clóvis: É uma pessoa out. Entrevistadora: Dentro do mundo da moda é usado o out? Clóvis: É isso. Up e out. Out é o que está caindo. Entrevistadora: Out é o que está fora? Clóvis: Então, existe isso no mundo da moda, no mundo da beleza, da estética, se você pegar um esteticista, ele vai te falar mais termos em inglês do que eu. Todos aqueles aparelhos importados, os lasers novos de última geração são todos em língua inglesa. Entrevistadora: Do seu conhecimento na área da língua o que você estudou e o que você pensa hoje sobre o ensino diante daquilo que você estudou? Clóvis: Eu já fui dono de uma escola de ensino infantil, fundamental e médio e o inglês que é passado nas escolas particulares a gente leva ele mais a sério. Apesar de que existem falhas gravíssimas dentro dessa área do ensino. Um aluno ele pode estudar na melhor escola, mas se ele não fizer um curso conjuntamente específico do inglês, ele não consegue sair com um inglês bem fluente. E principalmente a língua estrangeira no Estado, é muito vago. Muito vago, muito vago, então todos os alunos que estudam numa escola estadual. Eles sabem os termos que todo mundo ouve, o fashion, o Fashion Week, o hit da moda, tudo... Entrevistadora: Não foi ensinado? Clóvis: Que não foi ensinado na escola. Entrevistadora: E onde você acha que é ensinado? Clóvis: Essa palavras são todas ensinadas no convívio na nossa sociedade, no nosso meio, dentro da academia e da área de moda em que fala-se muito mais termos em inglês do até mesmo na área de esportes, eu acho. Na área dos esportes fala-se mais do na área alimentícia, eu acho. Então existem áreas onde o inglês tem mais influência: na área da moda, da estética, da beleza eu acho que o inglês tem um peso muito grande aí. Entrevistadora: Duas camisetas, uma com uma mensagem escrita em inglês a outra em língua portuguesa, por qual você optaria? Por quê? Clóvis: Eu tiro uma base, se você for em uma loja, você não vai achar uma camiseta com uma mensagem em português. As únicas mensagens em camisetas que vem em português são dos evangélicos. (Entra a secretária na sala onde está sendo feita a entrevista e menciona uma frase que tem o termo “top”). Entrevistadora: Na fala da sua secretária que acabou de entrar ela disse top. O que é o top para você? No mundo da moda? Clóvis: Top é o topo onde a gente chegou. Entrevistadora: No máximo? Clóvis: O top é a melhor parte, onde está o melhor. Entrevistadora: O que você acha que se usa para chamar a atenção, por exemplo, (mostrando uma revista de moda ). Esta é uma revista de moda, “Elegance is an atitude!” e não “Elegância é uma atitude”. Qual é o impacto? O que diferencia um do outro? Clóvis: Vai chamar a atenção para a pessoa que vai tentar passar para ver o que quer dizer essa palavra e já a própria fotografia de mulher maravilhosa, linda, e esse relógio com os diamantes de lado, já profere que seja um artigo importado. É por isso que eu falo que é o peso da língua inglesa na beleza, na moda. Entrevistadora: As pessoas que manuseiam essas revistas você acha que elas procuram saber o que significa ou não faz diferença ou é mais o look da revista? Clóvis: Eu acho que é mais o look da revista mesmo. A pessoa só vai se interessar em conhecer alguma palavra só se, de repente, ela achar alguma coisa mais interessante, uma palavra que ela acha que é diferente e alguma coisa que chame a atenção dela. Então ela vai querer saber o que a outra palavra quer dizer para complementar. Se for uma palavra que ela não tem conhecimento nenhum eu acho que ela passa meio despercebida. Entrevistadora: A maioria? Clóvis: A maioria. Entrevistadora: Mesmo do mundo da moda? Clóvis: Mesmo do mundo da moda. Entrevistadora: Neste anúncio tem “Backstage São Paulo Fashion Week”. O que representa o backstage para você? Clóvis: Aqui eu acho que deve ser uma marca, uma grife. Esse nome eu acho que é uma grife nacional e que está usando um termo em inglês para chamar a atenção. Não sei. Entrevistadora: Você conhece uma grife nacional que optou por usar o nome em língua inglesa? Clóvis: Eu conheço a Camisaria. Deixa eu lembrar... Camisaria Podium. Tem bastante, só que agora assim, eu não lembro. Entrevistadora: Mas você acha que isso faz diferença para vender produtos? Clóvis: Tudo que soa em inglês chama mais a atenção. Se você ponha uma menina vestida com uma roupa diferente e ponha o nome em inglês, chama mais atenção do que estar com a mesma roupa e o nome em português. Todo mundo quer uma grife americana, uma grife inglesa, uma coisa chique. Entrevistadora: O que você acha das pessoas que defendem a permanência de palavras em inglês e daquelas que querem limitar e até proibir, que não aceitam o uso de termos da língua inglesa no Brasil? Clóvis: Eu sou da parte das pessoas que para mim a língua inglesa entrando é um termo facilitador. Uma pessoa que já tem noção de inglês e vai ouvir, vai aprender muito mais fácil, pode fazer uma associação de idéias queira ou não você acaba pegando um pouquinho. Se eu pegar um texto que tem termos que eu uso mais ou menos direto que ser o que quer dizer mais ou menos o texto, não vou saber certo, mas tenho mais ou menos aquela idéia de passar o que quer dizer. Quanto a proibir, isso eles não conseguem nunca, porque não é apenas no Estado de São Paulo, ou em uma determinada região, já tá a nível nacional. Hoje ninguém estranha mais, por exemplo, São Paulo Fashion Week, quem vai querer mudar o nome de um evento desses? Então, não tem como mudar isso, mais. E também eu acho que isso não vai trazer benefício nenhum pra nossa língua o que vai alterar e vão ser criados termos para essa mesma definição. É como eu falo, existem palavras em inglês que não tem em português. Uma academia de ponta é uma top academia, uma academia de ponta é uma super academia, mas não é uma top. Então, não existe um termo nacional que defina esse top da academia. Uma top model como a Gisele Bündchen, por exemplo, tem a modelo de sucesso, mas uma top como a Gisele, ela é a top. Não existe ainda um termo nacional que eu acho que defina isso. É super modelo, mas super mesmo, mas que chega no final é aquilo e acabou. Entrevistadora: É isso então. Obrigada pela entrevista e pela atenção.
Download