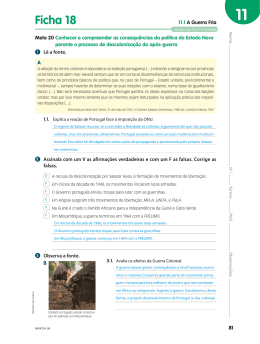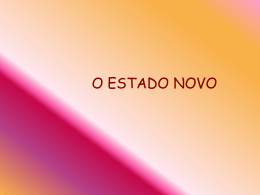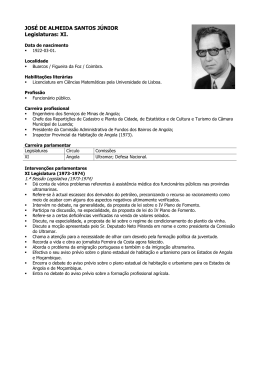Dora Alexandre O OUTRO LADO DA GUERRA COLONIAL Memórias para além das armas e dos combates Prefácio de Adriano Moreira Índice Prefácio .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 11 Nota prévia da autora .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 17 Introdução .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 21 Do conflito diplomático à guerra pelo território .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 21 O início da guerra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 I – A mesma nação… num continente diferente Para África, em força! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 27 A descoberta de uma nova realidade .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 La Belle de Luanda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44 Gentes e costumes africanos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 Quem vai à caça… dá e leva! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 64 Os animais são nossos amigos… mas nem sempre! .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73 II – Estranhas formas de guerrear Militares em pé de guerra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 83 Guerra sim… mas sem tiros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 94 Contra a guerra… cantar, cantar! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 106 III – A vida no mato Uma tropa mal preparada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 113 Guiné, o destino menos desejado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 123 Outros infernos coloniais .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 135 Missões atribuladas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 145 Trocas e baldrocas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 164 Vítimas que a guerra não fez .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 171 Crimes e troféus de guerra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 180 IV – Uma logística complicada Engenharia, construção… e muito desenrascanço! .. .. .. .. 189 Ementas ad hoc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 200 Ninguém come! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 219 Saúde à portuguesa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 223 V – Desanuviar o espírito em tempo de guerra Boys will be boys .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 235 Encontrar a paz em tempo de guerra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 244 A mais antiga profissão do mundo… em versão colonial .. .. .. .. .. .. .. 263 «Pifas», o repórter de guerra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 271 VI – Saudades de casa Bate-estradas para cá e para lá .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 281 O Movimento Nacional Feminino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 289 Artistas além-fronteiras .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 294 Finalmente, o fim da guerra! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 307 Agradecimentos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 327 Bibliografia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 329 Lista de pessoas entrevistadas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 331 Prefácio H á um conceito, que define uma circunstância angustiante, e que se traduz em afirmar que a história, e dela a guerra, são apenas escritas pelos vencedores. De regra considerando um líder como o detentor da glória da vitória, representado, para a eternidade presumida, num monumento público que de regra associa um cavalo à sua atitude de liderança sem medo. Mesmo os cronistas que não se dedicam à heroicidade da chefia, e à sabedoria do estratega, tornam-se referências, para memória futura, pela descrição do desastre coletivo dos combates. Lembremos consagrações de D. Afonso Henriques, de Afonso de Albuquerque, ou, mais universais, Alexandre, Péricles, César, para não acrescentar os que lideraram as duas Guerras Mundiais, sendo que a segunda, de 1939-1945, ficou gravada na memória da humanidade pela entrada do poder atómico em exercício, no Japão vencido perante a eficácia da agressão. Não faltam por isso documentação e análises sobre o desastre coletivo que assombrou o mundo, mas não fazendo esquecer o assombro de São Gerónimo e Hydace, o primeiro narrando a invasão de 406-407 ap. J. C., ou a Crónica de Hydace ao dar notícia da invasão da Ibéria pelos Alanos, Vândalos e Suevos em 409 ap. J. C., ainda a descrição da Batalha de Poitiers (732) pelo Anónimo de Córdova, assombrado com a invasão dos árabes, nem a fúria suscitada à quarta cruzada pela riqueza de Constantinopla tomada em 1204, os desastres das Guerras de Religião e a Europa vista 12 O outro lado da Guerra Colonial por Luís XIV (1661), ainda a campanha de Napoleão vista por Tolstoi, a lenda negra do que Anatole France chamou «La folie coloniale» (1904), e finalmente os cinquenta milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial. Parece agora um desafio, que não pode ser ignorado, e que afeta a organização científica da estratégia, consagradora de nomes como Mackinder, Colin Gray, Jacques Attali, Brzezinski, Samuel Huntington, e, neste século xxi sem bússola em que nos encontramos, os que alinharam a teoria e a prática do terrorismo, incluindo valores religiosos no seu conceito estratégico. Todo este panorama, que exigiu escolas especializadas, doutrinadores consagrados, e líderes vitoriosos, remete para o esquecimento que as massas humanas sacrificadas são compostas por homens, cada um deles sendo um fenómeno que não se repete na história da humanidade, morrendo, e com ele, ilusões, projetos, afetos, amparos, talentos perdidos, com coragem ou sem ela, aceitando o sacrifício ou detestando a violência, anónimo entre milhões de anónimos. Nesta perspetiva recordo apenas o monumento ao 9 de Abril, que era no século passado homenageado cada ano para lembrar o exército português esmagado na Flandres, na Guerra de 1914-1918, homenagens que foram abandonadas com o pretexto de que nenhum país consagra uma derrota, mas não entendendo que se tratava de consagrar a coragem dos sacrificados em massa. A mudança de perspetiva parece finalmente ter aberto caminho, e persistido, quer pelos monumentos que terras pequenas ergueram aos seus mortos na guerra, gravando-lhes os nomes, o mesmo se passando com o Movimento que consagra, nas margens do Tejo, os que perderam a vida na guerra de África que antecedeu a descolonização. Mas a literatura vai agora mais longe, e referirei apenas o já famoso livro de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, prémio Goncourt. É a vida e morte dos seus personagens bem individualizados que inspira o autor, embora tais personagens sejam símbolos, mais do que homens concretos que passaram por este mundo em guerra. Mas o livro de Dora Alexandre vai mais longe, como o físico que procura a origem da vida, tendo visto, ouvido, e gravado o depoimento de cada um, como moléculas testemunhas participantes, ativa e passivamente, num desastre humano que é a guerra, tanto para vencidos como para vencedores. Ao talento profissional, e à perspetiva humanista da sua for- Prefácio 13 mação, acrescenta a inspiração que lhe foi enriquecida pela experiência vivida do «outro lado da guerra», dos combatentes de que partilha a memória dos que foram e não voltaram. E sem abandonar a esperança, que se traduz em esperar que a narrativa faça voltar o sorriso cúmplice e triste aos que não podem esquecer o sacrifício dos vivos e dos mortos. Adriano Moreira Outubro de 2014 introdução Um país «do minho a timor»... reclamado pelos originais proprietários A era dos Descobrimentos despertou nos portugueses a paixão pelo mundo e o desejo de desvendarem – e de beneficiarem – de territórios além-mar. Partindo de um canto da Europa, Portugal deu novos mundos ao mundo mas também soube guardar uma parte para si próprio. Um pequeno país com vistas largas, que daria por si na posse de colónias – ou províncias ultramarinas, como se lhe queira chamar – espalhadas por quatro continentes: um país que ia «do Minho a Timor». Mas o império, construído ao longo de cinco séculos, foi-se despedaçando aos poucos e, no século xx, levaria um golpe letal, com os territórios africanos a reclamarem autonomia. Em janeiro de 1961, Angola abriu hostilidades à presença colonial portuguesa e a Guiné-Bissau e Moçambique seguiram-lhe o exemplo. A revolta africana viria a encontrar a forte resistência do regime salazarista, resultando num conflito que duraria 13 longos anos e custaria muitas vidas e muitos recursos. Do conflito diplomático à guerra pelo território Para quem não sabe ou já não se lembra, importa recordar que a comunidade internacional teve um papel fundamental no desencadear dos conflitos no Ultramar, concedendo, direta ou indiretamente, uma certa legitimidade à luta pela autonomia: desde a adesão, em 1956, que Portugal era pressionado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para que abdicasse do controlo dos territórios ultramarinos que negava juridicamente serem 22 O outro lado da Guerra Colonial «colónias» mas que clamava como seus. Criara-se desde logo um braço de ferro com a ONU em torno do artigo 73º da Carta das Nações Unidas, segundo o qual os Estados membros «que assumiram ou assumam responsabilidades pela administração de territórios cujos povos ainda não se governem completamente a si mesmos reconhecem o princípio do primado dos interesses dos habitantes desses territórios e aceitam, como missão sagrada, a obrigação de promover no mais alto grau, dentro do sistema de paz e segurança internacionais estabelecido na presente Carta, o bem-estar dos habitantes desses territórios (…)». Salazar recusa prestar informação sobre os territórios que possui e que, em conjunto com a metrópole, formam supostamente uma única e alegre nação. Como reportou ao jornalista francês Serge Groussard, do Figaro, «Não existem possessões portuguesas, mas pedaços de Portugal disseminados pelo mundo.»1 Logo, o artigo 73º não teria aplicação no caso português. Claro que à ONU chegavam por portas e travessas relatos de miséria, atraso medieval, doença, fome e falta de infraestruturas básicas nos territórios ultramarinos portugueses e, com a crescente adesão de países africanos à ONU, a pressão internacional intensifica-se. Da XV Assembleia Geral, em 1960, surge um conjunto de medidas que apontam a mira a Portugal, nomeadamente a Declaração sobre a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais (Resolução 1514), que proclama o direito à dignidade humana, igualdade entre nações, respeito pela raça, sexo, língua e religião de cada um… e o termo rápido e incondicional do colonialismo. Salazar é que não estava pelos ajustes. Continua a recusar a ideia de possuir colónias, pelo que a ONU toma a iniciativa de, em nova resolução (1541), especificar que todos os países têm a «obrigação de transmitir informação sobre territórios geograficamente separados e que sejam étnica e culturalmente diferentes do país que os administra». Aplicava-se, portanto, como uma luva ao caso português e, para que não restassem dúvidas, uma terceira resolução (1542) elenca expressamente os territórios não autónomos que Portugal administra, reforçando o dever de prestar sobre eles informações às Nações Unidas. Ainda assim, o regime continua a fazer orelhas moucas à pressão da ONU, corroborada paralelamente pelos Estados Unidos e, para Salazar, 1 Nogueira, F. (2000a), Salazar, a Resistência 1958-1964, Barcelos: Companhia Editora do Minho, p. 6. A entrevista teve lugar no final de agosto de 1958, em Lisboa. Um país «do minho a timor»... reclamado pelos originais proprietários 23 as flagrantes diferenças entre as condições de vida na metrópole e nas províncias ultramarinas são uma falsa questão: conforme justificou candidamente ao jornalista do Figaro, «a cada um segundo o seu grau de evolução. Um iletrado não pode votar, tanto faz em Lisboa como em Lourenço Marques»2. Na verdade, iletrados era coisa que não faltava no Portugal metropolitano mas, neste campo em particular, África saía claramente «vencedora»… Naquele início dos anos 60, assiste-se no mundo a uma vaga de descolonização e autodeterminação dos povos, o que deu um alento sem precedentes aos movimentos africanos que iniciavam uma luta pela libertação. E, entre as colónias portuguesas, Angola foi a primeira a aproveitar essa maré. O início da guerra António de Oliveira Salazar começou o ano de 1961 com uma grande dor de cabeça quando o paquete Santa Maria foi alvo de um sequestro em pleno mar das Caraíbas, num conluio luso-espanhol cujo cabecilha era o capitão português Henrique Galvão. Claro que o episódio – um protesto contra a falta de liberdade política em Portugal – atraiu ainda mais as atenções internacionais para os podres do regime salazarista. Passado pouco tempo, a dor de cabeça do presidente do Conselho ter-se-á agravado, agora com consequências que se adivinham crescentes. Já no dia 6 de janeiro houvera uma intervenção das Forças Armadas para reprimir uma greve de trabalhadores do algodão na Baixa do Cassange3 e, a 4 de fevereiro, a noite de Luanda assiste a tumultos graves. As forças portuguesas dominam a situação, mas morrem sete pessoas. No dia seguinte, os funerais dão azo a novos tumultos e, entre forças da ordem e atacantes, o balanço de mortos sobe para 24. Algo se passa em Angola… Apesar dos tumultos e dos avisos da delegação local da PIDE e do adido militar norte‑americano, que antecipam uma intervenção de terror perpe2 Nogueira, F. (2000a), Salazar, a Resistência 1958-1964, Barcelos: Companhia Editora do Minho, p. 7. 3 O governador de Angola, Rebocho Vaz, refere-se aos protestos da Baixa do Cassange escrevendo que «os agentes da Cotonang, como reis absolutos, não permitem que os pretos se desloquem a outras zonas para se irem amigar (juntar-se a uma mulher), ver a família que está doente ou tratarem de tudo aquilo que lhes é indispensável e humano, coagindo-os pela força. Como foi possível haver tanta incúria e tanta corrupção? E tanta impunidade? Como?» (Gomes e Afonso, 2009, p. 12). trada pela União das Populações de Angola (UPA), o chefe do Governo português continua como se nada fosse. Talvez por inércia, talvez por considerar que os acontecimentos dramáticos uniriam os portugueses em torno do regime. Mas no norte de Angola decorrem já reuniões secretas, afiam-se catanas e circulam estranhos panfletos que mobilizam a população para a festa de casamento da filha do Nogueira, a 15 de março. O mesmo dia, curiosamente, em que os Estados Unidos votaram pela primeira vez contra Portugal na ONU, a favor de uma resolução relativa à política portuguesa em Angola. A «festa» de 15 de março revelou-se afinal o início de uma brutal ofensiva da UPA, com a chacina de quase mil homens, mulheres e crianças nas povoações e fazendas de café por todo o norte de Angola. Catanas, mocas e pedras espalham a morte durante dias em toda a região norte, onde a presença militar portuguesa é escassa. Salazar começa por minimizar os acontecimentos mas a escalada de terror e os relatos que chegam à metrópole acabam por obrigar o ditador a reagir publicamente: quase um mês depois, envia «rapidamente e em força» um contingente para Angola. As tropas começaram a chegar em maio, quando já se evacuavam milhares de residentes, enquanto os colonos que ficavam nas terras tentavam defender-se como podiam, com o pouco apoio que a Força Aérea lhes conseguia prestar. Começara aquela que seria para uns a Guerra Colonial ou do Ultramar, e para outros a Guerra da Libertação. Viria a alastrar à Guiné e a Moçambique e a mobilizar, durante 13 longos anos, mais de um milhão e trezentos mil combatentes portugueses, a esmagadora maioria oriunda da metrópole. Os mortos foram mais de oito mil, e os que voltaram com deficiências físicas permanentes mais de quinze mil.4 4 FONTE: www.guerracolonial.org capítulo i A mesma nação… num continente diferente Para África, em força! A no após ano, desde o início da guerra, milhares de portugueses – militares de carreira e milicianos – cruzaram o oceano Atlântico rumo a África para se juntarem às operações militares que defendiam os territórios que o regime teimava em considerar seus. Outros já viviam nas colónias, filhos de portugueses ou africanos «colonizados». Fossem eles estudantes, pedreiros, médicos ou guardadores de rebanhos, mancebos de todo o país eram chamados a cumprir o serviço militar obrigatório que, regra geral, incluía uma estada de dois anos em terras africanas. Para os militares de carreira, esses dois anos podiam estender-se. Num país ainda marcadamente rural e numa altura em que a liberdade de informação não era propriamente o ex libris da nação, fazer a tropa e passar pela guerra fazia parte da vivência nacional masculina. Conforme o grau de esclarecimento de cada um, podia ser encarada como uma obrigação inquestionável a cumprir ou como uma afronta à liberdade pessoal que ainda por cima implicava um risco para a integridade física ou mesmo o termo da própria vida. Muitos destes jovens não sabiam ao que iam ou não estavam preparados para o que os esperava. Era o caso do furriel Carlos Rios, da Companhia de Caçadores 1420, que assume ter ido para a Guiné como se fosse para o Minho ou Trás os Montes. Outros, como o alferes Belmiro Tavares da Companhia de Caçadores 675, tinham bem a noção do que lhes estaria reservado. Estava no segundo ano de Filologia Germânica quando foi chamado para a tropa e, tendo a guerra começado há três anos quando 28 O outro lado da Guerra Colonial lhe destinaram a Guiné, já ouvira relatos do que por lá se passava. Sabia bem que, naquelas circunstâncias, era preciso optar entre ser corajoso ou cobarde e que, estando involuntariamente num cenário de guerrilha, a missão principal era regressar vivo para a família. Se, para isso, fosse preciso matar alguém, pois que assim fosse, que remédio. Pelos mais variados motivos, outros mancebos houve que se viram recambiados para casa ainda antes de se juntarem às fileiras das Forças Armadas. Em 1968, ainda se estava a formar batalhão no Regimento de Infantaria n.º 1 da Amadora quando o médico João Dória foi chamado por um capitão a avaliar um determinado soldado e dar um parecer médico sobre a aptidão do rapaz para ser incorporado. O moço era das Beiras e crescera rodeado de mulheres – as de casa e as que vinham fazer provas de vestidos com a mãe que era costureira. Desde cedo se familiarizara com os encantos do mundo feminino e, na escola, era pródigo em fazer peritagens de moda às colegas com quem passava o tempo. Foi, pois, inevitável que adquirisse certo ar efeminado que deixou o capitão preocupado: desconfiava que o rapaz era homossexual, os outros já implicavam com ele e seria o cabo dos trabalhos levá-lo para a Guiné durante quase dois anos. Se o médico o desse como inapto, ficava em casa e evitava uma série de problemas. Depois de colocar um conjunto de questões ao soldado, o Dr. Dória lá apurou que o rapaz de facto não ligava nenhuma a raparigas e que, no duche com os restantes camaradas, muitas vezes era assolado por uma certa perturbação… Com base nisto, fez um favor a toda a gente e lá emitiu o seu parecer médico para o capitão: inapto. A dispensa por incapacidade também podia ocorrer já em território ultramarino. Uma vez chegados às capitais das colónias, alguns contingentes passavam por um curto período de adaptação – o chamado IAO, Instrução de Adaptação Operacional – antes de seguirem para os mais variados destinos. Mas no caso dos Comandos a chegada ao terreno significava uma fase operacional de contacto direto com o inimigo, necessária para completar o curso e para a atribuição do crachá que finalmente averbava a especialidade de Comando. Sendo uma tropa especial, muitos tinham já ficado pelo caminho, e outros ficariam ainda naquela primeira prova de fogo. Foi o que aconteceu a um certo furriel da 38.ª Companhia que, no primeiro contacto com o IN(imigo), ficou de tal maneira gago que nunca mais conseguiu falar direito. O trauma e a gaguez foram tão severos que o homem acabou por ser desmobilizado e regressou à pátria sem histórias de bravura em combate para contar. A mesma nação… num continente diferente 29 Fosse o destino a Guiné, Angola ou Moçambique, às famílias que ficavam restava a angústia de ver partir os entes queridos e a dúvida se os voltariam a ver. Ciente do que significava aquela partida, um certo comandante do Exército, o tenente‑coronel de Infantaria Andrade e Sousa, que liderava o Batalhão de Caçadores 4513, teve mesmo a iniciativa de escrever uma carta às famílias dos homens que com ele partiriam para o Ultramar. O intuito era dar-lhes algum alento. Em fevereiro de 1973, a família do furriel Fernando Costa esteve entre as privilegiadas que receberam a sentida missiva do dito comandante, que lamenta desde logo não poder escrever a carta por seu punho – uma falha perdoável, já que o batalhão era constituído por quase setecentos homens. Na carta, o tenente-coronel Andrade e Sousa assumia querer minorar-lhes o desgosto da separação do filho e dava mostras de genuína dedicação: «os Senhores não necessitarão, seja de quem for para saberem ou para que melhor se cuide do vosso filho, pois estarei sempre pronto a atendê-los e servi-los, logo que se me dirijam. Ele próprio lhes dirá como escrever-me para o Ultramar onde ficarei à vossa inteira e absoluta disposição.» Um exemplo de abertura e boa vontade e, ao mesmo tempo, uma tentativa de Imagem da Companhia Colonial de Navegação, «Paquete Uíge». Imagem cedida por João Dória. 30 O outro lado da Guerra Colonial atenuar compreensíveis receios, pois naquela altura já as consequências da guerra eram bem visíveis em muitos dos que regressavam – com ou sem vida. Até 1972, ano em que se investiu em Boeings 707, o transporte dos contingentes militares era feito quase sempre por navios fretados, entre eles o Vera Cruz, Niassa, Quanza, Império ou Uíge. (Mal) adaptados ao transporte massivo de tropas, faziam com que a travessia do Atlântico fosse, para boa parte dos elementos mais rasos da cadeia militar, um autêntico treino para as agruras que aí vinham. Se os oficiais ainda gozavam de algum conforto e de alojamentos condignos, regra geral os praças viam-se encafuados ao molho no porão do navio em camaratas repletas de beliches onde não costumava cheirar muito bem. Que o diga o alentejano José Farinho Lopes, jornalista reformado da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que na tropa teve a infeliz ideia de ocultar a verdadeira escolaridade para ter menos responsabilidades… e se arrependeu assim que o primeiro companheiro de beliche lhe vomitou em cima. Já no caso do fuzileiro Manuel Reis, que foi para Moçambique em 1968, não lhe vomitaram em cima mas passou a viagem inteira mal disposto e enjoado com a ondulação do Vera Cruz, onde seguiam 3500 homens. Como resultado das precárias condições dos navios, não terão sido poucos os militares a dormir a céu aberto no convés, a beber cerveja pelo Atlântico afora para distrair o espírito do que os esperava. Foi o que fez o cabo enfermeiro José Santos, que partiu para a Guiné em janeiro de 1971 no paquete Angra do Heroísmo. Tinha um beliche no porão mas pouco o utilizou: preferiu dormir num sofá, no corredor da zona onde os furriéis estavam instalados. Era mais confortável e cheirava melhor. Hoje dificilmente teria entrado naquele barco com aquele destino mas, na frescura da juventude, quem visse José Santos e os camaradas da Companhia de Artilharia 2519 (os futuros Sempre Operacionais de Mampatá), parecia que iam de férias. Era uma aventura! Os seis dias de viagem foram passados em autêntica cowboiada, a galhofar entre jogos de cartas e banhos na piscina do navio, apesar do mau tempo. Para trás, no cais de Alcântara, tinham deixado as respetivas famílias em choros e desmaios de aflição. Nestas viagens de barco, os oficiais tinham mais sorte, usufruindo de todas as comodidades da primeira classe de um paquete. Apesar de ir contrariado e com ar de poucos amigos, o alferes miliciano José Paracana A mesma nação… num continente diferente 31 Fotografia militar identificativa do alferes Paracana, com ar de poucos amigos. Imagem cedida por José Paracana. guarda excelentes recordações da sua viagem para a guerra, em setembro de 1971 no paquete Uíge. Tinha um confortável camarote com casa de banho privativa e seis refeições por dia, indicadas numa ementa impressa em papel de boa qualidade, onde constavam acepipes como salada de corned beef ou sonhos à portuguesa, duas sopas à escolha e ainda pratos que iam variando com o desenrolar dos dias. As refeições eram servidas num bonito salão ao som de música clássica de Beethoven ou Haydn e requeriam uma vestimenta a rigor: a farda número dois, para ocasiões especiais. Para entreter os passageiros, havia a bordo jogos, pianista profissional e sessões de cinema. O alferes Paracana não chegou a ver o porão onde viajavam os praças pois a comunicação entre as duas zonas do navio não era evidente – dois mundos à parte, estrategicamente separados. E até hoje não sabe de onde lhe apareceu um cabo que conhecera na Trafaria, e que veio das profundezas pedir-lhe para tomar um duche na casa de banho do camarote porque não aguentava mais a falta de higiene. Nessa mesma viagem, soube que um dos praças morreu no porão, ao cair de um beliche para dentro de um buraco sem alçapão que dava acesso ao casco do navio.
Baixar