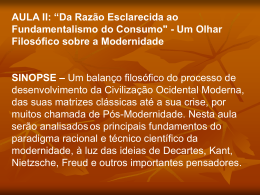1º Semestre de 2009 Revista FACOM Nº21 Uma ciência integral, um propósito comum José Correa Leite Resumo Abstract Este artigo retoma as afinidades eletivas entre o desenvolvimento da ciência e da modernidade como sistema modulado pelo desenvolvimento do mercado mundial capitalista, mostrando como qualquer alternativa para a convergência de crises que marca a atualidade (tem a crise ambiental como a mais grave) exige a constituição de uma nova visão de mundo, um novo paradigma epistemológico. Isto exigirá a superação de uma característica central do modo científico de pensar estabelecido por Galileu e Newton, já amplamente questionado na comunidade científica, mas ainda amplamente presente na vulgata da ciência transmitida pela mídia, a rígida separação entre fatos e valores, conhecimento objetivo do mundo e produção de sentido. This article retakes the elective affinities between the development of science and modernity as a system modulated for the development of the capitalist global market. It explain that any alternative for the convergence of crises that marks the present time (with the environmental crisis as most serious) demands of a new vision of world, a new epistemological paradigm. This will demand the overcoming of a central characteristic of the scientific paradigm established by Galileu and Newton, already surpassed in the scientific community, but still widely present in the vulgata of the science transmitted for the media, the rigid separation between facts and values, objective knowledge of the world and production of meaning. Palavras-chave: Ciência, Conhecimento, Significado, Sentido, Visão de Mundo, Ecologia, Humanismo Keywords: Science, Knowledge, Meaning, Sense, World Vision, Ecology, Humanism. A modernidade constitui um sistema coerente organizado a partir do mercado mundial, dinâmico e intrinsecamente concentrador de riquezas. Ela foi se organizando, ao longo do último século, a partir da associação entre o industrialismo generalizado e o consumismo, de um lado, e a tecnociência, de outro, ambos geridos por finanças cada vez mais globais. Mas um salto de qualidade ocorre agora na medida em que este sistema estabelece uma relação predatória com a biosfera planetária até o limite da sua aniquilação (no que importa para nossa espécie), que torna sem sentido a idéia de progresso humano reduzido ao avanço dos poderes societários sobre os fluxos de matéria e energia.1 A modernidade já realizou a parcela de suas promessas que podia, efetivamente, implementar. A convergência de crises que vivemos (ambiental, econômica, energética, alimentar, hídrica) 1 Nº21 2 Revista FACOM 1º Semestre de 2009 mostra que ela desencadeou forças (produtivas e destrutivas) e dinâmicas (avanços qualitativos do conhecimento, abundância, crescente impacto e interdependência entre a humanidade e a biosfera planetária de conjunto) que já não podem ser contidas ou resolvidas em seus marcos, que remetem para além de sua lógica; a manutenção do seu enquadramento básico revela-se, em face da presença destes elementos, cada vez mais destrutiva. Mas se uma nova forma de civilização é necessária, ela não poderá se viabilizar simplesmente como rejeição de alguns aspectos do mundo moderno, mas como sua superação sistêmica, remetendo para uma nova organização social, um novo sistema relações globais e também uma nova infra-estrutura mental e seus valores explícitos e implícitos. Toda grande mudança histórica do passado envolveu alteração profunda das formas de produção de sentido e de apreensão do entorno, da visão social de mundo dos envolvidos, das suas formas básicas de conhecimento e significação, rompendo com grilhões que aprisionavam o pensamento anterior. Esta é, de fato, uma das características da emergência de uma nova civilização, ainda mais evidente quando se pretende que isso se dê como resultado de uma revalorização da atividade política. Quando os gregos passaram a viver em cidades-estado e a desenvolver relações políticas, tiveram que inventar, nos séculos VI e V a.C., a filosofia – pois sua existência não era mais compreensível, para os setores mais ativos das pólis, a partir do pensamento mítico, o que por sua vez alavancou o desenvolvimento das relações políticas (como demonstraram Vernant e Meier). Da mesma forma, a vida na modernidade demandou, depois do final do século XV, com o questionamento da visão de mundo estruturada pela fusão do cristianismo e do aristotelismo (Koyré), a invenção de uma nova forma de conhecimento, que afinal emergiu, sob a forma do pensamento científico, experimental e quantitativo, no século XVII e se tornou inseparável do capitalismo, do individualismo, dos estados nacionais e da política moderna, alavancando estas dimensões da existência contemporânea. As condições históricas do presente demandam hoje, como requisito para o avanço no processo “civilizatório”, a sistematização e difusão de um novo entendimento da vida, uma nova visão social de mundo, uma nova compreensão do ser humano e de sua relação com a natureza, a sociedade e o conhecimento, apta a nos fornecer orientações no âmbito expandido, planetário, em que se apresenta agora a comunidade humana – mais poderosa do que nunca, mas sem parâmetros para utilizar este poder, destruindo celeremente a vida na Terra. O parâmetro anterior, oriundo do mundo industrial, estrutura-se tendo o mercado como mecanismo de alocação de recursos em um mundo de escassez, engendrando crescente arrogância e hybris, perdendo racionalidade na medida em que transitamos, nas últimas décadas, para fora da escassez. Sem uma forma de compreendermos nossos problemas à altura das transformações que o mundo exige, estamos condenados a repetirmos velhas fórmulas e nos recolocarmos em sucessivos impasses. Esta forma de conhecimento que necessitamos – poderíamos chamá-la de uma “ciência integral” para retomar com outro nome o projeto que foi, em sua época, o de Galileu, o de uma “ciência nova” – terá, como as formas do passado, que fornecer não só uma epistemologia própria (fundamentando critérios de verdade ou validade das afirmações), mas também sua cosmologia (como vemos o mundo e nos relacionamos com ele), ontologia (o que pode ou não existir e sob que formas) e ética (que valores devemos perseguir na existência humana) práticas, além de ajudar a plasmar os novos processos de subjetivação e orientar a tomada de decisões em uma sociedade sustentável. Se é uma ilusão pretendermos mudar o mundo a partir de uma reforma moral dos indivíduos que ignore a política e o poder, é igualmente ingênuo querermos transitar para outra sociedade sem colocarmos a disputa de idéias na sua acepção mais ampla no coração da atividade política, de fato aceitando as premissas e fundamentos do mundo moderno e reduzindo a política real à manipulação das disputas de poder nestes marcos. 1º Semestre de 2009 Revista Toda ação humana pressupõe a adesão não só a teorias como também a valores, concepções morais e formas de entendimento – a visões de mundo no sentido forte do termo. Um forte movimento de mudança tem que estar alicerçado em uma produção comum de sentido, propósito, finalidade, em um novo processo de significação. A ciência, sua vulgata e a perda de sentido na modernidade A ciência, que se impôs como a visão de mundo moderna, nos forneceu a chave para a compreensão e o domínio da natureza. Se hoje algumas de suas premissas fundadoras nos parecem simplistas, no passado elas foram revolucionárias em termos cognitivos e práticos, dando à humanidade poderes antes considerados divinos (tornamo-nos “deuses de prótese”, diria Freud), prometéicos ou fáusticos, e impulsionando um salto moral na trajetória da nossa espécie. Maquiavel fundou o pensamento moderno buscando “entender as coisas como elas são”, separando este entendimento das avaliações dos comportamentos morais (com a valoração da política medida pelo que seria depois conhecido como razão de estado). É neste terreno que se formou no século XVII, a ciência moderna, experimental e quantitativa, consolidando a separação entre fatos e valores, portadora de verdades comprovadas, desvendando os segredos da natureza – um livro escrito em linguagem matemática, diria Galileu – e portanto (pensou-se cada vez mais) tornando-a passível de previsão e controle. Como afirmava seu contemporâneo, o chanceler Bacon, “conhecimento e poder são para o homem uma única coisa” (Novum Organum, livro 1, aforismo 3). Esta ciência “dura” – nascida da crise pirrônica dos séculos XVI e XVII, em uma Europa dilacerada pela disputa entre crenças religiosas e ansiando por certezas em um mundo em que nenhuma forma pré-estabelecida de conhecimento parecia mais oferecer segurança ou garantias – sempre pretendeu neutralidade axiológica, buscando separar rigorosamente aquilo que é daquilo que aspiramos. Ela foi, como colocou Descartes, uma “filosofia prática, pela qual, por conhecer a força e a ação do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam... poderemos empregá-los em todos aqueles usos a que são apropriados, tornando-nos assim como FACOM Nº21 que mestres e possuidores da natureza” (Discurso sobre o método, parte VI). Ela forneceu os alicerces epistemológicos para o revolucionário movimento de idéias que foi o Iluminismo, com sua valorização da razão e da universalidade – com suas formulações sobre o direito natural e declarações generosas sobre a liberdade, a igualdade e a fraternidade de todos os seres humanos. O mesmo vale para a posterior Revolução Industrial, embora aqui os termos do debate tenham que ser matizados. Não estamos falando sobre a dimensão normalmente tratada por historiadores como Hobsbawn ou Kuhn, que constatam, corretamente, que a Revolução Industrial não foi uma aplicação técnica das descobertas científicas anteriores (a engenharia é um empreendimento do século XIX). Mas a Revolução Industrial inglesa (ocorrida na segunda metade do século XVIII) se deu no interior do universo cognitivo criado ou consolidado pela Revolução Científica ao longo do século XVII: mecânico, atomista, determinista, valorizando as práticas experimentais, que tinha em Newton seu grande herói intelectual. Deu-se no marco da consolidação de uma mentalidade anterior à própria Revolução Científica, que a pressupunha, onde já imperava “um novo modo, mais puramente visual e quantitativo do que o antigo, de perceber o tempo, o espaço e o ambiente natural” que, segundo Crosby (A mensuração da realidade, p. 211), vem do final do feudalismo e se consolida no final do século XVI, mentalidade que teria dado aos europeus habilidades administrativas, comerciais, navais, militares e industriais decisivas para imporem sua supremacia no mundo. Deu-se, para retomarmos uma formulação de Koyré, no marco de uma cosmologia em que o homem não vivia mais no interior de um “mundo fechado”, mas sim de um “universo infinito”. No mundo mecânico e atomístico em que a humanidade passou a viver depois de Descartes e Newton, a ciência reduzia o papel do acaso na existência, dissolvia o cosmos – como totalidade abarcando também o divino e o transcenden- 3 Nº21 4 Revista FACOM 1º Semestre de 2009 te, portadora de sentido para todas as coisas, e agora substituído pelo universo imanente da res extensa, da necessidade bruta – e surgia como garantia de verdades demonstráveis, estabelecendo uma enorme superioridade sobre os conhecimentos baseados na fé ou na argumentação descolada da experiência. A ciência baseada em evidencias empíricas demonstraria sua efetividade e empoderaria a sociedade moderna frente à natureza, desencantada e tomada como substrato inerte da ação humana, atingindo seu ponto culminante com a formulação, por Darwin, da evolução por seleção natural – momento decisivo da eliminação da teleologia da esfera da ciência. O positivismo foi o corolário desta identificação entre ciência e verdade, separando a objetividade que a ciência propiciava no entendimento dos fatos da subjetividade dos juízos de valores e das crenças, apoiado na convicção de que a humanidade teria, com a ciência moderna, se assenhorado de poderes capazes de moldar a natureza em função de seus desígnios. Uma nova epistemologia, cosmologia e ontologia se reforçavam mutuamente, separadas de uma ética explícita (mas carregando uma implícita). No final do século XIX, esta ciência alavancava o desenvolvimento tecnológico e logo estabelecia as bases para o surgimento de uma esfera tecno-científica. As práticas científicas concretas, na medida em que se desenvolviam fieis ao seu projeto de entender e controlar o mundo, foram dissolvendo algumas destas crenças em segmentos da comunidade científica e apreendendo pouco a pouco o caráter complexo do universo. Uma modificação qualitativa do que se entendia ser a prática científica explodiu no século XX, em especial com a mecânica quântica, estimulando uma revisão da idéia de “Ciência” nos círculos especializados e abrindo espaço para algo que talvez pudesse ser designado como uma multiplicação de “ciências”. Isso, todavia, nunca levou a uma redefinição ampla, em escala social, da concepção inicial de ciência, mecânica, atomística, quantitativa e “neutra”, buscando separar fatos de valores como garantia de objetividade, cada vez mais difundida como vulgata para parcelas crescentes da sociedade. Esta ciência, magicamente portadora de um futuro radiante para a humanidade, em que todos nossos problemas seriam solucionados por meios técnicos cada vez mais poderosos, tornou-se, como bem perceberam os frankfurtianos, um mito com existência real, embasado no predomínio da razão instrumental na civilização capitalista industrial. Esta ciência-mito tem uma dupla face. De um lado, estimula a efetivação de todo tipo de sonhos (da derrota de doenças terríveis e extensão da vida ao transporte veloz e a comunicação instantânea) e pesadelos (das armas de destruição em massa à industrialização completa da vida) tecnológicos, que se transformaram na tecnosfera contemporânea e modulam boa parte da pesquisa científica. De outro, o mito continua presente como desejos-fantasias nas capas das revistas jornalísticas semanais, que hoje prometem “a cura do câncer”, “transplantes de órgãos a partir de células tronco” e “vidas saudáveis de 150 anos”, como há dez anos prometiam a decifração do “livro da vida” e a “cura de todas as doenças”, e há trinta anos prometiam a “colonização da Lua e viagens à Marte” e a “vida no fundo do mar”. Assim, diferente do pensamento mítico, da religião e da filosofia, que a antecederam como formas totalizadoras de conhecimento, a ciência cresceu e se tornou hegemônica no entendimento do mundo como portadora da promessa de controle da natureza, mas não como portadora explícita de valores – dos parâmetros para se definir o certo e o errado, o bom e o mau, o justo e o injusto, para estabelecer propósitos de vida... Mas não é possível ao ser humano viver sem atribuir sentido. Os projetos políticos (e existenciais) da modernidade tiveram, assim, tanto que assumir os valores implícitos na proposta original da ciência (“verdade”, “controle das condições de existência”, “desempenho”, “objetividade”, “neutralidade”) como continuar recorrendo aos sistemas de valores herdados das visões de mundo do passado, as religiões e filosofias. As visões de mundo antes dominantes foram formadas no período denominado por Jaspers de Era Axial, a partir do século VI a.C., como respostas historicamente situadas à crise do pensamento mítico, até então vigente. As religiões – designação que recobre realidades cosmológi- 1º Semestre de 2009 Revista cas, axiológicas e éticas muito diferentes nos reinos e impérios do Oriente Médio, Pérsia, Índia e Extremo Oriente – e as filosofias – nas cidadesestado das Bacias do Mediterrâneo que conheciam uma vida política – foram constituídas para restabelecer a identidade e os processos de significação dos membros de distintas sociedades antigas em lugar dos sistemas de “pensamentos selvagens” anteriores. Mas as filosofias e religiões foram murchando e perdendo vigência na Cristandade como formas efetivas de conhecimento, entendimentos totalizadores do mundo, na medida em que os europeus se colocaram no centro da formação da nova economia-mundo, engendraram o capitalismo como sistema social maquínico, construíram novas relações cada vez mais instrumentais com a natureza e deslancharam a dinâmica da modernidade. O novo mundo que se constituiu a partir de 1492 demandava uma nova forma de conhecimento, que permitisse aos europeus, que o dominavam, administrarem sua existência – forma afinal encontrada, depois de 150 anos de disputas entre a visão de um universo regido por leis da filosofia natural apreensíveis pela matemática (simbolizado por Copérnico) e o naturalismo mágico ou vitalista (simbolizado por Paracelso), na “ciência nova” de Galileu e Newton. A Ciência (experimental e quantitativa) tornouse inseparável da modernidade, fornecendo os alicerces de sua instituição material e imaginária. A Revolução Industrial consolidaria este entendimento do mundo, fornecendo um estímulo irresistível à ciência: ela se tornava cada vez mais necessária para gerar lucros para as grandes empresas industriais. Desde o final do século XIX, ciência e técnica se combinavam nos departamentos de pesquisa das grandes corporações. Alimentada também por vultosos investimentos governamentais (afinal a pesquisa científica e sua aplicação na produção de armamentos se pôs, cada vez mais, no coração da “segurança nacional”), uma vasta esfera tecno-científica tornou-se central no mundo capitalista/moderno. A mediação entre a sociedade e a natureza passou a ser exercida, cada vez mais, por complexos sistemas peritos, que possibilitam a vida urbana, fornecem energia, propiciam transportes e circulação de pessoas e mercadorias em escalas gigantescas, viabilizam a comunicação e oferecem, para as parcelas afluentes da humanidade, uma vida cada vez mais confortável (mas FACOM Nº21 trazendo também novos riscos, de alta conseqüência). Do nascimento à morte, a vida das parcelas dominantes da sociedade se desenvolve hoje em casulos dependentes da tecnociência e o próprio Homo sapiens se torna objeto da técnica, que assiste sua concepção e nascimento, medicaliza sua vida, modula seu comportamento e sua vida sexual e afetiva e estende sua existência (o “homem como objeto da técnica” para Hans Jonas). E estas ciência e técnica flanqueiam, agora, novos umbrais, graças à revolução da informática e das novas tecnologias de comunicação, que tanto aceleraram a produção, circulação e acesso a uma cultura cada vez mais sofisticada e sedutora (com a banalização da imagem) como alavancaram e globalizaram a circulação de informações e a produção do conhecimento científico (e de sua aplicação técnica). As tecnologias da informação alteraram a organização econômica e modificaram o cotidiano de bilhões de pessoas. Mas também viabilizaram novos ramos de pesquisa (genética, biotecnologias, nanotecnologias, análise dos sistemas complexos...) e trouxeram novas promessas fáusticas – além de novas ameaças, maiores e mais catastróficas do que nunca (como as iniciativas de geoengenharia planetária ou o terrorismo com armas biológicas). Mas embora a ciência praticada tenha se tornado cada vez mais complexa e distante de seu modelo inicial, ela continuou assimilada pelo imaginário social no seu formato original: portadora de certezas em um mundo de incertezas e instabilidade, neutra e objetiva, porque baseada na separação de fatos e valores. No senso comum, um conhecimento neutro, que pode ser usado para o bem ou para o mal. Esta vulgata – que amesquinha o trabalho de desconstrução de mitos e certezas das grandes mentes que construíram a visão de mundo científica nos primeiros séculos da modernidade – é também uma caricatura da ciência realmente praticada na produção do conhecimento de ponta sobre o universo e a vida, embora por vezes espelhe bem a 5 Nº21 6 Revista FACOM 1º Semestre de 2009 produção científica normal, altamente especializada, parcelizada e bastante associada à técnica modulada pelas necessidades do mercado e controlada por patentes. Sua prevalência e o lugar simbólico que ocupa no mundo atual não são, todavia, um acaso. Estão estreitamente ligados à busca de controle técnico localizado das várias esferas da existência. É necessário tornar a realidade mecânica, para torná-la instrumental, previsível e manipulável. Uma causalidade probabilística não garante, para além de âmbitos técnicos limitados, nem controle, nem resultados seguros, passíveis de serem transformados em mercadorias... Por não ser produtora de sentido, a ciência não eliminou nem a religião, nem a filosofia, que subsistiu de forma implícita ou explícita. Em lugar algum isso ficou mais explícito do que nas ciências humanas ou sociais. A concepção original de ciência, apesar de todas ambições (mecanicistas, positivistas, funcionalistas e estruturalistas), era impraticável na análise da sociedade. Para que algo aproximado pudesse existir, foi necessária uma reciclagem da filosofia e sua reforma, pela atribuição do caráter de verdade científica a uma crença (filosófica), a idéia da história como progresso humano; liberalismo e marxismo, capitalismo e socialismo compartilhavam esta mesma crença, na qual o progresso econômico foi gradativamente deslocando o progresso moral ou da razão do lugar central que tinha no Iluminismo. O critério maior de legitimação de qualquer governo tornou-se o crescimento econômico, sua capacidade de aumentar o acesso de sua população a bem materiais (ou aquilo que o consumismo e a cultura da descartabilidade considera um aumento do bem-estar). Mesmo para o marxismo – com exceções, como Mariátegui ou Benjamin – era bom o que impulsionava os fins últimos do desenvolvimento das forças produtivas, do fortalecimento da classe trabalhadora, nos parâmetros da racionalidade instrumental difundida pela Ciência moderna, o que lhe criou uma grande dificuldade para a reflexão ética! Hoje o “progresso” não é mais auto-evidente, não pode mais ser tomado como um valor em si. Muito do que é chamado de progresso (a começar pela acumulação generalizada de bens de consumo duráveis identificados com conforto e status social, pela geração de energia de fontes fósseis e pela maneira como grande parte da humanidade se desloca pelo planeta nos atuais sistemas de transporte – ou seja, a maioria da atividade produtiva atual) está destruindo grande parte dos ecossistemas do planeta e produzindo uma extinção em massa de espécies, que poderá arrastar consigo a humanidade. Não é necessário, todavia, nem mesmo chegarmos ao neoliberalismo e à crise ecológica para questionarmos o progresso. Basta recordarmos que o século XX foi a época mais violenta da história humana, marcada do início ao fim por genocídios – dos armênios aos ruandenses, passando pelos então ultramodernos campos de extermínio nazistas – e pela ameaça do holocausto nuclear, e que Auschwitz e Hiroshima cristalizavam as técnicas mais modernas de sua época. A modernidade organizada a partir do sistema auto-télico que é o capitalismo construiu as formas de conhecimento necessárias para sua efetivação e suprimiu aquelas que não lhe eram funcionais. A vulgata da ciência funcionou e ainda funciona, principalmente para as camadas afluentes e globalizadas da humanidade, como a visão estruturante de sua relação com o mundo. Isso tem uma parcela de responsabilidade não desprezível por nos encontrarmos, neste momento em que estamos em uma encruzilhada inédita para nossa espécie, frente a um cenário mental tão desalentador: a incapacidade de as instituições estabelecidas fornecerem uma medida estratégica para a ação humana para além da quantificação mercantil; as parcelas afluentes da humanidade mergulhadas na voragem consumista e agentes ativas da destruição da vida no planeta; vastas legiões de miseráveis passivas e desesperançadas, muitas vezes regredindo à fundamentalismos religiosos; uma cultura, tornada descartável, funcional para estimular a expansão permanente da produção industrial, mas que já não oferece aquilo que toda cultura do passado oferecia, parâmetros estáveis para a produção de sentido, para a existência e a atividade humanas. No mundo cada vez mais sem sentido em que vivemos, o descontrole e a hybris expressos na globalização são percebidos 1º Semestre de 2009 Revista por parcelas cada vez maiores das populações, que intuem que esta civilização gera uma irracionalidade sistêmica crescente. Mas as próprias vidas destas pessoas parecem tornar-se cada vez mais sem propósito – sem que elas vislumbrem alternativas dotadas de credibilidade. O consumo, o espetáculo, o individualismo e os modismos não são suficientes para dar um significado denso à existência humana, gerando uma crise no processo de identificação do indivíduo com a sociedade. “Não existe uma auto-representação da sociedade como centro de sentido e de valor, uma sociedade como que inserida em uma história passada e uma história por vir, dotada ela mesma de sentido, não ‘por si mesma’, mas pela sociedade que constantemente a re-vive e a re-cria dessa forma” (Cornelius Castoriadis, A ascensão da insignificância, p. 156).1 Esta perda de sentido é uma dimensão central da crise de civilização em que estamos mergulhados. A sociedade atual, é certo, continua reproduzindo crenças milenares que tem a adesão – profunda ou superficial – de bilhões de pessoas. Mas, fundamentalmente, produz um sentido banal para a existência de seus membros afluentes (e influentes): o hedonismo, o narcisismo, o darse bem e a busca de gozos privados são difundidos obsessivamente, produzindo ansiedade permanente nas pessoas. As opiniões, posições e desejos destas camadas se tornam cada vez mais volúveis e estes indivíduos “leves”, libertos dos imperativos das tradições e do peso do passado, são apresentados por alguns como pessoas mais livres. Lipovetsky caracteriza a sociedade atual como “pós-moralista”, devido ao “crepúsculo do dever” e ao desenvolvimento da “ética indolor dos novos tempos democráticos”. Giddens vai falar da “intimidade como democracia” e da prevalência da política dos estilos de vida. Mas estas são variedades modernas do individualismo possessivo ligadas a uma cultura que se tornou uma mercadoria entre outras, em circulação permanente, não oferecendo mais referências estáveis às pessoas. Se elas captam uma dimensão da existência de certas parcelas da sociedade, nada dizem sobre os grandes dilemas do mundo atual. Ou, se o fazem, é pela negativa: a formação de estruturas de personalidade manipuladoras e manipuláveis, que reificam os seres humanos, incapazes de empatia ou identificação com o outro (Adorno), que fa- FACOM Nº21 zem do desempenho demandado pelo sistema seu princípio de realidade (Marcuse), que consomem significados e experiências de vida através das imagens presentes em tudo e, antes de mais nada, em uma cultura efêmera, desprovida da densidade que a cultura ligada à vida vivida sempre teve (Debord). Mas as crises que se assomam em uma grande crise sistêmica demandam outra organização do mundo social e psíquico, outro modelo de civilização. O horizonte hoje colocado é o da ruptura não apenas com o capitalismo globalizado, mas com a civilização moderna. Na disputa política e de idéias dos últimos duzentos anos, a modernidade – expressa quer nos capitalismos, quer nos socialismos – representou o aprimoramento humano, a melhoria, o desenvolvimento e seus inúmeros sinônimos frente ao “antigo regime”, à “velha ordem”, às formações sociais arcaicas, pré-capitalistas ou a um capitalismo considerado “primitivo” para as forças produtivas disponíveis para a humanidade. É nesta ótica que socialistas se apresentavam como as forças do “progresso” contra a “reação” e se alinhavam com outras forças progressistas contra os reacionários. Até bem recentemente, como, por exemplo, na disputa conceitual travada no pensamento social dos anos 1980, frente a pós-modernismos considerados apologistas da ordem neoliberal, a esquerda sempre se colocava como defensora da modernidade – identificada com o projeto iluminista. Mas não é necessário sublinhar que, se tomamos a modernidade como uma época histórica, nada representa melhor a culminância do projeto moderno na época de seu esgotamento, no terreno das idéias, do que o pós-modernismo relativista, sua afirmação irrestrita do construtivismo social e seu culto dos fragmentos, em que culturas e estilos de vida são consumidos em um mercado de significados. O fato de a humanidade ter-se tornado mais poderosa em sua capacidade de manipular matéria e energia não significa que ela tenha se tornado mais sábia! Isso só resultaria de novas instituições sociais 7 Nº21 Revista FACOM 1º Semestre de 2009 e de novos processos de subjetivação, que teriam que constituir seres humanos muito distintos dos atuais. E da difusão pelo tecido social de uma compreensão muito mais abrangente e integrada dos processos da natureza e sociedade, hoje chapada e unidimensional, de um conhecimento do mundo muito mais profundo. Pistas para uma ciência integral 8 O diagnóstico traçado até aqui obriga, para sermos responsáveis, que trabalhemos pela construção de saídas coletivas nos diversos âmbitos – e, nos marcos que discutimos aqui, inicialmente no âmbito “filosófico”. Quais os caminhos para superarmos uma situação epistemológica e axiológica tão deprimente? Como pode emergir uma nova forma de conhecimento capaz de fornecer parâmetros melhores para orientar nossa atuação individual e coletiva? Quaisquer respostas que formulemos são aproximações tateantes e incertas, esboços de caminhos que só se revelarão falsos ou verdadeiros a posteriori, se forem efetivamente percorridos pelas sociedades atuais ou futuras; de outra maneira, terão sido apenas potenciais não efetivados. Nossa época demanda uma visão de mundo qualitativamente mais integrada e complexa, distinta daquelas hoje em circulação, capaz de totalizar uma apreensão e vivência muito mais plena da natureza, oferecer uma compreensão menos idealizada da história humana, da sociedade e da ciência moderna, colocar em perspectiva as demais formas de conhecimento e a inserção social do próprio conhecimento, situar o indivíduo o mundo, confrontá-lo com sua condição limitada e orientar sua ação. Temos necessidade de uma revolução epistemológica prática, uma nova forma de conhecimento capaz de superar em diversas áreas a separação entre fatos e valores, capaz de buscar ao mesmo tempo apreender da forma mais rigorosa a realidade e reconhecer sua relação com valores estruturantes de significado para a humanidade, restabelecendo uma idéia de propósito e sentido comum à atividade humana. As formas de conhecimento são invenções sociais, somente possíveis em algumas circunstâncias históricas únicas. Não ajuda muito especular abstratamente sobre estas condições; devemos, pelo contrário, mostrar as transformações que vem se dando no terreno epistemoló- gico contemporâneo, para evidenciarmos como elas podem apontar um novo marco cognitivo, capaz de lidar com muitos aspectos da existência não apreendidos pelas formas passadas de conhecimento. E não podemos deixar, neste percurso, de partir da ciência, a forma de conhecimento dominante que herdamos, embora ela não baste para dotar a humanidade da sabedoria necessária para enfrentar os desafios do presente – Habermas vai destacar (em “Fé e saber”) o papel civilizador desempenhado pelo senso comum de uma opinião pública democraticamente esclarecida pela ciência, que terá um impacto tanto maior quanto mais próximos do nosso cotidiano forem estes conhecimentos científicos, embora o filósofo não problematize a ciência necessária para cumprir hoje este papel. Há, em primeiro lugar, um desenvolvimento interno da própria ciência, em seus ramos de ponta, que caminhou para fora do modelo axiológico, cosmológico e ontológico proposto pela física newtoniana. Este modelo tinha se infiltrado gradativamente no “mundo da vida” moderno oferecendo uma falsa mas muito eficiente âncora de segurança existencial para a visão secular de mundo. Mas ele foi sendo solapado até o ponto de deixar de existir na pesquisa. Uma reforma inicial deste sistema foi empreendida pela física einsteiniana com a introdução do espaço-tempo pela relatividade geral. Mas foi a introdução da função de onda pela mecânica quântica que nos conduziu a um mundo que obedecia uma lógica probabilística. As implicações filosóficas das descobertas de Planck, Bohr, Dirac, Heisenberg e Schorödinger na primeira metade do século XX pareceram chocantes e inaceitáveis até mesmo para um dos formuladores originais da mecânica quântica, Einstein – que tentou, sem êxito, nos assegurar que deus não é um jogador de dados compulsivo. Todavia, se não tínhamos mais no mundo dos fenômenos quânticos uma causalidade determinista, ele continuava inserido em uma perspectiva geral passível de cálculo e manipulação técnica para produzir efeitos controlados (das armas 1º Semestre de 2009 Revista nucleares aos circuitos integrados, do laser à aparelhos de tomografia). Uma terceira ruptura, ainda mais profunda, em geral associada à figura de Prigogine, foi a introdução da flecha do tempo (do tempo irreversível) como aspecto central da realidade pela física dos processos de não-equilíbrio (que levou a conceitos novos de ampla utilidade como os de auto-organização e estruturas dissipativas) e pelo desenvolvimento dos sistemas dinâmicos instáveis – que constata que a irreversibilidade e o fluxo do tempo são fenômenos ontológicos incontornáveis, dando para parte das leis da natureza o sentido de possibilidades e não mais de certezas. É temerário retomarmos em um parágrafo, ainda mais para alguém de fora das ciências naturais, o significado destas descobertas para a física em primeiro lugar, mas também para a química, cosmologia, meteorologia, etc, disciplinas que foram sendo obrigadas à romper com a idéia de uma natureza mecânica e atomista, regida por um determinismo linear e pela previsibilidade, onde o limite para a previsão seria nosso precário conhecimento da realidade, para captar fenômenos e níveis de existência mais básicos regidos por lógicas probabilísticas e dinâmicas complexas, marcadas por processos emergentes, caóticos e de autopoiese (Maturana e Varela). Os fenômenos probabilísticos são, há muito, conhecidos na vida cotidiana em experiências como os jogos de azar ou os limites da precisão das medidas. Mas as questões colocadas em voga no século XX alteram profundamente a compreensão da realidade no seu nível mais fundamental, ontológico. E esta lógica passa ser cada vez mais aplicada não apenas à biologia (surgimento e evolução da vida) e à ecologia (nas dinâmicas das populações), mas também a fenômenos sociais (na análise de comportamentos coletivos, do trânsito às multidões, passando pela lógica de mercado). A imagem do mundo, ontologia e cosmologia desenhadas pela ciência até o século XIX seriam pálidas simplificações, até mesmo caricaturas, se comparadas com aquelas que a ciência foi impulsionando no último século. O que é a matéria, o que é o universo, o que é a vida, o que é a inteligência, como se constituíram e vêm se modificando são, todas, questões científicas maiores cujas respostas cada vez mais complexas (e sempre resultantes de trajetórias cheias de avanços e impasses) oferecem hoje FACOM Nº21 uma imagem do mundo contra-intuitiva, probabilística, de interdependência – avassaladora e nada confortante para os seres humanos que buscam certezas e um lugar especial no universo. O que significa para os não especialistas, por exemplo, dizer que o universo é constituído de 5% de matéria comum, 23% de matéria escura e 72% de energia escura? – sendo que nem mesmo os cientistas sabem o que seja a matéria e a energia escuras. Mas o aspecto decisivo é que grande parte das implicações destas descobertas ou debates não fica restrito aos cientistas, mas vaza da ciência para o senso comum, influenciando aos poucos, mas de forma profunda, as crenças e conhecimentos da população como um todo (como podemos observar, por exemplo, com um tema mais consolidado, como o do darwinismo). Estamos, pois, longe dos discursos pósmodernos sobre “o fim da ciência”; suas fronteiras são, ao invés disso, mais amplas do que jamais o foram, com uma nova era de descobertas se abrindo em vários campos ligados às perguntas fundamentais e mesmo existencialmente decisivas (por exemplo, a pesquisa por planetas extra-solares persegue hoje, de forma prática, a resposta à questão da existência da vida fora da Terra). Isso não remete tampouco para qualquer reconciliação com a religião ou o mito, mas para terrenos ainda mais inóspitos e instáveis, de modo que é fácil compreendermos porque a imagem que se difunde da ciência é a da proposta newtoniana. No abismo entre a multiplicidade de ciências complexas, o que elas nos revelam e a perplexidade perante as questões que nos trazem, de um lado, e a difusão saturada da vulgata pela mídia e pelo sistema escolar, de outro, a maioria da população continua agindo com base em um senso comum contraditório que por vezes ignora aspectos básicos das ciências. Isso permite entender porque mesmo a idéia simples da modificação imanente da vida explicada pela evolução por seleção natural esteja hoje sob o ataque religioso do criacionismo! Mas para os formuladores 9 Nº21 10 Revista FACOM 1º Semestre de 2009 e formadores da opinião pública estes debates mais sofisticados podem modelar e remodelar uma visão do mundo. A ciência cumpriu bem demais, neste terreno, sua missão, remetendo-nos para um universo que a humanidade considera, pelos valores que embasam as visões de mundo hoje dominantes, aterrador e inaceitável – um universo que só poderia ser amplamente assimilado nos marcos de outra cosmologia, outra ontologia e, fundamentalmente, de outra ética. Mas é claro que esta ciência de ponta da atualidade só terá o alcance potencial que lhe damos se for apresentada de forma distinta para um público amplo de forma que as implicações existenciais e axiológicas que coloca sejam aceitas, permitindo a aceitação da fragilidade da vida e da condição humana. Temos, em segundo lugar, as conclusões de mais de dois séculos de debates da filosofia das ciências. A separação de fatos e valores e a neutralidade axiológica sempre foram assumidas pela ideologia da ciência e pela filosofia espontânea dos cientistas como um de seus traços fundantes. Mas esta imagem não pode ser conciliada com a realidade. Desde Thomas Kuhn, ficou por demais estabelecido o caráter histórico do empreendimento científico (ainda que para Kuhn esta evolução não signifique seu enraizamento na história social mas seja o resultado da descrição da história interna da ciência, de seus paradigmas, que são patrimônio de uma comunidade de pesquisadores). A ciência se transforma na medida em que as comunidades científicas assumem novos paradigmas, que oferecem os programas de pesquisa normais, em torno dos quais trabalham a quase totalidade dos cientistas. Estas comunidades são componentes estratégicos da enorme camada de peritos que integram a esfera tecnocientífica que hoje media a relação da sociedade global com a natureza, trabalhando o projeto de eliminar o caráter natural da natureza, constituir um mundo purgado da natureza – tomada por uma busca de onipotência, em uma espécie de hybris que tem afinidades eletivas com a dos mercados sem controle. Embora a ciência normal tenha se pretendido desprovida de valores (apesar de ter na eficácia e no controle da natureza seus valores fundamentais, tematizados na origem por Bacon), ela é permeada por aspectos normativos. Hugh Lacey vai, procurando salvaguardar a objetivi- dade da ciência frente aos relativismos, elaborar uma lista de valores cognitivos abrangentes (desdobrados em inúmeros outros), utilizados na escolha de paradigmas ou estratégias: adequação empírica, consistência, simplicidade, fecundidade (fertilidade), poder explicativo e verdade ou certeza; ele as distingue das “virtudes científicas” que fundamentam uma autonomia da ciência, como objetividade, distanciamento, honestidade, integridade, razoabilidade, submissão à evidência (Valores e atividade científica, cap.III). Os valores cognitivos que garantem a objetividade do empreendimento científico são aqui distintos dos valores sociais que orientam a escolha das linhas e temas de pesquisa. Hilary Putnam retoma a tradição pragmatista (e Pierce) para lembrar que toda a experiência é permeada de valor e normatividade; a ciência é carregada de valores epistêmicos: coerência, plausibilidade, razoabilidade, simplicidade, naturalidade, beleza de uma hipótese, sucesso preditivo passado, etc (O colapso da verdade e outros ensaios, cap 2). “O conhecimento dos fatos pressupõe o conhecimento dos valores”, conclui Putnam, apesar de “a história da filosofia da ciência da última metade do século ter sido amplamente uma história das tentativas [com Popper, Reichenbach, Carnap, Quine]... de evadir-se dessa questão” (cap.8, p. 191-2).2 Se as ciências são portadoras de valores, cabe perguntar que valores almejamos para esta atividade, além das “virtudes científicas”; uma pergunta que remete, de fato, para a questão de que ciência precisamos e desejamos. Em termos menos abstratos, será que a lógica da pesquisa científica, nas suas culturas teóricas, seus resultados e nos sistemas técnicos decorrentes seria a mesma se o objetivo é o controle de processos naturais, medidos em termos de menor dispêndio de energia, tempo e custo, considerando que os recursos naturais são, para fins práticos, inesgotáveis e a biosfera não é ameaçada pela atividade humana?; ou se o objetivo é a geração de energia e a organização de sistemas de transpor- 1º Semestre de 2009 Revista tes sem emissão de carbono e a preservação da biodiversidade do planeta, produzindo o mínimo impacto sobre a biosfera já que a humanidade a está desestabilizando de maneira catastrófica? Estas não são questões em uma primeira abordagem científicas, mas são também questões científicas, com as quais a comunidade científica não pode lidar apenas na condição de cidadã, já que envolvem empoderamento e expertise técnica em suas áreas, definições que não podem ser tomadas apenas por critérios democráticos, etc. Devemos ampliar a educação científica da sociedade e o controle social sobre as atividades tecno-científicas; todavia isso não elimina o papel central que os “especialistas” terão não apenas nos debates de prioridades sociais, mas também na sua viabilização em termos científicos e tecnológicos. E isso requer que esta comunidade esteja mobilizada em torno de outros valores, que ela os coloque no centro de sua atividade de pesquisa. Em terceiro lugar, presenciamos hoje, nas discussões dos movimentos sociais sobre as ciências naturais e a tecnologia, um questionamento da separação entre valores e fatos, definições morais e conhecimento científico ou, como colocava Weber, a racionalidade substantiva e a racionalidade formal. É esta que, na modernidade, avança com o mercado e a administração impessoal. Heidegger vai deslocar a ênfase da administração para a tecnologia: a “jaula de ferro” da burocracia de Weber vai se transformar em todo o sistema tecno-científico que conforma a vida material moderna: de realidade neutra, a tecnologia passa a ser vista como dotada de um valor fundamental, a pura dominação. Este debate foi herdado por Adorno e Horkheimer, na saída da Segunda Guerra Mundial, em particular na Dialética do esclarecimento, que retrata de forma brilhante a transformação da razão em mito e a dominação cada vez mais destrutiva da natureza pela humanidade alienada, mas sem oferecer nenhuma rota de escape da onipresente dominação da razão transformada em técnica. É Herbert Marcuse que se recusa a aceitar esta aporia e propõe uma mudança no caráter da instrumentalidade, coerente com os objetivos de emancipação, uma “tecnologia da libertação, produto de uma imaginação científica livre para projetar e produzir as formas de um universo humano sem exploração e exaustão” (An essay on liberation, p. 19).3 FACOM Nº21 O problema transforma-se, então, não só no que a tecnologia está fazendo conosco, mas na questão política do que nós podemos fazer com a tecnologia realmente existente à nossa volta e que tecnologia queremos para o futuro. Os imperativos sociais fundamentais são internalizados como orientações de prioridades para a pesquisa científica e como culturas técnicas determinadas. É colocado como uma questão prática que o problema da ciência, da técnica e dos valores se torna passível de solução. Quando, por exemplo, movimentos camponeses ou ambientalistas de todo o mundo afirmam que as sementes incorporam valores e os contrapõem aos valores que legitimam a Monsanto. Ou quando as comunidades de software livre questionam a eficácia dos softwares proprietários, enfatizando que a mobilização colaborativa é mais eficaz para gerar conhecimento, compartilhá-lo e produzir um desenvolvimento técnico mais horizontal. Ou ONGs se perguntam sobre o sentido da pesquisa de ponta por corporações farmacêuticas se as patentes impedem que centenas de milhões de pessoas tenham acesso aos medicamentos de que necessitam para as doenças negligenciadas, enquanto bilhões são investidos em sofisticar e reciclar remédios de uso contínuo, aumentando cada vez mais a parcela de gastos com saúde nas economias de mercado e impedindo que a população pobre tenha acesso também aos medicamentos para estas doenças. Depois de um século de experiências traumáticas com o uso destrutivo da tecnologia de ponta, produzida por determinadas orientações de pesquisa das ciências duras, da energia nuclear à genética, elas deixam de ser vistas como neutras, para se tornarem o foco de disputas políticas intensas, que buscam reinseri-las em outras culturas técnicas, organizadas a partir de imperativos distintos da produção de armas ou consolidação de monopólios. Evidentemente, de nada ajuda tomarmos a discussão da forma esquemática com que ela aparece nas páginas dos jornais. 11 Nº21 12 Revista FACOM 1º Semestre de 2009 As pesquisas com transgênicos, por exemplo, não são, em termos rigorosos, um mal em si ou o princípio da precaução deveria ser aí tomado de forma tão estrita que paralisasse toda investigação, mas estes quase nunca são os pontos fulcrais em debate (ao contrário do que se alega). Nenhum geneticista trabalhando para as grandes corporações de agronegócios ou nas universidades em associação com elas deveria poder, honestamente, pretextar que seu trabalho represente o avanço do conhecimento humano ignorando que ele contribui para uma vasta maquinaria econômico-social que está retirando de bilhões de camponeses o controle das condições de sua existência. Conceber as ciências e as técnicas como campos de disputa de interesses, valores e rumos da civilização industrial e pós-industrial – superando tanto a visão ingênua da sua neutralidade (que é um problema distinto da sua objetividade e reprodutibilidade), como a ideologização primária que as vinculavam mecanicamente a interesses de classe – se tornou central para movimentos sociais que dialogam com centenas de milhões de pessoas pelo mundo afora. Mas temos que reconhecer o tamanho do desafio: quase todos os programas de pesquisa científica, seus parâmetros de avaliação e as culturas técnicas existentes são hoje muito mais um obstáculo do que um ponto de apoio para a luta por uma sociedade sustentável. Em quarto lugar, temos a situação das ciências sociais. O entendimento do mundo e da existência humana foi, ao longo dos últimos dois séculos, gradativamente separado da religião e secularizado. Navegando entre a vulgata das ciências nascidas da revolução newtoniana (depois reforçada pela darwinista), cada vez mais poderosa, e as ideologias oriundas das filosofias políticas, as ciências humanas moldaram uma apreensão “progressista” da sociedade e, nesta medida, auxiliaram na produção de sentido pelos indivíduos. Elas reivindicavam, em consonância com a razão, um estatuto de cientificidade, coerente com um horizonte mais amplo de futuro a ser construído, difundido por toda a vida social e alimentando uma dinâmica de disputa de idéias e projetos – um sentido de história, tão forte entre a Revolução Francesa e último quarto do século XX. Mas este impulso durou enquanto o capitalismo estava sendo desafiado por uma alternativa socialista vista como concreta por amplos se- tores da sociedade e apresentava, nesta disputa, alguma capacidade inclusiva; ele se esvaiu com a globalização neoliberal e o colapso dos socialismos burocráticos. Agora, a constatação do fracasso do mito moderno do progresso, compartilhado de maneira quase universal, criou um profundo impasse epistemológico nas humanidades, enquanto a inércia reproduz os velhos paradigmas herdados do século XIX e da virada para o século XX (ou suas reatualizações). As crises do presente se avolumam sem que qualquer alternativa política real, que alimentava o pensamento crítico, cresça e ocupe o vazio. Em termos kuhnianos, a ciência social normal não faz mais sentido como antes e outro paradigma deveria ser utilizado; mas somente se ele puder ser proposto de forma coerente, com mais poder explicativo que o antigo... Por fim, em quinto lugar, atingimos, com a questão ambiental, um patamar que nos remete inequivocamente para além da lógica da modernidade. Temos aqui uma determinação que subsume, hoje, todos os demais níveis da existência social. Boa parte da comunidade científica concernida no estudo do sistema Terra concluiu, a partir das suas áreas de conhecimento e dentro de todos os limites deste conhecimento que já debatemos, que a biosfera do Planeta Terra está no limiar de uma “mudança de estado” devido à conjugação dos impactos dos processos industriais e do modo de vida consumista sobre as dinâmicas do “sistema Terra” (atmosfera, mares, temperatura). Efetivada, esta mudança será, pela sua rapidez, catastrófica para quase todos os seres vivos do planeta e para a humanidade. Evitar esta mudança ou atenuar seus impactos é o imperativo maior na defesa do que podemos considerar de “civilização” e impõe uma rápida mudança tanto nas matrizes de energia e transportes da sociedade atual, como na ruptura com o consumismo. O problema se torna, todavia, mais dramático porque todos sabemos dos enormes obstáculos que se opõem a isso. 1º Semestre de 2009 Revista Daí o paradoxo que vivemos: a ecologia é uma ciência natural na acepção forte do termo, nascida como um ramo da biologia na esteira do darwinismo na segunda metade do século XIX, mas estruturada no século XX dentro de uma lógica complexa. Mas é esta ciência que está hoje no coração da Política, dos debates de sociedade mais vitais e estratégicos. Ao colocar-se o problema macro da relação entre a sociedade global e a biosfera planetária, ela constata a inviabilidade da continuidade do uso de combustíveis fósseis, do industrialismo e do consumismo... a inviabilidade a longo prazo do mundo hoje existente. Mas o paradoxo se amplia porque nenhum conhecimento ou sistema de idéias científico alia a análise da realidade viva (inclusive da sociedade humana no mundo) com a defesa de valores tão explícitamente como a ecologia. Trata-se de uma compreensão “objetiva” dos sistemas vivos desenvolvida a partir da valorização da diversidade da vida, que portanto enfatiza a importância da preservação desta diversidade, das condições de sustentabilidade dos diferentes ecossistemas, etc. E é ela que se coloca no centro da análise do mundo atual e de suas contradições, justificando a necessidade e urgência de outra forma de civilização. Qualquer que seja a apreciação que se tem da obra de James Lovelock, a defesa de Gaia, a preservação de certas características da biosfera planetária é um prérequisito para a própria possibilidade de sobrevivência da nossa espécie em marcos que possamos nos reconhecer como humanos. Porque projetando os futuros possíveis, isso não está mais dado em quaisquer condições: alguns se jogam de braços abertos nos delírios tecnocráticos e na vertigem do pós-humano, sonhando com a passagem pela singularidade (ou convergência tecnológica) ou com o surgimento de máquinas espirituais (Kurzweil). Mas, de outro lado, a ecologia acolhe, no diagnóstico do que é necessário para preservar a vida, numerosas ciências “duras” (climatologia, metereologia, planetologia, biologia, zoologia, botânica, oceanografia, etc), podendo conduzi-las para direções muito diferentes dos pesadelos da tecno-ciência. É entre estes dois caminhos que a humanidade terá que escolher. Em um caso, o conhecimento dominante será o oferecido pela ciência clássica. Em outro, por uma ciência integral, onde a ecologia terá um papel estruturante não apenas como FACOM Nº21 uma ciência normal, mas como fonte da sabedoria necessária para reestruturar as condições de existência humanas. A partir da ecologia adentramos outro terreno axiológico, invisível para o mundo moderno. Nele comparecem a questão da sustentabilidade, dos direitos da natureza e dos animais, da responsabilidade dos seres humanos de hoje para com as gerações futuras (para Hans Jonas o coração da ética contemporânea). Era uma questão que já tinha sido corretamente intuída, há mais de duas décadas, por Perry Anderson, que lembrava que “as relações entre natureza e história trazemnos para o momento constitutivo, longamente adiado, da moralidade socialista”. Em síntese, podemos constatar que a lógica complexa da realidade natural e social e os conhecimentos da ciência de ponta estabelecida para compreendê-la vêm sendo gradativamente apropriados pela sociedade contemporânea – tanto por setores da comunidade científica como por uma série de movimentos sociais, que rompem na prática com o mito da neutralidade axiológica. Isso tem, todavia, pouca relação com o lugar simbólico ocupado pela imagem dominante mitificada da ciência na fundamentação do mundo atual, que deve ser combatida pelos movimentos sociais e pela própria comunidade científica. Necessitamos, na encruzilhada histórica em que adentramos, de outros programas de pesquisa, outra lógica de valoração do trabalho científico, outro tipo de intervenção dos membros da comunidade científica na esfera pública (consideremos, por um instante, a forma como tem atuado James Hansen na questão da mudança climática...). A ecologia – uma ciência voltada não para o controle e a dominação da natureza mas para o entendimento das condições de preservação da vida – oferece um enquadramento macro para a reorganização do conjunto da esfera tecno-científica e da própria sociedade. Oferece também um paradigma de ciência muito mais útil para a vida prática da humanidade, na atualidade, do que o modelo newtoniano ainda difundido e tão instrumentalizado pelo poder. 13 Nº21 Revista FACOM 1º Semestre de 2009 Isso não elimina o impulso científico de decifrar os mistérios da existência (que os confrontou desde o século XVII como estamos agora fazendo, da física de partículas à cosmologia, da genética à paleontologia, da metereologia à planetologia?) e oferecer novos poderes à humanidade, reduzindo as incertezas e melhorando suas condições de vida. Mas isso deve ser radicalmente desconectado do enquadramento da ciência pela tecno-ciência mercantil, das ambições fáusticas ou prometéicas de moldarmos a natureza segundo nossas fantasias ou fazermos da acumulação de bens industriais, tornados símbolos de status, o propósito da vida. A ciência nova e integral que necessitamos para nos orientar no trânsito para outra civilização deve partir da constatação de que somos parte dos sistemas vivos e dependemos deles para continuarmos a existir; que devemos alcançar alguma espécie de equilíbrio na relação com a biosfera do planeta; que nossos conhecimentos são limitados e que, em muitos casos continuarão sendo, porque parte importante daquilo que existe segue uma lógica probabilística; que esta imprevisibilidade deve ser vista por nós como parte do encanto da existência; e que tudo isso exige assumirmos outros valores na base desse conhecimento objetivo do mundo e da produção de sentido a ela associada. Um propósito comum 14 Devemos agora retomar nosso problema maior: vivemos uma civilização que não oferece aos seus membros um sentido de vida na acepção forte do termo. Na sua ausência, vale tudo. O que emerge das ciências de ponta é uma visão da existência como processos complexos, dos quais temos um conhecimento limitado e um controle ainda menor. É a necessidade ver-nos como parte integrante da biosfera do planeta e, se queremos sobreviver, solidários com ela. Esta compreensão não nos oferece apenas o melhor conhecimento possível da realidade, mas também uma apreensão do nosso lugar no universo, uma definição do que pode ou não pode existir ou ser feito e uma nova escala de avaliação moral da ação humana em sociedade frente à natureza. Mas esta ciência, se vier a se impor como paradigma dominante, ainda não é, em si mesma, suficiente para oferecer um prumo para a ação dos indivíduos uns frente a outros em sociedade. A linha que separa a ciência das outras formas de conhecimento é, neste nível, bastante tênue, e deverá ser cruzada conscientemente pela comunidade científica, dotando-se de objetivos e propósitos que não emergem da própria ciência (como percebeu Lovelock, quando viu sua teoria de Gaia como sistema autoregulado ganhar contornos míticos – que ele rejeita veementemente). Porque a crítica do progresso, ou pelo menos à visão de progresso construída nos últimos dois séculos – subjacente a toda a discussão que fizemos até este ponto – traz à tona um problema de enorme complexidade e abrangência. A crença no progresso sempre esteve baseada não apenas no avanço científico, mas, antes de tudo, em uma convicção filosófica, no humanismo, para Erich Fromm, na sua “expressão mais simples, a crença na unidade da raça humana e na possibilidade de o homem se aperfeiçoar a si mesmo através do próprio esforço”. Era, de fato, o humanismo que oferecia a base filosófica subjacente a todo movimento de reforma social que procurava realizar a idéia de perfectibilidade humana na história, desde que esta idéia foi formulada pela primeira vez pelos filósofos cristãos do Renascimento, no século XV. Embora suas raízes possam ser encontradas nos filósofos gregos, nos profetas hebreus e na pregação de Cristo, este humanismo floresceu na modernidade, se tornando constitutivo do nosso pensamento filosófico e político com Pico della Mirandola, fornecendo os valores e as justificativas de todas as propostas utópicas depois de Thomas Morus, que afirmou pela primeira vez a igualdade fundamental de todos os seres humanos frente à idéia até então vigente da desigualdade inata. Dos niveladores da Revolução Inglesa aos socialistas do século XX, passando pelos iluministas, todo pensamento social progressista foi humanista. Seria possível sustentar, sem o alicerce do progresso (que é distinto da possibilidade de aperfeiçoamento da vida humana em sociedade), um projeto político emancipador? 1º Semestre de 2009 Revista A idéia da ecologia como valorização da diversidade da vida não é suficiente para fundamentar a defesa da vida humana, dar-lhe qualquer destaque perante as outras espécies animais ou embasar um comportamento moral perante outros seres humanos – em especial quando nossa espécie está produzindo uma grande extinção em massa da vida na Terra. O humanismo, que fez isso em grande parte da época moderna, foi sendo corroído não só pelo mercado, pela barbárie moderna (dos genocídios das populações americanas a Auschwitz e Hiroshima!) e pela crise do progresso, mas também pelo trabalho de desconstrução, pelo pensamento social e filosófico, das fontes transcendentais de sentido. Marx, Nietzsche e Freud, cada um deles fixando cada vez mais a humanidade na imanência da natureza e da cultura, mostraram que todas as idéias são construções sociais e históricas, sujeitas à injunções de classe, de poder, dos desejos dos indivíduos. Se o homem e a mulher fazem-se a si próprios, como afirma a antropologia, eles também estabelecem seus valores. São os desejos humanos que engendram os valores humanos. Os atributos e potencialidades da espécie humana são efetivados no curso da história, sempre abrindo ou fechando possibilidades de desenvolvimento, de acordo com as instituições estabelecidas pelos seres humanos e os agenciamentos de subjetividade que elas propiciam. Daí emerge uma idéia da incompletude (assim como de incerteza) do ser humano, caracterizado por um processo permanente de humanização potencial, bem como pela possibilidade de desumanização. Sartre, otimista, dizia: “somos seres que se debatem para estabelecer relações humanas e para chegar a uma definição do homem... buscamos viver juntos, como homens, buscamos ser homens. Por conseqüência, é através desta procura que podemos considerar nosso objetivo. Noutras palavras: nosso objetivo é atingir um corpo constituído no qual qualquer um seja um homem e no qual as coletividades sejam humanas”. O humanismo expressa, assim, não valores absolutos, mas o processo pelo qual buscamos como espécie realizar, em cada contexto histórico e social, aquilo que podemos, neste momento, ser – nossas potencialidades. Na filosofia política, isso já foi apresentado como nossa essência como seres genéricos que podem, com a modernidade, verem-se como senhores de si mesmos, superando sua condição heterônoma. FACOM Nº21 Mas os desesperançados não podem verse como construtores de seu próprio destino, nem ter qualquer identificação com um projeto filosófico sofisticado. Para eles, esta resposta filosófica é insuficiente; suas angústias encontram respostas no terreno religioso, capaz de oferecer absolutos aos fiéis, como indica o crescimento dos fundamentalismos religiosos. A filosofia se formou, frente ao mito, como resposta alternativa à religião para a produção de significado para os seres humanos no contexto da centralidade da vida política, seja na Grécia seja como na modernidade, e só pode se sustentar se a política for colocada no coração da vida social. É a vitalidade do debate político e da esfera pública que cria condições para o rechaço dos absolutos. Entramos em uma era de crise e de grandes dilemas que certamente estimulam a retomada prática dos debates de modelo de civilização e da disputa política por eles. A política pode, pois, voltar a se colocar no centro da condição humana contemporânea e demandar um conhecimento capaz de sintonizá-la com o presente e com os poderes de que a humanidade agora dispõe. Porém, para que esta disputa tenha um desfecho positivo, uma nova visão de mundo terá que estabelecer sua hegemonia, tornando-se o senso comum para parcelas significativas da sociedade. Mas não podemos dizer que a construção de um sentido comum para uma espécie humana – obrigada, nesta quadra histórica, a se confrontar com a fragilidade de sua humanização e seus limites como comunidade planetária – resultará tão somente de uma filosofia política que se apóie nos conhecimentos fornecidos pela ecologia. Uma nova visão de mundo não surge da justaposição de conhecimentos/ crenças já estabelecidos, mas de sua fusão em algo novo, não planejado. Tratase, sempre, de um fenômeno de “emergência”, do surgimento do novo a partir de propriedades imprevistas a partir dos elementos antes disponíveis. 15 Nº21 16 Revista FACOM 1º Semestre de 2009 Há, na espécie humana, uma tensão permanente entre os impulsos, as possibilidades e as fantasias de nossa imaginação (a dimensão menos compreendida de nossa capacidade simbólica, que inclui tanto nossa afetividade e criatividade, como nossa destrutividade), parte das quais sempre se efetivam na vida, e o caráter social inato de nossa espécie (afinal somos animais sociais, como todos os nossos parentes primatas) que se expressa na moral comum que fomos acumulando, com altos e baixos, na história. É essa “humanização”, para alguns ligada a valores transcendentes, essências ou absolutos, para outros construção humana no seu devir, o universal concreto – contestável, incerto, sempre em disputa, mas muito real – sobre o qual podemos nos apoiar para defender os direitos humanos, construir relações de respeito e solidariedade entre indivíduos e culturas, sobreviver e talvez melhorar como espécie, pelos agenciamentos que novas instituições venham a permitir. Sem isso, todo o poder sobre a natureza se expressa principalmente como capacidade destrutiva, como predação do planeta, como enfatiza a ecologia profunda. Há muito em jogo nos complexos conflitos dos dias que correm, como bem perceberam os filósofos contemporâneos (veja-se, por exemplo, o debate Sloterdijk, Fukuyama, Habermas e Gorz). Em um contexto histórico em que nossa capacidade destrutiva é tão ressaltada, o antigo pânico do pensamento conservador a respeito da perda de controle da sociedade por parte dos tementes a Deus, dos sábios, dos aristocratas ou simplesmente dos poderes estabelecidos produz o ressurgimento de todo tipo de tentações autoritárias, algumas sob formas “modernas” e “sofisticadas”. Se o humanismo é uma forma de domesticação da fera humana, por que não medicamentalizar o controle social? Por que não adotar formas mais eficazes, industriais, de domesticar homens que a engenharia genética promete disponibilizar? Por que não nos entregarmos às promessas da tecno-ciência capitalista? O medo da utopia, de que fala Jameson, ganha hoje, com a estruturação concreta de uma comunidade humana planetária, novas determinações, que Bauman expôs com propriedade. “Se a miséria que [antes] podíamos não apenas ver, mas também mitigar ou curar, nos lançava numa situação de escolha moral capaz de ser administrada pela ‘expressão soberana da vida’ (mes- mo que isso fosse dolorosamente difícil), [agora] o fosso crescente entre aquilo de que (indiretamente) nos tornamos conscientes e aquilo que podemos (diretamente) influenciar eleva a incerteza que acompanha todas as escolhas morais a alturas sem precedentes, nas quais nossos dotes éticos não estão acostumados e talvez nunca sejam capazes de operar. A partir dessa dolorosa percepção de impotência, talvez insuportável, ficamos tentados a correr em busca de abrigo. A tentação de converter em ‘inatingível’ o que é ‘difícil de administrar’ é constante, e crescente...” (Amor líquido, p. 119).4 Construir as formas de pensamento e as instituições democráticas para lidar com esta “impotência”, com esta realidade “difícil de administrar” que é, por vários motivos, transformada em “inatingível” – ‘supraliminar”, como chama Gunter Anders –, leva tempo, mas o tempo humano não é linear, é o resultado das experiências vividas, e a velocidade de todos os processos nos quais estamos imersos está se acelerando brutalmente, numa escala que nunca aconteceu antes. O mundo contemporâneo está propiciando a realização de experiências comuns a toda humanidade, agora integrada por redes globais de produção e comunicação, pelas quais circulam não só os fluxos de poder e informação do capital, mas também de pensamento e cultura, imaginação criativa e ação contra-hegemônicos. Mas é necessário um ponto para catalisar isso – uma nova forma de entender o mundo que seja simultaneamente uma ciência e uma filosofia (política e prática), que seja um saber a orientar a pesquisa de ponta e atividade das pessoas comuns. Não podemos construir uma visão de mundo como uma mensagem de fé, uma revelação, uma proposta teórica ou um experimento de laboratório. Mas podemos estimular o diálogo entre todos aqueles que, partindo da crença em essências e valores transcendentais, afirmam a prioridade de defesa da vida e da dignidade humanas; que, partindo do entendimento filosófico da incompletude estrutural da nossa espécie, buscam 1º Semestre de 2009 Revista avançar em sua humanização; com os que pela criação artística ou pelo erótico buscam a beleza e o êxtase – porque o ser humano é a fonte do fato estético e a sexualidade, o erotismo e o amor inseparáveis da condição humana; com todos que se opõem à monocultura das mentes e sustentam o reconhecimento prático da diversidade cultural, em especial na aceitação dos direitos coletivos das comunidades; e com o pensamento científico que compreende de forma cada vez mais profunda as determinações e condicionamentos biológicos de nossos desejos, aspirações e comportamento moral, bem como das mediações que a cultura (entendida como parte específica da natureza humana e não em oposição a ela) impõe a isso. É no cruzamento de vários saberes científicos e filosóficos, de percepções estéticas e espirituais, que a humanidade – ou, de maneira mais concreta, o direito de todos à boa vida humana (“sumak kawsay” em quéchua, normalmente traduzido por “bem viver”) – pode ser assumida como um valor em si, de fato, com o qual possamos nos identificar plenamente, em pé de igualdade com a defesa da vida em toda a sua diversidade sustentada pela ecologia. O humanismo de nossa época, ou melhor, o vetor resultante dos vários humanismos, não pode assim ser mais o mesmo do passado, dado por uma humanidade abstrata tomada por delírios de onipotência, mas a apreensão concreta de uma humanidade que se compreende compartilhando o planeta com todo um conjunto de formas de vida e se reconhecendo como diversa e frágil. É só desta convergência de ciências e saberes em um mesmo corpo de entendimento do mundo, dos fatos sociais e da nossa relação com a biosfera que poderemos conformar um propósito comum para a humanidade na perigosa travessia histórica em que estamos. 1 Este texto foi apresentado no Fórum Mundial Ciência e Democracia, realizado em Belém nos dias 24 e 25 de janeiro de 2009. Sua temática é um prolongamento do artigo “Ecologia, tecnologia e conhecimento”, publicado na revista FACOM, nº 19, do 1º semestre de 2008. Agradeço a leitura atenta de Marcos Barbosa de Oliveira, nos acordos e desacordos que pontua. FACOM Nº21 Adorno e Horkheimer, Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1985. Adorno, Theodor, Educação após Auschwitz. IN Gabriel Cohn, Adorno. Sociologia. São Paulo, Ática, 1986. p.33-45 Armstrong, Karen, A grande transformação. São Paulo, Companhia das Letras, 2008. Anders, Gunther, Et si je suis desespere que voulez-vous que j’y fasse? Paris, Allia, 2004. Anderson, Perry, A crise da crise do marxismo. São Paulo, Brasiliense, 1987. Bacon, Francis, Novum organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. Coleção Os Pensadores. São Paulo, Abril, 1973. Barbour, Ian, Ethics in an age of technology. Volume two. San Francisco, HarperCollins, 1993. Bauman, Zygmunt, Amor líquido. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004. Cassirer, Ernst, Individuo e cosmos na filosofia do Renascimento. São Paulo, Martins Fontes, 2001. Castoriadis, Cornelius, A crise no processo de identificação. In A ascensão da insignificância. São Paulo, Paz e Terra, 2002, p. 95-118. Crosby, Alfred, A mensuração da realidade. São Paulo, Editora da Unesp/Cambridge University Press, 1999. Debord, Guy, A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro, Contraponto, 1997. Descartes, René, Discurso do método. Coleção Os Pensadores. São Paulo, Abril, 1973. Dussel, Enrique, 1492: o encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade. Petrópolis (RJ), Vozes, 1994. Debus, Allen, El hombre y la naturaleza en el Renascimiento. México, Fondo de Cultura Económica, 1996. Freud, Sigmund, O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro, Imago, 1997. Fukuyama, Francis, Nosso futuro pós-humano. Rio de Janeiro, Rocco, 2003. Fromm, Eric, Humanismo socialista. Lisboa, Edições 70, 1076. Giddens, Anthony, A transformação da intimidade. São Paulo, Editora da Unesp, 1993. Gorz, André, O imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo, Annablume, 2005. Habermas, Jürgen, O futuro da natureza humana. São Paulo, Martins Fontes, 2004. Hobsbawn, Eric, Da revolução industrial inglesa ao imperialismo. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1978. 17 Nº21 Revista FACOM 1º Semestre de 2009 Jonas, Hans, O princípio responsabilidade. Rio de Janeiro, Contraponto / Editora da PUC-RJ, 2006. Jameson, Fredric, Espaço e imagem. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 1994. Koyré, Alexandre, Del mundo cerrado al universo infinito. Mexico, Siglo XXI, 1979. ______________, Estudos de história do pensamento científico. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1991. Kuhn, Thomas, A estrutura das revoluções científicas. São Paulo, Perspectiva, 1997. Kurzweil, Ray, A era das máquinas espirituais. São Paulo, Aleph, 2007. Lacey, Hugh, Valores e atividade científica. São Paulo, Discurso, 1998. Lipovestsky, Gilles, Os tempos hipermodernos. São Paulo, Barcarolla, 2004. Lovelock, James, A vingança de Gaia. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2006. Lowy, Michael, Walter Benjamin: aviso de incêndio. São Paulo, Boitempo, 2005. Macpherson, C.B., A teoria política do individualismo possessivo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. Maquiavel, Nicolau, O príncipe. Coleção Os Pensadores. São Paulo, Abril, 1973. Marcuse, Herbert, Eros e civilização. 7ª ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. ______________, An essay on liberation. Boston, Beacon Press, 1969. Maturana, Humberto e Varela, Francisco, A árvore do conhecimento. As bases biológicas do conhecimento humano. São Paulo, Palas Athena, 2004. Meier, Christian, La naissance du politique. Paris, Gallimard, 1995. Morus, Thomas. A utopia. Coleção Os Pensadores. São Paulo, Abril, 1972. Prigogine, Ilya, O fim das certezas. Tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo, Editora da Unesp, 1996. Putnam, Hilary, O colapso da verdade e outros ensaios. Aparecida (SP), Idéias e Letras, 2008. Sartre, Jean-Paul, Entrevista a R. Levy. La Republica, nº 86, 14 de abril de 1980. Sloterdijk, Peter, Regras para o parque humano. São Paulo, Estação Liberdade, 2000. Vernant, Jean-Pierre, As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1998. Weber, Max, Ciência e política: duas vocações. São Paulo, Cultrix, 1972. José Correa Leite 18 Professor de Filosofia e Sociologia da Comunicação na FACOM-FAAP. Mestre e Doutor em Ciências Sociais pela PUC. É um dos promotores do processo Fórum Social Mundial e do Movimento Ecologia Urbana.
Download