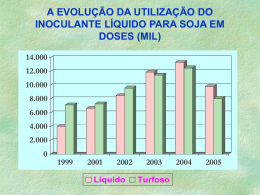O Brasil da Soja Abrindo Fronteiras, semeando cidades. Soja. S.f Planta arbustiva da família das leguminosas – nome cientifico: Glycine Max (L.)Merril-domesticada pelos chineses na Ásia Central há cerca de 5 mil anos. Alcança até 1,50 metros de altura. As folhas são um verde carregado e as flores brancas, róseas ou violáceas com diâmetro de 3 a 8 milímetros quando abertas. No verão produz vagens de 2 á 7 centímetro de comprimento contendo grãos redondos ou ovóides com até meio centímetro de diâmetro e peso de 0,2 a 0,4 gramas. Muito rico em proteínas e com bom conteúdo de gordura, o grão de soja é um dos mais importantes alimentos da humanidade. Espalhou-se pela Ásia há 3mil anos, tornando-se uma das bases da culinária de países do oriente, sobretudo a china e o Japão introduzida no ocidente nos últimos 300 anos, disseminou-se no século XX principalmente na América, onde se viu o primeiro como adubo orgânico, crescendo depois como fonte de óleo comestível, ração animal e matéria prima de industria de alimentos, cosméticos, medicamentos e tintas. Em torno dela organizou-se uma complexa teia de atividades econômicas denominadas agribusiness que envolve todos os continentes, Ao lado do arroz, do milho e do trigo, é uma das principais lavouras do planeta, com produção anual superior a 100 milhões de toneladas, no final do seculo20, os maiores produtores são Os Estados unidos, o Brasil e a china e a Argentina Uma saga Brasileira. Este livro com que a Ceval Alimentos comemora seus 25 anos de atividades é, antes de mais nada uma contribuição á historia recente do país, na medida em que reconstitui e narra a saga da abertura das novas fronteiras agrícolas do Brasil através deste grão milagroso que é a soja. Um projeto que ocupou, durante quase dois anos, mais de centena de profissionais. O fotógrafo Fernando Bueno e sua equipe, responsáveis pelas fotos que embelezam e completam este livro, documentaram a paisagem brasileira onde a soja está presente em mais de 200 rolos de filme. Percorreram, do Rio Grande do Sul ao Maranhão, registrando a soja nos seus variados estágios de crescimento e a civilização que se formou no rastro dos pioneiros. O jornalista Geraldo Hasse, um especialista nas questões rurais, experimentado homem de imprensa, com passagem pelos grandes veículos de comunicação do país, realizou igualmente seu périplo em busca da trajetória da soja no Brasil. Ele e sua equipe entrevistaram mais de 150 pessoas (a quem nominamos e agradecemos ao final deste volume), entre técnicos, ex-ministros, políticos, empresários, cientistas, produtores e aventureiros que contracenaram na aventura que foi a implantação da soja. Dezenas de instituições foram ouvidas e o resultado é uma obra de referência fundamental, uma verdadeira radiografia da questão da soja no país; suas origens, sua revolução, seus personagens e sua gigantesca importância no desenvolvimento econômico, social, rural e urbano da nação brasileira. A Revolução da Soja Este ensaio sobre o fenômeno da expansão da soja em território brasileiro neste século e, particularmente, nas últimas décadas foi a melhor forma de encontrada pela Ceval Alimentos S.A pára festeja os seus 25 anos de existência. As duas histórias- a da Ceval e a da soja no Brasil - meio que se confundem. A tal ponto que, se fosse preciso apresentar uma prova concreta do poder da soja, bastaria apela para o exemplo da Ceval. Constituída em 4 de janeiro de 1972, ela ainda engatinhava quando aconteceu o histórico boom dos preços da soja mercado internacional, em meados de 1973. Criada pelo grupo Hering para aproveitar incentivos fiscais oferecidos pelo governo do Estado de Santa Catarina, a Ceval só entrou em operação regular em outubro daquele ano. Em pouco tempo, porém, extrapolou suas origens, tornando obsoleta sua denominação original- Cereais do Vale-, referência ao vale do Itajaí, onde nasceu e tem sede, no município de Gaspar. Não é por causa da extraordinária expansão da Ceval que acreditamos ser importante fixar a memória da ascensão da leguminosa chinesa entre os brasileiros. Pensamos que é preciso refletir sobre como tudo aconteceu em tão pouco tempo. Freqüentemente olhando para trás que se descobre como ir para frente. Muitas das personagens centrais dessa epopéia moderna ainda estão vivas, em plena atividade. A soja foi o estopim, o agente, o símbolo de uma revolução. Em cerca de 30 anos, ela fez algo equivalente ao que fizeram o café e a cana, nos seus devidos tempos. Se a cana lembra os tempos colônias e o café recorda a transição do império para a república, a soja tem a cara do Brasil surgido depois da Segunda Guerra Mundial. Um Brasil que trocou a letargia litorânea pela aventura da ocupação do Centro-Oeste onde, no espaço de uma geração, vimos nascer centenas de cidades cujo dinamismo brota nitidamente das atividades agrícolas. Para o bem e para o mal, o pivô dessa história é a soja -uma lavoura moderna, engatada para valer na vida urbana. Com a soja, o Brasil conheceu a bolsa de Chicago e desenvolveu o que hoje chamamos de agribussines. Inicialmente um desafio agrícola- era preciso encontrar uma cultura de verão capaz de servir de muleta para o deslanche do trigo-, a soja desencadeou uma série de mudanças nas áreas rural e urbana. Estimulou a migração de agricultores modernos para novas fronteiras agrícolas, abrindo estradas e semeando cidades. Viabilizou a utilização dos cerrados mediante o desenvolvimento de uma nova tecnologia de correção de solos. Interiorizou a agroindústria de óleos, de rações e de carnes frigorificadas. Sustentou o deslanche da avicultura e da suinocultura. Enriqueceu a alimentação dos brasileiros. Modernizou o sistema de transporte de safras. Implantou em praticamente todo o território brasileiro o modelo americano da agricultura mecanizada, contribuindo para intensificar a transferência de populações rurais para os centros urbanos. Inseriu i Brasil no mercado inter nacional de commodities agrícolas, gerando divisas indispensáveis ao desenvolvimento da economia. Foi, por fim, o vetor de uma revolução nos costumes. A presença da soja na vida moderna começa com a margarina no café da manhã, passa pelo óleo de soja usada na cozinha, está no hambúrguer, na salsicha, nos matinais, nos pães especiais, nos achocolatados. A soja é uma amiga invisível. A Ceval, por exemplo, tem 600 produtos diferentes. Na maioria deles a soja está presente direta ou indiretamente. Com ela é possível fazer uma infinidade de produtos-e não só no setor alimentício. Enfim, a soja ajudou a construir um país mais moderno, mais consciente do próprio potencial. Sua ascensão foi o fruto de uma intensa articulação de interesses. Em torno dela armou-se na economia brasileira uma convergência histórica sem precedentes. Em resumo, sob inspiração norte-americana, participaram desses empreendimentos sócio-econômico os seguintes atores: Fabricantes de óleos vegetais e de rações animais; Indústrias de máquinas e implementos agrícolas; Fabricas de adubos e de agroquímicos; Criadores de aves, suínos e bovinos; Ramos tradicional e moderno da indústria alimentícia; Exportadores de commodities; Técnicos especializados em melhoramento genético e cuidados fitossanitários Governantes conscientes das necessidades de gerar receita cambial para honrar compromissos internacionais do Brasil. Consumidores em cuja vida a soja aparece não só como um alimento nutritivo e saudável, mas como uma matéria-prima extraordinária Como participante dessa comunidade de interesses organizada em torno da soja, a Ceval orgulha-se de poder oferecer a todos este documento, que registra- digamos assim- o flagrante possível, neste momento, sobre os primeiros tempos da grande aventura da “Vaga vegetal” chinesa nos trópicos brasileiros. Ivo Hering Presidente do Conselho de administração da Ceval Alimentos Vilmar de Oliveira Schürmann Diretor Geral Antes da Roça, a Escola A história oficial da agricultura brasileira, repetida por agrônomos em artigos e livro técnicos, costuma dizer que o pioneiro da soja entre nós foi Gustavo D’Utra, professor da Escola Agrícola da Bahia. Agrônomo pioneiro também na descrição da fumagina, a “primeira” doença das laranjeiras nacionais, D’Ultra teve na realidade a primazia da notícia, mas não do plantio, feito em 1882 por um sitiante baiano. Não se sabe sequer como a leguminosa oriental chegou á Bahia. Atribui-se a D’utra o primeiro trabalho técnico escrito no Brasil sobre a Glycine Max “Nova Cultura Experimental de Soja”publicado em 1889 em boletim do Instituto Agronômico de Campinas ( IAC)- do qual D’utra seria o diretor no período 1898-1906. Fundado em 1887, o IAC incorporou desde o começo a soja ás suas coleções vegetais. Já em 1889 esse instituto tocado por cientistas europeus ou PR brasileiros formados na Europa distribuía semente de soja a fazendeiros curiosos. Em 1899, possuía três canteiros com soja, o suficiente para doar a agricultores 28 quilos da variedade amarela e 18 quilos da preta. A segunda data de referência da introdução da soja no Brasil é 1900. Nesse ano a leguminosa chinesa foi experimentada no Liceu Rio- Grandense de Agronomia, de Pelotas, e cultivada em Dom Pedrito, Pinheiro Machado e Venâncio Ai8res, de acordo com relatos encontrados na Revista Agrícola do Rio Grande do Sul pelo historiado por Carlos Reverbel, que anotou muitos elogios á planta usada como forrageira. O depoimento de maior peso era o do agrônomo francês Guilherme Minssen, que pesquisava e lecionava n Liceu. ““ Em artigos publicados em 1901 na mesma Revista Agrícola, editada em Pelotas, ele escreveu que a cultura da soja tinha” toda a probabilidade de p0rosperar neste estado” Na bagagem dos japoneses Histórias tão esparsas e fragmentadas sugerem que pode haver outros registros escritos sobre a planta que antes de ir á roça freqüentou a escola agrícola brasileira do fim do século 19. Sabe-se, PR exemplo, que em 1908 os primeiros imigrantes japoneses trouxeram na bagagem sementes de soja que passaram a ser cultivadas em hortas domésticas no interior paulista. As pequenas quantidades produzidas destinavam-se á fabricação caseira de Tofu, Misso e Shoyo. A partir da primeira década do século 20, os estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo revezaram-se na produção de registros sobre o cultivo da soja. Aparece assim, em 1914, o nome do agrônomo norte-americano E.C.Craig como o introdutor da soja em experimentos realizados na Escola Superior de Agronomia Veterinária de Porto Alegre. Depois, por volta de 1920, a soja já estava sendo difundida por uma estação experimental em Santa Rosa, na região da extinta civilização guarani controlada pelos Jesuítas. As experiências contavam com a adesão de imigrantes europeus, sempre dispostos a testar na prática a compatibilidade entre sementes e solos. Umas das alternativas foi o uso da Soja como substituta do café. Os grãos eram torrados e moídos, dando uma bebida de consumo caseiro. O grande avanço deu-se em 1923, quando chegou a Santa Rosa o pastor NorteAmericano Albert Lehenbauer. Ele trouxe sementes da soja amarela comum e abriu os olhos dos colonos para o poder alimentício do grão, logo incluído na ração dos porcos, que passaram a engordar muito mais rápido do que se alimentados apenas com abóbora, mandioca, milho e restos de cozinhas. A soja era servida aos animais em forma de lavagem após fervura. REFLEXO AMERICANO A descoberta do valor protéico da soja pelos colonos gaúchos coincide com o notável incremento do seu cultivo nos campos norte-americanos a partir dos anos 20. Também como reflexo do grande esforço de pesquisa realizado nos Estados Unidos, onde a soja entrou presumivelmente no início do século 19, a experimentação adquiriu certa consistência e continuidade em alguns pontos do Brasil. Destaque para o cultivo científico na estação experimental do Ministério da Agricultura em São Simão, na região do rio Mogi Guaçu, no nordeste paulista. Essas experiências foram conduzidas na década de 20 por Henrique Lobbe com sementes norte-americanas, também distribuídas, aparentemente, a outros centros de experimentação, ensino e pesquisa agrícola, como os de Lavras e Viçosa, no Estado de Minas, Piracicaba, em São Paulo; Rio de Janeiro; Pelotas e Veronópolis, no Rio Grande do Sul. A partir do intercâmbio estabelecido por Lobbe e outros técnicos com os pesquisadores americanos, surgia entre os brasileiros a preocupação em selecionar variedades aptas a produzir um grão mais rico como alimento humano e ração animal. Até então, a maioria dos técnicos ainda encarava a soja com Forragem. O pessoal da IAC recomendava a soja como adubo verde, ao lado do feijão - de- porco, da mucuna preta e da crotalária. Nesse aspecto, destacou-se no interior de São Paulo o trabalho do agrônomo Neme Abdo Neme ( Síria, 1908-Campinas, 1973), do IAC, cujo esforço se articula com a atividade nas fazendas de café, especialmente naquelas onde era mais forte a presença de japoneses- no nordeste paulista, sobretudo na região de Orlândia, São Joaquim da Barra e Ituverava; e no oeste, na região de Lins e Araçatuba.Outro grande incentivador do cultivo da soja foi Czeslaw M. Biezanko ( Polônia, 1895Pelotas,1986), polonês que lecionou química e botânica em cidades do Sul e ocupou a cadeira de entomologia na Escola de Agronomia Eliseu Maciel( o antigo Liceu RioGrandense), de Pelotas. Condecorado pelo governo brasileiro em 1963 com a ordem do Cruzeiro do Sul como introdutor da soja no Rio Grande do Sul, Biezanko disseminou o grão no início da década de 30 junto a colonos poloneses estabelecidos no vale do rio Uruguai, no noroeste gaúcho. Ele trouxe dois quilos de sementes do jardim de plantas medicinais de Vilno, na Polônia. Fundador de uma escola rural em Guarani das Missões, onde morou por três anos, o professor ensinou a população local a fazer leite, margarina, farinha e pão de soja. Segundo Biezanko contou ao jornal Cotrifatos, de Santo Ângelo (RS), por volta de 1934 a soja teve uma arrancada comercial no norte gaúcho á chegada de alguns agricultores de origem japonesa. Também estabelecidos no vale do Uruguai, eles se comprometeram a produzir dois mil sacos de soja para Frederico Ortmann, dono de um armazém em Giruá que detectara a existência de mercado consumidor do grão. Ortmann não era uma andorinha fazendo verão no berço da soja. A procura vinha de firmas atacadistas de Porto Alegre que mantinham filiais na zona colonial gaúcha e provavelmente atendiam a uma freguesia bastante heterogênea, constituída por: Agricultores interessados nas sementes; Suinocultores dispostos a fazer ração Estrangeiros habituados ao consumo caseiro Fábricas incipientes de óleos vegetais Exportadores com contatos na Europa e na Ásia, Assim, em plena década de 30, os representantes das casas comerciais Florestas, Grits e Germano Dockhorn, entre outros, começaram a intermediar negócios envolvendo a soja, ainda praticamente desconhecida como alimento humano. No Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro, o povo usava banha de porco na cozinha. Os mais sofisticados consumiam gordura de coco. Os mais pobres apelavam para o sebo bovino. Óleo vegetal só entrava na dieta humana por recomendação médica. A incipiente organização de um mercado para a soja tem a ver com a instalação em São Paulo de firmas estrangeiras, como a Anderson Clayton e a Sandra, que vieram fazer concorrência à pioneira Matarazzo, desde 1904 fabricantes do óleo de algodão Sol levante. Inicialmente concentrado no algodão, no amendoim, na mamona e no girassol, o interesse da indústria demorou a focalizar a soja como fonte de matériaprima para a produção dos “óleos graxos”. Foi a partir da década de 40, de fato, que a soja passou de forrageira para oleaginosa nos Estados Unidos- e também no Brasil. Até então, salvo nas hortas paulistas dos imigrantes japoneses ou nas roças gaúchas dos colonos europeus- onde já se tinha noção do seu valor como alimento humano ou suíno-, a soja continuava sendo um grão exótico que os agricultores em geral só cultivariam se solicitados. No final da década de 40, a Swift, de capitais ingleses, fez no interior paulista um esforço de fomento que se prolongou de 1945 a 1948, ano em que a produção de soja alcançou 25 mil sacas (1.500 toneladas) no estado de São Paulo. O objetivo da Swift era manter em funcionamento em Campinas a refinaria onde se enlatava o óleo Patroa, sustentado desde 1940 por uma esmagadora de caroço de algodão instalada em São José do Rio Preto. PÃO INTEGRAL O trabalho isolado da Swift não prosperou no interior paulista, mas a soja se tornou mais conhecida por um trabalho de divulgação em jornal. O agrônomo José Calil, funcionário da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, escrevia na Folha da manhã artigos elogiando iniciativas como fabrico de pão integral com farinha de soja pela Panificadora Falkenburg e o Instituto Adventista de Ensino. Assim o grão chinês iniciou na década de 40 uma rota culinária alternativa reforçada aqui e ali pela adesão de verdadeiros militantes da sojicultura. Uma das melhores histórias sobre o fascínio da soja foi protagonizada pela atriz Patrícia Galvão, a “Pagu”. Ela voltou de uma viagem á China tão entusiasmada com a “vaca vegetal” que trouxe sementes para o ministro da Agricultura, o paulista Fernando Costa. Agrônomo, ele sabia que a leguminosa chinesa já era conhecida por técnicas e agricultores brasileiros, mas aproveitou o gesto da artista como propaganda para fortalecer a nova cultura. Enquanto “Pagu” se tornava uma espécie de madrinha nacional da soja, as sementes por Lea trazidas chegavam aos canteiros de todas as estações experimentais do país. È dessa época o folheto técnico em que a mesma Secretaria da Agricultura da Calil e Neme, ao final de algumas instruções técnicas elementares de cultivo, apresentou Cinco razões que aconselham plantio da soja: 1- Planta de inestimável valor industrial, encontrando franca aceitação no mercado de São Paulo. 2- Leguminosa que, como todos os vegetais dessa família possui a faculdade de melhorar os solos em que é cultivada. 3- A mais rica fonte de proteínas encontrada na natureza, sendo de extraordinário valor forragem para os animais. 4- De incomparável riqueza nutritiva, recomendada na alimentação dos trabalhadores, sob a forma de grão ou farinha. 5- Cultura que não sobrecarrega os trabalhos normais do agricultor, pois encontra sua melhor época de plantio nos meses de novembro e dezembro. O PAPEL DA GUERRA O comerciante Frederico Ortmann consta na historia como responsável pela primeira exportação de soja brasileira. Foi em 1938, quando três mil sacos de soja foram embarcados em Porto Alegre para a Alemanha. Outros exportadores também realizaram transações nos anos seguintes, mais a produção ainda era pequena. No ano de 1941, marcante para os gaúchos por causa da grande enchente em todos os rios que banham Porto Alegre, a soja apareceu pela primeira vez nas estatísticas agrícolas do estado com área cultivada de 640 hectares e produção de 450 toneladas. O bloqueio das exportações para a Europa em 1942, em virtude de guerra, deixou os atacadistas gaúchos com apenas um canal de vendas- um canal muito frágil, aberto por pequenas fábricas de óleo instaladas precariamente no interior. Elas funcionavam principalmente na época da safra e esmagavam qualquer vegetal contendo gordura. Com o encalhe, o Frederico Ortmann deslocou-se para Porto Alegre em busca de uma saída. Encontrou- a numa fabriqueta de óleos estabelecida na margem direita do rio Gravataí, no município de Canoas. Até prova em contrário, aí começou para valer a industrialização da soja no Rio Grande do Sul. Nessa época, já existia a Sociedade Anônima Moinhos Rio Grandenses (Samrig), mas ela só beneficiava o trigo. Fundada em fevereiro de 1929 por capitais argentinos (Bunge Y Born), também proprietários da Sanbra, a Samrig começou comprando dois moinhos em Porto Alegre e outros cinco no interior (Pelotas, Guaporé, Passo Fundo, Cruz Alta e Uruguaiana). A soja era então um dos “outros” produtos agrícolas comprados pela empresa junto aos colonos do interior. Carlos Goidanich, que entrou em 1931 na Samrig, da qual seria o presidente de 1977 a 1983, fez o primeiro negócio de exportação de soja m grão em 1945. Acondicionado em sacos, o produto ia em navios de até 10 mil toneladas, a capacidade máxima no cais de Porto Alegre. Foi a partir desse negócio que a Samrig começou a encarar a possibilidade de, além de trigo, moer também soja em larga escala. O grupo Bunge y Born era apenas uma dos estrangeiros situados na intermediação de produtos agrícolas no Brasil. E dos menores. Durante a Segunda Guerra Mundial (193945), já operavam no país todos os gigantescos “grain trades” do mundo: André lausanne (Refinações de Milho Brasil), Cargill, Continental, cook, Louis Dreyfuss e Nidera. Isso sem falar de outros gigantes mais especializados como a Anderson Clayton e a Nestlé. Entre os comprados, vendidos ou incorporados nessa fase pioneira da industrialização brasileira, praticamente todos continuaram presentes no palco onde havia também espaço para os (pequenos) empresários nativos. INDÚSTRIA NATIVA Não dá para ser definitivo nessas histórias porque os protagonistas centrais ou morreram ou esqueceram os detalhes. A maioria sabe por ouvi dizer. Uns afirmam que tal indústria estabelecida á beira do Gravataí, em Canoas, chamava-se Indubras. Produzia óleo de amendoim e de girassol (e de linhaça também). Alguns anos mais tarde essa fábrica fará uma boa ponta na história como refinaria Brasileira de Óleo e Graxas, sob controle da família de Ildo Meneghetti, engenheiro civil com notável presença política no Rio Grande do Sul. Um dos pioneiros da indústria de óleo no Rio Grande do Sul foi, com certeza, Lourival Lopes dos Santos, nascido em Pelotas em 1882. Despachante dos exportadores locais junto ás repartições públicas, Lourival aproveitava as horas vagas para fazer óleo de rícino, tintura de iodo e outras fórmulas químicas, que botava para vender nas farmácias da cidade. Em meados da década de 30, começou a produzir um óleo de amendoim vendido em garrafas em confeitarias da cidade. Apesar do nome estranhoIpogéia-, o óleo era bem aceito como alternativa á banha de porco, tanto que abriu o caminho a Lourival como especialista em extração de óleos vegetais. Em 1939, ele foi convidado para trabalhar como químico da Sociedade Refinadora de Óleos Vegetais (Sorol), fundado por seu sobrinho Manoel Motta em sociedade com Francisco Azevedo, representante do óleo de linhaça Tigre, de São Paulo. Deixando de lado o Amendoim, a Sorol fez muito dinheiro fabricando óleo de linhaça. Foi tal o sucesso que, em 1941, surgiu na cidade uma fábrica concorrente chamada Companhia Nacional de Óleo de Linhaça, criada pelo engenheiro italiano Eraldo Giacobi, contratado alguns anos antes de instalar a rede de bondes elétricos de Pelotas. No final da década, a Sorol abriu o capital, arranjou financiamento e iniciou a montagem de uma nova fábrica, agora apta a processa a soja. Somente nos primeiros anos da década de 50 seria lançado o óleo de soja Sorol, em lata amarela, com detalhes em preto e marrom. Se não o primeiro, um dos primeiros óleos de soja do Brasil. Outro pioneiro da indústria dos óleos vegetais foi Alcides Merlin, nascido em Farroupilha em 1915. Filho de descendentes de italianos que plantavam milho na serra gaúcha e depois abriram um armazém na cidade, ele descobriu seu caminho depois de ler no Correio do Povo uma reportagem sobre o sucesso da fabricação de óleo de linhaça, Pelotas. O jornal falava especialmente que o negócio da linhaça estava dando muito dinheiro para uns italianos que tinha vindo trabalhar na instalação das linhas de bonde da cidade. Alcides decidiu juntar dinheiro para fazer a linhaça. Farroupilha era uma cidade onde as indústria Renner, de Porto Alegre, comprava linho para fazer tecido.O óleo de linhaça era utilizado para fazer tintas. Entre o sonho e a realidade se passaram poucos anos. Finalmente, em 1943, ele conseguiu abrir a sua empresa: Fábrica Merlin de Óleos Vegetais. Começou nos fundos do armazém da família com dois operários- Ângelo Chiele e Giulio Rufatto. Para começar seu empreendimento, Merlin adquiriu uma velha prensa hidráulica manual encostada na indústria de alimentos Corsetti, da vizinha Caxias do Sul. De tanto insistir, comprou a prensa por 3 contos e 500,a prestação- o preço de um carro velho. Ganhou experiência e algum dinheiro: no mesmo ano foi a Santa Cruz do Sul para comprar uma prensa maior, também hidráulica, mas motorizada. Ele e seus dois empregados produziam 300 quilos de óleo por dia. Lá pelo fim de 1943, Merlin interrompeu a fabricação de óleo de linhaça para ganhar mais dinheiro. È que, com o afundamento de navios brasileiros “por torpedeiros alemães”, interrompeu-se temporariamente o tráfego marítimo na costa do Brasil. Em conseqüência, começou a faltar no interior gaúcho o óleo de algodão fabricado em São Paulo. Além do Sol Levante da Matarazzo, os hospitais consumiam o Salada “completamente inodoro”, produzido desde 1930 pela Sandra” para os paladares finos” e “para as mesas distintas”- ou seja, para os que não podiam comprar o caro azeite de Olivia importado. Merlin entrou nesse vazio produzindo óleo de amendoim, que os colonos alemães da vizinha Feliz faziam desde o século passado, de forma rudimentar, usando cunhas para prensar o grão previamente moído, dentro de um buraco feito no tronco deitado de uma árvore. Para tirar o cheiro de gordura, Merlin adicionava alho e louro, de acordo com receita de uma vizinha. Finda a guerra, a circulação de navios voltou ao normal e Alcides Merlin retomou a produção exclusiva de óleos de linhaça. Com ótimos resultados, pois em 1948 ele adquiriu uma prensa inglesa de ação contínua. Como não conseguiu instalá-la em Farroupilha por insuficiência de energia elétrica, comprou em Porto Alegre, na Avenida Amazonas, um terreno de 2.200 metros quadrados onde instalou a empresa, logo transformada em Merlin S.A. Sua entrada na onda da soja aconteceria só alguns anos depois, na década de 50, quando a lavoura e a indústria brasileiras assumiam uma face mais moderna, sob a influência de novas tecnologias estrangeiras. O Impulso Estrangeiro Em 1950, desembarcou em Porto Alegre, Deh Chen Chang, um chinês de verdade, que fugiram da revolução comunista de Mao Tse Ting. Ele tinha trabalhado como diretor industrial da China Vegetable Oil Corporation, uma das maiores fábricas de óleo vegetal do mundo, e desde 1949 estava em São Francisco, na Califórnia, tentando implantar uma firma de importação e exportação de óleos vegetais em sociedade como o amigo Long Sem Wong, também exilado. Chang foi direto à Samrig e procurou o gerente, Gustavo Openheimer, a quem apresentou uma carta de recomendação assinada por gente da Bunge y Born de Nova York, Na Samrig, não havia lugar para um especialista em soja, mas Openheimer o encaminhou ao vereador porto-alegranse Ildo Maneghetti, um dos mais promissores políticos do Rio Grande do Sul (seria governador por duas vezes). Se havia no estado uma empresa interessada em empregar alguém com experiência em óleos vegetais, só podia ser a Refinaria Brasileira de Óleos e Graxas, que caíra sob o controle da Companhia de Indústrias Gerais, Obras e Terras pertencentes à família Meneghetti. O contato valeu. Adquirida como desdobramento de outro negócio, a pequena refinaria de óleo de linhaça – situada à margem do rio Gravataí, no município de Canos, nas vizinhanças de Porto Alegre – estava meio parada, precisando mesmo de mão-de-obra especializada. Meneghetti e Chang fecharam negócio, constituindo uma empresa lembrada apenas pelo nome Indubras (Indústria Brasileira de Soja). Nessa sociedade, mais tarde denominada Industrial e Comercial Brasileira S.A (Incobrasa), Meneghetti ficou com 50%, enquanto a metade restante era dividida em percentuais diferentes entre Chang e alguns amigos que chegariam meses depois: Sheun Ming Ling, Charles Tse, S.P. Wang, C.C Chang, K.C. Hsieh e T.C. Yang. Ajuda Comunista Para tirar a pequena indústria da paradeira em que se encontrava, bastou aos chineses empregar uma nova tecnologia de extração de óleo. Em lugar da prensagem usada até então pela Óleos e Graxas, foi adotado o método do solvente químico, desenvolvido nos anos 30 e já empregado na adiantada indústrias aleaginosa da China. O rendimento passou de 12% para 17%, ganho de qualidade que se deve atribuir, sem duvida, à providencial ajuda da revolução comunista chinesa. A Indrusbras/Incrobras deu a partida em 1951, lançando o óleo de soja Santa Rosa, embalado inicialmente em latas quadradas, com o desenho de uma rosa copiado do rótulo de uísque americano Four Rose. As donas de casa pouco ligaram para o novo produto, ainda assim lucrativos: nos primeiros tempos, praticamente a produção foi vendida como matéria-prima para a fábrica de tintas Sherwin Williams, em São Paulo A único problema da fábrica, na realidade, era a dificuldade em adquirir o grão, super valorizado da Europa e do Japão. Em 1951, o preço médio da exportação brasileira (então exclusivamente gaúcha) de soja furou pela primeira vez a barreira dos US$ 100 por tonelada de grão. O aumento da procura logo fez Chang ver que seria arriscado demais continuar dependendo dos representantes das casas atacadistas de Porto Alegre baseados em cidades do interior. Era preciso ter gente de absoluta confiança nas zonas de produções. Por isso ele mandou os sócios Sheun Ming Ling e Charles Tse para Santa Rosa, o berço da soja. Deu certo, mas não por muito tempo. Também experiente na indústria chinesa de óleos vegetais, Ling e Tse logo perceberam que, além de garantir o negócio da Incobrasa, poderiam eles próprios ganhar dinheiro com uma fábrica local. Já havia em Santa Rosa uma pequena indústria de óleo de linhaça instalada por Henrique Engel. Depois de algum tempo em atividade, Engel entrou em dificuldade e se retirou da cidade, deixando a fabriqueta aos cuidados de um cunhado de sobrenome Leuzin, Segundo Ming Ling, o negócio foi oferecido à Incobrasa, que não se interessou. Então ele e Tse ficaram com a fábrica, transformada, em 1995, na Indústria Gaúcha de Óleos Vegetais (igol), embrião da Olvebra, a segunda grande indústria brasileira de soja (formalizada em 1971), responsável pelo óleo de soja Violeta. Pool de Exportadores A disputa por matéria-prima era tão intensa, naquele princípio da década de 50, que os exportadores brasileiros, para atender às encomendas do Japão, precisaram se organizar em pool, Aldayr Heberle (Três Passos, 1935), que se tornaria conhecido na década de 70 da corretagem de soja de Porto Alegre, lembra que esse pool não durou muito tempo, pois perdeu o cliente devido ao apodrecimento, no navio, de uma carga de soja. Chegado a Santa Rosa na mesma época que Ling e Tse, Heberle pegou o início da onda da soja no interior gaúcho. Estudante secundarista de curso noturno, arranjou emprego de dia na firma atacadista Germano Dockhorn, que operava anos depois, em 1955, tomou o rumo de Porto Alegre, a fim de trabalhar na filia da Pampa S.A., firma atacadista fundada por seu tio Ivo Weiler, na casa de quem morou em Santa Rosa. Sua função era arranjar mercado para a soja, no Brasil ou no exterior. Apesar de desconhecida do grande público, a leguminosa chinesa, desde o princípio, desencadeou uma certa concorrência no mercado gaúcho de gorduras para a cozinha, Pouco depois do pioneiro Santa Rosa, saiu o óleo da Sorol, a indústria pelotense experiente na produção de óleo de linhaça. A Merlin só iria mexer com soja pela primeira vez em 1954, quando passou a adicionar 10% a 15% desse óleo de linhaça, cada vez mais escasso. Com o aumento do número de prensas, a empresa chegou em 1957 ao lançamento do óleo de soja Merlin, embalado em latas de cores vermelhas e branca. A propaganda, voltada para os adeptor da macrobiótica, destacava o fato de o novo óleo ser “produzido pelo método natural de prensagem”. Depois de adotar o método do solvente químico, em 1971, a Merlin acabou tirando seu óleo do mercado em 1984. Ao invés de brigar no mercado interno com uma concorrência cada vez mais afiada e com as tabelas de preços do governo, tornara-se mais interessante para a empresa operar no negócio internacional do óleo bruto e farelo. A Incobrasa seria comprada em 1982 por Renato Ribeiro, genro de Alcides Merlins, que já havia entrado no ramo, anos antes, quando adquiria a fábrica de óleo Taquarussu, no município gaúcho de Frederico Wesrphalen “ZÉ SOJINHA” Enquanto era alavancada por europeus e chineses no Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo a soja tornava-se objeto de uma parceria entre a pesquisa agronômica e o fomento industrial, envolvendo de um lado o Instituto Agronômico de Campinas e, de outro lado, as indústrias processadoras de óleos de algodão e de amendoim. Sob a liderança de Anderson Clayton, que doou Cr$ 100 mil ao fundo de pesquisa do IAC, foi instituída em 1951 a Campanha da Soja, através de qual os agrônomos da Secretaria da Agricultura deveriam orientar os produtores no cultivo da soja, com garantia de compra da produção oferecida pelo antigo – fundado em 1934 – Sindicado da Indústria de Azeites e Óleos do Estado de São Paulo, ao qual também estava filiadas outras fábricas, como as nacionais J.B Duarte e Mogiana e as brasileiro-argentinas MinetLongo e Sandra. O cérebro da campanha era ninguém menos do que Zé Sojinha, apelido do agrônomo José Gomes da Silva (Ribeirão Preto, 1925-Campinas, 1996), continuador das pesquisas do pioneiro Neme Abdo no IAC. Magro, pequeno e de cabeça grande, também conhecido na infância por Pinduca (alusão a uma figura de quadrinho muito popular no Brasil), José Gomes da Silva formou-se em agronomia em 1946 em Piracicaba e voltou do mestrado nos Estados Unidos completamente apaixonado pela cultura da soja. No interior norte-americano, onde estudou por dois anos (1947-48), ele conheceu de perto a integração entre os organismos de pesquisa, os agricultores e as indústrias de óleos vegetais. Assim que assumiu seu posto no IAC, começou a trabalhar para implantar esse modelo no interior paulista. Depois de arranjar o patrocinador, iniciou a montagem de uma equipe de pesquisas. O primeiro contratado foi o agrônomo de origem japonesa Shiro Miyasaka, recém-formado em Piracicaba, com especialização em genética. Impressionado com o rápido crescimento da produção gaúcha – em 1951, um total de 60.807 toneladas, das quais 30.675 exportadas para a europa e o Japão -, Zé Sojinha viajou ao Rio Grande do Sul. Um dos seus acompanhantes foi Edson Leite de Moraes, diretor da Companhia Mogiana de Óleos Vegetais, fundada em 1952 em Orlândia, onde a IAC fomentava a soja como adubo verde em cafezais e algodoais. O objetivo de Zé Sojinha era conhecer de perto a experiência gaúcha e, se possível, estabelecer algum tipo de intercâmbio. Maneco Vargas (1917-1997), secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, também formado em Piracicaba, mostrou pouco entusiasmo, É compreensível que o filho de Getúlio Vargas não tivesse muita boa-vontade com os visitantes paulistas. Além de estar na época muito envolvido com um pioneiro plano de combate à erosão na zona rural, o secretário gaúcho sabia que a falta de recursos e as dificuldades de comunicação tornavam praticamente inviável o intercâmbio técnico entre grãos públicos tão distantes. Depois, era preciso atentar para as especificidades de cada estado. Em São Paulo já havia uma boa produção de amendoim e algodão para suprir as necessidades da indústria de óleos vegetais. No Rio Grande do Sul, faltava uma eficiente fonte de gordura vegetal. O potencial da soja em solo gaúcho foi reconhecido pelos franceses que no início da década de 50 estiveram em Porto Alegre orientando a construção de silos da Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa). Numa época em que todos os produtos agrícolas eram guardados em sacos, os armazéns da Cesa na capital gaúcha foram os primeiros com aptidão para receber grãos a granel (a primeira exportação de soja a granel – para a Alemanha – só seria realizada no início da década de 60). Zé Sojinha só não voltou de mãos vazias porque aproveitou a viagem para conhecer – e encomendar – trilhadeiras fabricadas no interior do Rio Grande do Sul. GEADA NOS CAFEZAIS A geada de 1955 no Paraná deu grande impulso à nova lavoura. Aos cafeicultores, obrigados a ficar pelo menos um ano sem colher, foi recomendado o cultivo de arroz, feijão, milho e outras coisas nas entrelinhas dos cafeeiros queimados. Entre as “outras coisas” destacava-se a soja. O Instituto Agronômico de Campinas, que já vinha se empenhando na difusão da soja na região cafeeira de Ourinhos (município situado na divisa com o Paraná), designou o agrônomo José Drummond Gonçalves para ajudar o Instituto Brasileiro do Café na salvação dos cafeicultores. Foi um sucesso. A área cultivada da soja do Paraná, que não passara de 43 hectares em 1954, subiu para 1.922 hectares em 1955. Embora pequena – sobretudo quando comparada aos 71.598 hectares plantadas naquele ano no Rio Grande do Sul -, essa arrancada da soja no Paraná foi muito gratificante para os técnicos paulistas porque se aproximou da área platanda em Santa Catarina (2.679 hectares) e superou a de São Paulo (1.722 hectares), onde a bendita leguminosa não deslanchava comercialmente, de jeito nenhum. O sucesso que faltava no campo sobrava nos gabinetes. Em meados daquele ano, graças ao prestígio de José Gomes da Silva junto ao governador Jânio Quadros, pobre campanha original do IAC foi transformada num empreendimento mais bem estruturado – o Serviço de Expansão da Soja. Recomendada principalmente como adubo verde, visando à proteção e recuperação dos solos, a soja ajudou na formação da renda dos cafeicultores paranaenses, imediatamente procurados pelos compradores das indústrias de óleos. Eram os mesmos de sempre – Anderson Clayton, J.B Duarte, Matarazzo, Minet-Longo, Mogiana, Sandra, Swift -, mas os números impressionavam. A Swift, que refinava óleo de algodão em Campinas, declarava precisar de 100 mil toneladas de grãos por ano, Não admira que o Paraná tenha adotado a nova lavoura. O PESO DA INDÚSTRIA O que mais pesou no deslanche da soja foi de fato a atividade da indústria, sobretudo a de origem estrangeira. Desde fins de 1953, aparecia com freqüência no gabinete da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o pessoal da Samrig, até então identificada exclusivamente com o trigo. Por meio da aproximação com a estrutura da Secretaria, a empresa da curso a uma nova estratégia de abordagem dos agricultores, escolhidos como elo fundamental de uma cadeia de negócios de dupla face: de um lado, eles eram vistos como tais – produtores de matéria-prima para a indústria de alimentos; de outro, começavam a ser encarados também como consumidores de máquinas agrícolas, sementes e adubos. Ninguém abria o jogo, mas tudo era parte de um novo esquema internacional montado em Nova York, onde o grupo Bunge y Born tinha uma sólida base de operações. Em Porto Alegre, os funcionários da Samrig pleiteavam a liberação de uma licença especial para a importação de equipamentos industriais. Para todos os efeitos, seria para o trigo. Era para “o” feijão-soja. A Secretaria, naturalmente, tinha a máxima boa-vontade. Era nítido que a Samrig representava o progresso, especialmente aos olhos de Antonio Mafuz, chefe de gabinete do secretário Maneco Vargas. Repórter do Diário de Notícias e narrador de futebol da Rádio Farroupilhas, Mafuz fora colocado no cargo por um acordo entre o presidente Getúlio Vargas e Assis Chateaubriand, dono da rede nacional de jornais e emissoras de rádio. Ele viu tanto futuro no negócio da soja que, ao deixar a Secretaria, em 1954, tinha na Samrig um dos primeiros clientes de sua agência, inicialmente chamada Sotel e mais tarde denominado MPM Propaganda. O negócio da soja estava mudando de figura. De pequeno passava a ser grande As máquinas que tanto mobilizavam os funcionários da Samrig eram parte de um projeto apresentado em 1955, quando chegaram a Porto Alegre, vindo de Buenos Aires, prontos e acabado, os desenhos de uma grande fábrica de óleo de soja. Os equipamentos viriam da Alemanha. O lugar escolhido foi Esteio, perto de Canoas. Iniciada a obra, a Samrig tomou a iniciativa de fundar em Porto Alegre, em 1956, o Instituto Rio-Grandense de Fomento à Soja, ao qual se filiaram também a Sorol, a Merlin, a Igol e a Incobrasa. Mantido com as colaborações proporcionais à capacidade de processamento industrial, o instituto propunha-se, simplesmente, a distribuir sementes e orientação técnica aos agricultores, por intermédio da Secretaria da Agricultura. Foi ele o embrião do Sindicato da Indústria que chegou a ter 42 associados (era 14 em 1996). PLANTANDO NOTÍCIAS Umas das tarefas atribuídas pela Samrig ao publicitário Antonio Mafuz foram à produção de folhetos promocionais. Esse material era distribuído aos agricultores por funcionários do próprio Instisoja e pelos técnicos da Secretaria da Agricultura, Anúncios eram veiculados em emissoras de rádio e também no Correio do Povo, em cuja página de assuntos rurais não era incomum encontrar matérias assinadas por um técnico chamado Paulo Annes Gonçalves. O 1º de Abril de 1955 terminava assim: “A soja será breve uma grande cultura rio Grandense. Figurará a par com três grandes culturas: milhos, arroz e trigo”. Como noções de plantio, ele falava em cultivo em fileiras como no milho e no algodão, distância entre sementes de 2.5 centímetros e de 53 centímetros entre fileiras. As recomendações era fruto de experiência comprovadas no interior do Estado de Lowa, nos Estados Unidos. A propaganda não era só para o homem do campo, mas também para a mulher rural, Orientada pela Samrig, e encarada como uma espécie de missão pela Secretaria da Agricultura no primeiro mandato do governador Ildo Meneghetti (1955-58), a campanha da soja alcançou até mesmo as regiões de pecuária, como Caçapava do Sul. Nas propriedades rurais mais modernas – familiarizadas, por exemplo, com o uso de novíssimas ceifadeiras automotrizes empregado na colheita do trigo -, as mães de família eram instruídas a trocar o leite de vaca pelo de soja... Naturalmente, a tentativa de mudança de hábito alimentar não foi levada em consideração pela maioria absoluta dos gaúchos, acostumados ao leite bovino e à manteiga de origem animal. Na culinária, em verdade, a única concessão dos pampas seria substituir (de leve) a escassa banha de porco pelo óleo de soja – e olhe lá, Em São Paulo, a campana em favor da soja como alimento contou com a adesão de indústrias como a Nestlé e de professores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especialmente José Eduardo Dutra de Oliveira, nutrólogo de renome internacional. Politicamente, a soja alcançou um novo status em 1958, quando, pela primeira vez, foi colocada no Plano Nacional de Abastecimento. MANTEIGA X MARGARINA A fábrica de óleo as Samrig foi inaugurada em 1958, com capacidade para moer 130 mil toneladas de soja por ano (em 1996 a capacidade instalada da indústria de óleos do Rio Grande do Sul era de 10 milhões de toneladas). Fora superdimensionada. Naquele ano, segundo dados oficiais, a produção total do estado chegou a 112.154 toneladas – no Brasil, 130.890 toneladas. O óleo de soja Primor, com lata verde e amarela, foi lançado com anúncio colorido no Correio do Povo. Da mesma fornada saíram os sabões em pedra Gaúcha e Invicta e o sabão Alba. Pouco tempo depois veio a margarina. O pessoal da MPM achava que devia lançá-la com o nome usado na Argentina – Vitina -, mas a Samrig preferiu apostar em Primor. O novo produto foi recebida de cara torcida pelos produtores de manteiga. Eles chegaram a espalhar uma antiga história oriunda da região das Missões segundo a qual a soja enfraquecia o esqueleto de quem a consumisse... A história tinha um fundi de verdade. Na década de 30, quando a soja foi introduzida na ração suína, os porcos engordavam tanto que chegavam a sofrer fraturas nos membros. O problema foi rapidamente resolvido, na época, com suplementação alimentar rica em cálcio. A indústria de laticínios, preocupada com o avanço da soja, não precisaria ter usado expediente tão baixo para sustar a população. A maioria dos consumidores rejeitava naturalmente a margarina, por causa do cheiro característico, que também empregava o óleo de soja. A Samrig colocou um exército de demons-tradoras nos supermercados que começavam a avançar no varejo. A briga entrou pela década de 60 adentro,quando, para conseguir espaço na cozinha gaúcha, a Samrig chegou a patrocinar a seção de culinária do diário Zero Hora. Alheios ao marketing emergente nas multinacionais, os redatores não se preocupavam sequer em adaptar as receitas, que continuavam prescrevendo o uso de manteiga... O avanço da soja sobre os campos, estradas, cozinhas e mesas do Rio Grande, afinal de contas, só se consolidaria por meio de uma vigorosa campanha governamental de plantio... de trigo. Os esforços da fábrica de Esteio no fomento agrícola, na renovação culinária e na exportação de grãos são considerados fundamentais para a implantação da lavoura de soja no Rio Grande do Sul, A partir da propaganda feite pela Samrig, especialmente nos anos 60, a sojicultura firmou-se como uma cultura de penso. Ainda assim, com todo seu crescimento agrícola, industrial e comercial, a década de 60 configurava um período intermediário entre o amadorismo dos anos 50 e o profissionalismo que se impôs nos anos 70. É típica dessa época de aprendizado a história do primeiro embarque de soja a granel no cais de Porto Alegre, por volta de 1962. De cara o embarque não foi autorizado pelas autoridades sanitárias. Para atender às exigências da sanidade, o exportador forrou o porão do navio com tábuas de pinho. Deu certo. Algum tempo depois, quando a forração de madeira tinha se tornado uma solução de rotina, o Instituto Nacional de Pinho embargou o negócio, alegando que aquilo era uma exportação fraudulenta e ilegal de pinho. O jeito foi forrar o navio com esteiras de palha, dessas de praia. Por essas e outras, Aldayr Heberle, o primeiro “soy trader” brasileiro, planejou escrever um livro intitulado Os Gigolôs da Soja, em que promete contar “os podres” do ramo. Para Heberle residente em Campo Grande, MS, os exportadores brasileiros são “heróis” obrigado a engolir humilhações de algumas poucos burocratas que, situados em pontos estratégicos, “criavam dificuldades para render facilidades” Os primeiros tempos da expansão da soja estão resumidos na tabela abaixo. Ano Brasil R.G. do Sul S. Catarina Paraná S. Paulo 1950 34.429 33.739 690 1955 106.884 99.353 4.069 58 2.538 1960 205.744 188.500 3.761 7.364 3.087 1965 523.176 463.153 5.123 44.111 8.862 1970* 1.598,540 976.807 52.998 368.006 90.086 * Mais de 9.817 toneladas em Goiás, 8.905 no Mato grosso, 1.806 em Minas Gerais e 25 Toneladas na Bahia (Fonte: IBGE) A ALAVANCA DO TRIGO Em Julho de 1967, o gaúcho Nesto Jost (Candelária, 1927) adentrou o gabinete do ministro da Fazenda, Antonio Delfim Netto, carregando na mão um punhado de uns grãozinhos amarelos. Antes que este lhe perguntasse, Jost foi logo dizendo: - É isto que os gaúchos estão platando... Presidente do Banco do Brasil, cargo na época mais importante do que o de ministro da Agricultura, Jost fez uma pausa para valorizar o projeto que desejava apresentar -... Para dar ao Brasil a auto-suficiência em trigo. Delfim deu uma olhada rápida nos grãos e ficou esperando que o político gaúcho fosse ao ponto. Sabia que aquilo não era trigo. Jost falava de soja. O plantio de mais de 600 mil hectares, no ano de 1966, começava a transformar a soja numa cultura de razoável importância no território brasileiro. No mercado internacional a exportação daquele grãozinho já rendia US$ 15 milhões de dólares por ano ao Brasil. Ao lado do suco de laranja, dos têxteis e dos calçados, a soja ajudava a alavanquem das exportações brasileiras. Tinha, por isso, porta abertas no Ministério da fazenda, que oferecia incentivos e benefícios fiscais a quem aderisse ao “modelo exportador” - A soja – explicou Jost – pode ser plantada na mesma terra do trigo, com o mesmo maquinário. Só precisamos dar crédito para o agricultor plantar direitinho, como manda o figurino... O figurino era americano e a equação, idem: com duas safras por ano na mesma terra, os agricultores poderiam reduzir em 15% a 20% os custos de produção. Aí, quem sabe, a triticultura brasileira poderia sair do impasse histórico em que se encontrava havia tanto tempo. Ou, então, alavancar a soja. MISSÃO CÍVICA Há quase dois séculos, embalado pela convicção bíblica de que um país de verdade precisa produzir seu próprio pão, o Brasil assumiu como uma espécie de missão cívica a busca da auto-suficiência em trigo, Cultivado em pequenas áreas no Brasil colonial, o cereal concentrou-se, sobretudo no Rio Grande do Sul, onde encontrou um clima similar ao europeu. No início do século 19, graças ao esforço de colonos recém-trazidos da ilha de Açores, a triticultura nacional ensaiou uma arrancada nos arredores de Porto Alegre, Sonho fugaz. Vem dessa época a sujeição do trigo nacional à “ferrugem”, causada por fungos que proliferam em ambientes úmidos. A lembrança desses tempos pioneiros ficou gravada no nome do bairro porto-alegrense da Azenha, assim chamado porque ali, aproveitando as águas do arroio Dilúvio, afluente do rio Guaíba, funcionavam vários moinhos de roda, também chamados de azenhas. Segundo a história, as pesquisas para controlar a “ferragem” foram iniciadas em 1918. Já então era bom negócio importar trigo. A pioneira a Sociedade Anônima Moinhos Rio-Grandenses (Samrig) teve origem num armazém de importação e exportação estabelecida em 1876 na cidade portuária de Rio Grande pelo português Albino Cunha. Ele fazia tantos negócios com farinha que, em 1894, entrou de sócio num moinho do qual, alguns anos depois, se tornaria o único dono. Comprou depois o Moinho Pelotense, na vizinha Pelotas. Em 1920, finalmente, instalou na capital do estado o Moinho Porto Alegre, com capacidade para moer 100 toneladas diárias de trigo, que ele importava da Argentina. Formou assim a rede que mais tarde, em 1929, passaria ao controle de capitais argentinos. VÍCIO DA IMPORTAÇÃO Hábito, antigo, a importação de trigo tornou-se uma espécie de vício dos grandes moinhos brasileiros, protegidos por dispositivos legais que chegaram a inviabilizar a operação dos “moinhos coloniais” das zonas de imigração do Sul. Além de dar preferência ao trigo estrangeiro – argumentando que ele possuía melhor qualidade do que o nacional, freqüentemente avariado pela “ferrugem”-. Desde tenra idade a indústria moageira nacional beneficou-se de injunções existente nas relações do Brasil com seus maiores parceiros, como a Argentina e os Estados Unidos. Enquanto a importação de trigo argentino foi muitas vezes o fruto de conveniência da política de venda do café brasileiro, o produto norte-americano entrou no Brasil porque, poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos haviam acumulado estoques monumentais do cereal. Se não o vendessem a preços baixos, e com prazo de 40 anos para pagamento, os americanos provavelmente teriam de deixar seu trigo apodrecer, ou o queimariam, como fez o Brasil com o café na depressão dos anos 30. O trigo americano barato deu origem ao subsídio oficial ao consumo, criando para o governo brasileiro uma dor de cabeça permanente: a “conta-trigo” dos balanços de pagamentos. O agrônomo Ady Raul da Silva (Rio de Janeiro, 1917), formado em Viçosa, lembra-se: em 1938, quando iniciou sua vida profissional, contrato pelo Ministério da Agricultura para fomentar a cultura do trigo, a compra do cereal respondia por cerca de 10% das importações nacionais. Era uma conta naturalmente pesada para um país que também importava petróleo, máquinas e diversas matérias-primas industriais. CÍRCULO DO FUNGO Depois de passar dois anos (1944/46) pesquisando variedades de trigo resistentes à “ferrugem” na Minesotta University, onde conheceu o biólogo Norman Borlaug – Prêmio Nobel da Paz de 1970 pelas conquistas genéticas da Revolução Verde financiada pela Fundação Rockefeller -, Silva, baseado em 1949 em pelotas, concluiu que a “ferrugem” era o principal, mas não o único problema sanitário do trigo, também atacado por outras pragas. Na realidade, o clima úmido provocava a proliferação de fungos em várias culturas, como as de feijão, aveia, arroz e linho. Inicou-se então um trabalho em duas frentes. O primeiro foi à busca de sementes resistentes às doenças. O melhoramento genético teve alento nas mãos de Iwar Beckmann, sueco que desenvolveu em Bagé a variedade de trigo Frontana, e de Benedito Paiva, agrônomo que criou em Júlio de Castilhos variedades de trigo adaptadas aos campos nativos do Rio Grande do Sul. O segundo trabalho, foi a aplicação experimental de fungicidas que deram à indústria química brasileira o impulso inicial para seu grande crescimento nas décadas seguintes. Entretanto, a descoberta mais importante nesse período, no final na década de 50, não foi genética nem química, mas geográfica. “Concluí que era preciso expandir a zona de produção tritícola, saindo da região tradicional, restrita ao Rio Grande do Sul”, lembra Silva. Plantado em regiões menos úmidas, quem sabe o trigo não escaparia do círculo vicioso das doenças fúngicas? Todos os técnicos envolvidos com o trigo, inclusive os membros de uma missão da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação) então presente no Brasil, acharam que essa diversificação seria inviável. Mesmo assim, iniciou-se um projeto da adaptação de sementes ao norte do Paraná. A diversificação geográfica da triticultura só avançou mesmo a partir de 1964, quando Silva assumiu a direção de pesquisa do Ministério da Agricultura. Para sustentar a experiência, ele criou duas subcomissões de pesquisa de trigo – uma voltada para a região Sul (já operando formalmente no Instituto Agronômico do Sul-IAS, com tese em Pelotas). Outra região situada acima do Trópico de Capricórnio, que passa sobre Londrina, no norte do Paraná. Deu certo, ainda que tenha demorado: hoje o Paraná é o maior produtor nacional de trigo, quem também se estabeleceu, em menor escala, no sul e no oeste de São Paulo, no Sul do Mato Grosso do Sul e, por fim, nos cerrados do Brasil Central, onde a irrigação vingou tecnicamente, embora seja economicamente inviável diante do preço do trigo importado. PACOTE TECNOLÓGICO Em algumas dessas regiões “novas”, o trigo entrou junto com a soja, repetindo aquele projeto “vendido” por Nestor Jost ao ministro Delfim Netto em meados de 1967. Chamado de Operação Tatu porque implicava em sulcar profundamente a terra, conforme a nova receita assinada por Norman Borlaug e testada com êxito na estação experimental do Ministério da Agricultura em Cruz Alta, o projeto era na realidade um thriller do primeiro pacote de tecnologia agrícola do mundo capitalista. Prescrevia o uso de calcário para corrigir a acidez dos solos e de adubos químicos para nutrir as plantas – nascidas, por sua vez, de sementes híbridas selecionadas após rigorosas pesquisas genéticas. Tudo trabalhado com modernas máquinas de preparo do solo, plantio e colheita, Já na primeira metade da década de 50 os agricultores mais adiantados do Sul e do Sudeste tiveram acesso a esse “pacote tecnológico”, subsidiado pelos Estados Unidos e facilitado pelo Banco do Brasil. Nasceu assim, em pleno governo de Getúlio Vargas (1951-54), o mais consistente esforço para atender às necessidades brasileiras de trigo, e simultaneamente, aos interesses das indústrias americana. Seduzidos pela propaganda, estancieiros de gado admitiram tratores e arados em seus campos nunca lavrados, ceifadeiras automotrizes de marcas famosas como John Deere, International oumassey Harris chegavam encaixotados ao interior gaúcho. O mesmo acontecia em São Paulo. Muitas indústrias européias como a Ford inglesa e a alemã Hanomag entraram na onda, exportando também seus tratores. Entre 1950 e 1960, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísca (IBGE), a frota nacional de tratores subiu de 8.372 para 61.345 unidades. A importação indiscriminada colocou em território brasileiro 156 marcas diferentes de tratores. No Sul ainda há quem recorde: vieram máquinas esplendias, mas algumas colheitadeiras originárias da Europa era verdadeiros quebra-cabeças que nunca chegaram a funcionar. O modelo americano da agricultura empresarial obrigou o Brasil a criar alguns mecanismos de difusão dos novos conhecimentos disponíveis. Foi nesse contexto que nasceu o Instituto Privado de Fomento à Soja, No Rio Grande do Sul. Na mesma onda criaram-se as associações estaduais de crédito e assistência técnica que, por sua vez, deram origem aos clubes 4S – verdadeiros grupos de trabalho organizados em torno dos jovens nas comunidades rurais. A extensão rural (dos conhecimentos desenvolvidos em laboratórios e campos experimentais) abriu grande campo de trabalho para agrônomos e técnicos formados em escola agrícolas de nível médio. Durante o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-61), a triticultura gaúcha bateu recordes de área plantada no Rio Grande do Sul. Em média, plantou-se um milhão de hectares por ano (no mesmo período, a média de plantio de soja girou em torno de 100 mil hectares por ano). A criação de novas variedades de trigo como a Fontana gerou um entusiasmo sem precedentes. Entretanto, a produção de mais de 1 Milão de toneladas de trigo, em 1956, com uma produtividade recorde de 958kg/há, não teve continuidade. Nos dois anos seguintes, o rendimento caiu para a faixa de 10 sacos de 60 quilos por hectare. O trigo, sensível à umidade do inverno sulino, continuava extremamente vulnerável aos fungos da “ferrugem”. Sozinho, ele era incapaz de garantir o sustento dos produtores. A estrutura montada em torno do trigo, porém, serviria como base de sustentação dos deslanche da economia agrícola gaúcha a partir da segunda metade da década de 60, Um dos sinais dos tempos, em várias cidades do Rio Grande do Sul, eram as comissões municipais do trigo, formadas por três membros – um do Banco do Brasil, um da prefeitura e outro da exatoria estadual. TRIGO-PAPEL Apesar da boa organização burocrática da triticultura, ainda não tinha ficado claro, tecnicamente, que faltava uma cultura de verão que casasse com o trigo, cultivado no inverno. A opção mais plausível era o milho, rústico, resistente ao clima, mas sujeito a problemas de mercado. Quando obtinha uma boa safra, o produtor de milho levava na cabeça com a queda de preço. Teoricamente, sabia-se que uma leguminosa seria eficiente na fixação no solo de nitrogênio a ser aproveitado pelo trigo, mas... feijão comum? Não. Lavoura cheia de altos e baixos, o feijão era muito vulnerável ao clima e também não dava segurança ao produtor. Em resumo, no início da década de 60 já se falava bastante de um certo feijão-soja, mas apenas uma minoria o conhecia. Para compensar a falta de uma boa alternativa agrícola e comercial, muitos triticultores optaram por ganhar dinheiro com uma nova modalidade de cultura: o trigo-papel, nascido no terreno das facilidades de crédito do Banco do Brasil. Arranjo entre produtores e moinhos para pegar o dinheiro do subsídio oficial ao trigo importado, a jogada do trigo-papel virou escândalo espinhoso para o recém-iniciado governo tampão do vice-presidente João Gourlart (1961-64). Pois medrara no seu estado natal, governado por Leonel Brizola, seu cunhado e correligionário. Denunciada pela Federação das Cooperativas Tritícolas do Sul (Fecotrigo), fundada alguns anos antes, a maracutaia era rendosa não só para os agricultores, mas também para os moinhos, pois se baseava numa regra simples: para cada saca de trigo produzido internamente, permitia-se importar três sacas de trigo estrangeiro. Quando as autoridades se dera conta, o Rio Grande do Sul estava “produzindo” milhares de toneladas de trigo – era recordes só no papel. As estáticas, pelo menos, fora corrigidas. Para resolver o imbroglio, o primeiro-ministro Tancredo Neves, do PSD, sugeriu uma solução à mineira: que o “abacaxi” fosse descascado por um gaúcho sem vínculos com o PTB, o partido do presidente e do governador. Tarefa para Nestor Jost. A PODEROSA CTRIN Pessedista, Jost estava feliz na Câmara e relutara em aceitar o cargo de diretor do Banco do Brasil oferecido pelo presidente Goulart. A perda salarial era grande, de quatro por um, Acabou aceitando ao se dar conta de que uma diretoria do BB poderia dar muito mais evidência e penetração do que um mandato legislativo, mesmo num sistema parlamentarista de governo, como o adotado às pressas em 1961, após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Filho de agricultor, Jost sabia lidar com produtores rurais. Ele tinha sido delegado de polícia em Canguçu e prefeito em São Lourenço do Sul, duas pequenas cidades da região de Pelotas, onde havia se tornado sócio de Lauro Ribeiro em lavouras de arroz. No caso do trigo-papel, ele adotou uma solução olímpica: amparando por uma portaria ministerial, criou, em 30 de novembro de 1962, a Comissão de Compra do Trigo Nacional (CTRIN), formada inicialmente por Pedro Otto da Silveira, Dinard Goyheneix Gigante, José Joaquim Pires de Carvalho Albuquerque e Antonio Carlos Silveira Abbott, todos da agência central do BB em Porto Alegre. A CTRIN ficou famosa não por ter colocado uma pá de cal sobre o escândalo de trigopapel (que acabou sem culpados nem punidos), mas por ter assumido na prática a direção de política nacional do trigo, incluindo as importações, que não época lideravam a pauta de compras internacionais do Brasil. Único órgão de dimensão nacional do BB com sede fora de Brasília, a CTRIN foi ágil, enxuta e poderosa. Nunca teve mais de uma centena de funcionários para manipular um orçamento anual que à época de sua extinção, no início do governo de Fernando Collor de Mello (1990-92), era de US$ 1,5 bilhão, 12% dos quais destinados às importações. O restante, isto é, a maior parte, era empregado no subsídio ao consumo do cereal, no financiamento da triticultura e em atividades afins, como a controle de estoques, a administração de armazéns e as operações de transporte. Em quase 30 anos de existência teve apenas três chefes: Antonio Carlos Abbott, Humberto Garófalo e Lino Fensterseifer. Foi uma máquina a serviço do trigo e também da soja; seu primeiro grande teste de campo foi justamente a Operação Tatu, em 1967. Embora tenha sido atingido apenas a metade da meta prevista – plantio de 20 mil hectares de soja por 2 mil agricultores, à média de 10 hectares cada um -, a Operação Tatu deu certo como efeito-demonstração, naquele ano, uma seca reduziu 30% o rendimento das lavouras do norte gaúcho, menos nos 10 mil hectares que haviam seguido as regras do projeto, orientando pelos técnicos da Secretaria da Agricultura e da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar), embrião da Emater gaúcha. Entre os produtores, atribuiu-se o sucesso especialmente ao uso do calcário, mitificado como um novo maná. Uma demanda extraordinária levou o Banco do Brasil a financiar a exploração de minas de calcário em Pantano Grande. No coração do Rio Grande do Sul, e oferecer crédito farto para correção de solos. O plantio de trigo/soja virou moda em pouco tempo. Um dos seus mais entusiastas propagandistas foi o agrônomo mineiro Allyson Paulinelli, ministro da Agricultura do governo do general Ernesto Geisel (1974-1979). Orador inflamado, ele não perdia oportunidade de elogiar a “dobradinha”, que rendeu até uma canção sertaneja, gravada em 1974 por Jacó e Jacozinho. A letra de Moacyr dos Santos fala da Ascensão de um ex-tratorista ao patronato rural. Trigo e Soja Eu já fui um bom empregado Honrado no meu querido sertão Trabalhei de tratorista Fui orgulho do patrão Um dia Deus me ajudou Comprei um pedaço de chão Negócio bom do momento Agora é esse meu amigo Tiro trigo e planto soja Tiro soja e planto trigo Quem sabe preparar a terra Não erra, é lucro que não tem fim Já destoquei minha mata E arei todo o capim To plantando e to colhendo A coisa virou para mim Negócio bom do momento (...) Eu tenho todos os maquinários Calcário, jogo muitas toneladas Depois ponho um bom adubo Pra ficar bem reforçada Depois passo o herbicida A terra está preparada Negócio bom do momento (...) Eu sou um homem muito franco No banco, eu entro de botinão Vem o gerente sorrindo E pega na minha mão Foi o trigo e foi a soja Que me fez virar patrão... Como certas músicas de ocasião, feitas de encomenda, o casamento do trigo com a soja deu certo, mas não por muito tempo. Na safra 1967/68, os dois ocuparam quase a mesma área no Brasil: o trigo, 845 mil hectares; a soja, 721 mil. Em 1968/69, o trigo ocupou 1.3 milhão de hectares e a soja, 906 mil. A “dobradinha” foi crescendo ano a ano. Até que em 1972, com 2.3 milhões de hectares o trigo esborrachou-se no chão com um rendimento médio de apenas cinco sacas por hectare. Com 2.2 milhões de hectares, a soja seguiu sozinha. Enquanto ela conquistava novas terras nos cerrados do Brasil Central, o trigo ficava para trás. Triste como um tango. Desentendimentos, fofocas e divergências de interesses contribuíram para a separação. No final da década de 60, Ady Raul da Silva ganhou um prêmio do Moinho Fluminense com monografia “Uma Política de Trigo para o Brasil”. Nela, o veterano pesquisador brasileiro argumentava que, apesar de certas limitações e desvantagens, a triticultura tinha condições de abastecer o país, desde que se estimulasse a produção e deixasse de subsidiar o consumo, prática que favorece a triticultura de outros países e prejudica o consumo nacional de outras farinhas, como a de milho, a de mandioca e até a de soja. O extravio dos originais manteve o trabalho inédito, não obstante uma ordem de publicação expendida pelo ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne lima. Somente em 1971 um resumo foi publicado na Revista A Granja, de Porto Alegre. PAPÉIS TROCADOS A polêmica sobre a auto-suficiência do trigo teve um novo capítulo no início da década de 70, quando o economista americano Peter Knight, PhD pela Stanford University, defendeu a tese – publicada em 1973 na revista de economia da Universidade de São Paulo – de que o Brasil não devia ser esforçado para produzir trigo, já que podia importá-lo gastando metade do dinheiro aplicado na busca da auto-suficiência. Contestada por Ady Raul da Silva com o argumento de que os investimentos na triticultura do Brasil são muito menores do que os gastos com o subsídio ao consumo, a tese de Knight não chegou a ser acatada pelo governo, que continuou apostando ora no trigo nacional, ora no importado, de acordo com as conveniências (cambiais, diplomáticas, políticas) de cada momento. Os produtores, por sua vez, continuaram fazendo do trigo um espelho (cada vez mais opaco) da soja. Em 1976, por exemplo, a produção brasileira de trigo chegou a 3 milhões de toneladas, enquanto a de soja passava de 11 milhões. Em 1987, recorde de 6 milhões de toneladas no trigo e de 17.1 milhões de toneladas na soja. Em 1995, a produção de trigo encolheu para 1,5 milhões de toneladas, enquanto a de soja chegou ao máximo: 25,9 milhões de toneladas. Alternando safras boas e ruins, a dobradinha trigo-soja ainda permanece em cartaz, pelo menos nos estados do Sul, Recentemente, técnicos que trabalham com a difusão do plantio direto (no-tillage) no Rio Grande do Sul concluíram que o casamento trigosoja, para funcionar melhor, precisa de uma rotação mais intensa com outras culturas, em especial o milho, e de uma maior integração com a pecuária. Mas o avanço da economia agrícola brasileira está invertendo os papéis da dupla. Trinta anos depois da Operação Tatu, agora é o trigo que promete servir de escora para as dificuldades da sojicultura gaúcha, que perdeu terreno para a competitiva soja argentina. O Braço Cooperativista Quando o Brasil alcançou a maior colheita de trigo em quase dois séculos de luta consciente pela auto-suficiência no abastecimento – 1.062.580 toneladas, em 1956 -, os agricultores de Bagé, ao invés de festejar o recorde, promoveram uma manifestação de protesto contra a que classificaram como “o abandono da triticultura pelo governo” Situação absurda. O estímulo governamental havia levado muitos fazendeiros tradicionais a abrir suas terras à aventura de trigos, introduzido na campanha gaúcha por imigrantes alemães da colônia de Aceguá, com sementes importadas da Argentina ou desenvolvida em campos experimentais mantidos pelo governo na própria região fronteiriça. Por sinal, duas variedades gaúchas, a Bagé e a Frontana, davam bons resultados e ainda não haviam sido atacadas pela “ferrugem”, a maior praga dos trigais gaúchos. Frustrados com a falta de comprador para a colheita tão abundante – não era isso, afinal, o que se queria desde a chegada dos colonos açorianos a Porto Alegre, no início do século 18? -, os produtores colocaram umas sacas de trigo dentro de um carro fúnebre e formaram um cortejo que percorreu a rua Sete de Setembro, no centro da cidade, a capital do gado do Rio Grande do Sul, Demonstravam assim seu inconformismo com a falta de consistência da política agrícola do governo, que abandonara a campanha d Para asa auto-suficiência, cedendo às pressões para ignorar o trigo norte-americano, ofertado a preço vil no mercado internacional. O “enterro do trigo nacional” em Bagé virou um marco da história da triticultura e do cooperativismo no Brasil. PECADO ORIGINAL Pouco tempo depois daquela patética manifestação de protesto, a Associação Bageense de Triticultores liderou o esforço que levou um grupo de 11 novíssimos cooperativas a fundar em outubro de 1958 em Santa Maria e Federação das Cooperativas Tritícolas do Rio Grande do Sul (fecotrigo), cabeça do que chegou a ser o movimento associativo mais organizado da agricultura do Brasil. Marca indelével no passado do cooperativismo sulino, o T do trigo permanece visível até hoje na razão social de dezenas de cooperativas “tritícolas” criadas nos anos 50 e 60 com incentivo oficial. Entretanto, o pecado original do cooperativismo – nascer no regaço oficial, d dos dirigentes rurais gaúchos. Ao contrário, parece tê-los estimulado a manter em relação às autoridades um repertório de atitudes mais ou menos previsíveis: cobrança permanente, apoio tácito, reivindicação assídua, expectativa insatisfeita, aquiescência relutante, descontentamento, queixas, críticas, cobrança. Para as bases formadas por imigrantes de origem européia, naturalmente dependentes de boa-vontade do governo, organizar-se em cooperativas era a melhor forma de enfrentar as dificuldades geradas pelo isolamento nas colônias. Mas nem mesmo no começo a Fecotrigo viveu exclusivamente de reivindicações próprias de cooperativas tritícolas. Ao arrebanhar também produtores sem terras reunidos em movimentos civis ou cooperativas mistas, ela assumiu desde o início a dimensão política de uma partido agrário com um discurso técnico moderno e uma bandeira social progressista. O cooperativismo era “a terceira opção”, nem capitalista, nem comunista. Por seus interesses e origens, a Fecotrigo manteve desde o princípio uma grande proximidade com o Banco do Brasil, o grande agente de fomento da triticultura, da lavoura geral e do agribusiness nacional. Teve por isso condições (morais, inclusive) de denunciar o escândalo do trigo-papel, liquidado dentro do próprio banco estatal por um mecanismo burocrático que acabou sendo fundamental para a organização da economia agrícola gaúcha. À SOMBRA DO BB Amparadas pelo esquema oficial de estímulo à triticultura, as cooperativas cresceram à sombra da Comissão de Compra do Trigo Nacional (CTRIN), operada pelo Banco do Brasil, mas só se tornaram realmente fortes com a expansão da soja, na segunda metade da década de 60. Por ironia da história, foi lutando pela auto-suficiência na produção do trigo que elas ajudaram a construir o novo modelo exportador fixado pela cultura da soja. Nesse trabalho, foram muito além do roteiro estabelecido pelas autoridades para a modernização das atividades econômicas no campo. Ao fortalecer seus departamentos técnicos, elas assumiram conscientemente o papel de braço auxiliar da política econômica do governo, colocando à disposição dos produtores as facilidades de créditos, as novas técnicas agrícolas e os novos insumos do pacote tecnológico criado pelos americanos. As cooperativas tiveram papel decisivo na montagem da rede de armazenagem da produção agrícola. Foram importantes também na logística do escoamento das safras. Além disso, contribuíram com o governo em projetos da colonização e na expansão da fronteira agrícola. Fruto de um acordo de cúpulas, a aliança governo-cooperativas funcionou como uma avenida de mão dupla cujo tráfego, graças à soja, se adensou, por coincidência, durante os governos militares. O casamento desmanchou-se no início da década de 80, quando os alicerces do edifício cooperativista fora abalados pelo colapso do modelo econômico e a crise do regime militar. Poderoso edifício. No afã de ter parte do dinheiro que circulava entre seu universo de insumos, supermercado, empresas de transportes e indústrias de óleos, adubos e rações. Aproveitando todos os incentivos e facilidades oferecidos pelo governo durante o milagre econômico. Geraram conglomerados que disputavam um lugar ao sol entre empresas nacionais e estrangeiras, Apenas a Central Sul, braço industrial das cooperativas gaúchas, foi em seu melhor momento, em 1981, a segunda maior empresa do Rio Grande do Sul, só suplantada pela Varig e à frente dos grupos Gerdau e Ipiranga. Isso sem contar com os complexos formados por cooperativas em suas regiões de origem, no Sul e em outras regiões brasileiras aonde o braço cooperativista chegou com força da soja. VÍTIMAS DO GIGANTIMOS Até hoje o edifício do cooperativismo carece de consertos. Em particular, ainda estão abertas as rachaduras surgidas na hora da verdade, em 1982. Alguns dirigentes de cooperativas foram afastados de seus cargos, acusados de inépcia financeira ou, até mesmo, de falcatruas administrativas, ainda que sem culpa fomarlizada na justiça. Outros foram simplesmente colocados à margem do processo. Desse grupo de condenados ao limbo do cooperativismo fazem parte atualmente os dois maiores dirigentes cooperativistas gaúchos identificados com o ciclo da soja. Rubem Ilgenfritz da Silva (Ijuí, 1941), ex-presidente da Cooperativa Regional Tritícola Serrana (Cotrijuí), e Ari Dionísio Dalmolin (lagoa Vermelha, 1942), ex-presidente da Fecotrigo, tornaram-se vítimas do gigantismo pelo qual tanto se empenharam. Agrônomo formado em 1963, Ilgenfritz começou a trabalhar no departamento técnico da Cotrijuí em 1964, Dirigiu a durante 24 anos, em dois períodos (1966/85 e 1990/95), ocupando, no intervalo, dois cargos públicos: secretário geral do Ministério da Agricultura no período 1985/86 (gestão do gaúcho Pedro Simon) e, em seguida, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Técnico preocupado com as questões sócio-políticas ligadas ao desenvolvimento rural, Ilgenfritz foi a cara da Cotrijuí no momento em que esta cooperativa, ao assumir grande empreendimentos, chegou a simbolizar a audácia dos agricultores gaúchos. O vínculo com o governo estabeleceu-se no final da década de 60, quando a Cotrijuí assumiu a operação do terminal de trigo e soja do porto de Rio Grande, abrindo o caminho à reativação da navegação fluvial no Rio Grande do Sul. Apesar de atrelada ao governo, a Cotrijuí preocupou-se em ser competitiva e inovadora da lavoura ao porto, numa época em que a maioria das cooperativas se limitava a entregar a soja ensacada aos compradores das indústrias de óleos. Quando o governo sugeriu a adoção do modelo americano - armazéns pequenos providos de secadores dentro das propriedades rurais -, Cotrijuí apostou na construção de grandes armazéns graneleiros com capacidade de captar a produção regional. Esse modelo foi adotado por outras cooperativas em todo o Brasil, inclusive no Mato Grosso do Sul, onde a Cotrijuí estabeleceu uma ponta-de-lança na década de 70 EDUCAÇÃO DE BASE Tanto pela obrigação legal de se comunicar com as bases quanto pela necessidade empresarial de atuar eficientemente, a Cotrijuí foi pioneira também na criação de um sistema de informações fundamental para o dinamismo alcançado pelas cooperativas. No início da década de 70 tornara-se claro que o crescimento empresarial das cooperativas afastaria naturalmente dos associados, isolados nas colônias. A direção da Cotrijuí autorizou então a montagem de um novo método de trabalho para manter os associados a par das atividades da cooperativas e, particularmente, dos altos e baixos do mercado. A informação seria a arma de defesa contra a ação dos intermediários que batiam à porta dos colonos com ofertas de compra de soja. A nova tarefa foi confiada a Rui Polidoro Pinto (Ijuí, 1941), diretor da escola técnica local e estudante de direito em Santo Ângelo. “Acho que fui o primeiro profissional do cooperativismo com o cargo de educador de base anotado em carteira”, lembra Pinto, presidente da Fecotrigo desde 1989. Contratado em 1972, sua função era abrir e manter um canal de comunicação eficiente entre a direção da cooperativa e dos produtores, para tanto organizados em núcleos de base nas zonas rurais. Ao dar maior consistência e vivacidade à organização cooperativa, o novo modelo foi adotado em seguida por outras instituições do ramo, tendo prosperado principalmente no Paraná, onde o binômio soja-trigo, entre 197- e 1985, deu origem a 18 cooperativas, entre elas a Coamo, de Campo Mourão, a maior cooperativa brasileira nos anos 90. O papel da vanguarda da Cotrijuí implantando nas bases do cooperativismo um modelo “cubano” confunde-se a partir de 1972 com a verticalização empresarial à moda americana adotada pelo Fecotrigo sob a gestão do novo presidente, Ari Dalmolin, entusiasta da experiência dos produtores de Indiana, nos Estados Unidos. TRABALHO DE CÚPULA Filho de sitiantes, Dalmolin viu um pé de soja pela primeira vez em 1963, quando, ao deixar o serviço militar em Passo Fundo, empregou-se no escritório da Granja Arco-Íris, pertencente a dois chineses responsáveis pela importação dos Estados Unidos das primeiras sementes de soja precoce plantadas no estado. No natal de 1964, “tirou a sorte grande” na Loteria Federal. Com o prêmio, comprou uma casa, uma camioneta Rural Willys e duas fazendas. Uma delas permaneceu arrendada aos chineses da ArcoÍris. Na outra dalmolin passou a plantar trigo em sociedade com o irmão Argentino. Em 1968, “por puro acaso”, como conseqüência de um conflito político entre dois grupos, Dalmolin foi eleito vice-presidente da Cooperativa Tritícola de Passo Fundo (Coopasso), no papel de tertius. Em 1970, presidente, dedicou-se à melhoria da sua estrutura de armazenagem e à importação direta de fertilizantes, para escapar dos grupos privados que dominavam esse setor. A convite dos fornecedores passou um mês nos Estados Unidos. Voltou convencido de que as cooperativas brasileiras deviam seguir o modelo de Indiana, assumindo o maior número possível de atividades antes e depois das colheitas – o que incluía a produção de insumos, o beneficiamento da produção, o transporte, a exportação e o fornecimento de bens de consumo aos associados. Foi com essa plataforma que Dalmolin, ganhou em 1972 a eleição para a presidência da Fecotrigo, desde 1960 comandada por Edgar Almeida Perez, pertencente ao “grupo histórico” do cooperativismo tritícola Com o boom dos preços da soja em 1973, o cooperativismo cresceu naturalmente. Para agigantar-se, recebeu um providencial empurrão oficial. Em 1974, o governo limitou a exportação de um milhão de toneladas, destinando uma cota de 100 mil toneladas aos exportadores tradicionais e 900 mil toneladas a cooperativas. Para dar conta da tarefa, a Fecotrigo organizou um pool de escoamento da soja, trabalho feito na prática pela Cotrijuí, que montou uma trading, a Cotriexport, entregue inicialmente à direção do experiente corretor Aldayr Heberle. Em 1975, toda soja exportada pelo Rio Grande do Sul, coisa de dois milhões de toneladas, saiu pelo porto de Rio Grande, onde a Cotrijuí construíra a boca de saída de um modelo integrado de transporte, usando rodovia, ferrovia e hidrovia. Na hidrovia de apenas 300 quilômetros chegou a mover um comboio de 12 barcaças levando 13 mil toneladas. Um transbordado, montado sobre um barco, dispensava a passagem por armazém portuário. COM A BOLA TODA Apesar dessa convergência operacional, a Cotrijuí e Fecotrigo desenvolveram sistemas paralelos de informações aos associados. Já no fim de 1973, foi montado em Porto Alegre, na sede da Fecotrigo, um birô de informações para todas as cooperativas filiadas acompanharem as cotações da soja. A entidade recebia as informações via telex e as repassava via rádio para o interior. Um boletim era emitido na abertura da bolsa de Chicago, ás 11:30 da manhã. Mais dois boletins saíam no meio das operações. E havia mais um no final. A Cotrijuí, por sua vez. Trava de aprofundar o seu próprio canal de informações, no que também era seguida por outras cooperativas. Junto com essa notável expansão, nasceu a imprensa cooperativista. Ela começou em Carazinho em 1974, quando foi criado o semanário O Interior, pioneiro de uma rede que chegou a reunir 22 jornais de cooperativas nos estados do Sul. Um dos órgãoschaves desse esforço informativo foi a revista Agricultura & Cooperativismo, tocada por membros da Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre (Coojornal), fundada em 1974. Publicada de 1976 a 1981, a A&C inovou na linguagem ao assumir os pontos de vista dos agricultores. Essa linguagem nasceu numa “reunião de pauta” de jornalistas – presentes o repórter André Pereira, a fotógrafa Jacqueline Joner, o editor Ayrton Kanitz e Elmar Bones da Costa, um dos gurus da Coojornal -, mas sem dúvida refletia o espírito de “educação de base” difundido pela Cotrijuí. Concluiu-se que a única forma de transformar a revista num veículo autêntico dos anseios dos agricultores cooperativados era assimilar sua linguagem nos textos e colocar sua imagem crua, sem enfeites, nas fotos. Até então, para aparecer em jornais, os colonos vestiam a melhor roupa e posavam para as fotos, lembra o reporte André Pereira (Porto Alegre, 1952), um dos renovadores da linguagem da imprensa agrícola. Ele ganhou um prêmio nacional de jornalismo por uma matéria sobre como lidar com “os venenos agrícolas” – assim os agricultores se referiam aos produtos químicos rotineiramente chamados de “defensivos” ou “agrotóxicos”. A imprensa agrocooperativista, voltada principalmente para a informação técnica e a conscientização política dos produtores, formou uma geração de jornalistas e leitores que alguns anos depois tentaria uma “revisão crítica do ciclo da soja”. O primeiro lance foi no princípio da década de 80, quando um grupo de quatro fotógrafos de Porto Alegre – Jacqueline Joner, Genaro Joner, Eneida Serrano e Luiz Abreu – produziu o livro Santa Soja, com retratos da vida de sitiantes que haviam embarcado na ilusão da prosperidade fácil. Em seguida, uma série de reportagens publicada n’O Interior recebeu o Prêmio Badesul de Jornalismo, resultando em 1984 no livro Dez Anos da Soja, que expressou uma visão bastante pessimista do “ciclo da soja “ (1973/82). O último lance dessa polêmica foi outro livro, De santa a Pecadora, publicado em 1988. Nele o agrônomo Luiz Pedro Bonetti (Itaqui, 1945), estimulado por outro jornalista, Silmar Muler (Restinga Seca, 1951), especialista em commodities agrícolas, afirma que seria injusto transformar em bode expiatório uma planta com tantos séculos de serviços prestados à humanidade. O debate não foi adiante, mesmo porque a maior parte da imprensa cooperativa estava desaparecendo em meio à crise que envolvia o cooperativismo. Um dos raros remanescentes é O Interior, eu desde 1981 circula como porta-voz da Fecotrigo. CHARTER PARA CHICAGO É indiscutível que sem o aval do governo as cooperativas não teriam alçado vôo tão alto. Pelo menos no governo do general Ernesto Geisel (1974-79), elas chegaram a ser vistas como uma alternativa ao poder das multinacionais no comércio mundial de commodities agrícolas. Coincidência ou não, foi nos Estados Unidos que os dirigentes cooperativistas brasileiros foram buscar inspiração para crescer. Um dos marcos da ascensão foi o vôo charter de uma centena de produtores gaúchos no segundo semestre de 1974, Formalmente, a viagem de 23 dias organizada pela Cotrijuí teve como pretexto uma visita à bolsa de Chicago e a lavouras e instalações agroindústrias pertencentes aos agricultores americanos, mas no fundo os líderes do cooperativismo queriam produzir tanto quanto os americanos, ou até mais. Outro grande momento do êxito do cooperativismo sulino foi a compra pela Fecotrigo, em 1976, de um prédio de 18 andares na Rua Andrade neves, na “boca” mais central de Porto Alegre. Era um pouco mais do que ostentação. “Nós éramos um estado dentro de uns estados”, lembrou Euclides Casagrande, vice-presidente da Cotrijuí, em entrevista dada em 1995 ao jornal Zero Hora. No auge, por volta de 1981/82, o complexo liderado pela Fecotrigo chegou a reunir 187 entidades, com 300 mil associados, 21 mil funcionários e capacidade de processar por ano 1,1 milhão de toneladas de soja, 5 milhões de toneladas de arroz e um milhão de toneladas de calcário. Em seus armazéns podiam-se estocar 6,7 milhões de toneladas. A transportadora da Feccorigo era tão poderosa que certa vez comprou 80 carretas graneleiras numa única tacada. Para operar mais á vontade, a Fecotrigo criou um braço econômico denominado Centralsul, cujo faturamento chegou a US$ 350 milhões em 1982 e ensaiava pular para US$ 600 milhões no ano seguinte, com a entrada em operação de uma fábrica de fertilizantes e outra de agroquímicos. Segundo Dalmolin, comandante-em-chefe dessas operações que incluíam arriscadas transações cambiais, “o cooperativismo recebia uma verdadeira artilharia dos concorrentes do comércio e da indústria que acusavam o sistema de gigantismo”. CRISE DE 1982 O gigante foi derrubado em plena crise de 1982, que marcou o colapso definitivo do modelo de crescimento conhecido como “milagre brasileiro”. Num quadro de escassez de soja no mercado interno, a Centralsul aproveitou a autorização oficial para transportar soja argentina – para transformar em óleo e farelo exportáveis – e ficou com um estoque de 17 milhões de toneladas de grãos de soja, já contada a safra daquele ano, fora 5 milhões de toneladas de arroz. A queda dos preços lhe foi fatal. De abril a agosto a soja caiu 25% e o arroz 30%, Uma dívida de US$ 220 milhões não pôde ser coberta porque, em agosto daquele ano, o crédito externo ao Brasil foi cortado por ordem do Fundo Monetário Internacional. Na tentativa de salvar a Centralsul e as cooperativas participantes do pool exportador, Dalmolin diz ter conseguido montar no âmbito do Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) um pacote financeiro de US$ 170 milhões, com prazo de cinco a oito anos, a juros internacionais. Seus companheiros de diretoria não lhe deram ouvidos. De tanto viver em Brasília, Dalmolin foi surpreendido em Porto Alegre por um movimento de oposição dentro do sistema cooperativo. Evidentemente, o jogo político-partidário influiu no desfecho da crise da FecotrigoCentralsul. Embora não fosse filiado ao partido da situação, Dalmolin desfrutava de tal acesso aos poderosos que era visto como homem do governo. Ele tinha o que muitos ministros ou governadores nomeados pelo governo militar não tinham: votos nas bases, como é de natureza democrática do cooperativismo. Quando o ministro Antonio Delfim Netto impôs um confisco de 30% sobre as exportações de soja, em 1979, a Fecotrigo conseguiu derrubar a medida em poucas horas – com passeatas em várias cidades do interior. Fritado aos poucos, Dalmolin atribui a crise a pressões exercidas pelas indústrias concorrentes e a interesses político-partidários de “uma determinada pessoa”. Refere-se a Jarbas Pires Machado”, líder cooperativista vinculada ao PMDB, o partido vitorioso nas eleições de 15 de novembro de 1982 (no Rio Grande do Sul, o eleito foi Pedro Simon). Tecnicamente “impedido” de operar com o Banco do Brasil por causa de uma irregularidade em um financiamento para lavouras das quais era sócio no Mato Grosso do Sul, em meados da década de 70, Dalmolin renunciou à presidência da Centralsul e da Fecotrigo no dia 18 de novembro de 1982. “Não foi falta de capacidade, problema administrativo, roubo como andaram dizendo. Foram vários fatores nocivos que se juntaram naquele ano”, afirma Dalmolin. Um deles, certamente, foi vaidade de quem se identificou demais com o governo. O ex ministro Antonio Delfim Netto , que convenceu com os dirigentes cooperativistas naquela época, acha que a expansão do sistema abriu espaço para a atuação de “um pessoal despreparado” para a administração empresarial e o jogo do mercado internacional. Além disso, acredita Delfim, no meio deles “havia alguns espertalhões”. PERDA DE CREDIBILIDADE A dívida da Centralsul comprometeu todo o movimento cooperativista, que refluiu para cuidar de desavenças políticas e dificuldades financeiras. Muitas cooperativas fora flagradas pelos associados e pela fiscalização com problemas administrativos e financeiros. O desfecho foi enxugamento, com a venda de instalações para pagar contas. A Fecotrigo, por exemplo, vendeu seu prédio-sede. Escapou quase intacta sua estrutura de armazenagem. Com a moda da reengenharia, em 1966 os dirigentes cooperativistas gaúchos tentavam salvar a liquidação de um patrimônio líquido em mais de R$ 500 milhões (contra uma dívida estimada em R$ 105 milhões). Ainda assim, os teóricos do cooperativismo acreditam que a grande perda não foi material, mas de imagem. Perdeu-se a credibilidade. A crise Fecotrigo/Centralsul foi parte de uma época de dissipação, no fim do regime militar, mas não se restringiu ao cooperativismo do Sul. Na década de 90, em conseqüência de uma dívida de U$ 400 milhões, faliu a poderosa cooperativa de Cotia, responsável pela introdução da soja (e do café) no cerrado do noroeste de Minas na década de 70. Segundo os especialistas no assunto, uma das causas de tantos problemas é que toda cooperativa é obrigada a manter duas estruturas, uma para competir no mercado consumidor e outra para manter relações paternalistas com os sócios, determinadas pelos estatutos e impostas pela necessidade de suprir a ausência do Estado rural. Hoje, enxugada, a Fecotrigo tem uma direção cautelosa, quase ressabiada. O presidente Rui Polidoro Pinto não é conviva de Brasília e continua fiel às origens. Nos dias úteis fica em Porto Alegre. Nos fins de semana vai Ijuí, onde mantém a família e a lavoura de 80 hectares. Para aumentar seu poder de barganha, a Fecotrigo tenta uma fusão institucional com a tradicional Fearroz, que se manteve com os pés no chão em plena euforia da soja. Há também um movimento em torno da recuperação da Centralsul, que ficou com duas fábricas de insumos (Defer) e uma corretora. O atual presidente Mario Bertani, um dos líderes do protesto rural em 1995 conhecido por “caminhonaço”, é assessorado nessa empreitada por Jarbas Pires Machado, que trabalha como consultor econômico e mantém o prestígio político num estado governado pelo PMDB. Em vista da crise do cooperativismo e devido ao ressurgimento do neoliberalismo, é consenso que as cooperativas têm de sobreviver do próprio desempenho no mercado, mantendo-se à distância dos governos, para não correr o risco de serem usadas, como aconteceu nos anos áureos da soja. LIÇÕES DA SOJA Com base nessa estratégia, algumas cooperativas gaúchas ensaiam a montagem de um novo ciclo agroindustrial. A idéia é erguer indústrias de porte médio, de alcance regional, e distribuir entre os municípios fornecedores de matéria-prima os impostos gerados pelas industrializações. Cita-se como exemplo dos novos tempos a Cooperjacuí, que reúne cooperativas de Sarandi, Tapera, Não-Me-Toque e Ibirubá. Deverá industrializar frangos, suínos e peixes. Inspirados na integração praticada por indústrias privadas como a Frangosul, os produtores são treinados dentro de um programa de qualidade mínima. “Não queremos cometer os mesmos erros da Centralsul”, diz Darci Pedro Hartmann, presidente da Cooperjacuí. Isso não significa que os dirigentes cooperativistas não queiram mais saber daquele que, apesar de tudo, ainda é o principal produto das cooperativas gaúchas de produção agrícola. Em 1995 elas receberam 7.6 milhões de toneladas de soja, 29,4% do mercado nacional. Industrializaram 1,8 milhões de toneladas. Suas exportações de derivados de soja somaram US$ 316,5 milhões. A novidade é que as poucas cooperativas gaúchas em boa situação já não dependem tanto da soja. Em 1982 os grãos significam 65% dos negócios da Cotrel, de Erechim; em 1996 representavam apenas 17%. Na realidade, a Cotrel fugiu da soja, desfazendo-se de um projeto de assentamento em Guarantã do norte, MT, para onde levara 500 associados. Disposta a reduzir custos e aumentar a eficiência para enfrentar a concorrência no Mercosul, a cooperativa está terceirizando serviços antes executados diretamente. A renda média dos seus associados é de R$ 10 mil por ano. Outra em boa situação é a Cooperativa Agroindustrial e Alegrete (Caal), que se manteve concentrada no arroz: tem sete engenhos, 12 armazéns, 37 silos, três unidades industriais e dois supermercados informatizados. Ligados ou não a cooperativas, os agricultores sofreram muitas mudanças ao passar da agricultura de subsistência para a agricultura empresarial. Rubem Ilgenfritz da Silva acha que a revolução da soja no Brasil coincidiu com os primeiros movimentos do processo hoje conhecido como “globalização da economia”. Na lavoura, três décadas depois da arrancada, o agricultor brasileiro não deve nada aos americanos. No cerrado, produz mais e melhor. A desvantagem começa quando o produto sai do campo. Falta competitividade justamente onde a Cotrijuí tanto inovou: no sistema de transporte. A conclusão de Ilgenfritz é óbvia. “O custo Brasil minou o poder da soja”. A FEBRE DE CHICAGO No dia 11 de outubro de 1974, uma caravana de mais de cem pessoas desembarcou de um vôo fretado em Porto Alegre. Exaustos, mas felizes, voltaram todos para suas cidades, no Rio Grande do Sul, com muitas histórias para contar sobre o tour de 23 dias no interior dos Estados Unidos. O ponto alto dessa verdadeira viagem de estudos foi a visita á bolsa de cereais de Chicago, a meca do agribusiness internacional. Promovida pela Cotrijuí, a excursão foi montada para tirar o complexo de inferioridade dos agricultores brasileiros recém-iniciados no plantio da soja, a “moeda verde” espalhada no mundo pelo capitalismo, alguns dirigentes cooperativistas dizem até hoje que a maioria dos membros da caravana nunca tinha saído de suas cidades no norte do Rio Grande do Sul. Exagero: organizada por uma agência de turismo, com guias e tradutores, a viagem rendeu uma lista de passageiros bastante representativa do poder econômico do interior gaúcho. Se havia jecas na comitiva, não eram tantos assim. Segundo o Cotrijornal, da viagem participaram 54 agricultores, oitos agrônomos, um veterinário, dois técnicos agrícolas seis dirigentes cooperativos, dois prefeitos, quatro vereadores, quatro advogados, nove jornalistas, dois professores, dois médicos, seis dirigentes sindicais rurais, um engenheiro civil, um funcionário público, três bancários, três funcionário de cooperativas, cinco revendedores de produtor agrícolas, um padre e três senhoras que acompanharam seus respectivos esposos. Além da bolsa de Chicago, eles visitaram dezenas de organizações entre granjas, fazendas, fábricas de rações, aviários, pocilgas, fábricas de grande porte como a International Harverster, John Deere e cooperativas e universidades. Em suma, uma viagem profissional. “DEU PARA COTEJAR” O que mais impressionou os viajantes não foi o alarido da bolsa de Chicago, nem a mecanização das fazendas, mas o planejamento, o profissionalismo e a diversificação de atividades dentro de cada propriedade rural. “no que se refere especificamente à agricultura – plantio de soja e milho, que foi possível cotejar -, nossas lavouras equiparam-se em igualdade de condições com as que observamos nas regiões central e do sul”, disse o Cotrijornal de novembro de 1974 numa matéria intitulada “120 Agricultores Curiosos Numa Terra Estranha”. E concluiu: “A grande vantagem dos americanos sobre os nossos produtores rurais é verificada na criação de animais de todas as espécies comerciáveis. A elevada tecnologia aplicada na criação e engorde pelo sistema de confinamento total lhes dá uma vantagem muito grande.” Os visitantes também observaram o estilo de vida dos fazendeiros nortes-americanos. Durante os cerca de 15 dias em que a caravana da Cotrijuí percorreu a Bacia Central (Illinois, Minesotta e Ohio), não foi vista uma horta e nem mesmo a criação de pequenos animais, para consumo familiar. “O fazendeiro norte-americano planta e cria a larga escada, para negócios, como também compra tudo o que necessita para o seu consumo”, registrou o jornal da cooperativa de Ijuí. No ano seguinte, outra excursão organizada pela Cotrisa, de Santo Ângelo, deu mais um passo no processo de desmistificação da longínqua e poderosa bolsa cujas cotações, desde a explosão dos preços de meados de 1973, tornaram-se assíduas nas emissoras de rádio e nos jornais do interior gaúcho. Até então, a maioria dos brasileiros ainda tratava a soja como um simples feijão – o feijão-soja. Subsistia a polêmica semântica sobre o gênero: era “o” ou “a” soja? Típica dessa confusão fora a reportagem publicada em agosto de 1973 pela revista mensal Exame. Tendo na capa a figura de Carlos Santiago Antich Herrera (Argentina, 1923), presidente da Sandra, o texto de seis páginas assinado por Guilherme Velloso começava com a soja corretamente no feminino, mas no fim a tratava como masculino. Os brasileiros ainda não estavam familiarizados com o poder da soja, mas já sabiam que era algo mais do que um simples feijão, já que dava leite, margarina, óleo e um farelo altamente nutritivo para frangos, suínos e bois. Agora a toda hora ela aparecia. Alguns meses ante, em plena colheita das safras de verão, haviam sido inauguradas em Ponta Grossa três indústrias de processamento de soja, formando “o maior complexo agroindustrial da América latina”. Uma das fábricas era da Cargill, outra dos Irmãos Pereira e a última da Sandra, a maior compradora de produtos agrícolas do Brasil. Em 1972, ela havia participado com 25% das compras de soja e de 20% das exportações de óleos comestíveis, ganhando tanto dinheiro que virou capa da Exame. “FORA DE SÉRIE” Ex-gerente da pioneira Samrig em Esteio no período 1961/65, Carlos Antich teve a sorte de estar na presidência da Sandra quando os preços da soja ganharam aquela altura “fora de série”, como os qualificou. Em 1971, a soja tivera uma cotação média de US$ 112 por tonelada. Em 1972, havia chegado a US$ 125. Em 1973, de abril a junho, foi de US$ 150 a quase US$ 600. Fora de sério, o boom foi provocado por uma complexa combinação de fatos. Uma enchente no rio Mississippi, no ano anterior, quebrou a safra norte-americana, tornando mais aguada a falta de proteína no mercado internacional, já substancialmente da anchoveta no Peru. Houve também queda na produção de grãos em todo o mundo, inclusive na China e na União Soviética. A alta talvez não se tornasse tão grande se já no final de 1972 a União Soviética não tivesse enviado um comprador a Nova York. Em plenas festas natalinas, ele contatou os principais exportadores, fez encomendas e desencadeou uma corrida por estoques, despertando a atenção do governo americano. No início de 1973, o presidente Richard Nixon pôs lenha na fogueira ao embargar parte das vendas para os soviéticos. Realmente, não havia soja para todos – consumidores habituais e novos compradores - , mas nada justificava um quintuplicarão dos preços. A especulação correu solta. O ano era mesmo de altas, prová-lo-ia a Organizações dos Países Produtores de Petróleo, em setembro. O maior beneficiário da alta da soja foi o Brasil, que apareceu no mercado como um autêntico insider, favorecido pela época da colheita, na entressafra norte-americana. Naquele ano, a safra brasileira passou de 5 milhões de toneladas. Foram exportadas 3,5 milhões de toneladas de grãos, farelo e óleo. Aldayr Heberle, o corretor pioneiro de Porto Alegre, intermediou o equivalente a 80% da soja exportada, Em junho, no último contrato antes da baixa, ele embarcou soja em grão a US$ 575 tonelada e farelo a US$ 600. No final do ano, a receita cambial do Brasil chegou a US$ 945 milhões, com que a soja subiu de 7,22% para 15,25% das exportações brasileiras, Por dez anos, até 1983, ela representaria pelo menos 10% das vendas externas do Brasil. Maior do que a soja, só o rei do café. Quem mais sofreu foram os japoneses. Em setembro daquele mesmo ano, dispostos a entender o que se passava, eles convidaram quatro brasileiros para falar do futuro do Brasil.Aldayr heberle foi um deles. A previsão era que em poucos anos o Brasil seria o segundo maior produtor, atrás dos Estados Unidos, à frente da China. Foi o que aconteceu, ainda na década de 70. REIS E MENDIGOS Graças à febre nos preços, o ano de 1973 acabou se tornando quase como um marco zero da história da soja no Brasil. Em São Paulo, onde Carlos Antich recebeu o prêmio “Melhores e Maiores de Exame” outorgado à Sandra, a imprensa deu o título de rei da soja ao banqueiro e empreiteiro de obras públicas Olacyr de Moraes (Itápolis, 1931). Um rei por acaso: ele tinha iniciado um cultivo de terra recém-compradas no Mato Grosso do Sul e ganhou um dinheirão inesperado. Por essas e outras história, a soja virou um produto agrícola popular, capaz de despertar o interesse dos habitantes urbanos pelo desafio rural. Ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, mas muitos acreditaram que a agricultura estava virando uma espécie de jogo de ganhos certos – e com financiamento subsidiado. Os produtores, e ate o governo, pareciam acreditar que o boom da soja seria eterno. Nessa crença embarcaram também muitos neófitos oriundos da cidade. Jarbas Pires Machado (São Sepé, 1948), presidente da Fecotrigo na virada dos anos 80, lembra que o cultivo da soja colocou na roça um sem-número de profissionais recémsaídos de atividades urbanas. Eram os “granjeiros”, profissionais da agricultura. Com a farta disponibilidade de financiamentos subsidiados, muitos aventureiros entraram no plantio da soja sem conhecer a planta ou as manhas do trabalho rural. O dinheiro fácil dava para comprar máquinas, carros e caminhões. O resultado das colheitas bancava a compra de eletrodomésticos e a construção de casa nova. Com216 sacas de soja se comprava um fusco zero, lembra um dirigente rural. Os colonos arrancaram árvores de erva-mate para plantar soja. Nas cooperativas chegou-se a pensar em vender a soja-semente para aproveitar os preços excepcionais. Umas das conseqüências dessa febre foi a valorização das terras. Muito capital urbano desviou-se para a compra de glebas em áreas pioneiras. Muita terra foi adquirida com recursos do crédito rural. Em sua demanda por grandes extensões, a soja estimulou a ida de agricultores do Sul para o Brasil Central. A expansão da fronteira agrícola era de interesse político, pois gerava prosperidade, impostos, renda, emprego e alívio às tensões sociais no grande centro, inchados pelo êxodo rural e pelos movimentos migratórios internos. Não estranha que, a começar pela própria história do re da soja, a nova cultura tenha criado nova histórias de enriquecimento e pobreza. Palacetes e favelas. Numa visão pessimista dessa aventura povoada por sonhos de grandeza e terríveis frustrações, chegou-se a dizer que a monocultura da soja decretou o fim da agricultura de subsistência e desencadeou o fenômeno dos sem-terras. De acordo com outra visão, mais otimista, concluiu-se que a ascensão da soja no mundo ocidental, no século 20, consagrou a penetração do capitalismo na agricultura MODELO EXPORTADOR Capitalista ao extremo, a soja foi a precursora foi neoliberalismo na agricultura e pioneira da globalização posta em marcha na década de 80. Com seu poder, ela deu uma sobrevida ao “milagre brasileiro”, baqueado em setembro de 1973 pelo embargo do petróleo pelo cartel árabe. Por sua vocação exportadora, tornou-se a menina dos olhos dos gestores do modelo econômico brasileiro sob os governos militares. Paradoxo puro, a soja foi uma das estrelas de um intento capitalista dirigido pelo Estado. O economista Paulo Yokota, diretor de crédito rural do Banco Central nos primeiros anos da década de 70, recorda a criação “corredores de exportação” (com saída dos portos de Rio Grande, Paranaguá, Santos e Vitória) como parte de um sistema dinâmico voltado para o intercâmbio com o exterior. Os recursos iniciais para os corredores saíram da Organização Internacional Café (OIC). As peças-chave desse sistema eram equipamentos de armazenagem e transporte: silos, moega, esteiras, e vagões graneleiros – que não existiam enquanto a exportação brasileira era dominada pelo café, vendido em sacas. O intervencionismo oficial no mercado de soja foi inaugurado na década de 60 pelo governo do Rio Grande do Sul ao estabelecer cotas para as indústrias. Em 1973, para “garantir o abastecimento interno”, o Banco do Brasil guardou no porto de Rio Grande 100 mil toneladas de farelo de soja. O produto apodreceu e cheiro mal. O governo mandou jogar numa fazenda em Passo Fundo. A partir de 1974, tornou-se rotineira a prática da intervenção no mercado. Toda vez que a soja subia, restringia-se a venda externa. Mediante imposto, confisco cambial ou contingenciamento das exportações. O governo retirava da soja um pouco do que empenhava no crédito rural. O objetivo principal, porém, era garantir o abastecimento interno e impedir que a alta dos preços influísse na taxa da inflação. Transformado no grande alvo das críticas dos produtores, o ministro Delfim Netto argumentava que o governo procurava praticar com a soja “uma política de repartição de benefícios”. Os agricultores contra-atacavam dizendo que, com as suas intervenções tópicas no mercado, o governo havia instituído uma espécie de Sojabrás informal. Originou-se daí uma das grandes ironias da história da soja. É costume dizer que, por viver exclusivamente de sua própria força mercadológica, a leguminosa chinesa progrediu no Brasil, sem necessidade de um organismo oficial semelhante aos grandes institutos públicos criados no passado para gerir produtos tradicionais como o café, o açúcar, o pinho, a erva-mate e o cacau. Na realidade, se não houve um instituto nacional da soja., é porque as coisas eram feitas diretamente pelo Banco do Brasil. Além de oferecer incentivos fiscais aos exportadores, o governo criou poderosos mecanismos de modernização do comércio internacional, chegando a implantar empresas especializadas como a Interbrás (subsidiária da Petrobrás) e a Cobec (pertencente ao Banco do Brasil), que ajudaram no esforço para colocar no mundo a soja brasileira e outros produtos made in Brazil. INDUÇÃO ESTATAL Por tudo isso, embora seja efetivamente um marco do capitalismo no campo, o sucesso da soja na economia brasileiro tem muito a ver a participação estatal na indução dos investimentos providos. Um dos exemplos mais marcantes desse processo ocorreu no estado de Minas Gerais, durante o governo Rondon Pacheco (1971-74), quando os mineiros atraíram para seu território, além de uma fábrica de carros Fiat, uma parceria agrícola com diversas multinacionais japonesas interessadas na produção de soja e café. Inicialmente rejeitada pelo Instituto Brasileiro do Café, a agroparceria nipo-brasileira evoluiu com empréstimos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, atraiu para o cerrado mineiro centenas de associados da Cooperativa Agrícola de Cotia e desembocou na criação de programas especiais como o Polocentro a te uma agência de desenvolvimento – a Campo – que em 1996 se mantinha viva em pleno processo de desestatização da economia. Hoje a região de Paracatu e São Gotardo se orgulha de produzir não apenas soja de boa qualidade, mas os melhores cafés finos do Brasil. A ascensão da soja coincidiu também com a resolução de um grave problema brasileiro no início da década de 70 – a falta de informações, arma fundamental na guerra do mercado. O Brasil havia adotado o telex em 1971 e a TV em cores em 1972, mas ainda não sabia explorar o potencial das telecomunicações. Até então, em seus esforços para fazer contato com os importadores, os empresários nacionais precisavam recorrer a expedientes como o usado pelo experiente corretor gaúcho, Aldayr Heberle. Até 1971, quando tinha pressa em se comunicar com os compradores de soja, ele fretava um avião em Porto Alegre e mandava alguém a Rio Grande com um texto a ser transmitido via Western. Única forma segura de estabelecer vínculo com o mercado internacional, essa saída tornou-se dispensável com a adoção do telex. Um dos primeiros aparelhos instalados em Porto Alegre foi o do escritório de Heberle, o primeiro cliente particular da agência Reuteur no Rio Grande do Sul e um dos primeiros brasileiros a conhecer a bolsa de Chicago – ele esteve lá em 1969, quatro anos antes do boom. Em 1970, mediante um contrato de apenas 500 toneladas firmado com a Sumitono Trading Co., Heberle restabeleceu o fornecimento ao mercado japonês, interrompido na década de 50 por uma carga de soja podre. Em 1971 começou a trocar informações com a americana ADM, o mais poderoso grupo industrial de soja e milho do mundo. Em 1974 ajudou o jornalista Silmar Muller a criar em Porto Alegre o boletim Safras e Mercados, embrião de uma agência de informações, onde, em 1996, trabalhavam mais de 50 pessoas. Em 1975, mudou-se para o mato Grosso, onde graças ao cultivo da soja, se tornou fazendeiro TEORIA DA FARTURA Foi sob o governo do general Ernesto Geisel que a soja viveu os seus anos de maior brilho, tomando o lugar do café como carro-chefe das exportações e assumindo um papel central na montagem do moderno complexo agroindustrial brasileiro. O avanço no mercado internacional foi tão grande que em 1977 a Comunidade Econômica Européia abriu um processo contra o Brasil, acusado formalmente de subsidiar as exportações de derivados de soja mediante a oferta de juros favorecidos. Foi esse o primeiro ataque contra o esquema brasileiro de incentivo às exportações, enfim desmontado na década de 80 com diversas medidas, entre elas substancial mudança no crédito rural. Em março de 1979, pouco antes de encerrar o seu mandato, Geisel fez um discurso nacionalista em Palmeira das Missões, onde fora assistir ao início simbólico da colheita da soja. Depois de lembrar que 30 anos antes vira toda aquela região praticamente tomada por capim barba-de-bode e um gado de péssima qualidade, ele elogiou a “extraordinária transformação” ali produzida e concluiu: “O Brasil só será grande economicamente, e depois socialmente, e mesmo politicamente, no dia em que sua produção rural, na agricultura e na pecuária, tiver a expressão que realmente deveria ter. Recordes freqüentes nas colheitas de soja e de outros produtos agrícolas ainda não permitiram que a produção rural brasileira tenha a expressão sugerida pelo general Geisel. De acordo com a versão pessimista da história, a modernização agrícola experimentada pelo país nas últimas décadas foi insatisfatória e injusta. Primeiro porque ao privilegiar a soja, ela enfraqueceu algumas lavouras básicas (arroz, feijão, mandioca), essenciais para a alimentação dos brasileiros. Segundo porque a prioridade à exportação estaria privando a população da riqueza nutricional da soja. Em 1984, Luiz Carlos dos Santos e Wilson Leite do Canto, dois pesquisadores do Instituto de tecnologia de Alimentos (Ital), de Campinas, concluíram que com a metade da produção nacional de soja daria para suprir toda a deficiência protéica dos brasileiros. Segundo o estudo, a soja seria melhor do que alternativas teóricas, como a exploração dos recursos marinhos, para suprir as carências da população do planeta. Segundo a versão otimista da história, o cultivo da soja produziu um surto de crescimento em outras lavouras, com destaque para o milho; acelerou a expansão da agroindústria; modernizou o comércio e os serviços; fortaleceu, enfim, o agribusiness, caboclo, chegando ao ponto de até modificar para melhor os hábitos alimentares do Brasil. A CONQUISTA DOS OESTES Quando for escrita a história das migrações internas no Brasil pós-guerra, será preciso dedicar pelo menos um capítulo aos agricultores que, em busca de terras virgens e baratas se deslocaram inicialmente do Rio Grande do Sul e depois de Santa Catarina e do Paraná para os estados do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil. No princípio usaram armas rudimentares como o machado, o fogo e o arado. Depois empregaram o trator, o avião pulverizador e a informática para levar adiante uma espécie de guerra de conquista que aumentou consideravelmente o território agrícola brasileiro. Segundo o Censo Agropecuário do Brasil, a área de lavouras cresceu de 19 milhões de hectares em 1950 para o máximo de 55 milhões em 1989. O maior crescimento individual foi o da soja. Nenhuma planta, nem mesmo o café, avançou tão rapidamente no Brasil. Foi como uma explosão. Ela chegou ao primeiro milhão de hectares em 1970 e, apenas 15 anos depois, já cobria 10 milhões de hectares. Em 1989, bateu recorde de área, com mais de 12 milhões de hectares. EXPANSÃO DA FRONTEIRA As migrações internas já mereceram diversos estudos a partir da década de 40, mas os antropólogos e sociólogos que se ocuparam do assunto preocuparam-se principalmente em estudar os fenômenos migratórios de zonas rurais para centros urbanos, particularmente no Nordeste e no Sudeste do Brasil. Fora alguns estudos sobre o Paraná, os deslocamentos do Sul praticamente não mereceram registros superficiais. Nessas regiões nos últimos 50 anos nasceram novas cidades sob o impulso de uma agricultura itinerante que, graças principalmente à soja, consolidou e até ampliou as fronteiras do Brasil. Um dos melhores relatos sobre essa aventura migratória foi feito em 1995 pelo repórter Carlos Wagner. Escrita originalmente para o diário Zero Hora, de Porto Alegre, uma série de reportagens sobre os agricultores sulistas rendeu o livro O Brasil de Bombachas, editado pela L&PM com patrocínio da fábrica de tratores e colheitadeira da New Holland. Segundo o próprio Wagner, que conhece profundamente os bastidores da migração dos gaúchos, não há números oficiais sobre a massa que deixou os pagos para implantar lavouras em outros estados. “Eu acredito que sejam mais de três milhões os agricultores gaúchos e descendentes que mora fora do Rio Grande do Sul, diz ele, lembrando que a mesma estimativa foi feita pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) no planejamento das campanhas presidenciais de Leonel Brizola em 1989 e 1994. Embora desde o fim dos anos 40 o Rio Grande do Sul exporte empreendedores rurais, a onda migratória engrossou mesmo nos anos 70, a partir de quando os descendentes de colonos europeus, sem chance de sobrevivência em minifúndios super explorados, vendiam suas glebas e partiam de caminhão com a mudança em busca de terras amplas e férteis dos estados “de cima”. Nem todos saíram vitoriosos nessa guerra, mas a maioria conquistou o que queria: posse de um pedaço de terra, em muitos casos fora do Brasil. “A soja gerou sobras com que muitos agricultores foram comprar terra no Uruguai, na Argentina, no Paraguai e na Bolívia”, lembra Carlos Wagner, ele próprio um exemplo de migração profissional: era estudante universitário quando ingressou no jornalismo como motorista da revista Agricultura & cooperativismo de brasileiros fora do Brasil encontra-se no Paraguai. Estima-se que ali estejam estabelecidos 400 mil “brasiguaios”. A FORÇA DO MACHADO O primeiro oeste dos sojicultores foi a zona missioneira do próprio Rio Grande do Sul. Ali, no território da antiga civilização indígena comandada pelos jesuítas, os Colonos europeus fizeram da soja um acessório do sítio que produzia "de tudo um pouco". Inicialmente experimentada como bebida à moda do café - pó torrado Diluído em água quente -, a soja fortaleceu a suinocultura, que cresceu extraordinariamente, dando origem (ao lado do frango, baseado no milho) a um robusto elo agroindustrial da cadeia alimentar do brasileiro moderno. "Quem percorresse as colônias do Alto Uruguai nos fins da década de 40 veria imensos tachos no fogo, com os grãos fervendo num caldo para servir de alimento aos porcos", descreveu José Antonio Pinheiro Machado no livro sobre os 50 anos da SLC, fábrica de colheita deitas e Tratores com sede em Horizontina. Quando o fim da madeira fez os primeiros gaúchos atravessarem o rio Uruguai em busca das matas de Santa Catarina, ainda na década de 40, a principal ferramenta Agrícola - o machado - logo cedeu lugar à enxada e ao arado puxado por animal. Amiga do porco, soja ia bem à roça, mas ainda não havia mostrado seu potencial, que Só apareceu de fato quando lhe foram oferecidas grandes extensões de terras cultivadas por meios mecânicos. Até que as máquinas aparecessem para lhe rebocar a fama, a soja foi um mero apêndice de outras atividades mais importantes como a suinocultura e o plantio de feijão, milho e trigo. Estreito, o oeste de Santa Catarina logo foi devorado pelos agricultores vindos do Sul. Transposto o rio Iguaçu, os gaúchos acharam as florestas de pinheiros no sudoeste Paranaense. Junto com os pinherais típicos de regiões temperadas, encontraram a vegetação luxuriante da floresta atlântica, com fortunas em madeiras de lei. Foi uma festa. Em 20 anos tudo acabou. No lugar da mata, espalharam-se lavouras e ergueramse cidades ligadas por estradas precárias onde ninguém escapava da sina da conquista de todos. Os oestes: a poeira dos dias secos e a lama dos dias de chuva. Nessa devastadora subida, onde não faltaram conflitos mortais pela posse de terras sem dono ou de titulação duvidosa, os sulinos encontraram-se no noroeste paranaense com os paulistas e mineiros que haviam derrubado a mata subtropical para cultivar café. A monocultura cafeeira fez proliferar uma praga terrível - o nematóide dos cafeeiros -que abriu boa parte do território paranaense ao avanço da soja e de outras lavouras temporárias, inclusive o trigo. De Jacarezinho a Cascavel, uma meia-lia de novas cidades rendeu-se à Civilização da soja. DO OUTRO LADO DO RIO Depois de penetrar no Paraná nos anos 60, a soja invadiu o antigo Brasil Central, atual Centro-Oeste. Essa aventura extraordinária ocorreu a partir dos anos 70,quando machado na mão, apetite voraz por florestas - os sulistas avançaram sobre o Mato Grosso, então único, e terminaram de ocupar sua região sul, hoje centralizada por Dourados; semearam trigo e soja no chapadão de Ponta Porã; subiram mais e começaram a fundar cidades Mato Grosso acima; junto com paulistas e paranaenses Entraram pelo sul de Goiás, onde deram novo alento à terras cansadas pela monocultura do algodão; subindo pelo Triângulo Mineiro penetraram ainda no sertão do noroeste de Minas. Nos anos 80 descobriram o oeste da Bahia e nos 90 já estavam no sul do Maranhão e no Piauí. Quase na mesma batida chegaram a Rondônia e ao Acre. Deles também é parte do Tocantins. As últimas informações sobre o deslocamento da fronteira agrícola brasileira davam conta da chegada da Gleycine Max ao cerrado virgem de Roraima, onde, em 1996, era de se chegar a 3 mil hectares. O secretário da Agricultura de Roraima, o gaúcho Erni Moraes, agrônomo da Embrapa, convidou o consultor agronômico Floriano Isolan, ex-secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, para pilotar um projeto de assentamento totalizando 40 mil hectares. A destinação de 1 mil hectares para cada proprietário não deixa dúvidas de que a colonização agrícola é tarefa para empreendedores medianamente capitalizados. E com coragem suficiente para enfrentar os riscos da colonização de uma região sem infra-estrutura de transporte, energia e armazenagem - aliás, a primeira área brasileira de soja em baixa latitude no Hemisfério Norte. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR Até os anos 50, o agricultor brasileiro em geral não usava máquinas, apesar de conhecê-las por anúncios de almanaques e revistas agrícolas. Só os mais adiantados e capitalizados tinham trator, também usado nas lavouras comerciais de São Paulo e do Paraná, voltadas para o plantio de café, cana e algodão. Em 1950, segundo o Censo Agropecuário, havia apenas 8.372 tratores em mais de dois milhões de estabelecimentos agrícolas do Brasil. A maioria dos produtores vivia na terra e dela tirava o sustento familiar. A regra da vida rural era produzir de tudo para garantir a subsistência. Roça, criação, horta e pomar abasteciam a mesa, a despensa, a tulha e o paiol. O que excedia às necessidades familiares enchia carros de boi com que se apurava o dinheiro necessário para adquirir certas mercadorias só existentes na cidade - sal, café, roupa, fósforo, querosene, máquinas e ferramentas. Predominante nas colônias criadas pelos europeus no Sul e no Sudeste do Brasil, a agricultura de subsistência repetiu até os anos 50 um padrão histórico iniciado na Europa, no fim da era feudal/inicio do capitalismo, cerca de 200 anos atrás. Ainda que certos institutos de pesquisa como o Agronômico de Campinas e algumas escolas de agronomia (Pelotas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Piracicaba, Viçosa) mantivessem intercâmbio com a vanguarda técnica da Europa e dos Estados Unidos, as novidades sobre sementes, sistemas de plantio e maquinismos agrícolas ficavam restritas a um grupo muito pequeno de fazendeiros. O agricultor médio não tinha acesso a tais informações. A maioria nem imaginava a existência da ciência agrícola, naturalmente encastelada em feudos tecnocráticos. O saber agronômico vazou não por iniciativa dos técnicos que o manipulavam, nem pela demanda dos produtores, mas principalmente em virtude dos interesses econômicos da indústria de máquinas e insumos para a lavoura. A extensão foi o mecanismo formal inventado para levar as novas técnicas aos que viviam da exploração dos campos. Quem liderou esse processo de difusão de conhecimentos foram os norte-americanos. Desde os anos 20 eles ensaiavam a pregação de conceito que seriam martelados com insistência em todo o mundo após a segunda guerra mundial. As novas lições diziam que: 1) Agricultura se faz com máquinas. 2) Agricultura depende da genética. 3) Agricultura precisa de fertilizantes. 4) Agricultura não pode passar sem defensivos químicos. 5) A Razão de ser da agricultura não é a sobrevivência da pequena propriedade ou da família patriarcal, mas o mercado. DUALIDADE TECNOLÓGICA A revolução agrícola comandada pelos americanos foi levada a todos os cantos do planeta por meio de um trabalho de comunicação e propaganda liderado pelo grupo Rockefeller. Esse esforço chamado Revolução Verde rendeu ao cientista Norman Borlaug o Prêmio Nobel da Paz de 1970 pelos ganhos de produtividade com novas variedades de cereais. A ponta-de-lança desse trabalho, no Rio Grande do Sul, foi o pacote tecnológico que incluía o uso de sementes, fertilizantes e máquinas, exigindo terras muitos mais extensas do que os acanhados sítios dos imigrantes europeus. Com o advento dessa agricultura mais moderna, praticada basicamente nos estados do Sul e do Sudeste, começaram a conviver pelo menos duas idades tecnológicas: a tradicional, voltada para a subsistência da propriedade familiar; e a capitalista, que buscava o lucro mediante o emprego intensivo do pacote oferecido pelos americanos com financiamentos de longo prazo e juros subsidiados. Num estudo sobre o assunto, Telmo Rudi Frantz, da Universidade de Ijuí, chegou a classificar os agricultores das regiões modernas em dois grupos: os empresários capitalistas e os camponeses. Com sabe nessa classificação, Argemiro Jacob Brum, autor de um consistente estudo sobre as mudanças na economia agrícola gaúcha (Modernização da Agricultura – Trigo e Soja, Editora Vozes), dá uma pincelada sobre as origens dos agricultores capitalistas, responsáveis pela transformação da lavoura num negócio: “Os empresários, geralmente denominados de granjeiros, constituíram-se a partir dos anos cinqüenta, graças aos incentivos governamentais à produção de trigo, e aumentaram significativamente seu número no final dos anos sessenta e na década de 70 com a expansão da soja. Operam geralmente áreas superiores a 100 hectares, sendo que em muitos casos as granjas atingem mais de 1.000 hectares ou um mesmo produtor é proprietário de varias granjas em locais diferentes. Nelas é generalizado o uso de máquinas e equipamentos mecânicos, de adubos químicos e defensivos industriais. A mão-de-obra é predominantemente assalariada. A totalidade da produção destina-se ao mercado e o objetivo é o lucro”. Em contrapartida, os camponeses ou colonos ocupam áreas menores, abaixo de 100 hectares, utilizam mão-de-obra familiar e objetivam simplesmente a reprodução das próprias condições de vida. Como decorrência da evolução de uns e outros, finalmente, Brum identifica um terceiro grupo emergente, constituído de parceiros, sem-terras, assalariados, bóias-frias e posseiros – um contingente que, situado meio à margem do progresso agrícola, não pára de crescer desde a década de 60. Uma das conseqüências mais notórias desse crescimento é a intensificação, nos anos 90 , da demanda pela “reforma agrária”, tocada pelo governo federal mais como uma obrigação social do que como parte de uma política fundiária ou agrícola. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, no dia 14 de outubro de 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso esclareceu que, “como político, não poderia ignorar” a existência de graves problemas sociais por trás do crescimento do Movimento dos Sem-Terras (MST), organização política com núcleos ativos em todo o Brasil. O movimento dos “sem-terras”, que começou na década de 50 com a ocupação de terras ociosas no Rio Grande do Sul, adquiriu feições urbanas em suas atividades do Centro-Sul, transformando a reforma agrária na principal bandeira de luta dos excluídos da evolução econômica brasileira. MARCHA PARA O OESTE A busca de terras novas nos últimos 50 anos, em grande número de estados, foi decorrência natural do esquema de operação da agricultura em bases capitalistas. Restrita a poucos produtos, a modernização rural do Brasil coincidiu com a abertura de estradas e a construção de novas cidades, a começar por Brasília, símbolo da “marcha para o oeste” do Brasil. Toda essa aventura de décadas, que consumiu duas ou três gerações, continua tendo a soja como vetor. Entretido num intenso processo de urbanização, o Brasil fez vista grossa e uma sucessão de crimes ambientais cujas marcas foram no desaparecimento de matas, na erosão dos solos e na contaminação dos cursos d’água por agrotóxicos. No cerrado a vegetação foi arrancada por correntes de ferro puxados por parelhas de tratores de esteira. Nas regiões de floresta densa, como no oeste e norte do Paraná, a velocidade da devastação aumentou na media em que o machado e o traçado foram substituídos pela motosserra. A documentação fotográfica sobre esses fatos é uma denúncia ecológica silenciosa quase sem resultados, já que o Brasil não possui um projeto alternativo ao método tradicional – derrubada, fogo e cultivo – de exploração dos recursos naturais. Na verdade, a “marcha para o oeste” foi (e nunca deixou de sê-lo) uma aventura incentivada oficialmente. O sul do Mato Grosso foi loteado nos anos 40 sob estímulos de Getúlio Vargas. A colonização do norte do Paraná foi incentivada pela política de renovação da cafeicultura. O avanço sobre o cerrado e a ocupação da Amazônia foram projetos oficiais dos governos militares na década de 70. O agrônomo paulista, produtor rural e líder cooperativista Roberto Rodrigues chega a dizer que há “um determinismo histórico” na forma como os brasileiros se deslocam em busca de novas terras. Grande produtor de cana-de-açúcar em Guariba, o próprio Rodrigues não resistiu ao apelo colonizador: na década de 90, juntou-se a uma leva de agricultores de Guaíra e Orlândia que aderiram à aventura da soja no sul do Maranhão. A despeito do fracasso de muitos desses esforços, no final do século 20 os plantadores de soja mantinham acesa nos umbrais da Amazônia a chama da agricultura itinerante, reciclada pela recessão dos anos 80 e já incorporando novas técnicas (como o plantio direto) impostas pela globalização da economia. SEMEANDO CIDADES Para milhões de brasileiros, nas últimas décadas, não houve outra saída senão essa estrada que levava às novas fronteiras agrícolas. As oportunidades urbanas eram tão raras, antes da arrancada industrial dos anos 50, que centenas de jovens gaúchos recém-liberados do serviço militar deram graças a Deus ao embarcar no trem que em 1949 atravessou o interior do Rio Grade do Sul recolhendo candidatos a soldados da Policia Militar do Estado de São Paulo. A maioria dos jovens que abraçaram a nova profissão tinha experiência na vida campeira. A oferta de emprego nunca mais se repetiu. A migração rural tornou-se uma imposição dos tempos modernos. A aquisição terras baratas, uma rara oportunidade de crescimento. O plantio de soja, a chance de fazer fortuna. Abrindo fronteiras e semeando cidades, a soja liderou a implantação de uma nova civilização nas terras de um interior antes inabitado. O sertão foi ocupado por um novo padrão de comportamento. Essas grandes viajem do brasileiro para o interior do território nacional ainda continua e tem como vértices as rodovias que percorrem o país no sentido norte-sul. O serviço de ônibus entre “cidades velhas” do norte gaúcho e “novas cidades” do centrão do Brasil é um dos sinais da vitalidade desse movimento espontâneo. O repórter Carlos Wagner anotou que de cidades gaúchas para cidades “do Norte” operam regularmente 17 linhas de ônibus. Todas começaram informalmente e se estabeleceram à margem do controle oficial. Hoje são linhas regulares, com assentos vendidos em guichês de estações rodoviárias. Fora daí, evidentemente, há excursões organizadas e viagens avulsas. Alguns migrantes de deslocam de caminhão, veículo muito estimado pelos sulistas de origem rural. Outros vão de automóvel. E há quem o faça de avião. MEMÓRIAS FAMILIARES Nos estados do Sul, particularmente, não há família que não tenha uma história sobre um parente que emigrou em busca do sucesso na agricultura. Registradas em cartas para a família que ficou no pago, em reportagens escritas para jornal ou em memórias organizadas em folhetos ou livros, essas histórias da conquista do faroeste brasileiro são a matéria-prima de um país que se amolda aos poucos e também aos poucos é descoberto pelos brasileiros urbanos. Num esforço para sentir o pulso desses Brasil distante das capitais, o repórter José Cassado foi em outubro de 1996 ao interior baiano enviado pelo diário O Estado de S. Paulo. Na reportagem intitulada “A conquista dos Gerais”, ele resumiu: “Mimoso do Oeste, na Bahia, descobre a vocação agrícola e vira epicentro de negócios na divisa com estado de Goiás e Tocantins; renda per capita chega a R$ 7 mil, quase o dobro da média nacional.” Exatamente cinco anos antes andou por lá outro repórter, Claudio Cerri, da revista Globo Rural. Sua linguagem lembra os densos relatos de Euclides da Cunha em Os sertões. Parágrafo final de uma reportagem sobre a “ilha de fartura” da região de Barreiras (da qual Mimoso do Oeste era bairro) publicada em outro de 1991: “A soja não preencheu de humanidade esse vazio, E Barreiras ainda exala a intemporalidade anárquica das fronteiras onde apogeu e decadência se entrelaçam, à espera de um futuro incógnito. Mas a crise caleidoscópica do país empurra o oeste baiano para um desfecho: a busca de uma harmonia cujo esboço pode estar na diversificação agrícola e na irrigação que traz o homem de volta à terra. E instigante imaginar que alguma coisa de novo poderá nascer aqui, das mãos desses bisnetos de camponeses, deslocados para uma geografia rasa, que parece interrogar o Brasil acerca de seu futuro e de sua identidade”. ERA UMA VEZ... Evidentemente, há milhares de história que merecem ser contadas. Era uma vez, por exemplo, uma família chamada Maggi... O pioneiro André Maggi chegou a Rondonópolis em 1984. Num cafundó distante fundou a Fazenda Sapezal, que cresceu a ponto de na década de 90 se tornar município. Enquanto isso, seu filho Blairo Maggi prosperou tanto que passou a ser chamado de rei da soja... Em 1976, os gaúchos Arno Seemann e Vivaldino Zamboni chegaram ao sul do Mato Grosso atraído pelo baixo preço da terra. Plantaram soja e, um ano depois Seemann foi ao Sul buscar a mulher Aldeza, gaúcha de Pelotas, e o filho André, nascido em 1975 em São Luís Gonzago. Radicado em Campo Grande, tornou-se produtor de sementes e comerciante, Zamboni opera hoje no eixo Cuiabá-Tangará da Serra... A fábrica gaúcha de colheitadeiras SLC, com sede em Horizontina, deu o salto em 1979, quando comprou 14 mil hectares em Cristalina, a 80 quilômetros de Brasília. Começou com o trigo irrigado e terminou na soja, com sucesso. De Goiás avançou a oeste para abrir em 1984 uma nova frente em Chapadão dos Gaúchos, MT, e pouco depois saltou para Balsas, onde maranhense de soja... O professor Norbertor Schneider abandonou as aulas de contabilidade em Ijuí e foi para o Mato Grosso tentar a agricultura. Hoje é produtor de sementes em Cuiabá... Edmundo Miguel Simizack saiu de Santo Augusto e montou um comércio de máquinas e implementos em Dourados... O corretor Aldayr Heberle chegou em 1975 a Rondonópolis. Dez anos depois, estabelecido como fazendeiro, tornou-se secretário da Indústria e do Comércio do mato Grosso do Sul... GARGALO DO TRANSPORTE Meio século depois do início do processo migratório dos sojicultores gaúchos, a moderna aventura agrícola brasileira tornou-se numa encruzilhada. As dificuldades não se apresentam só na lavoura, mas em todo o circuito pós-colheita, sobretudo no escoamento das safras para os centro consumidores. O problema dos transportes no Centro-Oeste tornou-se tão agudo que os próprios empreendedores rurais começaram a construção da infra-estrutura necessária para manter essa agricultura pioneira em locais onde ainda é muito tênue a presença governamental. Um dos casos que mais chamam a atenção é o da hidrovia do rio Madeira, incluída no Plano de Metas organizado no segundo semestre de 1996 pelo governo federal. Orçada em US$ 284 milhões, a modernização dessa hidrovia, sobretudo no trecho entre Porto velho e Itacoatiara, é obra típica do Estado, mas foi iniciada por André Maggi, chefe da família mencionada anteriormente. Em 1996 ele recebeu financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a compra de embarcações. Elo fundamental de uma malha multimodal de transporte (rodovia, hidrovia e ferrovia) que tende a incorporar definitivamente ao universo agrícola brasileiro uma área de 50 milhões de hectares apenas “arranhada” pelos sojicultores, a hidrovia do Madeira promete assegurar para a soja mato-grossense um trajeto mais barato até o porto de Rotterdam, na Holanda. Hoje, de Porto Velho a Manaus (1.500 quilômetros), já funciona um “ro-ro caboclo” tipicamente brasileiro: embarcados em balsas, os próprios caminhões graneleiros funciona como um contêineres. Mesmo improvisada, é uma saída capaz de competir com os custos do embarque no porto de Santos. O incremento do transporte hidroviário pode fazer de Manaus um porto de embarque de soja, gerando algo inimaginável em 1972, quando do lançamentos “projetos de impacto” do economista piauiense João Paulo dos Reis Velloso, ministro do Planejamento do governo Médici (1969-73): a transformação do rio Amazonas num corredor de exportação Sem o ufanismo de outros momentos, a retomada dos investimentos oficiais em infraestrutura tenta integrar ao chamado Brasil civilizado um grande número de núcleos rurais e urbanos produtivos, mas isolados pelo alargamento da fronteira agrícola. Nesse novo enfoque das mazelas do Brasil continental, torna-se outra vez sensato pensar em investir em trens e trilhos. É o caso da Ferronorte, outra “obra pública tocada por particular”. Também conhecida como ferrovia da soja, ligando o noroeste paulista a Cuiabá, ela chegou à metade por iniciativa do agricultor-banqueiroempreiteiro Olacyr de Moraes. Em 1996 foi praticamente “incorporada” pelo governo federal depois que o velho rei da soja acusou dificuldades na gestão do próprio império. A volta do trem à ordem do dia, em plena temporada de caça às bruxas da estatização, é um sinal claro de que a racionalidade começa a se impor-se no mundo novo criado pelos agricultores no cerrado e na Amazônia. Mesmo acuada pelo debate sobre a privatização de empresas estatais, em 1996 a Companhia Vale do Rio doce ganhou a concorrência para esticar a ferrovia do Corredor Centro-Leste (Minas-Espírito Santos) até o extremo confim do noroeste de Minas Gerais. Onde a soja já está presente há muito tempo. O EIXO DO AGRIBUSINESS “Estão plantando soja até em cemitério!” Quando a notícia correu, em 1974, foi um escândalo- como se todos os agricultores do Sul, tomados pela febre da soja, tivessem perdido o respeito pelos mortos. Na realidade, era simplesmente o molho da história tomando o lugar do prato principal. O repórter Hélio Teixeira, então correspondente da revista Veja em Curitiba, lembra que naquele momento se tornara comum o plantio de soja na beira das rodovias no interior. Em Palotina, no oeste do Paraná, o fotógrafo Irmo Celso Vitor descobriu um pequeno cemitério rural “invadido” por uma lavoura. Fruto não tanto da ganância de um empresário agrícola, como se pensou, mas talvez da pressa ou do cansaço de um tratorista sonolento, daqueles que varavam as madrugadas trabalhando, a imagem das cruzes “sepultadas” pela folhagem ficou como um dos principais flagrantes da febre da soja, o formidável fenômeno rural que se impôs no cotidiano dos cidadões urbanos no início da década de 70 e teve seu réquiem em setembro de 1982, quando o calote nos credores internacionais marcou o fim do “milagre econômico brasileiro”, ao qual a soja emprestara tanta força. O PAPEL DO GOVERNO Santa milagrosa para uns, ilusão diabólica para outros, a soja virou assunto obrigatório durante o estrondoso boom dos preços da bolsa de Chicago em meados de 1973. Por alguns meses não se falou de outra coisa. Depois que os preços baixaram, o grãozinho chinês apareceu ainda nas manchetes ao provocar filas quilométricas de caminhões nos portos de Paranaguá ou Rio Grande; ao bater recordes de exportação; e até por falta de óleo vegetal nas prateleiras dos supermercados. Com o plantio entre os túmulos de Palotina, todos podiam comprovar que a soja – vedete da lavoura ao porto, passando pela mesa dos consumidores – entrava definitivamente ao rol das grandes culturas agrícolas do Brasil. A explosão da sojicultura foi pivô de cinco ocorrências simultâneas: a mecanização das lavouras, o êxodo rural, a expansão da fronteira agrícola, a urbanização acelerada e o avanço das exportações. Devido ao intenso emprego de máquinas, a soja liberou mãode-obra do campo e contribuiu para engrossar o movimento migratório rural-urbano que já se intensificara nos anos 50, com a arrancada industrial. Ao mesmo tempo em que se tornou um símbolo da modernização agrícola, despertando vocações rurais em empresários urbanos, a nova lavoura aguçou a tragédia sócio-econômica dos semterras. Essa dualidade paradoxal mantém no ar uma pergunta nunca respondida: a soja teria sido capaz de ir para a frente sem ajuda oficial? Embora a literatura técnica sobre a soja seja bastante copiosa, ainda não houve tempo suficiente para avaliar todos os desdobramentos – rurais, urbanos, internos e externos – dessa grande aventura. Ex-diretor do CNPSo, de Londrina, o agrônomo Emídio Rizzo Bonato, hoje no Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, de Passo Fundo, enumerou os fatores que, na sua opinião, fizeram da soja o eixo principal da modernização da agricultura brasileira: O emprego da tecnologia americana; A busca da auto-suficiência na produção de trigo; A existência de um mercado internacional para proteínas e óleos vegetais; A infra-estrutura cooperativista; O apoio técnico de instituições de pesquisa como o Instituto Agronômico de Campinas e a Embrapa. FARTURA DE CRÉDITO É verdade que a soja enraizou-se espontaneamente no interior gaúcho, e talvez a longo prazo conquistasse sozinha outras regiões, mas sua rápida ascensão como uma cultura comercial só se viabilizou graças ao apoio governamental. Menina dos olhos do “milagre econômico”, ela contou com especial proteção do presidente Ernesto Geisel (1974-1979), que tinha mais que razões de Estado e de governo para olhar para a Glycine max com carinho: se irmão Henrique, primeiro presidente da Fecotrigo, era agricultor em Sarandi, RS. Com a experiência de quem, como diretor da Copercotiam esteve na crista da onda da soja, o dirigente cooperativista Américo Utumi (São Paulo, 1933), superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), não hesita em apontar o crédito rural oficial como aventuras agrícolas do século 20, em território sul-americano. Nos anos áureos, na década de 70, a oferta anual de recursos públicos subsidiados para a agricultura montava cerca de US$ 15 bilhões. “A principal colheita era o financiamento do governo”, concluiu a repórter paranaense Teresa Furtado, num balanço do ciclo da soja publicado pelo Jornal da Tarde, de São Paulo, em março de 1984. Na realidade, 70% di dito crédito rural servia para financiar as indústrias situadas a jusante e a montante da atividade agrícola, beneficiária dos 30% restantes. Ou, seja, a soja teve um papel modernizado porque faz parte de um esquema internacional que engloba os insumos e as máquinas agrícolas, o beneficiamento industrial e o mercado consumidor. Entretanto, a integração econômica propiciada pela maior commodity da história da agricultura não acorreria no Brasil sem o lastro oferecido pelas autoridades empenhadas em materializar o sonho do Brasil Potência. Balizada por um slogan poderoso – “Plante que o governo garante”-, a economia da soja, subsidiada no campo e na cidade, sustentou por muitos anos a migração de sulistas para o centro do Brasil, a ponto de desenvolver ali uma nova civilização de feição urbana e base rural, e também gerou recursos para a montagem de uma forte infra-estrutura agroindustrial. Na subida, abrindo fronteiras e semeando cidades, os agricultores a cavalo na soja puseram sucessivos surtos de modernização em todos os setores da economia, do primário do terciário. Foi durante o ciclo febril da soja (1070/82), que deslanchou no Brasil a produção de óleos vegetais, adubos, sementes, produtos químicos, máquinas e implementos, rações, frangos e suínos. Também se desenvolveram inúmeros serviços nas áreas de armazenagem e transportes. Um ágil comércio se organizou em torno da produção agrícola em cidades tradicionais ou recém-fundadas. Restaurantes de beira de estrada, agências bancárias, lojas, oficinas, transportadoras, postos de combustível e diversos outros negócios brotaram como parte da cadeia agroindustrial responsável por 40% do Produto Interno Bruto brasileiro. Garota-propaganda do agribusiness, a soja girava sozinha, em 1996, um complexo que, segundo cálculo da Associação Brasileira do Agribusiness (ABAG), alcançada US$ 7,5 bilhões – mais de 1% do PIB, estimado oficialmente em mais de US$ 600 bilhões. INDÚSTRIA DE ÓLEOS De todos os negócios urbanos montados em torno da soja, o mais visível é a industria de óleos, situada exatamente no meio do caminho entre a lavoura e o mercado consumidor. Como já se viu nos dois primeiros capítulos deste livro, desde o princípio a montagem de fábricas esmagadoras de soja despertou o interesse de capitais privados. Só as primeiras foram montadas na raça. A maioria contou com financiamentos e incentivos oficiais, oferecidos simultaneamente à abertura do crédito rural ao plantio da dobradinha trigo-soja, nos últimos anos da década de 60. O governo federal bancou a implantação da indústria de óleos a partir de 1967, quando o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDR) promoveu a primeira reunião de dirigentes de fábricas existentes nos três estados do Sul. Coordenada pelo engenheiro químico Vilmar de Oliveira Schürmann (Florianópolis, 1942), a reunião tinha um objetivo claro: organizar o apetite industrial de empresários fascinados pela soja. Ex-técnico da fábrica da Samrig em Esteio, onde trabalhou nos três primeiros anos de sua carreira, Schüemann percorreu o interior sulino para um mapeamento da situação. Sem contar as pioneiras Incobrasa, Sorol, Merlin, Igol e Samring, em atividade desde os anos 50, ele encontrou uma dezena de indústrias montadas por diversos voluntários da industrialização. O maior número de fábricas ficava no interior gaúcho. Uma das primeiras foi montada em 1962, em Giruá, por Sadi Pilau, Elso Pilau e Abel Londero. Chegava a moer mil sacas de soja por dia. No mesmo ano começou a operar em Alegrete a Rizóleo, voltada principalmente para o arroz (a Rizóleo faz parte da história da soja porque mais tarde seus equipamentos, importados da Alemanha, foram transferidos para Eldorado do Sul, a serviço da Olvebra). Em Passo Fundo, o panificador Alexandre Busato montou uma fábrica que não foi além da década de 70. Em Guarani das Missões foram instaladas duas fabriquetas, uma da família Giovelli e outra dos Varpechovski (esta, mais tarde, incorporaria a indústria dos Pilau). Foi importante para a industrialização da soja a adesão entusiasta de várias cooperativas que montaram unidades de esmagamento em cidades como Passo Fundo, Ijuí, Santo Ângelo e Carazinho. Em Santa Catarina, eram duas as processadoras de soja: a Gener, em São Miguel d’Oeste, montada por Geraldo Hepner, de Joinville; e a Industrial Mafrense de Óleos e fibras, em Mafra. No Paraná, havia uma em Pato Branco, outra em Planalto e a última em Ponta Grossa, dirigida por Frederico Busato, que tinha o hábito de distribuir sementes de soja no interior (essa fábrica, denominada Incopa, opera hoje em Aracária). MÉTODO DA “CUTUCA” Com mão-de-obra fornecida basicamente pela Samrig e a Sandra, a maioria destas pequenas fábricas pioneiras “brigava” pela matéria-prima, esmagada em prensas Masiero ou Piratininga, tão rudimentares que exigem o uso de espetos para desprender a borra formada no fundo dos recipientes – esse método era conhecido por “cutuca”. O processo de industrialização dos grãos de soja consistia nas seguintes operações: secagem, armazenagem, quebra cozimento, prensagem, laminação, destilação do óleo e tostagem do farelo. O processo contínuo só seria introduzido nos anos 70, dispensando a prensagem, usada hoje somente para manipular matériasprimas com alto índice de óleo como o amendoim, o girassol ou a palma. Nos cinco anos (1967-72) em que esteve a serviço do BRDE, Schürmann aprovou projetos novos e orientou no reaparelhamento das unidades mais antigas. “Era uma fase ainda muito incipiente, de aprendizado para todos”, lembra ele. Nesse período de transição do amadorismo para o profissionalismo nos negócios da soja, mereceu grande destaque, em 1971, a abertura do capital da Olvebra, criada sob a liderança dos chineses que haviam prosperado com o beneficiamento da soja em Santa Rosa. Apesar desse ensaio de concentração industrial – de uma só vez a Olvebra incorporou a Igol, a Sorol e a Rizóleo -, tanto no interior gaúcho como em outros estados continuou a proliferação de novas fábricas de óleos vegetais, abertas por cooperativas, empresários nativos e grupos estrangeiros. A motivação fundamental dessa escala agroindustrial não era uma grande disponibilidade de matéria-prima ou de mão-de-obra, mas a fartura de financiamentos oficiais e incentivos fiscais à exportação oferecidos ao meio empresarial a partir do final da década de 60. Chave do plano de expansão econômica formulado por Octávio Gouveia de Bulhões e Roberto de Oliveira Campos, o primeiro ministro do Planejamento do Brasil, o slogan “Exportar é a Solução” foi a senha para uma grande transformação no comportamento empresarial brasileiro. A mudança ocorreu até mesmo em regiões onde a matéria-prima era escassa. No estado de São Paulo, onde a indústria de óleos vegetais se tornaria importante fonte de lucros para empresas antigas como Matarazzo, Sandram J.B. Duarte e Anderson Clayton, o beneficiamento da soja avançou nos espaços abertos anteriormente por fábricas de óleo de algodão, arroz, amendoim, girassol e mamona fundada em cidades como Ourinhos, Bauru, Paraguaçu, Paulista Bariri e Osvaldo Cruz. O mesmo processo de adaptação ocorreria em unidades de óleos vegetais instaladas em alguns municípios paranaenses como Maringá e Londrina. Fundada em 1963, a Cooperativa dos Agricultores de Orlândia (Carol) começou comprando uma pequena indústria de soja montada na vizinha São Joaquim da Barra pelo imigrante japonês Kum Yashibara. No princípio da década de 70, ela já competia pelo grão, na região nordeste de São Paulo, com a Comove (nascida do algodão) e a Brejeiro (nascida do arroz), ambas também instaladas em Orlândia. BOOM CATARINENSE Embora indiretamente, faz parte da história da soja o agressivo programa de incentivos fiscais à industrialização no estado de Santa Catarina. Baseado na devolução de 10% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), esse programa capitalizou e fez crescer alguns dos maiores grupos econômicos catarinenses nos setores alimentício, têxtil, metal-mecânico e de cerâmica. Entre eles, destacam-se nomes e marcas associados direta ou indiretamente à expansão da soja e da agroindústria no território brasileiro. Quem mais se beneficiou desse sistema foi a Cereais do Vale Ltda (Ceval), montada em 1972 em Gaspar, no vale do rio Itajaí-Açu, com os incentivos fiscais a que tinha direito o grupo Hering. Dirigida desde o início por Vilmar Shürmann, que abandonou sua carreira no BRDE, a Ceval quase naufragou no primeiro ano de operação. Deslanchou a partir da safra 1973/74, quando esqueceu os cereais que lhe deram o nome e se concentrou na soja. A modesta arrancada de Ceval coincide com o início da era dos grandes investimentos feitos por grupos privados nacionais e estrangeiros em pontos estratégicos do território nacional, já acompanhando a arrancada dos agricultores sulinos rumo ao centro do Brasil. Na chamada fase moderna da soja, iniciada em 1973, Ponta Grossa firma-se como o maior centro processador de soja do hemisfério sul, graças às unidades industriais montadas na cidade pela Cargill, Sanbra e Irmãos Pereira (hoje Coinbra). Ainda na década de 70, a implantação de novas fábricas ou a conversão para a soja de antigas processadoras de outros óleos vegetais estabeleceram o domínio do mercado para um seleto grupo de multinacionais representado pelo Bunge y Born (Sanbra/Samring), Anderson Clayton e Cargill, seguido pela “chinesa” Olvebra e por diversas cooperativas, que em determinado momento chegaram a ter nas mãos perto de 50% da força da soja. Se muitos empreendedores montaram indústrias de óleos para aproveitar financiamentos subsidiados e incentivos fiscais à exportação, houve também casos em que a prioridade foi o mercado interno. Os exemplos mais notórios são os da Sadia e Perdigão, que montaram unidades de processamento de soja, em meados da década de 70, para atender às próprias necessidades de ração para suas granjas integradas de frango suíno. Rápido e intenso, esse processo de verticalização fez da Sadia o maior fabricante nacional de rações, seguida pela Ceval, que efetuou a verticalização no sentido contrário – da soja para as carnes. DINAMISMO NO CENTRO-OESTE O fortalecimento desses grupos catarinenses modificou sensivelmente o panorama da industrialização da soja em território brasileiro. À medida que desapareciam do cenário muitas das “fabriquetas” pioneiras, incorporadas pelas “fabriconas” – em 15 anos a Ceval absorveu nove refinadoras de óleos de soja -, na década de 80 dezenas de noves nomes incorporaram à história da industrialização da soja. No Paraná, entre outros, Giombelli, Olvepar, Cotriguaçu, Coamo, Cocamar. Em Minas, os grupos Algar e Rezende. Olmar em São Paulo. Em Goiás, o Comigo e a Caramuru. Zahran no Mato Grosso. Olvebasa na Bahia. No Rio Grande do Sul a Farol, Avipal/Granóleo, Bertol e o grupo de Renato Ribeiro, que começou comprando a Taquarussu em Frederico Westphanlen e mais tarde incorporou a Incobrasa, maior exportadora gaúcha de óleo na década de 90. Dos 50 maiores (por receita) grupos gaúchos listados em 1991 pela revista Amanhã, de Porto Alegre, cinco deviam, se não sua origem, pelo menos sua prosperidade à soja: Incobrasa, Olvebra, Samrig, Cotrijuí e Bertol. A expansão agroindustrial foi especialmente intensa no Centro-Oeste, onde a soja fez mais pela integração nacional do que os programas oficiais propriamente ditos. Fenômeno recente e pouco estudado, a nova dinâmica econômica dessa região é associada à marcante presença da soja no cerrado. A primeira planta industrial se soja no território do Brasil Central foi instalada em 1983 em Rio Verde pela Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do sudeste Goiano (Comigo). Depois, em poucos anos, estabeleceram-se em Uberlândia, Rondonópolis, Cuiabá e Barreiras os novos pólos geoeconômicos da soja. Um estudo realizado em 1992 pelas economistas Ana Célia Castro e Maria da Graça Fonseca, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que a produção de soja na região Centro-Oeste passou de 12,59% do total nacional em 1980 para 43,76% em 1991. Em conseqüência no início da década de 90, a participação da agroindústria da soja na arrecadação estadual era de 27% em Goiás, 33% no Mato Grosso do Sul e 55% no Mato Grosso. A combinação soja+carnes representava nesses três estados, respectivamente, 85%, 90% e 91% do volume de ICMS. No Mato Grosso Do Sul, a presença da soja é menos preponderante em virtude da tradição pecuária. Mesmo assim, segundo um estudo do professor Aldonei Lopes apresentado em 1996 como tese de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, o recente desenvolvimento econômico desse estado não teria ocorrido sem a forte penetração da soja nas terras da região a partir de 1970. NOVO PARADIGMA Determinada prioritariamente pela disposição de economizar nos custos dos transportes, a proliferação de indústrias (de óleo, farelo, sementes, rações e carnes) no Centro-Oeste dificilmente teria ocorrido, no grau que ocorreu, sem o arsenal de incentivos oficiais que contemplou a indústria e também a lavoura. Em seu estudo, Ana Célia Castro e Maria da Graça Fonseca concluíram que a expansão do Centro-oeste “dependeu fortemente da intervenção governamental na comercialização dos produtos”. Em meados da década de 80, por exemplo, o governo federal comprou cerca de metade das safras regionais de arroz, milho e soja. Amparados por diversas formas de proteção oficial – doação de terrenos, obras de infra-estrutura, financiamentos subsidiados, incentivos fiscais, preços mínimos estimulantes -, empresários rurais e urbanos encontraram no Centro-Oeste excepcionais vantagens comparativas: terras baratas, estabilidade climática rendimento agrícola acima da média nacional e uma soja de maior qualidade e menos umidade. Em resumo, graças a esse extraordinário conjunto de fatores, o cerrado estabeleceu um novo paradigma para a economia da soja no Brasil e no mundo. Na entrada da década de 90, a queda dos preços agrícolas, o fim dos subsídios e a necessidade de reduzir custos colocaram fora de operação dezenas de unidades esmagadoras ou refinadoras de soja. Ainda assim, pelo menos 100 plantas industriais continuavam em atividade principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Menos de 20 anos depois do boom da soja, estava tudo fora de lugar. Se na década de 70 a indústria de óleos era dominada pela Sanbra, Olvebra, Cargill e Anderson Clayton, na década de 90 a liderança no setor havia se transferido para os grupos catarinenses Ceval, Sadia e Perdigão, acompanhados ainda pela multinacional americana Cargill e a francesa Coinbra, que ocupou parte do espaço deixado pela Anderson Clayton. Na estimativa de técnicos e empresários o ramo, a tendência para o final do século era a continuação do processo de concentração industrial – como ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, onde quatro grandes grupos dominam os negócios com soja. REVOLUÇÃO NOS TRANSPORTES Inicialmente exportada apenas em grão – a exportação de farelo foi iniciada e 1963 e a de óleo, em 1971 -, a soja tornou tão visível do estrangulamento do transporte de cargas que ajudou a desencadear uma série de mudanças no panorama viário nacional, onde as rodovias eram poucas e as rodovias pobres e lerdas. O primeiro sinal da crise apareceu no porto-cidade de Rio Grande, logo na arrancada das exportações, no início da década de 70. O congestionamento foi resolvido rapidamente pelo ministro dos transportes, o gaúcho Mario David Andreazza (um coronel do Exército que sonhou ser presidente da República), que mandou construir um ramal ferroviário novo para o “superporto”, na realidade iniciado em um terminal para o desembarque que o trigo e o embarque de soja, operado pela Cotrijuí. Em seguida, com a criação do programa dos “corredores de exportação”, foram sendo melhoradas as condições de acesso e embarque aos portos do estado Sul, especialmente o de Paranaguá. O Banco do Brasil, pai do crédito rural, financiava também as obras de infra-estrutura. Um dos grandes momentos dessa revolução de bastidores foi a reabilitação da moribunda hidrovia dos rios Jacuí-Taquari-Guaíba-Lagoa dos Patos. Apenas 300 quilômetros, quase nada perto da hidrovia norte-americana do Mississippi, com seus 5.5 mil quilômetros. Mas que orgulho! Era uma beleza quando passava diante de Porto Alegre, rumo ao porto de Rio Grande, o comboio de chatas da empresa de navegação Lageado, pertencente à Contrijuí. Quem mais usou a hidrovia foram a Olvebra, a Farol e a Granóleo. A empresa de navegação Aliança (controlada pela Adubos Trevos) chegou a ter 15 barcos em operação. O porto de Estrela, cidade natal do gerenal Ernesto Geisel, atingiu o auge em 1987, quando embarcou 1,3 milhão de toneladas de mercadorias, principalmente farelo de soja. Hoje a exportação de Estrela representa pouco mais de 100 mil toneladas de farelo por ano. A hidrovia que mais movimenta soja no Brasil, na década de 90, é a Tietê-Paraná, com 300 mil toneladas anuais. Por US$ 30 a tonelada, uma empresa especializada, a Comercial Quintela, coloca a soja do sul de Goiás, no porto de Santos. Embarcadas num terminal hidroviário em São Simão (GO), as cargas vão de barco até o interior paulista, onde são transferidas pra caminhões vou vagões ferroviários. EFEITOS DA GREVE Em praticamente todos os estados brasileiros a soja deixou algum benefício, No Espírito Santo, uma greve dos portuários de Capuaba, na baía de Vitória, em 1990 formou os exportadores de farelo de soja a buscar outra saída para a necessidade de cumprir contratos de venda para o Japão. Encontraram-na a poucas milhas dali, no porto de Tubarão, operado pela Companhia da Vale Rio Doce, líder mundial da exportação de minério de ferro. Lavadas com jatos d’água, as esteiras contínuas de embarque de minério prestaram-se satisfatoriamente ao farelo. Não demorou muito tempo, a Vale fez contratos de comodato com os exportadores, que instalaram silos dentro do terminal de Tubarão. Hoje há esteiras e píer exclusivos para o despacho, de soja para a Ásia. O negócio é interessante para todos, pois cargas mistas barateiam os fretes de soja e de minério de ferro. O litoral do Espírito Santo sempre foi pensando como saída do Corredor de Transportes Centro-Leste, desenhado na década de 70, mas a criação de um terminal de grãos no porto de Tubarão significa um inesperado refinamento para um simples cais minero-siderúrgico. O que prova que até o litoral repercute a revolução agrícola realizada pela soja do cerrado do Brasil Central. Na realidade, vários portos brasileiros foram modernizados para atender à vocação exportadora da soja. Depois do pioneiro terminal de embarque de grãos construído pelo Rio Grande, no início da década de 70, foram feitos investimentos oficiais e privados que viabilizaram outras saídas como os portos de São Francisco do Sul, SC; Santos, SP, Salvados, BA; Suape, em Recife, PE; e Ponta da Madeira, em São Luís, MA. JAMANTAS GRANELEIRAS Dentro do território brasileiro, coube ao caminhoneiro levar a soja nas costas. A indústria de caminhões mudou de tamanho com o melhoramento das estradas. A Rondon, de Caxias do Sul, deu um salto quando adaptou uma carroceria ao transporte a granel. Iniciada em 1953 com a fabricação de carretas para o transporte, essa empresa viveu por quase 20 anos de freios, terceiros eixos (trucks) e carrocerias convencionais para carga seca. Já em 1969 fabricou seus primeiros semi-reboques, para acoplar aos cavalos-mecânicos, formando os equipamentos de transporte batizados na época de “jamantas”. Em 1971, entre 630 carretas vendidas, apenas 30 eram para carga a granel. Em 1973, o índice de carretas graneleiras subiu para 10%. Em 1974, fruto do boom da soja, a produção de carrocerias atingiu 1.400 unidades e a participação do granel passou a crescer sem parar, até alcançar a proporção de 95% em 1995. No seu processo de expansão, a Rondon liquidou alguns competidores como a paulista Golive (que parou na década de 80) e a gaúcha Rodoviária (comprada pela própria Rondon em 1977), mas não se livrou da concorrência. Em Caxias do, Sul um exfuncionário da Rodoviária, Angelo Guerra, usou seu sobrenome para batizar uma nova fábrica de carrocerias. Em Curitiba, estabeleceu-se o Krone, Em São Paulo, cresceram a Facchini e a FNV – todas equipadas para atender à granelização do mercado de cargas agrícolas INDÚSTRIA DE MÁQUINAS A reboque da evolução produzida pela soja, cresceu também extraordinariamente a indústria brasileira de máquinas e implementos agrícolas, fortemente concentrada no interior do Rio Grande do Sul, onde as fábricas de implementos agrícolas têm origem e história semelhantes. Assim: um imigrante com talento metalúrgico atendia às necessidades dos seus vizinhos agricultores e progredia prestando serviços satisfatórios e confiáveis. Muitas cidades começaram assim, em torno de uma forja. Mas até o advento da soja, essa indústria praticamente não passou do estágio de ferraria. Nem tampouco recebeu qualquer apoio direto do governo. Não foi mera coincidência que boa parte da indústria brasileira de máquinas e implementos agrícolas se estabeleceu no norte gaúcho- no mesmo lugar em que se enraizou a soja. Os colonos imigrantes mantiveram praticamente intacta até 1950 a cultura agrícola agrícola européia, que permitia manter uma família com a exploração de uma gleba de 25 hectares. À soja, coube um papel especial: abrir caminho à mecanização. Se, por um lado, cresceu dando substância à suinocultura e à avicultura – e permitindo até que, junto a elas, se erguesse uma poderosa indústria de rações-, a soja, por sua natureza agregadora, empurrou para a frente a indústria de máquinas e implementos. Quando o Brasil liberou a compra de tratores e colheitadeiras estrangeiros, no governo do general Eurico Gaspar Dutra (1946/51), a falta de critério e disciplina inundou o Brasil com uma enorme variedade de máquinas de praticante todos os países do mundo. Aos artesãos do ferro no interior sobrou a estimulante tarefa de manter em funcionamento uma frota de 156 marcas diferentes de tratores e implementos. Adaptações forçadas pelas circunstâncias acabaram contribuindo para gerar verdadeiros protótipos de máquinas caipiras. Foi graças a elas que as ferrarias do passado evoluíram para fábricas, especialmente a partir da década de 50, quando houve no Brasil, no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-61), o primeiro grande esforço oficial para implantar aqui uma indústria de máquinas, do automóvel ao avião, passando pelo trator e o navio. A PROGRESSISTA CARAZINHO Gerente de marketing da fábrica de colheitadeiras SLC, de Horizontina, Gilberto Zago (Bento Gonçalves, 1949) chegou a Carazinho em 1961 com o pai, na euforia do trigo. As máquinas importadas geravam problemas operacionais complexos. Zago começou trabalhando como comprador de peças da Comercial ABC (queria dizer Acessórios, Borrachas e Conexões, o que englobava peças para todos os fins). Treinando no comércio de peças importadas da Avenida Farrapos, de Porto Alegre, aonde ia de ônibus fazer compras, adquiriu tal experiência que em 1970 foi contratado para organizar a seção de peças da Agroavião, empresa de serviços (importadora de máquinas, aviação, agrícola) que cresceu no espaço aberto pela falta de assistência técnica. Criada por Ivo Laureano Sehn, a Agroavião chegou a importar de uma só vez 300 colheitadeiras Clayson, da Bélgica, e chegou perto de se transformar em fábrica. Seu sonho acabou quando a Clayson belga foi adquirida pela New Holland, dos Estados Unidos, que se instalou em Curitiba em 1973. Em Carazinho, havia uma tradição de marcenaria e metalurgia sustentada por fábricas como o Marecq (máquinas para processamento de madeira), a metalúrgica Fritz (implementos agrícolas), a Egan (semeadeiras) e a Max. E havia algumas empresas crescendo no norte gaúcho, cada uma associada a um produto. Em Santo Ângelo, as fábricas de plantadeiras Campeã e Sem Rival, e ainda a Metalúrgica Rodowski. Em Ijuí, a Imasa, fundada em 1922 por Arthur Fuchs (-1968), autor de mais de 70 inventos patenteados. Em Não-Me-Toque, a Stara e a Yan. Kepler Weber, especializado em silos e armazéns, desde 1922, em Panambi. De Antoni, fábricas de trilhadeiras em Caxias do Sul, onde em 1965 a Agrale começou a produzir tratores, com ferramental comprado da Agrisa e tecnologia da Hatz alemã. E havia as belas histórias de fabricantes de colhedoras, chamadas de colheitadeiras no Rio Grande do Sul. O AGRIMENSOR LOGEMANN A soja se associa intimamente à história de duas indústrias de máquinas para colheita. A mais antiga delas é a SLA, cujas origens se confundem com a trajetória pessoal de Frederico Jorge Logemann (1892-1951), alemão de Bremen que na década de 10 do século 20 veio trabalhar como agrimensor no interior do Brasil. Mais precisamente na construção de estrada de ferro Santo Ângelo-Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul. Casado com Nelly Dahne, filha do seu padrão, com quem teve um único filho, Jorge Dahne Logemann (1922-1987), engenheiro civil formado em 1947 em Porto Alegre, Frederico fundou sua própria companhia de colonização no noroeste gaúcho, quando ali era tudo mato. No final da segunda guerra, em sociedade com Balduíno Shneider, Logemann criou em Horizontina, então distrito de Santa Rosa, um beneficiamento de madeira acionado por uma máquina a vapor. O negócio logo evoluiu para oficina de consertos e reformas de tratores, máquinas a vapor e trilhadeiras. Já em 1947 a oficina fez sua primeira trilhadeira. Em 1950, com Jorge Logemann no comando, a SLC fabricou uma trilhadeira estacionária polivalente (para trigo, milho e soja). Era uma imitação da trilhadeira Tigre, de Faxinal do Soturno, cuja fábrica, fundada em 1921, subsiste hoje nas mãos de Wilson Bozetto, neto do fundador Ângelo Bozetto. Feitas totalmente de madeira, de acordo com uma tecnologia assentada no início da Revolução Industrial, as trilhadeiras eram um equipamento precioso nos sítios. Podiam processar, na época, até 200 sacos por dia. Quem possuísse uma, tinha nas mãos um excelente instrumento de prestação de serviços. A aventura da fabricação das automotrizes começou em 1965 quando Arnoldo Shneider reformou e colocou em funcionamento na Fazenda Pioneira uma velha ceifae-trilha norte-americana John Deere fabricada em 1955. Assim nasceu a SL 65A, primeira máquina automotriz de colheita feita no Brasil. O motor de seis cilindros a gasolina foi tirado de um caminhão Chevrolet Brasil. Em 1979, pó US$ 7 milhões, a SLC cedeu 20% do capital à John Deere, maior fábrica de máquinas agrícolas do planeta. Com tecnologia da Hanomag alemã (recém-comprada pela John Deere), ela aprimorou sua colheitadeira, transformando-a numa máquina mais versátil. Com o dinheiro, Eduardo Logemann, neto do pioneiro, foi comprar terras para plantar soja no CentroOeste do Brasil. O MARCENEIRO STREICH Em Santa Rosa, durante a Segunda Guerra Mundial, os moços que não queriam ficar na roça tinham duas grandes opções de trabalho urbano: ser aprendiz do marceneiro Daniel Krebs ou servente do torneio-mecânico Herbert Kubick. Depois de aprender com Krebs, Felipe Streich (Santa Rosa, 1919) iniciou em 1953 sua própria fábrica de moinhos de trigo ao lado de cinco sócios: o mecânico Henrique Arns Arendt Sobrinho e os marceneiros Otto Laembeck, Henrique Gelbhardt, Ewald Kuhn e Almino Hoffmeister. Depois de cinco meses o mecânico Arns saiu e foi substituído na sociedade por Antenor Grisotti, contador. As Máquinas Agrícolas Ideal faziam polidores de trigo, peneiras e moinhos. A experiência nesse terreno serviu para atender a encomendas das pioneiras indústrias de óleo de soja, principalmente as montadas por cooperativas. Para fazer trilhadeiras, tomou como modelo a velha Tigre de Faxinal do Soturno. “Na década de 50, o sitiante que conseguisse trilhar 100 sacas de soja era considerado um herói”, lembra Streich. Quando a trilhadeira deu sinal de não servir mais, a Ideal pensou em colhedora automotriz. “Era muito difícil”, diz Strich, lembrando que não havia fornecedores aptos nem mão-de-obra disponível. Para iniciar a fabricação de colhedoras, a Ideal foi buscar torneiros experimentados em Carazinho e Cachoeira Sul, a capital do arroz irrigado, onde desde 1908 operava a fábrica de locomóveis Mernak. Em Santa Rosa mesmo, Felipe Streich contratou Fernando Krause (Santa Rosa, 1931), treinado desde os 14 anos em ferraria e um dos responsáveis pela montagem da primeira automotriz da SLC. A colhedora da Ideal foi montada em cima do diferencial de um trator Fendt de fabricação brasileira, cujo ferramental seria mais tarde comprado pela Agrale, que avançava no segmento de máquinas agrícolas. Para disputar mercado com a SLC, a Ideal fez um acordo tecnológico com a Faar alemã (tratores Deutz). Na virada de 1979 para 1980, logo depois da união SLC-John Deere, fez um acordo com a International e, por recomendação do BRDE, recebeu um aporte de capital do grupo financeiro lochpe. Na década de 80, com a falência da International nos Estados Unidos, tudo ficou nas mãos do Iochpe, que também assumiu o controle da Massey-Ferguson, com fábrica de tratores em São Paulo e de implementos agrícola em Canoas, RS. Em 1996, a maxion (ex-Ideal + Massey) foi comprada pela Agro americana. Apesar da intensa modernização técnica, a indústria brasileira de máquinas de colheita vende muito menos hoje do que em meados da década de 80, quando chegou a vender mais de 6 mil unidades por ano. O mesmo acontece com a indústria de tratores, que alcançou o auge na década de 70, com picos de vendas de mais de 60 mil unidades por ano. Os vendedores de máquinas, como o calejado Gilberto Zago, da SLC, falam desses tempos, nem tão remotos, como “os anos áureos da soja...” UMA AVENTURA TROPICAL “No fundo devemos quase tudo ao trabalho desses rapazes, técnicos e cientistas agrícolas”, confessou à revista Veja maio de 1988 o empresário Olacyr de Moraes, “o rei da soja” no Brasil. Por incrível que pareça, essa foi a primeira vez que um representante da iniciativa privada reconheceu publicamente o mérito do pessoal da pesquisa genética na expansão da cultura da soja em território brasileiro. Banqueiro e empreiteiro de obras públicas, Olacyr sabe que não teria alcançado sucesso se não contasse com ajuda técnica no cultivo de variedades adaptadas ao clima de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde começou a explorar terras virgens no início da década de 70. Para manter seu reinado, que durou cerca de 20 anos, o “rei da soja” cercou-se de técnicos de ascendência japonesa liderados por Tuneo Sediyama (Itápolis, 1943), Ph.D. em genética pela Universidade Federal de Viçosa, um dos principais núcleos de estudo da soja no Brasil. O que Sediyama e outros agrônomos viveram ao longo das últimas décadas em território brasileiro foi uma das mais extraordinárias aventuras científicas da história da humanidade. Enquanto algumas variedades vegetais (ou mesmo animais) levaram séculos, milênios até, para se adaptar a novas regiões, a soja sofreu em pouco tempo um processo de “tropicalização” sem precedentes. O grão inicialmente cultivado no clima temperado do Sul do Brasil adaptou-se de forma espantosa às terras quentes no Brasil Central, do Nordeste e da Amazônia. Nesse avanço, ofereceu ainda notáveis ganhos de produtividade e de qualidade. LEGIÃO MULTINACIONAL A bem da verdade, a tropicalização da soja foi um empreendimento conjunto de brasileiros, orientais, europeus e norte-americanos. A lista da legião de melhoristas da soja no Brasil começa no final do século 19 com Gustavo D’Utra; prossegue na primeira década do século 20 com Guilherme Craig; continua na década de 20 com Henrique Lobbe; na década de 30 recebe o um impulso de Vzeslaw Biezanko e, nos anos 50 que ela arranca com José Gomes da Silva, cresce com a adesão de Leonard F. Williams e de Hipólito Mascarenhas; brilha com Shiro Miyasaka e Geraldo Guimarães; passa adiante com Jamil Feres, João Rui Jardim Freire e Francisco de Jesus Vernetti; na década de 60, rende tributo a Edhard harteing e curva-se diante de Romeu Kiihl; e triunfa nos anos 70 com Emidio Rizzo Bonato, Manoel Miranda, Francisco Terasawa, Johanna Dobereiner, Flavio Moscardi. Tuneo Sediyama... Na realidade, para ser completa, a lista precisaria conter centenas de nomes. Apenas o atual time da soja no Brasil – do qual fazem parte alguns dos pesquisadores arrolados acima, ainda em atividade – congrega perto de 100 pesquisadores. Bem menos vasto é o rol de entidades que trabalharam pela propagação da soja no Brasil. Dele fazem parte o Instituto Agronômico de Campinas; as faculdades de agronomia de Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Curitiba, Piracicaba, Rio de Janeiro, Lavras e Viçosa; o Ipagro, a Empasc, o Iapar, a Epamig e a Emgopa; a fundação de pesquisa da Fecotrigo, vários centros da Embrapa e dezenas de estações experimentais oficiais e/ou campos particulares de melhoramento espalhados pelo Brasil – sem contar instituições situadas nos Estados Unidos que colaboraram mais estreitamente com os técnicos brasileiros. Como não se trata de fazer um inventário, mas de estabelecer as principais referências técnicas relativas á soja, é conveniente lembrar as fabulosas qualidades naturais da “vaca integral” chinesa. Falando a propósito da surpreendente adaptabilidade revelada pela Glycine max no Brasil, o agrônomo Eduardo Antonio Bulisani (Jundiaí, 1945), diretor adjunto do IAC, pontua “Não sei se houve uma tropicalização ou se, simplesmente, o deslocamento para o Brasil Central revelou um potencial genético até então apenas desconhecido na soja”. METAMORFOSE A adaptação da soja no Brasil baseou-se no melhorar genético extremamente diversificado. Aqui se plantaram sementes originárias do Japão. Da Europa e dos Estados Unidos. A maior parte das variedades comerciais introduzidas no Brasil veio dos Estados Unidos, cujos técnicos coletaram material diretamente na China e outros pontos da Ásia, fato registrado no prefixo PI (Planta Introduzida) que se encontra na nomenclatura básica da soja norte-americana. Em sua fantástica metamorfose ocidental, a Glycine max cresceu em números de cultivares, linhagens e variedades, recebendo por isso uma quantidade enorme de nomes pelos quais se tornou conhecida dos técnicos, comerciantes de sementes e agricultores. Enquanto nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, muitas variedades foram batizadas com o sobrenome de comandantes militares (Lee, Davis, etc.), no Brasil criou-se o costume de homenagear o lugar onde a semente revelou sua importância. Hoje no Brasil a soja possui centenas de “marcas”. Parece fora de dúvida que a primeira variedade de soja conhecida no Brasil foi a amarela ou Comum. Num trabalho intitulado “A Soja no Brasil”, que escreveu na década de 50 em parceria com Neme Abdo Neme e que não chegou a ser publicado em forma de livro, José Gomes da Silva anotou que a variedade Amarela ou Comum, muito cultivada pelos colonos gaúchos, chegou a ser conhecida por “Rio Grande” em São Paulo na arrancada da Campanha da Soja, no início da década de 1950, quando a variedade mais difundida entre os agricultores paulistas era a Abura, “coletada há cercas de 10 anos, por técnicos do Instituo Agronômico, entre lavradores japoneses do município de Campinas”. Na realidade, a Abura foi doada ao IAC em meados da década de 30 pelo Consulado do Japão em São Paulo. Tanto a Amarela/Comum como a Abura eram consideradas boas produtoras de óleo para a época – com teores, respectivamente, de 18,3% e 19,37% -, mas apresentavam alguns “defeitos”, escreveram Gomes da Silva e Neme: acamavam com facilidade, “soltavam” as sementes (característica das vagens conhecida tecnicamente por deiscência) e eram suscetíveis a nematóides. Parecida com a Abura, mas melhor do que ela, segundo os dois pesquisadores do IAC, era a 455, de porte ereto e menos propícia a jogar longe os grãos. Outras variedades coletadas na colônia japonesa do interior paulista fora as asiáticas Otootan e a Chosen, citadas como “boas forrageiras”, capazes de produzir em torno de 10 toneladas de massa verde por hectare, segundo ensaios de 1952/53. Em seu trabalho, baseado em dados do começo da década de 50, Gomes Silva e Neme admitem que, mesmo depois de realizar ensaios com cerca de 400 variedades de procedência norte-americana, o pessoal do IAC ainda não tinha encontrado a soja “ideal para as nossas condições”. O que se buscava selecionar para o cultivo em solo paulista eram principalmente plantar mais altas/eretas e resistentes à deiscência ao ataque de nematóides, que se mostrassem mais produtivas por área; e, finalmente, que apresentassem bons índices em dois aspectos essenciais – massa verde e teor de óleo. Desse esforço objetivo de melhoramento genético foram surgindo nomes que merecem registro como marcos da pré-história da soja no Brasil. A nomeclatura das sementes testadas na década de 50 em diversos campos experimentais “cita” locais como Avaré, Araçatuba, Aliança, Morro Agudo, Pereira Barreto, Paraná – quase todas, variedades selecionadas em municípios paulistas onde estava presente o imigrante japonês. Dessas variedades pioneiras, consideradas “rústicas”, a mais importante para o pessoal do IAC foi a Mogiana, coletada em 1947 na região de Ribeirão Preto. Não fez grande carreira. No Sul, em 1960, os técnicos gaúchos batizaram a variedade Pioneira (seleção de cruzamento Biloxi x Chosen). Também não foi longe, mas a grande aventura da transformação genética da soja no Brasil estava começando. LIDERANÇA TÉCNICA Em todos os casos de sucesso das sementes desenvolvidas para as condições brasileiras, a pesquisa realizada no Brasil contou com a retaguarda de cientistas de outros países, especialmente dos Estados Unidos. Henrique Lobbe, que na década de 20 testou cinco variedades asiáticas (recebidas de um agrônomo japonês que as trouxe da Manchúria) e 59 variedades norte-americanas (adquiridas pessoalmente em viagem aos Estados Unidos) na estação experimental do Ministério da Agricultura em São Simão, SP, manteve correspondência com o agrônomo William Morse, responsável pelo deslanche da lavoura de soja nos Estados Unidos. Num artigo publicado em 19 de fevereiro de 1928 em O Estado de S. Paulo, Lobbe afirma ter selecionado três mutações espontâneas, denominadas Jomichel, Julieta e Joalo, de ciclo vegetativo muito precoce (90 dias). Diz ainda ter obtido por cruzamento outra variedade, a Artofi, “muito produtiva, de tamanho grande e coloração original”. Depois, nas décadas de 30 e 40, outros técnicos nativos ou estrangeiros contribuíram para difundir a soja no Brasil. Os mais notórios foram o polonês Czeslaw Biezanko, no Rio Grande do Sul, e o sírio naturalizado brasileiro Neme Abdo Neme, no estado de São Paulo. De modo geral, entretanto, é praticamente unânime entre os técnicos que o nome chave na história da soja no Brasil é o de José Gomes da Silva. Evidentemente beneficiado pelo trabalho de observação, pesquisa e seleção dos técnicos mais antigos do Agrônomo de Campinas e de outras instituições, Gomes da Silva deu o pulo do gato quando, recém-formado em agronomia em 1946 em Piracicaba, passou dois anos fazendo mestrado em Iowa, nos Estados Unidos, de onde voltou no final de 1948, disposto a promover aqui a exemplar integração norteamericana entre lavoura, pesquisa, indústria e governo. No final da década de 40 já se sabia em São Paulo e no Rio Grande do Sul que a simples garantia de compra de uma indústria, por mais estimulante que fosse não era suficiente para manter os agricultores no cultivo regular da soja. O esforço da inglesa Swift para fomentar a produção de soja no interior paulista, entre 1945 e 1948, deu bons resultados, mas não foi à frente, talvez por falta de uma liderança técnica que promovesse a necessária articulação entre todas as pontas do processo produtivo, especialmente entre a lavoura e a pesquisa. Foi esse papel de Gomes da Silva. Com sua dedicação – tão grande que lhe rendeu o apelido de Zé Sojinha – ele mostrou que, ao apontar caminhos e buscar novas saídas, o pesquisador científico possui também uma missão política. Contratado como pesquisador do IAC, José Gomes da Silva pegou na unha o esforço da indústria de óleos por uma matéria-prima mais rendosa e segura que algodão, amendoim, mamona e girassol. Embora articulado com a indústria, visava principalmente ao consumidor. Na convivência de que a leguminosa chinesa estava predestinada a ter grande futuro no Brasil. Falava com freqüência na “mística da soja”. - Desde o início eu pensei na soja como alternativa protéica para sanar a deficiência nutricional das populações pobres do Brasil, especialmente do Nordeste – disse ele em janeiro de 1996, alguns dias antes de morrer. Dono da fazenda Baguaçu, em Pirassununga, onde desenvolveu principalmente o plantio regular da cana-de-açúcar, Zé Sojinha cultivava idéias que lhe valeram a imagem de “comunista”. Para isso contribuiu seu engajamento na luta pela democratização da posse da terra. No início da década de 60 ele fundou em Campinas, junto com Carlos Lorena, também agrônomo, a Associação Brasileira de Reforma Agrária, que ficou na história como um dos primeiros focos de resistência ideológico à ditadura militar implantada em 1964. Não há como negar que a Glycine max tripudiou cruelmente sobre o idealismo socialista de Zé Sojinha. Ele acreditava sinceramente que a soja poderia fortalecer a renda das pequenas propriedades e servir como instrumento de redistribuição fundiária. Na realidade, deu-se o inverso: cultivada e larga escala, como monocultura, a planta contribuiu especialmente para reduzir o número de minifúndios e ampliar a concentração fundiária no Brasil. SANTA ROSA No IAC, tudo dava certo. Em pouco tempo o esforço de Zé Sojinha transformou-se na Campanha da Soja, empreendimento oficial financiado pela iniciativa privada. As despesas de Seção de Leguminosas do IAC passaram a ser parcialmente custeadas por fábricas de óleos vegetais que inauguraram em São Paulo o modelo de financiamento de pesquisa empregado alguns anos mais tarde pelo Instituto Privado de Fomento à Soja (Instisoja), criado no Rio Grande do Sul por iniciativa da Sociedade Anônima Moinhos Rio-Grandenses (Samrig). Na primeira metade da década de 50, a Anderson Clayton financiou a permanência por uma temporada em Campinas do agrônomo Leonard F. Williams, responsável pela linhagem L-326, mais tarde “nacionalizada” com o nome de Santa Rosa, a primeira grande variedade comercial brasileira. O nome nacional foi colocado pelo técnico agrícola Juarez Pinto Gutterres (Viamão, 1932), responsável por ensaios realizados a partir de 1958 no município gaúcho de Santa Rosa, para onde fora enviado pela Secretaria da Agricultura como agente fitossanitário. Lançado em 1966 na I Festa Nacional da Soja, em Santa Rosa, foi essa a primeira semente obtida no Brasil como resultado do cruzamento de linhagens norteamericanas (D49-772 x La41-1219). Por longo período foi mais cultivada em toda a região meridional brasileira, do Rio Grande do Sul até São Paulo. Na mesma época fez carreira uma meia-irmã dela, a Industrial (Mogiana x La41-1219), também saída das mãos de Gutterres. “A Santa Rosa estava ‘perdida’ na estação experimental de Júlio Castilhos quando eu resolvi fazer uns ensaios para ajudar os colonos que só tinham a Amarela para plantar”, lembra Gutterres, formado em 1953 na Escola Técnica Agrícola de Viamão, pequena cidade dos arredores de Porto Alegre. Durante seus primeiros anos como funcionário da Secretaria da Agricultura, ele havia tralhado precisamente na chamada “estação experimental da serra”, no município de Júlio de Castilhos. Em Santa Rosa, onde acabou realizando a maior parte de sua carreira – a partir de 1961 como pesquisadores do Ipagro, encorporado graças a um convênio com o Instisoja -, Gutterres criou duas variedades de soja, a Sulina (seleção da variedade Hamptom) e a Missões (seleção de uma variedade rústica da zona colonial gaúcha), mas se notabilizou pelo aprimoramento da Santa Rosa. Essa variedade ajudou o IAC a ganhar fama como o maior centro de referência técnico da soja no Brasil até que a Embrapa assumisse o comando da pesquisa agropecuária no país, na segunda metade da década de 70. NA REGIÃO MOGIANA O mais importante auxiliar de Zé Sojinha nos primeiros anos no IAC foi Shiro Miyasaka (Japão, 1924). Caçula de uma família de cinco irmãos originária de Hokkaido, ele veio para o Brasil em 1932. O pai foi meeiro de lavoura de café no oeste paulista antes de se tornar olericultor em Arujá, perto da capital. Aos 14 anos, em 1938, Shiro mudou-se para São Paulo, onde arranjou emprego como entregador de chá. Depois, trabalhando de dia numa fábrica de fogões e estudando à noite, concluiu o curso secundário. Reprovado no vestibular da Escola Politécnica de São Paulo, aos 24 anos conquistou uma vaga no curso de agronomia em Piracicaba. Formou-se em 1951, justamente quando a soja, em grande evolução nos Estados Unidos, começava a prosperar do Hemisfério Sul. Na faculdade, não recebeu senão aulas teóricas sobre planta que, como imigrante, conhecia de quintal e de mesa. Entre um convite para se tornar assistente do professor de genética em Piracicaba e outro para trabalhar como pesquisador em Campinas, Shiro Miyasaka preferiu o contrato com o Agronômico, onde, há em 1952, foi incumbido por José Gomes da Silva de iniciar um ensaio de hibridação com mais de 50 variedades de soja. Foi em suas mãos que começou o primeiro grande esforço nacional para selecionar variedades aptas à mecanização e que respondessem positivamente o interesse da indústria por óleo. “A soja existente no estado de São Paulo era baixinha, de talo grosso, toda de variedades inadequadas para a colheita mecanizada”, lembra Shiro. Havia um agravante: quando se tornavam maduras, as vagens se abriam, lançando fora as sementes. Tanto que a principal recomendação técnica na época, quanto à colheita da soja, era que as vagens fossem apanhadas quatro ou cinco semanas antes da maturação definitiva. Esse problema só foi resolvido depois de 1954, quando saiu comercialmente nos Estados Unidos à variedade Lee, produto de cruzamentos (CNS x S-100) iniciados na década de 49 no Mississippi pelo pesquisador norte-americano Edgard Hartwig (1923-1996). Era uma variedade de soja não-deiscente, isto é, as vagens, quando maduras, não se abriam para lançar longe os grãos. Fruto do acaso, como costuma acontecer com as grandes descobertas, da Lee foi fundamental para a intensificação da colheita mecânica da soja no Brasil, ainda estava por estabelecer a tecnologia de grandes lavouras. As trilhadeiras estacionárias ou automotrizes eram usadas por uma minoria. A colheita era muito complicada, já que envolvia operações manuais como a bateção das vagens e a secagem dos grãos colhidos ainda verdes. Imcubindo de fazer a Campanha da Soja na chamada região mogiana, especialmente nos municípios de Orlândia, São Joaquim da Barra, Itupeva, Miguelópolis e Guaíra, Shiro Miyasaka encontrou excelentes parceiros de campo como os irmãos Hirofume e Massamori Kage de Guaíra, Takaiuki Maeda em Itupeva e vários membros da família Junqueira, em Orlândia. Nessa última cidade fora fundada em 1952 a Companhia Mogiana de Óleos Vegetais (Comove), inicialmente voltada para o algodão, depois para o arroz e, por último, para a soja. Havia muita gente interessada e disposta a ajudar nas pesquisas. Em Jaguariúna, perto de Campinas, a Campanha da Soja contou com o respaldo dos japoneses que cultivaram arroz para fabricar saquê na Fazenda Monte d’Este. Igualmente abertos eram agricultores holandeses da Holanda, também em Jaguariúna. Eles ajudaram o pessoal do IAC a testar máquinas de colheita importadas da Europa. Em Matão, junto a Araraquara, estabelecera-se um núcleo de pesquisa amparado pela Fundação Rockefeller, que nessa época financiava a Revolução Verde comandada pelo geneticista Norman Borlaug, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1970 pelos melhoramentos obtidos principalmente com o trigo. A base de Matão daba ênfase especial ao emprego de calcário de adubos fosfatados. VANGUARDA CAMPINAS-PELOTAS Fora de São Paulo, o mais consiste trabalho de pesquisa era realizado no Rio Grande do Sul, onde já havia uma base de informações apuradas em meia dúzia de estações experimentais – umas do estado, outras da União. Desde 1948, por exemplo, a Secretaria da Agricultura matinha em Veronópolis, na chamada estação experimental das colônias (de imigrantes), alguns ensaios de comportamento de variedades sob diferentes espaçamentos e volumes de adubação. Em 1951, o agrônomo Francisco de Jesus Vernetti (Pelotas, 1925) foi colocado à frente das pesquisas com soja no Instituto Agronômico do Sul(IAS), órgão do Ministério da Agricultura sediado em Pelotas, município com tradição vanguardista equivalente à do paulista Campinas na área agrícola. No início, Vernetti se preparou em testar variedades que pudessem ser cultivadas em consórcio com o milho nas roças dos produtores minifundiários do noroeste gaúcho e do oeste catarinense. Em seus ensaios, experimentava material genético disponível em centros de pesquisa existentes no Brasil, principalmente Campinas, Júlio de Castilhos e Veranópolis. Também testava sementes recebidas diretamente dos Estados Unidos, onde fez mestrado (em Purdue). A partir de 1957, começou a freqüentar reuniões técnicas sobre soja, promovidas pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul em convênio com o Instisoja. No final da década de 50, já tinha iniciado a formação da equipe que mais tarde faria funcionar a rede de pesquisa federal na região Sul, com campos experimentais de Pelotas, Passo Fundo, Caçador (depois Chapecó), Ponta Grossa e Maringá. SANTA MARIA A década de 50, cheia de inovações para os brasileiros, ainda não havia acabado quando o pessoal do IAC começou a fazer ensaios sob baixas temperaturas na estação experimental de Pindamonhangaba, no vale do Paraíba, região tradicionalmente produtora de arroz irrigado em várzeas de aluvião. Testada pelo agrônomo Geraldo Guimarães (Conchas, 1924) no inverno de 1958, uma variedade forrageira coletada em Minas Gerais, de origem desconhecida, revelou comportamento absolutamente diferente: crescia normalmente naqueles dias curtos, fugindo do padrão da soja, planta que vegeta em dias longos e floresce quando detecta que a noite começa a se tornar mais longa do que o dia. “Variedade pouco sensível ao fotoperíodo”, registrou friamente Miyasaka, sem imaginar que aquela planta taluda, de sementes pretas, abriria a caminho o caminho à tropicalização da soja. Bem que Shiro Miyasaka tentou lhe dar um nome significativo: Karutoby, alimento ver, em tupi-guarani. O nome que ficou foi outro, já usado anteriormente em Minas: Santa Maria. Pesquisas realizadas mais tarde não chegaram a uma conclusão sobre suas origens. No máximo, descobriuse semelhança com sementes de procedência filipina introduzidas nos Estados Unidos. A partir do comportamento da Karutoby-Santa Maria, os melhores confirmavam que era mesmo possível selecionar sementes adaptáveis a quaisquer latitudes. Então, aproveitando a rede de pesquisa montada informalmente no país, intensificaram-se entre os técnicos os testes de novas variedades. Começou assim a preparação para o futuro avanço sobre o cerrado inculto dos estados Centro-Oeste. Já havia a intuição de que a leguminosa poderia dar certo no cerrado, mas ninguém vislumbrara ainda a explosão que viria nos anos seguintes. Pelo contrário, o solo dos cerrados, rico em alumínio, tinha fama de ser tóxico demais para as plantas. Na verdade, tateava-se no escuro. A própria história da Karutoby-Santa Maria parecia uma brincadeira da natureza com os técnicos, que atiravam num alvo e acertavam em outro. Shiro Miyasaka reconheceu que um dos abjetivos do experimento de Pindamonhangaba era testar a produção de uma forragem de inverno para o rebalho de gado leiteiro do vale do Paraíba... Naquele momento, em São Paulo, a soja era muito falada e pouco plantada. A rigor, apenas no Rio Grande do Sul ela podia ser considerada uma lavoura comercial, graças à exportação e à demanda da indústria de óleo. A REBOQUE DOS PRODUTORES O agrônomo Jamil Feres (Bagé, 1930), que dirigiu a estação experimental de Veranópolis de 1961 a 1971, estabelece o ano de 1963 como “o verdadeiro marco” da evolução da pesquisa da soja no estado do Rio Grande do Sul. Segundo ele, além do trabalho do Instisoja, pesou naquele instante a decisão do governo federal de destinar recursos para o plantio de trigo. Entretanto, Feres recorda que, pelo menos em seu estado, os pesquisadores tinham então pouco respaldo das instituições onde trabalhavam. “Tudo dependia essencialmente do esforço de cada um”, diz ele. Contratado em 1964 para trabalhar e Passo Fundo, Emídio Rizzo Bonato (Marau, 1942), formado em agronomia em Pelotas, lembra que nessa época, no Rio Grande do Sul, os pesquisadores andavam a reboque dos produtores, que lhes cobravam resultados. Abertos, à mecanização das lavouras, os sojicultores era naturalmente receptivos às inovações técnicas. Foi demanda do campo que, em meados da década de 60, forçou a implantação de um programa federal de melhoramento por hibridação. O foco principal das pesquisas, coordenadas pelo Ipeas (novo nome do velho IAS), era maior rendimento das colheitas, mas se buscavam também novas informações sobre adubação, espaçamento, controle das chamadas ervas daninhas e combate as pragas e doenças. Ao lado de Bonato, nas estações experimentas do Sul, já trabalhavam uma numerosa equipe que apresentaria os primeiros resultados concretos no final da década de 60, quando foi lançada a cultivar Campos Gerais (Arksoy x Ogden), de ciclo curto (108 dias), indicada par a rotação com o trigo no Paraná. Em 1971, como o resultado do mesmo trabalho, saiu uma cultivar para Santa Catarina, a IA-3 Delta (Ogden x CNS), de ciclo longo (155 dias). Em 1972, as duas primeiras para o Rio Grande do Sul, IAS-1 (Jackson x D49-2491) e ias-2 [Hill x (Roanoke x Ogden)]. RAINHA DO CERRADO A Universidade Federal de Viçosa entrou no jogo em 1963, quando montou um projeto de pesquisa de adaptação da soja ao cerrado, com base num acordo tecnológico com a Purdue University, dos Estados Unidos. Situada numa região pouco propícia à agricultura mecanizada, perto de Belo Horizonte, a UFV arranjou com agricultores do Triângulo Mineiro uma área de 100 hectares no municipio de Capinópolis. Ali implantou um centro de experimentação, pesquisa e extensão, com resultados práticos já em 1969, ano do lançamento da Mineira e da Viçoja. Ambas são irmãs (por parte da variedade Improved Polican, introduzida no Brasil em 1951 por José Gomes da Silva) e provêm de sementes selecionadas de cruzamentos feitos nos Estados Unidos. A Mineira é parente da Santa Rosa, divisória de águas no Brasil. A Viçosa aparenta-se com a Lee, considerada uma espécie de marco divisório da história mundial da soja. Ampliada depois com variedades identificadas com o prefixo UFV, a genealogia mineira da soja produziu dezenas de sementes próprias para o Centro-Oeste. Foi de Viçosa que saíram a maior parte das sementes usadas pelo “rei da soja” Olacyr de Moraes na Fazenda Itamarati, no Mato Grosso do Sul. A maior estrela originária de Minas, porém, foi a Cristalina, testada em solo próximo de Brasília. Lançada comercialmente em 1981 tem a marca de seu criador, o agrônomo paranaense Francisco Terasawa (Ponta Grossa, 1939). Formado em Curitiba em 1963, Terasawa trabalhou no departamento de pesquisa agropecuária do Ministério da Agricultura, em Londrina, até 1972, quando, ao trocar o serviço público pela iniciativa privada, fundou a FT Pesquisas e Sementes. Nesse ano comprou em Douradina, MS, sementes resultantes da primeira multiplicação da variedade UFV-1. Semeou-as em seu sítio em Londrina e selecionou seis plantas que destacaram no conjunto. Denominou-as M-2, M-3, M-4, M-5, M-6 e M-7, promovendo a seguir cruzamentos com variedades norte-americanas. Da cruza da M-4 com a Davis nasceu enfim a FT-Cristalinam testada na Fazenda Vareda, aberta em 1972 em Cristalina pelo fazendeiro paulista Luiz Souza Lima (Mococa, 1915), um dos pioneiros da soja no cerrado goiano. Da mesma época e de linhagens semelhantes são as variedades Tropical e Doko, esta uma homenagem a Toshi Doko, presidente da Federação das Entidades Empresariais do Japão, entusiasta no plantio da soja no noroeste de Minas Gerais. Lançada pela Embrapa, as duas são frutos de cruzamentos (Hill x PI 240664, de origem filipina) iniciados na década de 60 em Campinas e concluídos em Londrina. POLARIZAÇÃO TÉCNICA Essas semanas híbridas próprias para o cerrado brasileiro estabeleceram novos parâmetros de rendimento agrícola. Técnicos que trabalhavam para o IAC no cerrado do nordeste paulista contam que, no início da década de 60, por exemplo, quando a variedade mais cultivada em Orlândia era a americana Pelican (que entrou em São Paulo em 1951 pelas mãos de José Gomes da Silva), dava-se como “popudo” um produtor de sementes que afirmava colher “70 sacas por alquiere”, isto é, cerca de 1.800 quilos por hectare (o rendimento nacional médio foi de 1.100 Kb/há em 1962). Em seguida, no início da década de 70, quando a variedade Santa Rosa “voltou” triunfante ao solo paulista, o patamar dos campos de sementes da Alta Mogiana mudou significativamente, tanto que passou a considerar-se “atrasado” quem não conseguisse pelo menos “80 sacas por alqueire”, cerca de 2.000 kg/há (em 1972 o rendimento nacional médio foi de 1.690 kg/ha). Com as variedades híbridas modernas adequadas ao cerrado, os campos de melhoramento de sementes dobraram o rendimento. Hoje, enquanto a média brasileira chegou a 2.221 kg/há na safra 1994/95, as lavouras do Centro-Oeste brasileiro produzem rotineiramente médias próximas a 2.500 kg/ha. Com o sucesso dos mineiros no cerrado, definiram-se três frentes de melhoramento da Glycine max no Brasil: a de Viçosa, a de Campinas e a dos pesquisadores do Ministério da Agricultura, distribuídos principalmente no eixo Londrina-Maringá-Ponta GrossaCuritiba-Caçador-Joaçaba-Passo Fundo-Cruz Alta-Pelotas. Ainda que a maioria dos agrônomos fosse umbuída do espírito aberto que move os cientistas, havia uma dificuldade para o intercâmbio de dados: a estrutura burocrática de órgãos públicos situados em regiões distintas, uns subordinados à União e outros a estados, cada um com sua história particular e interesses específicos. Além disso, reinavam “climas” diferentes entre as instituições e suas respectivas regiões. Por aí se compreende o papel de “tertius”desempenhado por Viçosa. Além de distante geograficamente, o pessoal mineiro entrou tardiamente num jogo paralisado pelo IAC em Campinas e os Ipeas em Pelotas. Como “capitais do interior” dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, Campinas e Pelotas possuíram afinidades culturais, mas entre paulistas e gaúchos pairava a sombra de desavenças políticas nascidas em 1930, quando Getúlio Vargas comandou o golpe que destituiu o presidente Washignton Luís. De alguma forma, tais rivalidades ajudavam a manter certa distância entre instituições que, no fundo, tinham o mesmo objetivo: enriquecer a agricultura do Brasil. SEM FRONTEIRAS Em 1965, quando se tornou o chefe da Seção de Leguminosas do IAC, Shiro Miyasaka arranjou um financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) para intensificar as pesquisas do cultivo da soja no Brasil. Foi um contrato duradouro e frutífero. O BNDE começou ali um esforço que levaria a fazer diversos investimentos na agricultura e na agroindústria, nas décadas de 70 e 80. Shiro Miyasaka revelou-se um bom executivo de pesquisa, tanto que na década de 70 foi para o Rio de Janeiro assessorar a direção do BNDE (que havia criado uma agência de financiamento batizado com o nome de Finep) no desenvolvimento de projetos agropecuários e de produção de fertilizantes no Centro-Oeste. Quanto à soja, o pioneiro financiamento do BNDE fez o IAC dar um salto. Miyasaka mandou construir estufas novas, comprou dias camionetas e reforçou a equipe técnica com a contratação de uma nova safra de agrônomos. Entre os escolhidos estava Romeu Afonso de Souza Kiihl (Caconde, 1942), filho de um alfaiate, recém-formado em piracicaba com o patrocínio da Associação Cacondense Pró-Bolsa de Estudo. Imcumbido logo de cara de uma grave missão – aprofundar os estudos sobre variedades “pouco sensíveis ao fotoperíodo” – Kiihl foi colocado em contato com Geraldo Guimarães , o agrônomo que trabalhara com variedade Santa Maria na estação experimental de Pindamonhangaba. Não havia mais grandes ensaios com soja por ali, até mesmo porque a estação fora criada em 1952 pela Secretaria de Obras para ajustar nos estudos sobre o caprichoso regime das águas do rio Paraíba. Outra tarefa foi viajar ao Sul para coletar sementes. Ali, Kiihl conheceu Juarez Gutterres, melhorista da variedade Santa Rosa. Na mesma época, em 1966, conheceu Edgard Hartwing, o descobrir da Lee, aquela que não abria a vagem. Tudo parecia convergir para o cerrado. Em viajem ao núcleo de pesquisa de Matão como consultor da Fundação Rockefeller, Hartwing dispôs-se a acolher Kiihl como mestrando em Leland, no Mississippi. No final de 1996, depois de passar no exame de seleção da primeira turma de dez bolsistas brasileiros de agronomia financiados pelo governo americano em sua “aliança para o progresso” dos países da América Latina, lá se foi Kiihl estudar com o mais importante melhorista de soja surgido nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. “Foi um privilégio”, afirma Kiihl, que ficou dois anos lá. A bolsa era de apenas US$ 150 por mês. Casado e sem filhos, Hartwing “adotou” Kiihl, a quem ajudava sobretudo nos sábados pela manhã, fora do expediente administrativo normal. Orientou o brasileiro especialmente na pesquisa de cruzamentos que ajudariam o Brasil a encontrar variedades adptáveis e várias latitudes, do paralelo 30 (Rio Grande do Sul) ao paralelo 4 (Maranhão). Curador do banco de germoplasma do sul dos Estados Unidos, baseado na Delta Branch Experimental Station, em Stoneville, no Mississippi, Hartwing ajudou também outros brasileiros. Seu “protecionismo” ai Brasil não era bem visto por agricultores que financiavam as pesquisas. Otavio Tisselli Filho (Campinas, 1948), diretor do IAC, cujo trabalho de mestrado levou adiante os estudos de Romeu Kiihl – foi Tisselli quem denominou “período juvenil longo” o que Kiihl chamava de “florescimento tardio em dias curtos” -, lembra que muitos agricultores americanos questionavam objetivamente a presença de tantos agrônomos brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que a ajuda dos cientistas ianques poderia ajudar a estabelecer futuros concorrentes com outros países. Hartwing ligava para as pressões e abria suas anotações aos brasileiros. Convicto de que a ciência não tinha fronteiras, acreditava na expansão da soja para modernizar a agricultura no mundo. HISTORINHAS DO SERTÃO Quando voltou dos Estados Unidos em 1968, Romeu Kiihl incorporou-se novamente ao IAC, onde continuou o trabalho de seleção de variedades “para todo o Brasil”. Espontâneo ou institucionalizado, o intercâmbio dos técnicos brasileiros, no Brasil e nos Estados Unidos, levou a criação, em agosto de 1971, da Comissão Nacional da Soja do Ministério da Agricultura, da qual Francisco de Jesus Vernetti foi o coordenador por vários anos. Dessa comissão, responsável pelo lançamento das variedades da série BRdas mais antigas, a BR-1 e a BR-4 continuam sendo recomendadas até hoje -, participavam os pesquisadores do Ipeas, técnicos de secretarias estaduais da Agricultura (incluindo-se o IAC) e também professores de faculdade de agronomia. Isso, sem contar o pessoal americano de uma missão técnica voltada para o treinamento e a capitação dos brasileiros. Sediada em Porto Alegre, junto ao Ipagro, onde tinha como interlocutor oficial o microbiologista do solo João Rui Jardim Freire (Rio de Janeiro, 1920), a missão era chefiada por Roger Benson, especialista em fertilidade dos solos; os demais eram Gleen Davis (plantas daninhas), Harry C. Minor (fitotecnia), S.G. Turnipseed (insetos) e Paul S. Lehman. A multiplicação das sementes era feita em lavouras de produtores-modelo sempre dispostos a colaborar com a vanguarda técnica. Romeu Kiihl, bússula sempre apontando para o Centro-Oeste/Norte-Nordeste do Brasil, conta uma histórinha típica dessa coalizão entre pesquisadores e produtores: – Em 1972 pedi ao Massamori Kage que plantasse uma linha de sementes IAC-73/2736 ao lado de sua lavoura de soja na Fazenda Vera Cruz, em Guaíra, no cerrado de São Paulo. Ele plantou – ao lado da variedade Hardee. Era um experimento banal, mas deu resultado. Tempos depois ele me enviou um pé de soja que se destacara dos outros. Era uma mutação mais alta. Pois bem, esse pé de soja é o pai de algumas variedades boas para o Norte/Nordeste do Brasil: BR-10 Teresina, BR-11 Carajás, BR-33 Seridó... Emidio Bonato, outro sócio miliante do clube da soja, afirma que sem essa integração as pesquisa com a lavoura não teria sido possível adptar em tão pouco tempo variedades do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul. Hoje há tantas variedades disponíveis – por região, com variações de ciclo vegetativo (curto, médio ou longo) e resistência a doenças – que os pesquisadores acham graça do tempo em que os agricultores não contavam com muita coisa além da Santa Rosa. E cada variedade tem sua historinha particular, com os pais, local de casamento e padrinho. Veja-se o perfil sucinto de uma variedade testada nos anos agrícola 1973/74, no sertão do Cariri, no município de Sapé, na Paraíba, por um técnico da Sanbra, a pedido de Romeu Kiihl, que lhe deu sementes de IAC-73/2736. Experimento banal: os grãos foram plantados ao lao de uma lavoura da variedade Bragg. No meio daquele bloco despretensioso veio uma planta-destaque. Kiihl recruzou as sementes dessa planta por três vezes com a Bragg. Depois mais uma com a Bragg e outra com Santa Rosa. Resultado: BR-27 Cariri, uma das cultivadas no Maranhão. LONDRINA, CAPITAL TÉCNICA A pesquisa da soja já tinha alcançado indiscutível grau de maturidade quando, em 1973, foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A nova instituição demorou a sair do papel, pois desencadeou uma luta política nos bastidores dos órgãos científicos comandados pelo Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária, do Ministério da Agricultura. Boa parte dp impasse adveio da criação no mesmo momento, com recursos do Instituto Brasileiro do Café (IBC), do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), com sede em Londrina, onde, como desdobramento dos Ipeas, já funcionava o Ipeame, originário da subcomissão técnica meridional do trigo, criada na década de 60. Em Campinas, o IAC ficou longe da disputa. Pelotas, Passo Fundo, Cruz Alta, Ponta Grossa não chegava a se declarar condidatas mas, no fundo, todas queriam ser a capital técnica da soja. Mais do que distante, a escola de Viçosa ficou neutra na história. Naquele exato momento, o agrônomo mineiro Allyson Paulinelli (Bambuí, 1936), formado na faculdade rival de Lavras, foi escolhido o ministro da Agricultura do governo do general Ernesto Geisel (1974-1979). Na virada de 1973 para 1974, recém-contratado pelo Iapar, José Tadashi Yorinori (Londrina, 1943)embarcou no norte do Paraná numa velha camioneta rumo ao centro de Minas. Missão: buscar em Viçosa sementes para iniciar a coleção de soja do Iapar. Estava tudo combinado, mas à última hora foi avisado de que a direção da escola decidira não colaborar. De mãos vazias, na volta para Londrina Yorinori passou em Campinas, reuniu o material genético necessário no Instituto Agronômico e, de quebra, ganhou a adesão de Romeu Kiihl, que decidiu se transferir para o Iapar. Por causa da incerteza e das mudanças, que se arrastavam em meio a um processo de barganhas regionais, houve entre 1973 e 1975 um hiato na pesquisa agrícola brasileira. O impasse acabou em 1976, quando, enfim, Londrina foi confirmada como sede do Centro Nacional de Pesquisa de Soja. Instalado inicialmente na sede do Iapar (que abdicou da pesquisa da soja, concentrando-se em outras culturas, especialmente o trigo), o CNPSo passou a coordenaro trabalho desenvolvido em várias regiões por diversos órgãos públicos federais, estaduais e privados. O primeiro chefe foi o gaúcho Francisco de Jesus Vernetti, substituído por outro gaúcho, Emidio Bonato, que ficou dez anos no cargo. Os dois continuaram trabalhando com a soja em bases regionais da Embrapa: Vernetti em Pelotas, Bonato em Passo Fundo. Os resumos informativos do CNPSo, em quatro volumes, publicados em 1977, foram um primeiro esforço de organizar o acervo de pesquisa existente em torno da Glycine max. Em paralelo, o IAC promoveu uma maratona nacional para produzir o livro A Soja no Brasil, coordenado por Shiro Miyasaka e Julio Cesar Medina. Com mais de mil páginas, publicado em 1981 sob patrocínio da Fundação Cargill, condensa praticamente tudo o que a ciência brasileira sabia sobre a soja até a entrada na década de 80. Escrita por centenas de mãos, essa grande obra cumpriu um papel curativo, ajudando a apaziguar os conflitos regionalistas surgidos na década de 70. As dissidências remanescentes foram enterradas nos anos seguintes pela própria carreira brilhante da soja. Mesmo depois de podada pelo processo de desmontagem da máquina estatal desencadeado a partir do fugaz governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), a Embrapa manipula recursos equivalentes a 1% do produto Interno Bruto do Brasil e lidera os esforços para criar um novo modelo de pesquisa em parceria com iniciativa privada. O exemplo mais promissor nesse campo é a fundação MT, criada no início da década de 90 em Rondonópolis, a “capital da soja” no Brasil Central. Vinculada à Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso, da qual faz parte Blairo Maggi (o novo “rei da soja”), a Fundação MT tem como diretor técnico Dario Miniru Hiromoto (Marília, 1963), da nova safra de agrônomos do CNPSo. PRÊMIO NOBEL Hoje, 20 anos depois do início da operação efetiva da Embrapa, pode-se dizer que geneticamente já não tem mais utilidade, a não ser como curiosidade histórica e reserva eventual de germoplasma, a soja que deu a arrancada na moderna aventura agrícola brasileira. Cruzadas e recruzadas, as variedades primitivas transmutaram-se em grãos especializadíssimos, com maior produtividade e diferentes respostas a especificidades regionais, climáticas, edáficas e biológicas. Segundo Tuneo Sediyama, em palestra dada para agricultores e técnicos e setembro de 1996 em Capiópolis, a produtividade da soja no Brasil Central tende a aumentar nos próximos anos da faixa de 2.200 kg/há para mais de 3.000 kg/há. Pesquisam-se agora sobretudo variedades mais resistentes, já que a partir dos anos 90 a soja precisa se livrar da terrível herança – doenças e pragas – deixada pela monocultura. Nos últimos seis anos seis novas doenças ou pragas espalharam-se pelas lavouras de soja do Brasil. As piores são o cancro da haste (que causou prejuízos de US$ 500 milhões aos agricultores brasileiros no período 1989/96, segundo estimativas do CNPSo) e o nematóide de cisto (prejuízos de US$ 150 milhões, idem). O estado mais castigado foi o Rio Grande do Sul. Entretanto, nem só da genética vive as pesquisas em torno da soja. Além de ter ela própria evoluído, a soja provocou mudanças profundas no comportamento dos pesquisadores e até em as visão da ciência, cada vez menos segmentada e mais aberta a uma visão da ciência, cada vez menos segmentada e mais aberta a uma visão global. Por ter arrancado com a máxima tecnologia disponível, a soja abriu caminho para o melhoramento de outras culturas, especialmente o trigo, o milho e o feijão. E se por um lado desfez a lenda da inaptidão agrícola dos cerrados, por outro ajudou a dar nova dimensão à bioquímica dos solos. Já no início das atividades do grupo de Zé Sojinha no Instituto Agronômico, por volta de 1950, havia técnicos que pesquisavam o uso de inoculastes na cultura da soja. As descobertas em torno da fixação de nitrogênio por microorganismos do solo fizeram da tcheca Johanna Döbereiner, contratada pela Embrapa de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, uma das maiores estrelas da pesquisa agropecuária do brasil. Fala-se em mais de US$ 1 bilhão quando se procura avaliar a economia de fertilizantes trazida pela seleção de risórios feita pela equipe de Döbereiner para a cultura da soja (e da cana-de-açúcar). Independentemente do fato de ter contribuído para a redução dos custos de produção da soja, esse trabalho é tão importante para a ciência em geral que em 1996 Döbereiner foi indicada por cientistas do Brasil e deu outros países para receber o Prêmio Nobel da de Química. Seu trabalho silencioso deu novo status à pesquisa sobre aspectos não vinculados aos chamados insumos modernos (sementes, adubos, defensivo agrícolas e máquinas), naturalmente privilegiados pela influência norteamericana sobre a agropecuária brasileira. Por exemplo: graças ao emprego do baculovírus no combate à lagarta da soja, de acordo com a técnica desenvolvida a partir de 1983em Londrina pelo agrônomo paulista Flavio Moscardi (Lucélia, 1949), cresceu no Brasil o uso do manejo biológico de pragas. O baculovírus é usado em cerca de 10% da área da lavoura brasileira de soja. O uso de métodos naturais de controle de pragas e doenças não se identificou apenas como forma de baratear os custos de produção da soja, mas como forma de baratear os custos de produção da soja, mas como uma reação ao abuso na utilização de produtos químicos na lavoura. Também fruto de trabalho técnico realizado no CNPSo pela pesquisadora Beatriz Correa Ferreira (Encruzilhada do Sul, 1949), a inovação mais recente nesse terreno é o uso da vespinha no combate ao percevejo da soja A APOSENTADORIA DO ARADO Ao mesmo tempo em que intensificou o uso do arsenal tecnológico da agricultura moderna – adubos, agroquímicos, sementes selecionadas, máquinas e diversos sistemas de manejo -, a soja desencadeou uma virada para o emprego de novos métodos, hoje identificados como parte da agricultura dita sustentável. Ao romper os limites da pequena propriedade e ocupar lavouras mais amplas, a sojicultura levou ao máximo a utilização dos instrumentos agrícolas de preparo e cultivo do solo. Provocou o aperfeiçoamento do arado, gerando grades, subsoladores e escarificadores. Houve um momento, na década de 70, em que a lavoura-modelo era aquela onde, antes do plantio, o solo fica absolutamente exposto, sem vegetação ou torrões. O uso predatório do solo por essa agricultura de vanguarda gerou uma onda crítica que progrediu apesar de navegar contra os interesses imediatos da indústria de máquinas e implementos. Essência no exngurgamento dos solos gelados dos países europeus, de onde foi importado pelo Brasil no século 19 como o símbolo da agricultura moderna, o arado começa a ser dispensado como um instrumento nefasto, responsável pela depreciação do principal patrimônio do produtor – a terra. As perdas de solo verificadas em virtude do sistema convencional de preparo da terra abriram caminho para inovações que levaram ao outro extremo - o desenvolvimento da técnica do plantio direto. Se antes a recomendação era para resolver ao máximo a terra, agora é o contrário: quanto menos mexer, melhor. O plantio direto (no-tillage) foi desenvolvido nos Estados norte-americanos da Carolina do Norte, Mississippi e Ohio nos anos 60. No Brasil iniciou-se em 1972 com o técnico Milton Ramos em Ponta Grossa, registraram-se experiências pioneiras do agricultor Nonô Pereira. Nesse mesmo ano o produtor Herbet Bartz importou máquina de plantio direto dos Estados Unidos para sua fazenda em Rolândia, onde a multinacional Zeneca (ex-Imperial Chemical Undustries/ICI) montou uma experiência-piloto para testar o uso de herbicidas (dessecantes vegetais, segundo a nova terminologia química) no controle de invasoras (ex-plantas daninhas). A mudança foi lenta nos anos 70 e 80, mas a mecanização intensa se reduziu à medida que ficaram claras as perdas de solos medidas pelos técnicos. No ano agrícola 1976/77, em latossolo roxo distrófico com 7% de declive, no Rio Grande do Sul, constatou-se que lavoura de soja cultivada pelo sistema de plantio convencional no verão – quando há chuvas torrenciais – teve perda de 9,9 toneladas de terra por hectare, contra 2,7 t/he em lavoura de soja formada sobre a palha de trigo, também pelo sistema convencional. Quando o trigo foi cultivado pelo sistema convencional e a soja pelo método de cultivo reduzido, a perda caiu para 1,24 t/he. Com plantio direto a perda caiu para 0,10 t/he. Ou seja, a erosão chega a praticamente zero com o plantio direto, que se impôs inicialmente como forma de defesa patrimonial e não como sistema de produção. Com base em diversos testes, o agrônomo Arcangelo Mondardo, do Iapar, pode escrever em A Soja no Brasil (Campinas, 1981): “Segundo o ponto de vista do controle de erosão e preservação do solo, deve-se optar por sistemas de preparo que induzam às seguintes condições: a) Incorporação dos resíduos culturais, ou sua permanência na superfície do solo; b) Redução das operações de preparo ao mínimo necessário para dar condições ao plantio e à germinação das sementes; c) Preservação da estrutura e agregados do solo, evitando preparos com solo muito úmido ou seco; d) Uniformização da área.” ADEUS A MONOCULTURA Na década de 90, agrônomos e produtores começaram a superar rapidamente as defesas contra o sistema de plantio direto. “Não podemos mais perder solos”, sintetiza o gaúcho José Ruedell (Santo Cristo, 1950), agrônomo da Fundação de Pesquisa e produtividade da Fecotrigo. Em Cruz Alta, onde vem conseguindo colocar em prática as idéias pregadas por José Lutzenberger, o líder ambiental mais conhecido no Brasil. Em algumas regiões do norte do Rio Grande do Sul, com terras arenosas em declive, as enxurradas de verão chegaram a carregar recém-cultivada, além de sementes e adubos. Segundo Ruedell, a produção de apenas quatro toneladas de cobertura morta reduz a praticamente zero a erosão. Além disso, a manutenção de uma camada de cobertura vegetal diminui a evaporação de água, contribuindo para manter no solo uma reserva de umidade útil para o desenvolvimento das plantações. As descobertas sobre o plantio direto têm não apenas fundo ecológico, mas base econômica. Além de reduzir em 40% o uso de sementes, esse sistema abate em 40% o número de horas trabalhadas com trator. Segundo a Fundação ABC, de Ponta Grossa, em 10 anos o plantio direto conseguiu uma redução de 28% no custo fixo da produção de soja. Entretanto, por implicar numa redução de uso de adubos, o receituário técnico oficial ainda não incorporou totalmente as recomendações do plantio direto. Já presente em 30% das lavouras gaúchas e em fase de introdução no cerrado, o plantio é o alvo de diversas pesquisas conduzidas por técnicos aliados e produtores e fabricantes de implementos agrícolas. Em 1978 a Embrapa criou um setor de mecanização visando desenvolver semeadeiras próprias para o plantio direto em parceria com agricultores e indústrias de máquinas. Até então, antes do cultivo da soja em campos de trigo, era prática comum a queima da palhada. “O pessoal chegava a fazer sete gradeações para acabar com os torrões e completar o preparo do solo para o plantio”, lembra José Denardin, Do Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, de Passo Fundo. Para coibir essa prática, os técnicos da Emater gaúcha conseguiram que o Banco do Brasil retardasse a concessão de financiamentos aos agricultores adeptos das queimadas. A campanha “Quem queima, se queima” foi um marco da conscientização em torno da conservação do solo no norte do Rio Grande do Sul. O maquinário antes usado no preparo do solo foi adaptado para funcionar na semeadura direta. Fábricas que trabalhavam com implementos de preparo do solo perderam terreno ou se converteram em fábricas de semeadeiras. O plantio direto assumiu ares indiscutivelmente vitoriosos em meados da década de 90. Ainda assim, os técnicos se preocupam porque, se reduziu a erosão, a nova técnica de plantio intensificou o uso de herbicidas. Verdadeiros substitutos do arado, os dessecantes vegetais registraram uma explosão de consumo. O Roundup, fabricado pela Monsanto, que vendia 65 mil litros em 1993, passou de 1 milhão de litros em 1996. Em 20 anos, seu preço caiu de US$ 25 para US$ 6 o litro. O maior controle ambiental impôs uma evolução técnica que transformou esses agrotóxicos em substância biodegradáveis, com menores riscos para a saúde humana e o equilíbrio ambiental. De qualquer forma, reduzir o uso de agroquímicos continua sendo um alvo dos técnicos, crescentemente sensíveis ao uso de métodos operacionais. O uso de calcário, por exemplo, pode ser substituído pela produção de matéria orgânica, fruto da integração de diversas culturas, inclusive a pecuária. “Sojicultor isolado não existe mais”, afirma José Ruedell. Convencido de que, junto com o plantio convencional, vai desaparecer também o maior mal trazido pela lavoura da soja: a monocultura. “ALIMENTO DE POBRE” A esse elenco de inovações tecnológicas deve-se somar o progresso feito na área alimentícia. Na década de 90 começaram a cair as barreiras colocadas nas décadas anteriores contra o uso da soja na alimentação dos brasileiros, que desenvolveram o preconceito segundo o qual a leguminosa chinesa nunca seria mais do que merenda insossa para escolares pobre ou suplemento para trabalhadores subnutridos (Ital), de Campinas, nascido do IAC na década de 60, esmerou-se no esforço para viabilizar subprodutos do grão. Teve sucesso técnico, mas comercia não. Hoje, uma das vanguardas da pesquisa da soja está na Universidade Federal de Viçosa, que tenta levar ao extremo o modelo de pesquisa financiada diretamente pela indústria, Subsidiado pela Nestlé, o professor Maurílio Moreira (1952) anunciou em meados da década de 90 ter chegado a uma variedade de soja “sem sabor”, isto é, isenta do gosto provocado pela oxidação do ácido linolênico. A difusão dessa loja especialíssima aguarda o desfecho do debate no congresso brasileiro sobre a legislação de patentes tecnológicas. De qualquer forma, como as conquistas genéticas obtidas em determinada área não têm o mesmo efeito em outras regiões, cada centro de pesquisa precisa percorrer o mesmo caminho do pesquisador pioneiro para chegar aos mesmos resultados – os quais serão válidos apenas numa localidade ou região. Em Pelotas, por exemplo, o veterano Francisco de Jesus Vernetti está procurando adaptar para a realidade do sul gaúcho as descobertas de Maurílio Moreira, válidas para o contexto mineiro. Em Londrina, Mercedes Carrão-Panizzi, José Marcos Mandarino e José Renato Bordignon forma o núcleo encarregado pela direção da Embrapa de aprofundar a pesquisa sobre a soja como alimento remédio. A tendência é aproximar-se da corrente ultramoderna de pesquisadores que em outros países investiga o poder medicinal da soja. A rica composição química da Glycine max a coloca como instrumento fundamental na prevenção de alguns males contemporâneos como o câncer de mama, a hipertensão arterial e o excesso de colesterol no sangue. Por isso, entre outras coisas, é praticamente inimaginável o horizonte da investigação sobre a soja. UM SÍMBOLO DE SAÚDE “È realmente a soja o alimento mais completo que a natureza deu ao homem” (Afrânio do Amaral, médico, consultor da Organização Mundial da Saúde) No segundo semestre de 1996 a soja voltou a Esteio como uma das estrelas da maior festa gaúcha, a Exposição Internacional de Animais e Máquinas Agrícolas (Expointer). Enquanto os peões demonstravam as qualidades de milhares de animais e os fazendeiros conheciam novas máquinas e mil outras maneiras de levar à frente as atividades rurais, a Glycine max brilhava nos bastidores, como lhe é próprio: foi a protagonista central de um curso de culinária ministrado no estande do Ministério da Agricultura. A equipe do Centro Nacional de Pesquisa da Soja, de Londrina, que vem dando cursos semelhantes em exposições agropecuárias pelo Brasil afora, ficou satisfeita com o resultado do trabalho em Esteio. Em sete dias, eles ensinaram 80 pessoas a utilizar s soja na preparação de pães, biscoitos, molhos e outras receitas próprias para o paladar humano. O PARADOXO EM ESTEIO Voltas que o mundo dá para chegar ao mesmo lugar: menos de 40 anos atrás, quase nesse mesmo ponto onde agora se realiza a concorrida Expointer, a população de Esteio e os viajantes da BR-116 torciam o nariz para o cheiro enjoativo emitido pela primeira grande indústria de soja a operar no Brasil. A rejeição popular aos primeiros derivados da soja (óleo e margarina) era tão grande que a fábrica, pertencente ao grupo argentino Bunge y Born, colocou nas ruas um pequeno exército de demonstradoras, com a missão de difundir receitas e vencer a barreira criada pela ignorância. Hoje, cem fábricas depois, somente um grande paradoxo poderia fazer com que o Ministério da Agricultura voltasse ás origens com uma campanha artesanal para promover uma matéria-prima em forma de óleo, margarina, gordura hidrogenada e outros ingredientes, como a proteína texturizada e a lecitina. O paradoxo adquiriu de um verdadeiro tabu alimentar. Ainda hoje um sem-número de perguntas sem respostas atazana a paciência de autoridades, técnicos e empresário incapazes de explicar por que o brasileiro se comporta de maneira tão ambígua em relação à soja. À medida que abriu a cozinha aos produtos de industrialização da soja – uma matéria-prima indiscutivelmente vitoriosa na alimentação nacional -, ele se fechou ao consumo do grão em suas formas naturais. Estabeleceu-se assim um belo desafio a vários ramos da ciência moderna, da agronomia à engenharia de alimentos, passando pela medicina e a propaganda. Como lidar com um fenômeno que se confunde até mesmo com a rejeição que se atingiu os imigrantes japoneses, extremamente discriminados antes de conquistar o respeito dos brasileiros por suas disciplinas e dedicação ao trabalho? DIETA FORÇADA Tanto em Londrina quanto em outros centros da Embrapa, como o de Tecnologia Alimentar, em Seropédica, RJ, e até mesmo em outros locais onde se estuda o poder nutricional da soja, os técnicos voltam sem querer à pregação dos anos 50, quando se tentou colocá-lá à força, por meio de discursos e artigos, na dieta nacional. Naquele tempo foi uma espécie de moda cívica recomendar soja. O entusiasmo dos especialistas em alimentação nasceu da descoberta da rica composição química do grão de soja. Em média, ele tem 40% de proteínas, 35% de carboidratos, 20% de óleo e 5% de mineiras como ferro, zinco, manganês, potássio, cobre, fósforo e cálcio. Possui praticamente todas as vitaminas, menos a A e a C. Em quantidade, estima-se que a soja forneça três vezes mais proteína que os ovos, doze vezes mais que o leite e duas vezes mais que a carne o feijão. Além desses números extraordinários, contribuíram para a mitificação do poder alimentício da soja duas histórias espalhadas pela literatura do pós-guerra. A primeira dizia que o Japão invadiu a Manchúria na década de 30 para se apossar de estoques de soja e de terras para o cultivo de leguminosa chinesa. A segunda afirmava que o líder alemão Adolf Hitler só iniciou a guerra de 1939 depois de prover grandes estoques do grão (coincidentemente, a primeira exportação de soja brasileira foi feita para a Alemanha em 1938). Talvez influenciado por essas narrativas, o sociólogo Gilberto Freyre, deputado constituinte em 1946, chegou a pensar em alguma forma compulsória de consumo de soja para combater a desnutrição das populações pobre no Brasil. A idéia não vingou. Em 1955, a Organização das Nações Unidas para a agricultura e a Alimentação (FAO) indicou o precioso grão chinês como a base alimentar dos povos da América Latina e da África. Uma mesa-redonda realizada em 1956 na Secretaria da Agricultura de São Paulo emitiu um documento que terminava assim: “Conclui-se pela necessidade de ser incentivado o uso da soja na alimentação do brasileiro, inclusive através do enriquecimento da farinha de trigo”. PARA PORCOS E POBRES Embora mais voltada para a difusão do cultivo visando ao abastecimento da indústria de óleos vegetais, a Campanha da Soja criada em 1951 pelo agrônomo José Gomes da Silva no Instituto Agronômico de Campinas visou também ensinar o povo a consumir a leguminosa. Tanto que se articulou com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde se destacaria, nesse sentido, o trabalho do médico, especialista em nutrição humana, José Eduardo Dutra de Oliveira (São Paulo, 1927). Preocupado com o grave quadro de desnutrição na zona rural da região mogiana, Dutra de Oliveira pesquisou diversas maneiras de introduzir a soja em 68 municípios da região de Ribeirão Preto, inclusive na primeira festa da soja em São Joaquim da Barra, que foi a pioneira no Brasil”, lembra Dutra. A quem argumentasse que a soja não tinha gosto, ele citava o exemplo do feijão, leguminosa extremamente popular no Brasil e em alguns países da América Latina. “Quem dá gosto ao feijão é o tempero”, dizia, convencido de que era tudo uma questão de tempo. Ao invés de ajudar, a repetição de mensagens patrióticas sobre a riqueza alimentícia da soja parece ter contribuído para reforçar a prevenção despertada pelo cheiro característico dos primeiros óleos e margarinas. As tentativas de impor a “feijoada de soja”, a oferta de papas nauseabundas e outros piedosos esforços serviram para fortalecer a idéia popular de que, com seu “cheiro de sabão” ou seu “gosto de mato”, o grão oriental poderia ser uma excelente comida para porcos, mas jamais serviria como alimento humano, nem mesmo para os pobre. ALIMENTO E REMÉDIO Nos cursos, folhetos e demonstrações que faz em nome da Embrapa para técnicos em alimentação e o público em geral, o bioquímico industrial José Marcos Gontijo Mandarino (Belo Horizonte, 1959), do CNPSo, costuma bater na velha tecla: o Brasil está desperdiçando a possibilidade de alimentar melhor sua população. Para Mandarino, a soja foi introduzida de forma negligente em muitas campanhas de alimentação infantil. A distribuição de leite ou sopas mal feitas, por funcionários públicos mal treinados, usando ingredientes de má qualidade ou mal armazenados, deu ao produto uma imagem que não corresponde às possibilidades culinárias e medicinais da Glycine max , uma planta nutracêutica (capaz de servir como alimento o remédio). Grãos quebrados, ardidos ou machucados resultam sempre em produto ácido ou azedo. A má fama é, portanto, justificada, pois ninguém, muito menos as crianças, gosta de comer coisa ruim. A contradição continua de pé, mas já há algumas exceções. A mais notória é o leite ou extrato de soja, aceito como substituto do leite de vaca na dieta de crianças ou adultos com intolerância à lactose (açúcar do leite animal). Sabe-se que na dieta dos lactentes (dez zero a seis meses) o leite de soja suplementado com metionina, vitaminas e minerais equivale ao leite da vaca. Ainda existem dificuldades no preparo do leite vegetal, em virtude de falta de conhecimento sobre determinadas propriedades físico-químicas da soja. Por isso a Embrapa retomou como propriedade deste final do século a campanha agora chamada “Soja da Mesa”. A equipe de Londrina é pequena: dois bioquímicos (um deles, o mineiro Mandarino), uma agrônoma, uma tecnóloga e uma cozinheira; mas a missão é nobre: desfazer a má imagem da soja e firmá-la como ingrediente central na alimentação popular. REFRIGERANTE NUTRITIVO A primeira vez que se tentou industrializar o leite de soja no Brasil foi em 1959, quando uma indústria de laticínios de Mococa cedeu suas instalações ao IAC para um teste de produção de leite em pó. Foi essa uma das primeiras tarefas da nutricionista Lígia Pereira (Rio Claro, 1930), recém-contratada para ajudar na Campanha da Soja. O teste deu certo, mas o pó não prosperou por insuficiência de mercado. Apenas curiosos, praticamente, demonstravam interesse pelo produto. Em 1967, mesma indústria mocoquense lançou o Solein, um composto de leite de vaca e leite de soja (30%) embalado em tetrapak. Nessa experiência a fábrica foi orientada tecnicamente por Roberto Hermínio Moretti (São Roque, 1940), agrônomo contratado em 1961 para trabalhar na seção de tecnologia de alimentos do IAC, embrião do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), criado no final da década de 60. Para extrair o leite, Moretti usou o método chinês de moagem a frio com água e posterior aquecimento em autoclave. O Solein também não prosperou. Em 1969, enquanto o Ital começava em Campinas as pesquisas sobre o aproveitamento da soja como alimento humano, Moretti mudou-se para o Rio de Janeiro. Contratado pela Coca-Cola, interessada em desenvolver bebidas nutritivas para os países do Terceiro Mundo, montou num bairro da zona norte da cidade uma planta-piloto de beneficiamento de soja. Os grãos eram macerados por três horas a 60ºC e depois moídos. Obtido por centrifugação, o leite era em seguida aromatizado com sabor chocolate ou caramelo, enriquecido com nove vitaminas, esterilizado a 121ºC, embalado em garrafas de 200 ml com o nome Saci e vendido a Cr$ 0,5º (o mesmo valor da Coca) na zona norte do Rio de Janeiro. Durante dois anos o refrigerante vendeu o equivalente a 8% do consumo de Coca-Cola naquela zona carioca e abriu espaço para o desenvolvimento de outros produtos. Um deles foi o Samsom, produzido a partir da caseína do leite bovino e lançado em Paramaribo, no Suriname. Outro foi o Taí, um refrigerante com proteína de soro de queijo e gás carbônico, mais tarde introduzido no México com o nome de Samsom. INGREDIENTE SECUNDÁRIO Apesar de contar com o apoio de nutricionistas – inclusive do professor Dutra de Oliveira, a quem era enviadas amostras para testes de avaliação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -, a idéia das bebibas nutritivas da Coca-Cola também não prosperou no Brasil. Sem acesso ao consumidor pelo caminho normal da venda no varejo, restou à Coca a alternativa oficial. No final da história, a empresa desativou seu equipamento de produção de leite de soja e passou a fornecer um pó chamado Saci para as campanhas de merenda escolar iniciadas na década de 70. Para se abastecer, a Coca se tornou compradora de proteína isolada em pó, produto fabricado desde 1970 pela Samrig em esteio. Elaborado a partir do farelo (subproduto da extração do óleo) – do qual saem também a farinha desengordurada (com 50% de proteína) e o concentrado (com 70% de proteína) -, o isolado (90% de proteína) é um marco da inserção da soja como ingrediente secundário na indústria da alimentação. Ele foi lançado comercialmente nos Estados Unidos em 1966, na forma de proteína vegetal texturizada (PVT). No Brasil, entrou em 1975, quando algumas fábricas importaram equipamentos para produzi-la. Começou aí, em meados da década de 70, a brilhante carreira da soja como passageira de dezenas de fórmulas alimentícias. Quem lhe deu o passaporte foi o próprio governo federal, em reunião solene do Conselho de Desenvolvimento Econômico, em 1976, quando o presidente Ernesto Geisel (1974/79) acatou exposição de motivos de quatro ministros (Agricultura, Fazenda, Saúde e Indústria e Comércio) defendendo a adição de 5% da farinha da soja à farinha de trigo. Depois, por decreto de 1978, foi autorizada a adição de proteína de soja em produtos cárneos. Até 3,5% do peso dos produtos, é desnecessária a menção no rótulo. Se constar na embalagem, a adição pode ir até 22%. Por coincid~encia, é mais ou menos essa (em torno de 21%) a proporção do farelo de soja nas rações para animais, em que o ingrediente principal (na proporção de 65%) é o milho. Hoje, em suas várias formulações, a proteína da soja está presente em todos os produtos da panificação industrial, nos embutidos e enlatados, em doces e salgados, nos hambúrgueres e nas sopas prontas, nos achocolatados e nos matinais, nos molhos e nas maioneses, nas coberturas e nos recheios, nos iogurtes e nos congelados. Sem falar das rações. O sucesso dos derivados protéicos da soja vem de suas 15 diferentes propriedades funcionais: solubilidade, controle de viscosidade, geleificação, coesão e adesão, elasticidade, emulsificação, absorção de água, adsorção de óleos e gorduras, adsorção e ligação de flavorizantes, espumabilidade, formação de filmes, formação de fibras e controle de cor. Substituta de amidos e químicos usados antigamente, é a proteína de soja que dá estabilidade e durabilidade aos embutidos e outros alimentos industrializados. Sua mais surpreendente habilidade é que ela “pega” qualquer sabor que se queira adicionar aos alimentos. Um paradoxo num grão discriminado exatamente por ferir o olfato e o paladar humanos. BARREIRA DO SABOR O organismo público que mais investiu no desenvolvimento de produtos à base de soja foi o Ital. Já no início da década de 70, quando a engenharia de alimentos engatinhava no Brasil, seus técnicos criaram um equipamento para produzir o “extrato calóricoprotéico” (leite de soja), testado pela primeira vez em 1975 numa escola de MonteMor, pequena cidade próxima de Campinas. Entre 500 crianças de 6 a 14 anos a quem foi servido em sete sabores diferentes (chocolate, baunilha, groselha, banana, morango, coco e abacaxi), o leite chamado Vital, enriquecido com vitaminas e minerais, obteve um índice de aprovação de 72%. Em 1977 o Ital apresentou o Vital pasteurizado, de menor custo. Com base nele chegou a ser lançado em Campinas o leite Sojal. Apesar de ser mais barato do que o leite de vaca, não prosperou. Manteve-se a escrita: sem demanda comercial, os produtos da ital só receberam encomendas oficiais. No governo de Paulo Egydio Martins (1975-78), foi servido a gestantes atentidas pela Secretaria da Sáude o Gestal, um produto à base de proteína de soja. Apesar dos bons resultados como alternativa alimentícia – tanto que deu grande notoriedade à nutricionista Lígia Pereira, uma das pioneiras do Ital -, a experiência do Gestal não foi à frente. Em seu currículo consta que chegou a ser testado no Chile. Depois de voltar em 1973 para Campinas, onde passou a selecionar na Faculdade de Enegenharia de Alimentos, o engenheiro Roberto Hermínio Moretti só mexeu novamente com soja em 1977, quando foi procurado pela esposa do governador Garcia Neto, do Mato Grosso. Ela precisava de uma máquina grande para atender às necessidades de um grupo de senhoras rotarianas de Cuiabá que vinham produzindo leite de soja em casa, em liquidificadores, para ajudar na alimentação dos pobres da cidade. Moretti, que ia com frequência ao Mato Grosso como consultor do frigorífico montado ainda em 1977 no conjunto habitacional Grande Terceiro, de Cuiabá. Produzia 100 litros por hora com o mesmo processo desenvolvido antes para a Coca. O protótipo foi feito pela Indústria Campineira de Máquinas Agrícolas 9ICMA), que chegou a montar, em sociedade com Moretti, uma empresa chamada Indústria Campineira de Máquinas Alimentícias (ICMAL). Não foi adiante. A mesma máquina, agora com capacidade para produzir 200 l/h, foi desenvolvida em 1979 por Moretti nas instalações da Righetto, uma indústria de aparelhos de ginásticas de Campinas. Seus componentes essenciais eram: para o aquecimento da soja, uma cuba de pia; como centrífuga, o cesto de uma máquina de lavar roupas Brastemp; no trecho final, ficavam os acessórios de pasteurização do leite, adição de sabores e embalagem em sacos plásticos. Com um quilo de soja se faziam oito litros de soja. VACA MECÂNICA O primeiro desses equipamentos foi instalado numa cadeia desativada de Campinas. Na inauguração, o prefeito Francisco Amaral deu-lhe o apelido de “vaca mecãnica”. Foi um sucesso tão grande que a “vaca” chegou a ganhar, naquele ano, o prêmio dado pelo governador paulista Paulo Maluf ao “maior invento brasileiro”. A Partir daquele momento, a vaca de Moretti fez uma notável carreira pública. O próprio Maluf deu uma de presente para o então ditador paraguaio Alfredo Stroessner. Fidel Castro comprou três para usar em Cuba, onde, segundo consta, a robusta vaca campineira teria sido aperfeiçoada. O ministro Angelo Amauri Stabile, da Agricultura, doou vacas a vários municípios do Nordeste do Brasil. Esse esforço de popularização foi prejudicado pela franqueza do presidente João Batista Fiqueiredo (1980-85). Ele experimentou a leite em Brasília e o qualificou como “horrível” durante uma cerimônia inesquecível. Moretti estava lá e lembra. A vaca foi instalada às pressas numa unidade da Legião Brasileira de Assistência (LBA). Duas horas antes da inauguração, foi colocada em operação com o motor girando ao contrário. O pessoal da LBA não tinha treinamento operacional. Entre os industriais da soja, ficou suspeita de que tudo tivesse sido arado pela indústria de laticínios para “denegrir” a imagem do pretenso concorrente. Apesar da inesperada reação de Figueiredo, a nova vaca mecânica fez carreira. Em 1980, em Campinas,ela deu origem a uma indústria chamada Vanguarda mecânica, liderada por Moretti, que entrou com 50% do capital. O restante foi dividido em parte iguais entre os dois ex-estudantes que ajudaram, os engenheiros Sergio Romeiro e José Roque Lopes Barioni, registrados como co-autores do invento. Moretti afastou-se da sociedade logo no começo, mas a indústria prosperou, chegando a ter 30 empregados e a expor numa feira industrial na Índia. Por um preço equivalente ao de um Fusca, vendeu dezenas de máquinas para prefeituras de diversos lugares do Brasil. Um dos locais de maior sucesso foi na cidade paulista de matão, onde a distribuição de leite de soja contribuiu para reduzir o índice de mortalidade infantil e serviu de exemplo para a formação de um consórcio (de produção de leite de soja) reunindo oito municípios vizinhos. A experiência rendeu um livro (Os meninos de Matão), escrito pelo jornalista Gê Marques e publicado em 1984 pela editora Max Limonad, São Paulo. GOTAS NO OCEANO Com pequenas, vaca mecânica passaram a ser fabricadas em outras cidades brasileiras. Sua principal base técnica é um esrudo norte-americano do final dos anos 60 segundo o qual o odor e o sabor característicos da soja vêm de enzimas que podem ser intavidas pelo calor (fervura, cozimento ou torrefação). Daí resultaram diversos métodos de extração do leite, variando-se a temperatura e o tempo de cozimento. As enzimas ficam inativas e partir de cerca de 80ºC. O excesso de temperatura, entretanto, pode endurecer as proteínas e eliminar as vitaminas. É preciso ainda outros cuidados, como o de conbater a carga microbiana que acompanha todo alimento. Vem daí o uso da pasteurização. Apesar de todas essas cautelas, a vanguarda campineira das vacas mecãnicas entrou em dificuldades e foi desativada depois de se tornar ré de processos juduciais por intoxicação alimentas de escolares. Entretanto, dezenas de vacas da marca Vanguarda continuam na pioneira São Joaquim da Barra, onde a prefeitura distribui diariamente mil saquinhos de leite e dois mil pãezinhos à base de soja. Quando o Ital estava ainda no início de suas pesquisas, chegou a Campinas em 1972, para trabalhar nas novas instalações da indústria de ordenhadeiras mecânicas Westphalia, o engenheiro mecânico Vilmar Bautista Urrutia (Bagé, 1925). Formado em Porto Alegre no tempo em que praticamente todas as enzimas da soja eram conhecidas pelo nome genético de sojina. Especialista em ordenharia mecânicas – na década de 60 criou em Porto Alegre uma com marca Guacho -, Urrutia trabalhou em Campinas sem jamais se envolver com os engenheiros do ital ou da Unicamp. Ao se aposentarm, em 1980 voltou a mexer com um velho projeto que o perseguia desde o tempo de estudante: uma máquina produtora de leite de soja para bezerros machos, desmamados pela pecuária intensiva. Patenteada em 1981 como “tanque automático para maceração de soja”, a vaca mecãnica de Urrutia, originalmente voltada para a alimentação animal, tornou-se apta a extrair leite de soja para consumo humano em meados da década de 80, quando o inventor lhe aplicou algumas adaptações. Seu maior diferencial em relação às outras vacas é um descascador que retira o revestimento de celulose do grão de soja antes do processamento convencional. Premiada pela Federação das Indústrias do Paraná e pela Sociedade Nacional de Agricultura, a vaca de Urrutia é fabricada em Londrina pelaa Ordepar, pequena indústria pertencente ao seu filho, Cleverland Brito Urrutia (Porto Alegre, 1948). Cleverland chegou a exportá-la para o Zaire e o Peru, mas o seu principal mercado ainda são as prefeituras municipais que continuam empenhadas em programas de alimentação infantil. Apenas no Paraná, os ténicos do CNPSo calculam que 70 prefeituras mantêm programas de distribuição de leite de soja extraído por vacas mecânicas. Em Rolândia, onde se faz um trabalho citado como exemplar, uma vaca da Ordepar produz mil litros de leite por dia. Com os resíduos fabricam-se pães vendidos na cidade por meninos de rua. Gotas d’água no oceno de car~encia alimentares da população brasileira. O TABU DE PÉ Em plena década de 90, o tabu ainda não foi quebrado. O chamado complexo industrial da soja, em suas cem unidades de esmagamento espalhadas principalmente pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, os dois Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia, processa pelo menos 20 milhões de toneladas de grãos por ano. A grosso modo, o Brasil exporta dois terços do farelo de soja que produz e um terço do óleo. De uma forma ou de outra, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (Abiove), entram na cadeia nacional de consumo pelo menos 5,3 milhões de toneladas de farelo (fonte de proteínas) e 2,5 milhões de toneladas de óleo (fonte de calorias) – matérias-primas manipuladas por gigantescos conglomerados industriais que se moveimentam da lavoura à exportação e operam com grande apetite no atacado e no varejo, dentro do país. Ainda assim, salvo em momento exepcionais, como nos laçamentos de óleos ou margarinas – na década de 80, a atriz Sônia Braga (de “Gabriela Cravo e Canela”) chegou a fazer campanha na tv por uma marca de forno e fogão -, a soja não brilha como estrela nas mesas, tal qual acontece com as carnes ou os macarrões. Coadjuvante da indústria de alimetos, é sempre um complemento que pode estar os molhos ou nos temperos. O próprio leite de soja também nunca é absoluto: ou aparece misturado ao leite de vaca (como nos casos do dietético Bónus produzido desde 1986 pela Nestlé ou do misto Hobba lançado em 1989 em Porto Alegre por uma parceria entre olvebra e indústria de laticínios Corlac) ou precisa incorporar sabores especiais para ser ingerido (como acontece com o SayMilke lançado pela Olvebra na década de 80 com base em tecnologia desenvolvida na Calômbia). O grande problema dos leites em pó é o custo. Para produzi-los é necessário adicinar água ao grão para separar o leite. Em seguida, é preciso retirar a água para reduzi-lo a pó. “Com tal custo industrial, comom competir com o leite de vaca?”, pergunta o professor Moretti, da Unicamp. Para ele, o leite de soja está fadado a ser sempre um alimento de fabricação artesanal, para consumo doméstico ou de pequenas cominidades. As indústrias de leite de soja o encaram ainda como “produto do futuro”. EM BUSCA DA SAÚDE Um dos osbtáculos ao consumo natural de soja no Brasil é que aqui, por razões de mercado e interesse industrialm deu-se ênfase absoluta á produção de grãos ricos em óleo. No passado, em todos os centros de experimentação e pesquisa, e sobretudo em Campinas, foi praticamente marginal o esforço para selecionar variedades com baixos teores de componentes desagráveis ao olfato ocidental. A pesquisa de variedades mais palatáveis ao paladar humano se tornou realmente importante na década de 80, quando a Universidade Federal de Viçosa iniciou um programa que depois obteve financiamento da oficial Finep e subsídios da multinacional alimentícia Nestlé. No CNPSo, em Londrina, a Embrapa ataca os velhos problemas de sabor da soja por duas vias – a culinária e a agronômica. A visitantes do centro, é costume oferecer os produtos preparados pela sua cozinha experimental, que aceita convites para demonstrações e cursos como ocoreu em Esteio-96. Com mestrado na Universidade da Flórida, a agrônoma Mercedes Concórdia CarrãoPanizzi (Passo Fundo, 1953) estuda variedades de soja compatíveis com os objetivos do programa da Embrapa denominada Soja na Mesa. Até agora concluiu que a BR-36, cultivada no Nordeste, é a melhor nesse aspecto porque tem baixo teor de isoflavonóide, responsável pela adstringência da soja. A própria pesquisadora admite, entretanto, que ainda é preciso algum tempo e muito trabalho até se chegar àquela soha graúda (grãos com mais de 20 gramas), com mais açúcar e mais amido, muito usada para fazer tofu, misso e edamami, um tira-gosto popular no Japão, onde o consumo direto da soja vegetal (assim chamada porque se colhe ainda é verde) é estimado em 800 mil toneladas por ano. Nos Estados Unidos já estão cultivando essa soja para exportar. No Brasil, somadas todas as formas de consumo direto, calcula-se que o total não represene sequer 1% da produção brasileira. SABEDORIA ORIENTAL Boa parte desse consumo é garantido pela colônia de origem japonesa (mais de um milhão de pessoas, principalmente no estado de São Paulo) e por crescentes levas de consumidores dos chamados produtos naturais. Ambas as correntes têm em comum a preocupação com a saúde, o bem-estar e a aparência física. Em outras palavras, parece que, via soja, o Ocidente tenta absorver alguma coisa da milenar sabedoria oriental. Entre as mulheres ocidentais dissemina-se hoje a suspeita de que a ausência de celulite na maioria das japonesas pode estar associda ao consumo regular de derivados da soja. Um dos mais conhecidos é a lecitina, vendida em cápsulas em lojas de produtos naturais. Subproduto da refinação do óleo de soja, com aparência semelhante à do mel de abelha, a lecitina é rica em fósforo e tem um papel importante no metabolismo das células animais. Ajuda a dispersar os depósitos de materiais graxos e de colesterol no roganismo e previne a arteriosclerose. O uso muito recente da soja na alimentação humana ocidental está provocando um surto de pesquisas sobre as propriedades físico-químicas da Glycine max. Faz quase 30 anos que se descobriu que a lipoxigenase, responsável pelo cheiro rançoso da soja, pode ser inativada pelo calor. A charada das enzimas começa a ser desfeita. Um dos objetivos centrais das atuais investigações científicas procura desvendar o mistério dos chamados fatores antinutricionais da soja. FATORES ANTINUTRICIONAIS O mais importante fator antinutricional da soja é o inibidor da tripsina Kunitz, enzima secretada pelo pâncreas e que atua sobre as ligações peptídicas durante a digestão. Se a tripsina é inibifda, as proteínas não são abosrvidas. A consequência mais conhecida, além da ingestão, é a hipertrofia do pâncreas. Vem daí, aliás, a crença popular de que a soja faria mal à saúde. A descoberta de que as enximas podem ser inativadas pelo calor foi muito importante, mas recentemente a pesquisa mudou de sinal, ao se descobrir que o inibidor de tripsina pode ser importante na prevenção de algumas formas de câncer. Ann Kennedy, da Escola de Medicina da Filadélfia, fez testes com ratos e chegou à conclusão de que a enzima pancreática atua como um quimiopreventivo. É um achado tão significativo que ela foi autorizada a tirar a prova em seres humanos. É prematura qualquer conclusão, mas ninguém esquece que uma enzima inibidora da protease faz parte do promissor coquetel de medicamentos aplicado em 1996 aos doentes de Aids. Outros problema da soja são as saponinas, presentes também na uva, no timbó e na popular buchinha. Elas dão amargor à soja. Acredita-se que sejam capazes de romper o tecido das hemácias, responsáveis pelo transporte do oxigênio na corrente sanguínea. Sua função está sendo melhor investigada, embora se acredite que tenham pouco efeito sobre os seres humanos. O terceiro fator antinutricional da soja são os isoflavonóides, antigamente conhecidos por hormonóides e hoje chamados de fito-estrógenos porque sua fórmula química é igual ao estrógeno, usado no tratamento de câncer de próstata, mama e útero. Foi baseado nesse fator que, há alguns anos, um médico-veterinário gaúcho ganhou notoriedade ao afirmar que a soja emascula as mulheres e efemina os homens. Os principais isoflavonóides da soja são a daidizina, a genistina, a daidizeína e a genisteína – os dois últimos com ação anticancerígena comprovada em seres humanos. Eles reduzem a perda de cálcio das muheres após a menopausa, o que ajuda na prevenção à osteoporose. O CNPSo está começando a trabalhar com o misso e o tofu, dois fermentados, porque neles os isoflavonóides genisteína e dadizeína aparecem mais. O mesmo acontece no leite preparado à moda oriental e na farinha integral. PODER MEDICINAL Reconhecidas intuitivamente pelos usuários orientais, algumas dessas qualidades são de domínio médico desde meados do século 20. Nesse aspecto vale a pena lembrar o trabalho do médico Afrânio do Amaral, (Belém, 1895-São Paulo,1983), que fez carreira no serviço público brasileiro e chegou a dirigir o Instituto Butantan, em São Paulo, na década de 30. Especialista em saúde pública, ele escreveu artigos memoráveis sobre a importãncia da soja no combate a infecções, nas dietas de emagrecimento, na normalização do funcionamento intestinal, na prevenção da gota e na redução da tensão arterial. Consumidor de soja em casa, Amaral era tão brilhante que Gomes da Silva o convidou para escrever o capítulo sobre nutrição de A Soja no Brasil, livro preparado na década de 50 e que acabou não sendo publicado. Há, claro, pesquisas mais recentes. Em março de 1984, depois de estudar os hábitos alimentares de 88 velhos com mais de 100 anos da província de Hubei, médico chineses concluíram que somente a soja poderia responder por tamanha saúde. A leguminosa, disseram eles, contém elementos essenciais para a longevidade humana. Seu elevado teor protéico faz dela um auxiliar na terapia de processos infecciosos, atuando como preventivo do câncer. O baixo teor de sódio ajuda a baixar a pressão arterial. O alto teor de potássio é bom para o regime de emagrecimento. Fibras ajudam no trabalho intestinal. O pouco açucar a torna recomendável para diabéticos. Nunca a medicina foi tão longe quanto agora. Trabalhos científicos apresentados em setembro de 1996 no segundo simpósio internacional de estudos sobre a soja e saúde, em Bruxelas, provoram pela primeira vez que os descendentes de imigrantes japoneses que assimilaram os hábitos alimentares americanos estão contraindo doenças crônicas (como câncer de mama) de baixo registro no Japão. Atribui-se o problema à redução da soja na alimentação dos nisseis dos Estados Unidos. Certamente não é por mera coincidência que os chefes de famílias japonesas estabelecidas no Brasil continuam recomendando aos seus descedentes o consumo de tofu e misso. Ambos, dizem os mais velhos, são uma garantia de saúde. LICÕES DE UMA REVOLUÇÃO Quando Glycine max pisou pela primeira vez em solo brasileiro, (supõe-se que) em 1882, o Brasil tinha a população da Argentina de hoje e sua economia repousava sobre atividades primárias, para não dizer primitivas – muita cana, bastante café, um pouco de algodão, alguma pecuária e um resto de ouro. E assim foi durante décadas, a soja ficando restrita às hortas dos imigrantes no interior paulista a ás roças dos colonos europeus da zona missioneira do Rio Grande do Sul. Os asiáticos a comiam. Os europeus a davam aos porcos. Nas escolas agrícolas, os professores não lhe poupavam elogios. Economicamente, era pouco mais do que zero. Desde o princípio a leguminosa chinesa rolou sobretudo nas mãos dos estrangeiros que viviam entre nós. Em 1928, quando o brasil embarcou, em Porto Alegre, a primeira carga de grãos de soja – provisão para uma Alemanha pronta para a guerra -, delineouse uma vocação para o mercado externo. A aptidão como matéria-prima agroindustrial só seria explorada um pouco mais tarde, nos anos 40, quando algumas fábricas começaram a admitir a hipótese de adicionar óleo de soja aos “óleos graxos” de origem vegetal produzidos principalmente no estado de São Paulo para atender aos chamados “paladares exigentes” ou a quem tinha problemas de saúde por causa das gorduras usadas no Brasil, principalmente banha de porco. A primeira lata de óleo de soja produzido no Brasil, no princípio da década de 50, teve o nome Santa Rosa, em homenagem à cidadezinha gaúcha onde a vaca vegetal chinesa obteve a melhor acolhida. E assim começou a se cumprir um sólido destino. O grãozinho oriental ajudou o Brasil a acordar de um sonho litorâneo de 400 anos e o fez sair em marcha para o oeste e para o norte. Inicialmente a cavalo no trigo, depois pelas suas próprias forças, o que a soja fez de mais significativo foi ocupar produtivamente o cerrado, fincando em solo do Brasil Central as raízes de uma nova civilização. Estado da Soja, capital Chicago. A corrida da soja espalhou pelo Brasil milhares de colonos de origem européia-gaúcha que saíram do Sul atrás de terra barata e receberam do governo formidável estímulo para a expansão da fronteira agrícola. Abrir estradas, implantar lavouras e fundar cidades tornou-se espécie de missão sagrada dos sulistas adeptos entusiastas da agricultura mecanizada. O ciclo da soja foi tão rápido e já em 1982, por ocasião fim do “milagre econômico” brasileiro, houve quem dissesse que não tinha sido bom. No Sul, onde se estabeleceu um debate sério, concluiu-se que ela foi boa para poucos e ruim para muitos. Como uma espécie de menina dos olhos das autoridades econômicas do regime militar vigente no período 1964/1985, a soja tornou-se um ente diferenciado no meio agrícola brasileiro. Apesar de embalada por uma certa mística de redentora dos famintos – para o que muito contribuiu o empenho de técnicos como José Gomes da Silva na difusão do poder nutricional da soja -, ela marcou o fim do romantismo na exploração da terra. A agricultura colonial de subsistência morreu nas garras da mecanização imposta pela lavoura sojeira. A soja deu um novo corpo à agricultura brasileira, fortaleceu e diversificou a agroindústria, sustentou a ampliação da suinocultura e da avicultura, motivou a modernização da infre-estrutura de transporte e modificou hábitos alimentares. A soja alimentou a esperança de milhões de pequenos agricultores e depois, com cueldade até, mostrou que na terra é preciso ser profissional para ter competividade. Sob o império da soja, o arado, símbolo da agricultura, atingiu o ápice e entrou em decadência. A revolução da soja impôs as técnicas de semeadura direta nos campos enquanto nas cidades deu asas a um fenômeno internacional conhecido por agribusiness. Em resumo, a soja propiciou uma dupla modernização do Brasil. Primeiro, fez este país voltar-se para dentro de si mesmo, iniciando (sem o menor respeito ambiental, é bom lembrar) a exploração de grandes regiões do interior, especialmente nos cerrados do Centro-Oeste. Por outros lado, a soja obrigou o Brasil a se organizar melhor para operar eficientemente no mercado internacional. Nesse duplo movimento, um para dentro, outro para fora, yin e yang, o rico grãozinho nativo da Manchúria mudou o curso da agricultura brasileira. SÍNTESE CRONOLÓGICA DA HISTÓRIA DA SOJA NO BRASIL 1882 – Registro do primeiro plano Bahia. 1889 – primeiro artigo técnico do Instituto Agronomico de Campinas, SP. 1900 – Plantios experimentais no Rio Grande do Sul. 1908 – Cultivo doméstico por imigrantes japoneses no interior paulista. 1914 – E.C. Craig ensina soja em Porto Alegre. 1921 – Pastor Albert Lehenbauer distribui sementes a colonos de Santa Rosa. 1923 – Henrique Lobbe inicia teste de variedades americanas em S. Simão, SP. 1930 – Czeslaw Bienzanko ensina o cultivo e o uso culinário no noroeste gaúcho. 1934 – Atriz Patricia Galvão traz sementes da China para o ministro Fernando Costa. 1935 – Neme Abdo Neme inicia experimentos no Agronômo de Campinas. 1938 – Frederico Ortmann faz a primeira exportação do Rio Grande do Sul para a Alemanha. 1941 – A soja entra na estatística agrícola gaúcha. 1945 – A soja entra na estatística agrícola paulista 1948 – Swift incentiva o plantio no interior paulista para adicionar ao óleo vegetal Patroa, de algodão. 1950 – José Gomes da Silva inicia a Campanha da Soja no estado de São Paulo, introduzindo novas variedades americanas. 1951 – Francisco de Jesus Vernetti começa a pesquisar soja no Ipeas, em Pelotas, RS; Incobrasa inaugura fábrica em Gravataí, RS, e lança óleo Santa Rosa, com tecnologia trazida por chineses fugitivos da revolução de Mao Tse Tung. 1952 – Sorol produz óleo de soja em Pelotas. 1955 – Chineses fundam Igol em Santa Rosa; soja é plantada para recuperar cafezais geados no Paraná. 1957 – Merlin lança óleo em lata em Porto Alegre. 1958 – Samrig inaugura fárica em Esteio, RS, e lança óleo e margarina Primor, Shiro Miyasaka descobre no vale do Paraíba variedade de soja pouco sensível ao fotoperíodo; fundação da Federação das Cooperativas Triticolas do Sul (Fecotrigo). 1962 – Sadi Pilau monta fábrica em Giruá, RS. 1963 – Universidade Federal de Viçosa, MG, começa a estudar variedades para o cerrado. 1966 – É lançada na I Festa Nacional da Soja a primeira grande variedade brasileira, a Santa Rosa, fruto de cruzamento de linhagens americanas. 1967 – Banco do Brasil financia no interior gaúcho a Operação Tatu, marco inicial da dobradinha trigo-soja; I Festa da Soja em São Joaquim da Barra, SP. 1968 – Romeu Kiihl volta dos Estados Unidos após estudar a capacidade da soja de se adaptar a diversas latitudes. 1969 – Lançamento das variedades Mineira e Viçoja pela UFV. 1970 – A soja começa a ser cultivada no Mato Grosso (do Sul) e penetra no cerrado de Goiás. 1971 – Olvebra começa a operar após a fusão de quatro fábricas gaúchas; constituída a Comissão Nacional de Pesquisa da Soja no Ministério da Agricultura, responsável pelo lançamento das variedades de sementes BR. 1972 – Ceval começa a operar em Gaspar, SC. 1973 – Inauguração de fábricas da Anderson Clayton, Cargill e irmãos Pereira em Ponta Grossa, PR. 1974 – Colonos gaúchos fretam jato para conhecer a bolsa de Chcago. 1976 – Começa a operar o Centro Nacional de Pesquisa da Soja, da Emprapa, em Londrina, PR. 1977 – Grupo Sadia, maior consumidor nacional de farelo, entra no processamento de soja com fábrica em Toledo, PR; Perdigão monta fábrica em Videia, SC. 1980 – Soja estende fronteira agrícola ao cerrado da Bahia. 1981 – Lançamento da variedade da variedadeFT-Cristalina, própria para o cerrado. 1982 – “Escândalo da Centralsul” expõe a crise de sobrevivência das cooperativas agrícolas do Sul; fundo monetário internacional corta o crédito internacional do Brasil. 1985 – Início do Processo de transferência de indústrias esmagadoras de soja para o Centro-Oeste. 1990 – Penetração da soja no Maranhão e Piauí. 1994 – Recorde nacional de produção, com mais de 25 milhões de toneladas. 1995 – A capacidade instalada da indústria de processamento de soja atinge 116 mil toneladas por dia; o negócio da soja representa US$ 7,5 bilhões – mais de 1% do Produto Interno Bruto do Brasil. 1996 – O governo federal assume investimentos em ferrovias e hidrovias para consolidar as fronteiras agrícolas do Centro-oeste.
Baixar