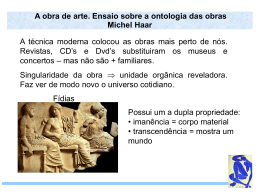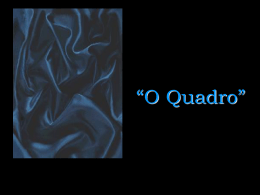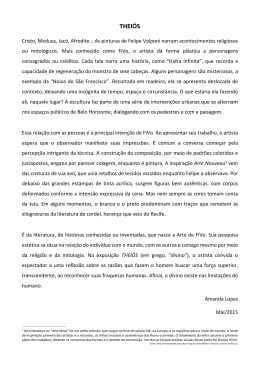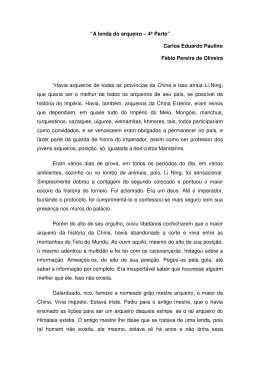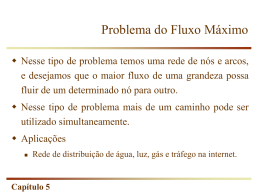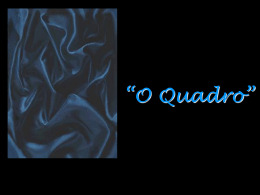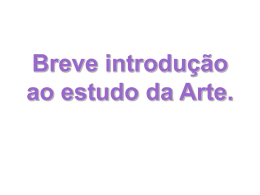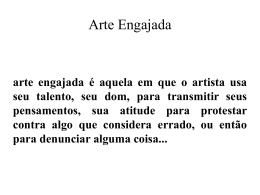Ao protótipo da busca apaixonada e íntegra, Shadrach Emmanuel Lee, a meus pais e às minhas três graças Nunca sabemos que altura alcançamos Até sermos chamados a nos elevar... – E m i ly D i c k i n son Meu celeiro incendiou-se Agora posso ver a lua. – Mi zu ta M as a hide Os homens anseiam por divulgar o sucesso de seus esforços, mas relutam em anunciar os próprios fracassos. E se deixam arruinar por essa prática limitada de ocultação dos fiascos e derrotas. – A b ra ha m L i n c ol n 1 Mesmo quando sofremos muitas derrotas, não podemos nos deixar derrotar. Parece piegas, eu sei, mas acredito que um diamante seja o resultado da pressão extrema e de milênios incontáveis. Menos tempo produz cristal. Ainda menos, apenas carvão. Bem menos, folhas fossilizadas. Muitíssimo menos, nada mais que poeira. Em todo o meu trabalho, nos filmes que escrevo, nas letras de música, nas poesias, na prosa, nos ensaios, afirmo que podemos nos deparar com muitas derrotas, mas somos muito mais fortes do que parecemos ser e, quem sabe, muito melhores do que nos permitimos ser. – M aya A n g e l ou Lista de ilustrações 25 26 27 30 47 65 70 71 84 Anna Batchelor, Dirigindo nas planícies salgadas da Bolívia, 2012. Mike Osborne, Ilha flutuante, 2012 (Bonneville, Utah). Chris Taylor, Impossibilidade das linhas retas, planícies salgadas de Bonneville, Utah, 2003. Foto: Bill Gilbert. Michelangelo Buonarroti, “Soneto 5” (a Giovanni da Pistoia), com uma caricatura do artista, em pé, pintando uma figura no teto, acima de sua cabeça, c. 1510. Pena e tinta, 28 x 18 cm, “Para Giovanni da Pistoia, quando o autor estava pintando a abóbada da Capela Sistina”, 1509. Casa Buonarroti, Florença, Itália. Foto: Studio Fotografico Quattrone, Florença. Louis Horst, “Resenha de Paul Taylor and Dance Company”. Dance Observer 24.9 (novembro de 1957), 139. Herbert Pointing, Caverna em um iceberg, Antártica, 1911. Licenciado pelo Instituto de Pesquisa Polar Scott, Universidade de Cambridge. Martin Hartley, Localizador, Expedição Ecológica Transboreal de Aventura, 2004. Martin Hartley, Navegador, Expedição Ecológica Transboreal de Aventura, 2004 Herbert Ponting, Os baluartes do monte Erebus, Antártica, 1911. Licenciado pelo Instituto de Pesquisa Polar Scott, Universidade de Cambridge. 97 99 100 107 121 129 137 139 140 168 170 181 Lisette Model, Louis Armstrong, c. 1956. National Portrait Gallery, Museu Smithsonian. © Lisette Model Foundation Inc. (1983). Descrição de um navio negreiro (Londres: James Phillips, 1787). © The British Library Board. Nasa/William Anders, Nascer da Terra, 1968. Joel Sternfeld, Olhando para o sul numa tarde de junho, Nova York, 2000. Digital C-print, 100 x 127 cm. Cortesia do artista e de Luhring Augustine. Franklin Leonard, The Black List (detalhe), 2005. Experimento de Solomon Asch, Scientific American, 1955. © 1955 Scientific American, Inc. Grafeno visto pelo microscópio. © Grupo de Física da Matéria Condensada, Universidade de Manchester. Rã levitando na região estável. Em M. V. Berry e A. K. Geim, “Of flying frogs and levitrons”, European Journal of Physics 18 (junho de 1997), 312. © IOP Publishing Ltd and European Physical Society. Rã em levitação. © Laboratório High Field Magnet, Radbound University Nijmegen. Samuel F. B. Morse, Primeiro instrumento de telégrafo, 1837. Divisão de Trabalho e de Indústria, Museu Nacional de História Americana, Instituto Smithsonian. Samuel F. B. Morse, Galeria do Louvre, 1831-1833. Óleo sobre tela, 187 x 274 cm. Daniel J. Terra Collection, 1992.51. Terra Foundation for American Art, Chicago / Art Resource, Nova York. Samuel F. B. Morse, A Câmara dos Representantes, 1822-1823. Óleo sobre tela, 220 x 331 cm. Galeria de Arte Corcovan, Washington D.C. Sumário O enigma 13 14 24 Provação 63 64 89 105 A dádiva O iconoclasta O amador deliberado Determinação nas artes Epílogo: As estrelas 115 116 136 159 184 Agradecimentos Notas 188 192 O paradoxo do arqueiro A obra-prima inacabada A quase vitória Vazio43 A dádiva – A lacuna – Domínios privados – Que sejam recebidas: sobre críticas e pressões Verão ártico: rendição Beleza, erro e justiça O ponto cego O e n i gma O paradoxo do arqueiro As mulheres da equipe de tiro com arco da Universidade de Colúmbia saltaram de uma van numa tarde fria de primavera, descontraídas. Uma segurava uma casquinha de sorvete na mão direita e um punhado de flechas com penas amarelas na esquerda; outra usava a peiteira, uma espécie de malha por cima da blusa, para proteger os seios do atrito com o arco. O Complexo de Atletismo de Baker, o conjunto de instalações esportivas da universidade, na ponta norte de Manhattan, parecia estar recebendo uma falange de guerreiras despreocupadas. O encarregado da manutenção da propriedade nem sabia que elas chegariam. Talvez fosse novo no lugar, porque perguntei onde a equipe praticaria e ele me olhou com ar interrogativo. Parecia não acreditar que a universidade realmente tivesse uma equipe esportiva de tiro com arco. Era até compreensível. Eu chegara cedo e os alvos ainda não estavam posicionados. Lançar flechas a quase 250 quilômetros por hora na direção de alvos a cerca de 70 metros de distância exige medidas de segurança rigorosas, razão pela qual a equipe de tiro com arco não se exercita perto de nenhuma outra. O treino desse esporte de alta precisão se dá longe dos olhos do público. O técnico Derek Davis chegou com as arqueiras, dirigindo uma van cinza, e me cumprimentou com o braço para fora da janela do motorista. Seus dreadlocks grisalhos pendiam abaixo dos ombros, cobertos por uma bandana azul estampada que combinava com o casaco de arqueiro da universidade. Fiquei impressionada ao ver como era um tipo compa- tível com o clã: sociável e relaxado, mas atento. Pelo telefone, alguns dias antes, ele havia me dito que, de início, se dedicara ao esporte como passatempo, por insistência da esposa, no final da década de 1980 (“mais seguro que bilhar e não envolve álcool”). Desde 2005, liderava a equipe titular e outros times do clube universitário, em parte como especialista em biomecânica, em parte como iogue – na essência, um sábio universitário talhado para a antiga prática de guerra hoje considerada esporte. As jovens sorriram, avaliaram-me de relance e desfilaram à minha frente, enquanto eu as recepcionava de pé junto ao alambrado do local de treinamento. A do sorvete jogou fora a casquinha, que já pingava, e se juntou às outras, que retiravam os apetrechos do porta-malas da van. Falavam não com palavras, mas com números, os escores ou pontuações ideais e os graus em que deveriam se posicionar para acertar os alvos. Elas se preparavam para o próximo campeonato nacional.1 (Não há homens na equipe titular, apenas nos times do clube universitário.) Fiquei olhando enquanto as arqueiras cuidadosamente armavam arcos compostos ou recurvos – como os usados nos Jogos Olímpicos, cujas pontas se inclinam, afastando-se do corpo –, puxavam a corda e disparavam a flecha, que fazia uma curva e desaparecia no ar até atingir o alvo redondo. Davis não ficava junto à equipe, preferindo manter-se à distância, na retaguarda, talvez avaliando quem poderia precisar de ajuda. Mais ao longe, espalhadas pelas laterais do campo, viam-se caixas de ferramentas, com carretéis, alicates, chaves inglesas, martelos e pregos. Duas arqueiras se alinharam para lançar. Só uma queria saber os escores. Davis observava com o binóculo a extensão de quase duas quadras de tênis entre elas e os alvos. Uma arqueira disparou a primeira flecha. Só ouvi o som de um chicote estalando no ar. “Sete, em seis horas.” “Nove, em duas horas.” As flechas ainda não estavam agrupadas. “Dez, alto.” “Dez, muito alto.” Em seguida ao disparo seguinte não se ouviu nenhum som. 15 “Não. Nem olha!”, lamentou-se a arqueira, relaxando e largando o arco. “Acho que nem atingi o alvo.” “É”, confirmou Davis. “Nem vi onde a flecha caiu.” Atrás delas, eu tentava me imaginar naquela situação, mas não tinha ideia de como conseguiam atingir o alvo. Cada arqueira calculava a trajetória da flecha – a linha de ascensão, a queda e os deslocamentos laterais durante o percurso –, algo que apenas elas podiam prever no instante exato do disparo. Antes mesmo de considerar a velocidade do vento, é preciso sempre levar em conta algum grau de desvio que ocorre quando a flecha deixa o arco, com certa inclinação em relação ao alvo, para que as penas não toquem a corda. É como se confecciona a flecha. O arqueiro destro mira ligeiramente para a esquerda, a fim de acertar na mosca. Para isso, é preciso se concentrar no alvo em si e no arqueamento provável do voo da flecha, intuindo as muitas variáveis capazes de alterar a trajetória. Os arqueiros mais certeiros chamam esse processo de “foco duplo de visão bipartida”. O tiro com arco também demanda uma reinvenção constante, pois o praticante se vê como alguém que marca dez, quando na verdade faz apenas nove; como um arqueiro que somente atinge sete, mas pode chegar a oito. Esse é um esporte que gera feedback instantâneo e exato. Classifica os atletas pela maneira como se comparam consigo mesmos segundos antes. Os arqueiros lidam constantemente com a “quase vitória”, quando não atingem exatamente a mosca naquela hora, mas segundos depois, demonstrando que são capazes. Se o arqueiro errar a mira em menos de meio grau, não acertará o alvo. “Basta mexer a mão um milímetro para mudar tudo, principalmente quando se está a distâncias maiores”, disse Sarah Chai, formada recentemente pela Colúmbia e ex-cocapitã da equipe titular de tiro com arco da universidade.2 À distância-padrão de 75 jardas do alvo, o anel 10, a mosca, parece tão pequeno quanto a cabeça de um palito de fósforo a uns 70 centímetros do olho. Acertar esse oitavo anel é como perfurar um círculo do tamanho do orifício de uma rosquinha a quase 70 metros de distância, sustentando um peso de mais ou menos 22 quilos em cada disparo. 16 Não é fácil. Depois de bem mais de três horas de prática, duas das mulheres estavam deitadas de costas, atrás da linha de tiro, olhando para o céu. Três horas por dia de concentração total, tentando encontrar o que T. S. Elliot chamava de “ponto morto do mundo em rotação”, exige uma intensidade singular e constante.3 Viver num contexto em que a diferença desprezível de alguns graus acarreta uma alteração substancial no resultado é o que faz de um arqueiro um arqueiro. Significa desenvolver o tipo de precisão que encontramos no mundo natural – como a dos favos das colmeias ou a dos hexágonos perfeitos da Calçada dos Gigantes, na Irlanda. Quando começam a ficar boas, atingindo escores quase sempre acima de 1.350 (do total de 1.440), as arqueiras aprimoram o treinamento, atirando menos, aumentando a concentração e cuidando da respiração, da meditação e da visualização. Uma delas, embora sobrecarregada de provas, ainda assim estava treinando, porque o foco com que se dedica à arquearia a tranquiliza em relação a tudo o mais. “Quando fiz intercâmbio, quase enlouqueci por não poder praticar”, disse. Sem aquela rotina, sentia-se irritada o tempo todo. Fiquei no campo de treinamento durante três horas. Apesar de toda a vibração de descobrir um novo esporte, foi um pouco monótono, devo admitir. Eu não tinha levado binóculo, e é difícil se concentrar durante três horas no que está à sua frente mas não é percebido com facilidade. Além de tudo, fazia frio. Persisti, porém, para compreender o que eu começava a perceber e com que talvez nunca voltasse a deparar: o pânico do amarelo, ou pânico do alvo – o que acontece quando o arqueiro chega ao ponto de realizar ou superar as próprias expectativas e passa a querer o ouro sem pensar no processo. Em casos extremos, isso significa que num dia acerta na mosca; no dia seguinte, lança a flecha no estacionamento. Não está claro se é como uma aflição temporária, uma espécie de ansiedade com o desempenho ou alguma forma de distonia.4 O que se sabe é que a única maneira de se recuperar plenamente é recomeçar do início, reaprender os movimentos e se concentrar no essencial – respiração, posição, movimentação, liberação e postura. Nenhuma das arqueiras que vi naquele dia parecia sofrer de pânico do alvo. No entanto, poucas o admitem quando são acometidas desse mal. 17 Mesmo assim, algo na arquearia me arrebatou o bastante para me manter atenta. A explicação só me ocorreu ao deixar o local, enquanto eu caminhava pela Broadway. Passei por um marco histórico nacional, uma casa de fazenda colonial, em estilo holandês, de propriedade da família Dyckman. Antigamente ela se situava em meio a uma vasta área de terras que cobria toda a extensão de Manhattan, do rio Hudson ao rio East, mas hoje está aninhada na avenida congestionada, oculta por trás de árvores e folhagens. A incongruência de uma casa de fazenda em plena Broadway me deixou curiosa e então resolvi visitar o local. Aquela foi de fato minha segunda aventura naquele dia. Ver uma equipe de arco e flecha nos tempos modernos foi como admirar uma antiga relíquia, um vestígio de práticas remotas que raramente vemos em ação – não uma competição, onde sempre se destaca um vencedor, mas a busca constante da maestria. A maestria que presenciei nos campos de tiro com arco não era glamorosa. Percebia-se certa nobreza em tudo aquilo, mas nenhum indício de bajulação. É raro ver a obstinação com esse nível de exatidão, ver o que é preciso para alinhar o corpo com perfeição durante três horas no esforço para compensar a velocidade do vento e acertar o alvo – a busca da excelência na obscuridade. Era uma sucessão infindável de dias na tentativa de conquistar o ouro a que poucos farão jus algum dia. Talvez eu o tenha percebido com mais intensidade do que seria possível em esportes mais populares, como basquete ou futebol, que oferecem mais chances de glória e fama. Passar tantas horas com arco e flecha é uma estranha combinação de marginalidade e seriedade poucas vezes vista. Havia, porém, outra razão. Quando cada flecha partia rumo ao alvo, as arqueiras se viam entre o sucesso (atingir o 10) e a maestria (saber que o resultado isolado não significava nada se não fosse replicável repetidas vezes). Se eu tivesse que arriscar um palpite, diria que essa tensão entre a busca permanente da maestria e a natureza efêmera do sucesso é, antes de tudo, parte do que gera o pânico do alvo. Maestria, palavra que não usamos com frequência, não equivale a perfeccionismo – propósito sobre-humano motivado pela preocupação com a maneira como somos vistos pelos outros. Maestria tampouco é o mesmo que sucesso – vitória eventual, pontual. Maestria não é somente 18 a realização de um objetivo, mas, sim, uma linha ascendente, de busca contínua. Exige persistência e resistência. Com certo distanciamento crítico, somos capazes de ver que muitas de nossas conquistas mais grandiosas – desde descobertas recentes, ganhadoras do Prêmio Nobel, passando por clássicos da literatura, das artes plásticas e da dança, até empreendimentos inovadores revolucionários – foram, na verdade, não proezas revolucionárias, mas correções graduais, ajustes incrementais, com base na experiência adquirida depois do disparo da flecha anterior. Sempre tive enorme curiosidade sobre a maneira como evoluímos, como as pessoas se superam e se destacam a ponto de surpreender o mundo. Filha única, vivendo no próprio imaginário, eu mergulhava nas histórias da vida dos mais velhos, de meus contemporâneos e dos que hoje atuam no auge da capacidade: pessoas cuja existência era ao mesmo tempo parecida e bem diferente da minha. E não podia evitar uma observação: muitas das coisas que quase todo mundo rejeitaria, esses indivíduos – em geral, inovadores, criadores, inventores – haviam convertido em vantagens inigualáveis. Ainda me lembro do calafrio que senti ao me dar conta da realidade inquestionável de que de fato eu só poderia alcançar a plenitude de minhas capacidades se explorasse territórios desconhecidos e assustadores, permanecendo aberta a novas descobertas ao longo do percurso. Eu vinha refletindo a respeito disso durante boa parte de minha vida, embora a constatação só tenha ficado mais nítida enquanto escrevia este livro. Aconteceu quando fui a Harvard para um evento de ex-alunos. Bill Fitzsimmons, reitor de admissões havia muito tempo, contou ao público que ele fora expulso da escola no ensino médio. Envolvera-se com más companhias e começara a faltar às aulas. Depois da expulsão, com muita dificuldade, acabou matriculando-se em outra escola, de uma cidade vizinha. O episódio desenvolveu nele certa resiliência, ele disse, e algo que considera fundamental para a própria vida. “Lembro-me de quando você se matriculou”, garantiu-me o reitor Fitzsimmons quando o cumprimentei pela palestra. E o reafirmou, convenci19 do de que estava certo, ao ver no meu crachá o ano de minha formatura. Ele sorriu e apertou os lábios, como que afastando um pensamento. Talvez não quisesse revelar algo que ele recordara e que eu havia esquecido: a redação que eu escrevera no processo de admissão sobre a importância e o benefício dos fracassos quando os enfrentei, aos 18 anos, e, em geral, como fatos da vida. Lembrei-me, então, de como escondera o texto de meus pais e até de meu orientador na faculdade, plenamente consciente de que aquilo era um material de “alto risco”. Só o revelei no último minuto, de modo que, caso surgissem objeções, a falta de um texto substituto os obrigasse a me deixar apresentar o que já estava pronto. Minha intenção era explorar por escrito o que eu começava a sentir na vida – que as descobertas, as inovações e os empreendimentos criativos muitas vezes (talvez sempre) ocorrem em condições improváveis. Em retrospectiva, percebo agora que me interessava por ascensões improváveis porque, na época, eu começava a conviver com a dádiva do que significa ser subestimado. O que acontece quando o mundo em geral presume, antes mesmo de você pronunciar uma palavra que seja, que você irá fracassar – por não se encaixar em certas expectativas – e como certas pessoas convertem essa descrença em vantagem para realizar os próprios sonhos? Essa crença se cristalizou na época em que eu frequentava a casa de meus avós maternos, na área rural da Virgínia. A construção de madeira parecia ser sustentada apenas pela perseverança do casal e pelas habilidades artesanais de meu avô. A vida para eles, quando eu estava na casa, girava em torno de três cômodos – a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar. Ligando os três cômodos, havia um corredor onde meu avô pintava seu elenco multicolorido de atores humanos e divinos. Ele era faxineiro à noite, músico de jazz o tempo todo e pintor de anúncios nos fins de semana. A mesa da sala de jantar era o lugar onde ele revelava seus sonhos, sempre pautados pelas privações. A realidade do que não queria o ajudava a evocar com mais clareza o que queria, e, assim, também contribuía para forjar o que viria a ser. Acima de tudo, eu não teria escrito este livro sem o exemplo dele. 20 Naquela sala de Harvard, percebi que, 15 anos depois, eu ainda refletia sobre as maneiras obscuras, mas vitais, como recriamos nosso futuro eu. Já ouvimos muitas histórias a respeito disso. O compositor Duke Ellington teria dito: “Apenas me dispus a ficar melancólico e a escrever alguns blues.”5 O dramaturgo Tennessee Williams sentia que o “fracasso aparente” o motivava. E acrescentou: “Na noite antes de saírem as críticas, ele me conduz de volta à máquina de escrever. Fico mais disposto a retomar o trabalho do que se tivesse certeza do sucesso.” Muita gente ouviu dizer que Thomas Edison teria afirmado ao assistente, admirado com a perseverança do inventor, depois de zilhões de tentativas infrutíferas de criar a lâmpada incandescente: “Não fracassei, apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionaram.”6 “Um mero passar de olhos é suficiente. Nem ao menos um exemplar seria vendido. Nenhum. Nenhum. Muito obrigado...”, é o que se lê na carta de rejeição que a escritora Gertrude Stein recebeu de um editor, em 1912.7 O telégrafo, que deflagrou a revolução da comunicação, foi inventado por um pintor, Samuel F. B. Morse, que transformou a armação de madeira da tela do que lhe parecia uma pintura inútil na primeira máquina a incorporar a nova tecnologia. Em 1930, o boletim de avaliação de um teste para um filme, dos estúdios RKO, com o veredito “Não sabe cantar, não sabe atuar, está ficando careca e dança mais ou menos”, rejeitava ninguém menos que Fred Astaire, que viria a ser um grande astro de Hollywood. Ouvimos muitas histórias de como celebridades como J. K. Rowling, Steve Jobs e Oprah Winfrey encontraram maneiras inusitadas de atingir o ápice de sua capacidade. No entanto, as histórias sobre as vantagens obtidas nos momentos em que o fracasso parecia iminente são, em geral, consideradas lugares-comuns ou, quando muito, situações excepcionais, aplicáveis a apenas poucos privilegiados. Este livro pretende explorar as vantagens colhidas no solo improvável do esforço criativo. Invenções brilhantes e proezas humanas resultantes do labor – empreendimentos que oferecem ao mundo dádivas da alma do criador – são alcançadas por caminhos amparados pela possibilidade de retrocessos e pelos ganhos inestimáveis que só a experiência é capaz de oferecer. 21 Alguns poderiam dizer que o que denominamos “trabalho” geralmente é uma tarefa diferente. “Trabalho é o que fazemos por hora”, argumenta o escritor Lewis Hyde. Labor, porém, é algo que “impõe o próprio ritmo. Podemos até ser remunerados, mas é difícil quantificá-lo... Escrever um poema, criar um filho, desenvolver um novo cálculo, resolver uma neurose, inventar sob todas as suas formas – tudo isso é labor”. 8 Uma distinção comum geralmente considera que a criatividade, a inovação e as descobertas pertencem a uma categoria própria, até privilegiada, de realização humana: a escolha e a experiência de poucos. Nossas histórias, porém, questionam essa segregação. Se cada um de nós tem a capacidade de converter labuta em vantagem, esse processo criativo deve ser crucial para o desbravamento de qualquer território. O que ganhamos ao observar a maestria, a invenção e a realização é o valor de ideias em geral ignoradas – o poder da rendição, o impulso das “quase vitórias”, o papel crítico do lúdico para promover a inovação e a importância da perseverança e da prática criativa. Embora esteja no âmago do tema e no título do livro, raramente falarei aqui de fracasso, pois se trata de uma palavra imperfeita. Assim que começamos a transformar a realidade, o termo perde o significado. Ele é sempre fugidio, escapa pelos limites da visão, não só porque é difícil vê-lo sem se retrair, mas também porque, quando nos dispomos a abordá-lo, com frequência damos outro nome aos acontecimentos, como aprendizado, tentativa ou reinvenção, não mais o conceito estático de fracasso. (O termo foi cunhado no século XIX na acepção de falência, bancarrota, aparente beco sem saída, forçado a se adequar à valoração humana.)9 Como ocorre com o pânico do alvo que acomete os arqueiros – com sua experiência sempre sentida, mas quase nunca percebida –, o fenômeno ainda é desconhecido, sendo pouco debatido. Até dispomos de ideias parciais, como resiliência, reinvenção e perseverança, mas não há um termo único para descrever o fato efêmero, ao mesmo tempo reiterado e vital, de que exatamente quando parece ser inverno, é primavera. Os capítulos que se seguem formam a biografia de uma ideia fundamental que ainda não tem definição. Quando não dispomos de um 22 termo adequado para uma ideia intrinsecamente volátil, referimo-nos a ela por meio de subterfúgios ou evasivas. Há todo tipo de circunstâncias geradoras – tropeços, quedas, colapsos, desastres –, mas a dinâmica inspiradora é interna, pessoal e, muitas vezes, invisível. Como nos lembra o lendário dramaturgo Christopher Fry: “Quem, além de nós mesmos, percebe qualquer diferença entre nossas derrotas e nossas vitórias?”10 É um clichê afirmar simplesmente que aprendemos mais com o fracasso. E não é exatamente verdadeiro. As transformações decorrem de nossas escolhas de como abordar a questão no contexto dos acontecimentos, quer digamos isso para nós mesmos, quer em voz alta. Naquele dia frio de maio, observando as arqueiras de Colúmbia, percebi por que o aprendizado sem erros não resulta em vitórias certas. Alguns arqueiros podem passar meses praticando a respiração rítmica para soltar a flecha no intervalo entre as batidas cardíacas, repetindo os movimentos, treinando o corpo para conseguir o alinhamento impecável dos ossos e o movimento perfeito da escápula. Começam usando apenas as mãos e uma faixa elástica, bem perto de um alvo muito grande. O objetivo é alcançar quase a perfeição antes de ir afastando o alvo cada vez mais. O triunfo, no entanto, consiste em enfrentar o paradoxo do arqueiro, em manejar o incontrolável: o vento, outras condições climáticas e todas as variáveis sempre imprevisíveis da vida. Ganhar o ouro significa aprender a considerar a curvatura embutida na trajetória para o alvo. Este livro não é sobre o fio de Ariadne, não é uma linha que nos ajuda a sair de labirintos, qualquer coisa que nos oriente em circunstâncias difíceis. É uma exploração; um apanhado de histórias sobre a capacidade humana; uma investigação, baseada em narrativas, dos fatos que percebemos bem antes de serem confirmados pela ciência. As muitas pessoas que aparecem nestas páginas permitiram que eu narrasse suas jornadas e também me lembraram de algo fundamental, compondo a tese não intencional deste livro. É o processo criativo – impulsor da invenção, da descoberta e da cultura – que nos leva a converter com agilidade o chamado fracasso em uma vantagem insubstituível. 23 A obra-prima inacabada Senhor, conceda-me a graça de sempre desejar mais do que posso alcançar. – Mi c h e l a n g e l o Ano passado, fui a um lugar onde a relação entre céu e terra se desfaz. Não se pode mais distinguir primeiro plano, plano intermediário e plano de fundo para orientar o percurso. O fenômeno ocorre em poucos locais: no leito branco e salgado de um lago pré-histórico, em Bonneville, Utah, perto da fronteira com Nevada (aonde eu fui); no lago Eyre, na Austrália; no Salar de Atacama, no Chile; e no Salar Uyuni, no Planalto Boliviano, o maior deserto de sal do mundo, onde se aninham flamingos cor-de-rosa quase míticos. Ao longo dos anos, a evaporação superou a precipitação nessas regiões, e os ventos áridos nivelaram em um plano tão constante as enormes extensões de sal remanescentes que as tornaram isotrópicas – apresentam-se sempre com a mesma planura, com a mesma constância em todas as direções.1 Quando, finalmente, cheguei lá, encontrei um homem que me disse, perplexo, que cruzara todo o estado de Illinois com menos gasolina do que consumira para atravessar as planícies salgadas de Bonneville. Pisar naquele solo, dirigir naquelas chapadas, é como se equilibrar sobre uma bola – cada passo adiante, em meio à alvura ofuscante, parece inesperadamente novo. Andar por lá é um exercício de resistência que se estende por todo o percurso. Anna Batchelor, Dirigindo nas planícies salgadas da Bolívia, 2012. As montanhas criam uma ilusão nas planícies salgadas de Bonneville Salt Flats – os maciços até parecem montes de terra pendurados no céu. A distorção cria a imagem de pedras com bordas flutuantes, afiadas como pontas de flechas. As extremidades, à semelhança de lâminas de sílex, pairam no espaço, como que suspensas por um gigante. À frente do observador, como uma provocação materializada, elas dão a impressão de mostrar um futuro iminente, mas ainda inacessível. Pouca gente visita as planícies salgadas. É o tipo de lugar aonde se vai porque não resta nenhum outro a conhecer; quando é preciso percorrê-lo de carro para chegar ao destino; ou quando alguém quer se aventurar deliberadamente, como se as outras maravilhas naturais da Terra não mais fossem capazes de emocioná-lo e sobrasse apenas aquele local estranho. Na estação seca, a sensação de liberdade é forte. Afinal, o vazio é imenso. Alguns vão para lá com o objetivo de quebrar recordes de velocidade no solo, atingindo mais de 700 quilômetros por hora em um automóvel. Outros são atraídos pelos campeonatos anuais da Associação Nacional 25 Mike Osborne, Ilha flutuante, 2012 (Bonneville, Utah). de Arquearia. Quando estive lá, o silêncio era tanto que durante muito tempo eu só ouvia o som de meus sapatos no solo rachado. Afora o estampido de um trovão ocasional rasgando o firmamento ou o estrondo de um carro de corrida rompendo a barreira do som, a quietude é absoluta. Naquele lugar se repete o processo que se desenvolve em nosso interior quando a estrada adiante é plana e já realizamos grande parte do que nos propusemos a fazer. Sem grandes obstáculos à frente, podemos nos desorientar, perder o rumo, ficar à deriva.2 Dizem que nunca caminhamos realmente em linha reta, mas, nas planícies salgadas, o percurso retilíneo é impossível. O que à primeira vista parece um avanço constante se revela, em retrospectiva, uma sucessão de curvas. Sem perceber, corrigimos o rumo o tempo todo, cobrindo uma extensão superior à que se supunha possível. Uma artista amiga minha, que já visitou mais vezes que eu as planícies salgadas de Bonneville, diz que, mesmo com a ajuda de um GPS, 26 Chris Taylor, Impossibilidade das linhas retas, planícies salgadas de Bonneville, Utah, 2003. Foto: Bill Gilbert. nunca conseguiu completar a travessia, jamais percorreu toda a trajetória curva, até a borda, para chegar ao sopé do maciço que cerca a planície salgada como um pires. Quando conversamos pela última vez, ela já havia tentado esse feito três vezes.3 Caminhar nas planícies salgadas é como enfrentar o paradoxo do arqueiro, uma lógica excêntrica que contribui para o sucesso dos melhores praticantes de tiro com arco. 27 Quantas vezes avaliamos um trabalho artístico ou uma inovação revolucionária como sendo uma obra-prima ou um clássico, produto de um gênio extraordinário, ao passo que o autor a considera incompleta, inacabada e repleta de erros e falhas?4 Muito mais vezes do que imaginamos. Eis uma lista parcial: William Faulkner escreveu novos trechos de O som e a fúria depois da primeira edição, incluindo os acréscimos em um apêndice.5 Paul Cézanne receava “morrer sem jamais ter realizado seu objetivo supremo”: criar uma obra de arte que derivasse diretamente da natureza. Ele achava que suas pinturas deixavam a desejar.6 Cézanne se identificou com Frenhofer, protagonista do conto A obra-prima ignorada, cuja ambição estética de recriar a realidade na forma de figuras femininas termina em um fracasso inevitável.7 Frenhofer experimentava o significado da cor e da linha, “mas, em consequência de tanta pesquisa, passou a questionar o próprio tema de suas investigações” – dinâmica que Maurice Merleau-Ponty mais tarde denominou “Dúvida de Cézanne”.8 Frenhofer era o personagem literário preferido do pintor francês. Émile Bernard, outro pós-impressionista, contou que durante uma visita a Cézanne, em Aix, em 1914, a conversa passou a versar sobre Frenhofer e A obra-prima ignorada, até que Cézanne, nas palavras do narrador, “levantou-se da mesa, postou-se à minha frente e bateu no peito com o dedo indicador, admitindo, sem dizer uma palavra, pelas sucessivas repetições do gesto, que ele era o próprio personagem do romance. O sentimento o emocionou de tal maneira que seus olhos se encheram de lágrimas”.9 Ao pintar autorretratos, denominou alguns deles de Frenhofer. Cézanne raramente considerava seus trabalhos acabados; em vez disso, os deixava de lado, “quase sempre com a intenção de retomá-los”, o que significava não assinar a maioria.10 Menos de 10% das pinturas no catálogo raisonné dele têm assinatura.11 O poeta Czeslaw Milosz, ganhador do Prêmio Nobel, foi um dos muitos que repetiram esse desfecho. Depois de cada livro de poesia, ele dizia: “Sempre fico com a sensação de que não me revelei o suficiente. Termino o livro, ele é publicado, e digo para mim mesmo: ‘Da próxima vez, me revelarei.’ E quando lanço outro, tenho o mesmo sentimento.”12 28 Prosperamos quando nos mantemos na vanguarda de nós mesmos. Trata-se de uma sabedoria compreendida também por Duke Ellington, tanto que a canção que mais apreciava em seu repertório era sempre a seguinte, sempre a que ainda iria compor. Como a procura pelo fim de uma onda sonora, esse esforço nunca termina. A busca da maestria é um “quase” contínuo e permanente. “Senhor, conceda-me a graça de sempre desejar mais do que posso alcançar”, implorou Michelangelo, como um Adão condenado ao perpétuo suplício de manter o dedo esticado, sem nunca tocar a mão do Deus do Velho Testamento na imagem da Capela Sistina.13 Quando Michelangelo foi incumbido de pintar aquele teto abobadado no Vaticano, a quase 20 metros de altura, ele se queixava de que seu cérebro chegava a bater nas costas e que ele quase contraíra “bócio” por causa da “tortura” de ficar com o “estômago contraído” abaixo do queixo, com o rosto funcionando como “chão” para as “gotas de tinta” que pingavam do pincel acima dele, à medida que seus gestos se tornavam “cegos e inúteis”. “Minha pintura está morta. Defenda-a por mim. Não estou no lugar certo – não sou pintor”, implorou ao amigo Giovanni, em carta escrita na forma de soneto.14 Em seguida, desenhou o que parece ser um autorretrato: uma figura se põe de pé, estica a cabeça e pinta um rosto diabólico no teto. Enquanto se dedicava ao segundo ciclo da pintura na abóbada da Capela Sistina, O Dilúvio, a mistura de argamassa criou mofo e o trabalho ficou comprometido, como numa piada de mau gosto. Michelangelo, então, escreveu a seu patrono, o papa Júlio II: “Eu disse a Vossa Santidade que essa pintura não é a minha arte; o que eu fiz está perdido”, e pediu que fosse substituído.15 Ele já havia deixado encomendas inacabadas antes. Era tal a frequência com que, deliberadamente, abandonava suas obras que, na verdade, o hábito já virara estilo, o non finito, como os acadêmicos denominam suas esculturas de figuras que emergem de pedras ainda em estado bruto.16 O público veio a conhecer esse hábito. Durante a criação de uma dispendiosa estátua de bronze do papa, em Bolonha, para a Basílica de San Petronio, ele admitiu para o irmão: “Todos em Bolonha são da opi29 Michelangelo Buonarroti, “Soneto 5” (a Giovanni da Pistoia), com uma caricatura do artista, em pé, pintando uma figura no teto, acima de sua cabeça, c. 1510. Pena e tinta, 28 x 18 cm, “Para Giovanni da Pistoia, quando o autor estava pintando a abóbada da Capela Sistina”, 1509. Casa Buonarroti, Florença, Itália. Foto: Studio Fotografico Quattrone, Florença. 30 nião de que eu nunca deveria terminá-la”.17 Essa estética de inconclusão propositada, no entanto, tornou-se uma metáfora de humildade e prosperidade. São tantas as formas de inconclusão que é até possível categorizá-las. Algumas obras parecem completas para o mundo exterior, mas continuam inacabadas para o autor, interrompidas, talvez, pela imposição de prazos. Outras são abandonadas simplesmente por serem defeituosas. Com frequência ainda maior constituem trabalhos preliminares ou preparatórios que, embora inconclusos, ajudaram o artista a se aprimorar. Também há aquelas que foram suspensas pela morte do produtor, mas concluídas postumamente por outros. Em geral, concentramo-nos mais nessa última forma de obras inacabadas, especulando sobre até que ponto o que estamos vendo, ouvindo ou lendo é realmente produto daquela mente brilhante. Se um artista morre antes de terminar o que poderia ter sido um clássico, podemos questionar se é correto expor ao escrutínio público um trabalho que o artista não teve tempo de concluir. Ainda assim, com frequência, de alguma maneira terminamos o trabalho – como fizemos com Juneteenth (19 de junho) e Three Days before the Shooting (Três dias antes do tiroteio), de Ralph Ellison, a partir das 2 mil páginas de anotações deixadas pelo escritor ao morrer; e com o romance multifacetado de David Foster Wallace, inconcluso, mas já com título, The Pale King (O rei pálido) –, como se soubéssemos o que resultaria dos esforços continuados do autor.18 Franz Kafka, que percebia falta de acabamento onde outros viam apenas um trabalho a ser elogiado, supostamente formulou uma “última vontade” ao morrer. Numa carta que deixou pouco antes de falecer, escreveu: “Tudo o que eu deixar para trás... na forma de diários, manuscritos, correspondências (próprias e de terceiros), esboços e assim por diante deve ser queimado, sem ser lido.”19 Endereçou-a a Max Brod, seu amigo havia mais de duas décadas. Três anos antes, dissera a Brod que estava formulando o pedido.20 Brod recusou-se a atendê-lo e publicou todos os romances que hoje temos de Kafka: O desaparecido ou Amerika, O processo e O castelo, em que havia até frases incompletas. Se em vida Kafka publicou apenas 450 páginas de texto, o The New York Times, 31 “de acordo com uma estimativa recente”, relatou que “nos últimos 14 anos, um novo livro sobre a obra dele foi publicado a cada 10 dias”.21 Completar ou preencher com base no fragmento é parte do mecanismo da visão em si. Essa habilidade pode ser atribuída à capacidade do cérebro de reconstruir uma imagem completa com base numa fração de informação um dia vislumbrada, a parte posterior da cabeça de alguém, por exemplo, ainda que não vejamos a pessoa há anos. Como o neurocientista Semir Zeki descreve, o inacabado “agita a imaginação do observador, que pode concluí-lo mentalmente”.22 O artista Romare Bearden considerava essa visão fragmentária fundamental para a definição do que é ser artista: “O artista é um amante da arte para quem, em toda arte que vê, falta algo; inserir nela o que para ele está faltando torna-se o centro da obra de sua vida.”23 Nós prosperamos, em parte, quando temos um propósito, quando ainda há mais por fazer. O incompleto intencional há muito tempo desempenha um papel central na criação de mitos. Na cultura navaja, alguns artesãos procuravam a imperfeição, deixando em seus tecidos e cerâmicas falhas propositais, denominadas “linhas do espírito”, de modo a lhes conferir um ímpeto de avanço, um impulso para a frente, uma razão para prosseguir no trabalho. Quase um quarto da tapeçaria navaja do século XX contém esses fios de cores contrastantes, que se estendem do padrão interno até as margens que o delimitam; as cestas e alguns potes navajos apresentam característica semelhante, chamada “linha do coração” ou “pausa do espírito”. A quebra do padrão se destina a conceder ao espírito do tecelão uma saída, para evitar que caia em uma armadilha e se perca no que consideramos um fim não natural. Existe certa incompletude inevitável que decorre da maestria. Quanto maior a nossa proficiência, mais suave o caminho que trilhamos e mais claramente avistamos as montanhas que se erguem adiante. “O que aumenta com o conhecimento?”, perguntou um dia o jornalista Jordan Elgrably ao escritor James Baldwin. “Você aprende quão pouco sabe”, respondeu Baldwin.24 O nome técnico dessa manifestação é efeito Dunning-Kruger – quanto maior é a nossa proficiência, melhor reconhecemos as possibilida32 des de nossas limitações. A recíproca é verdadeira – a ignorância nos protege do conhecimento necessário para percebermos quão ignorantes talvez sejamos na realidade. Albert Einstein, que deixou calhamaços de papéis sobre a mesa de trabalho de seu escritório em Princeton, Nova Jersey, na época de sua morte, resumiu esse efeito num recado a uma jovem que lhe escrevera preocupada com as notas baixas em matemática.25 “Não se preocupe com suas dificuldades em matemática”, disse-lhe Einstein. “Posso garantir a você que as minhas são ainda maiores.”26 A quase vitória Quando se alcança a maestria e se tem a impressão de que já não há mais nada à frente, é preciso encontrar alguma maneira de prosseguir, superando a nós mesmos. O sucesso motiva. No entanto, a quase vitória – a constante autocorreção de uma trajetória curva – pode nos impelir numa busca contínua. Os Jogos Olímpicos, um dos eventos esportivos em que se constata plenamente essa intenção, já incluíram alpinistas e artistas. Entre 1912 e 1952, participantes nas categorias de arquitetura, literatura, música, pintura e escultura estiveram entre atletas de classe mundial nas Olimpíadas de Estocolmo, Antuérpia, Paris, Amsterdã, Los Angeles, Berlim e Londres. Nelas se destacavam alguns juízes e concorrentes de renome, como os músicos Igor Stravinsky e Josef Suk.27 Era difícil, porém, encontrar artistas dispostos a vender seus trabalhos como amadores, exigência básica das competições olímpicas. Em consequência, as disputas artísticas seguiram o caminho do alpinismo, a mais efêmera dessas duas modalidades de competição no palco mundial. Por mais estranho que pareça considerar artistas e atletas lado a lado, existe tanto na arte quanto no esporte uma situação de alto nível em que os resultados são determinados por nossos recursos interiores – pelo espírito, pela vontade, pela crença e pelo foco. Todos que vão além da competição em si, que se empenham na busca da maestria, jogam em um campo que se desdobra em grande parte dentro deles mesmos. 33 Vislumbramos o fenômeno nos medalhistas de prata, de acordo com Thomas Gilovich, professor de psicologia da Universidade Cornell, que ficou fascinado pelas reações específicas de medalhistas de prata e bronze durante as Olimpíadas de 1992. A equipe de pesquisa dele avaliou tudo o que podia – reações visuais e verbais, diferenças de resposta durante as entrevistas depois das competições e posições assumidas no pódio – e constatou que os medalhistas de prata pareciam muito mais frustrados e se mostravam muito mais concentrados nas competições seguintes que os medalhistas de bronze, que por sua vez estavam ainda mais distantes da glória da vitória. Os medalhistas de prata muitas vezes são afligidos por sentimentos e pensamentos do tipo “se pelo menos eu...”, a respeito de suas quase vitórias.28 Já os medalhistas de bronze, que não raro demonstram satisfação no pódio, embora estejam no mais baixo nível hierárquico, concluiu Gilovich, em geral se sentem gratificados por terem conseguido uma medalha, em vez de ficarem esquecidos no quarto lugar.29 Essa inversão à primeira vista ilógica resulta de um raciocínio contrafatual, ideias que nos ocorrem sobre “como poderia ter sido”. Daniel Kahneman e Amos Tversky descobriram essa tendência por meio de um experimento mental em que pediram aos participantes que imaginassem seu nível de frustração depois de perder por 5 minutos ou 30 minutos um voo programado com antecedência. É mais fácil para o viajante que se atrasou apenas 5 minutos imaginar como poderia ter evitado aquela situação: se pelo menos tivesse dirigido mais rápido, se tivesse escolhido outro itinerário, se tivesse encontrado as chaves do carro um pouco antes... – o que torna o pequeno deslize mais frustrante. Já para quem se atrasou 30 minutos corrigir isso não teria sido tão fácil. Quanto mais frustrante for o cenário, maior será a probabilidade de que venha a resultar em mudança de comportamento no futuro.30 O abalo de uma quase vitória é tão duradouro que as máquinas caça-níqueis e as loterias instantâneas muitas vezes são programadas para exibir derrotas por diferenças mínimas, a fim de estimular novas rodadas no jogo. Os resultados de quase vitória em raspadinhas são manipulados com tanta frequência que, na década de 1970, a Comissão Real de 34 Jogo da Inglaterra as incluiu na categoria de “exploração” do setor.31 As máquinas caça-níqueis e os jogos em geral oferecem a probabilidade de ganhar a taxas constantes, como a proporção dos lances de dados ou das puxadas de alavancas, mas bilhetes mostrando a quase vitória proporcionam aos jogadores a sensação de que chegaram muito perto, o que os estimula a tentar de novo. Nos esportes que requerem preparação em vez de sorte, os medalhistas de bronze geralmente pensam como Jackie Joyner-Kersee. Nos Jogos Olímpicos de 1984, ela chegou com a diferença de um terço de segundo em relação à vencedora na prova de 800 metros, perdendo a medalha de ouro no heptatlo. Seu treinador e marido, Bob Kersee, previu que aquilo daria à esposa a determinação de que precisaria na próxima competição olímpica, em 1988. De fato, quatro anos depois, ela conquistou um novo recorde mundial, com 7.291 pontos. Desde então, nenhum outro atleta chegou perto desse resultado. Quando ela perdeu novamente, nas eliminatórias de 1991, em Tóquio, em consequência de uma lesão no joelho, Kersee sabia que aquilo de novo impeliria a esposa para a conquista do ouro no heptatlo. Ela ficou com o terceiro lugar no salto em distância em 1992. Confirmando o raciocínio contrafatual, a mulher até então conhecida como a maior atleta do mundo não demonstrou frustração. Ela havia competido apesar da lesão e recebeu o bronze como uma “medalha pela coragem”.32 As quase vitórias estão por toda parte, fabricadas ou previstas. Ao deixar o treinamento da equipe de tiro com arco de Colúmbia, procurei Andrea Kremer, repórter veterana, respeitada pelas investigações bem apuradas e pelas perguntas difíceis na cobertura para o programa Real Sports, da HBO, e para a NBC nos últimos 30 anos. Ela me contou histórias de como os atletas vencedores encontram maneiras de se manterem humildes, de “fabricar fracassos, forjar debilidades, para se motivarem ainda mais”.33 A pressão que precede a vitória é algo que a fascina. Sem isso, em geral carecemos do impulso de que precisamos. Essa talvez seja uma das razões, acredita ela, pelas quais nenhum time da NFL (a principal liga de 35 futebol americano) jamais conquistou o campeonato três vezes seguidas. “Ocorreram algumas repetições, com Steelers, Patriots, Broncos, mas é muito difícil, porque você se sente muito seguro, e sustentar esse nível de euforia é bastante difícil.” A disciplina e a flexibilidade mental indispensáveis para manter a excelência são diferentes e, em geral, mais difíceis de alcançar que o esforço necessário para chegar lá pela primeira vez.34 Quando o chão é muito plano, os realizadores de alto desempenho podem fabricar montanhas, criando a sensação de “não suficiente”, de algo incompleto, que gera um impulso. James Dawson, diretor da instituição de ensino Professional Chidren School (PCS), adota uma abordagem singular. Há quase 20 anos, ele dirige essa escola preparatória de bailarinos, atores e atletas olímpicos que oferece os mesmos currículos de escolas públicas e privadas, mas cujos horários são compatíveis com a realidade de seus alunos – profissionais de alto nível ainda crianças. Mais de 40% dos dançarinos do Balé da Cidade de Nova York são ex-alunos da PCS. Alguns dos 200 alunos da escola são atores da Broadway e da Off-Broadway. Yo-Yo Ma, Sarah Jessica Parker, Uma Thurman e Berenika Zakrzewski são parte da longa lista de formados pela escola. Cerca de 95% dos alunos tentam uma vaga no ensino superior e 85% deles são aprovados. Durante um café da manhã em Columbus Circle, Dawson me falou sobre como os alunos são exigentes na autoavaliação. Ele mencionou uma pianista russa que lhe perguntou se havia percebido que ela não executara o terceiro compasso do quarto movimento, em um de seus concertos. “É claro que não”, disse Dawson, com a fisionomia séria e imparcial, para em seguida sorrir e sacudir a cabeça.35 Também me contou a história de um violinista que participou de uma importante competição, ficou em segundo lugar e depois disse a Dawson que seus pequenos erros fizeram com que sentisse que havia traído o próprio Mozart. O aluno entrou em depressão e parou de praticar durante algum tempo, até que um dia confidenciou a Dawson, “em um cochicho”, que voltara a pegar o violino. “Metade do meu trabalho é permitir que os estudantes entrem e fechem a porta”, observou Dawson sobre o espaço seguro que oferece a esses jovens artistas, quase sempre acostumados a se apresen36 tar em público e para os quais chegar perto, ou a experiência da quase vitória, é a coisa mais comum do mundo. Mesmo nas conversas mais descontraídas, vemos com frequência o impulso desse contexto artificial de quase vitória. O cineasta alemão Werner Herzog obteve resultado com o famoso desafio que lançou ao amigo e colega Errol Morris: “Se você terminar o documentário Gates of Heaven (Portões do paraíso), comerei meus sapatos.” Morris terminou o filme e Herzog saboreou a iguaria em público, na noite de estreia.36 Uma quase vitória pode parecer eterna. O pugilista Byun Jong-il ficou tão arrasado com a derrota nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, que se sentou no ringue, com as mãos na cabeça, e ficou lá por mais de uma hora depois da luta.37 O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, conversou comigo sobre uma das mais dolorosas quase vitórias – conquistar a presidência, para, no final das contas, depois de uma longa batalha na Suprema Corte, ser notificado de que a vitória não era dele. Perguntei-lhe se aquilo o levara a se reinventar, a reforçar seus princípios básicos, e citei um comentário, geralmente atribuído a Winston Churchill: “Sucesso é avançar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo.” Ele riu. Conhecia a citação e observou que Churchill, depois, admitira que, embora a ideia fosse verdadeira, o sucesso tinha um ótimo disfarce.38 O tipo de amostragem aleatória que os sociólogos odeiam me proporcionou inúmeros outros vislumbres de situações cotidianas parecidas com a de ficar sentado no ringue. Eu voltava para casa uma noite, de trem, e escrevia este capítulo, cercada de papéis por todos os lados, quando um homem no outro lado do corredor perguntou sobre o que eu estava escrevendo. Ele havia embarcado com pouco mais que uma pasta. Parecia estar na casa dos 30 e ser do ramo financeiro. E era mesmo: trabalhava no banco UBS. Expliquei a ele o fenômeno da quase vitória. Ele logo se empolgou, descrevendo-me a sensação horrível que ainda o dominava ao se lembrar da derrota num jogo de badminton, quando tinha 13 anos. “Fiquei simplesmente inconsolável”, recordou, virando-se para olhar pela janela empoeirada. “Eu estava ganhando!”, garantiu, em um tom de voz um 37 tanto alto demais para o ambiente. Depois de se recompor, prosseguiu, comedido, mas ainda enfático, falando como os medalhistas de prata com quem eu conversara: “Eu tinha tudo para vencer.” Essa força pode ser tão intensa que organizações de saúde do porte da Clínica Mayo e da Mayo Medical Ventures instituíram o prêmio Queasy Eagle depois que seu Grupo de Trabalho para Inovação descobriu que a baixa tolerância ao fracasso poderia retardar o progresso da medicina. A Clínica Mayo gerara apenas 36 novas ideias para patentes em determinado campo nos 18 anos anteriores. Apenas pouco mais de um ano depois da iniciativa, destinada a homenagear os esforços que redundaram em quase vitórias, mesmo que tenha sido abandonados, o número de novas ideias se multiplicou, chegando a 245, muitas das quais mereceram novas patentes.39 As quase vitórias mudam nossa percepção do contexto. Elas transformam objetivos futuros, que tendemos a perceber a certa distância, em eventos mais próximos. Consideramos a distância temporal da mesma maneira que encaramos a distância espacial. (Ao imaginarmos um amanhã promissor, nós o vemos com muita nitidez e objetividade. Ao concebermos, porém, algum acontecimento no futuro remoto, não amanhã, mas daqui a 50 anos, a imagem será bastante nebulosa.)40 A quase vitória muda o enfoque, levando-nos a pensar em como alcançar o que se situa à nossa frente, mesmo que esteja longe e ainda inatingível. Embora nem sempre resulte em triunfo no final, o impulso de chegar perto pode ajudar a nos superarmos. A história das proezas de Julie Moss, de 23 anos, contribuiu para a popularidade das competições de Ironman. Em 1982, ela frequentava o último ano da faculdade, na Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, com especialização em educação física, e se inscreveu na competição de Kona, no Havaí, para coletar dados sobre ela mesma, como requisito da monografia de final de curso. Deixou o treinamento para a última hora e se preparou durante apenas dois meses antes do triatlo, terminadas as provas finais da faculdade. A única orientação dela “se limitou a um artigo na revista Sports Illustrated”. Aquela experiência foi tão diferente de qualquer coisa 38 que já tinha feito que até pareceu ficção, “e a ficção lhe dá a liberdade para imaginar o impossível e fazê-lo acontecer à medida que avança”, disse ela.41 Depois de nadar 3.860 metros em águas revoltas e pedalar 180 quilômetros, ela estava vencendo a corrida final de 42 quilômetros, a menos de 2 quilômetros da linha de chegada, com vantagem de seis minutos sobre a segunda colocada, que estava mais de 1.600 metros atrás dela. Quando faltava menos de 1 quilômetro para vencer o Ironman, a vitória se descortinava com nitidez diante dela; mas, de repente, Julie começou a sentir câimbra, e a agilidade com que vinha correndo até então foi substituída por um mancar irregular e bizarro. A poucos metros da linha de chegada, as pernas dela não resistiram. Ela caiu de modo tão desajeitado à beira do trecho final que até pareceu uma queda fatal. Quando Kathleen McCartney a ultrapassou, Julie achou que estava tudo acabado. “Pensei: ‘É ela. Está passando por mim. Desisto.’”, disse Julie, narrando os pensamentos que a afligiram naquele momento. “E, de repente, ouvi uma voz que insistia: ‘Levante-se!’”42 Como não conseguia ficar de pé, ela começou a engatinhar. “Não sei se foi um novo surto de competitividade ou se apenas resolvi defender o meu território, mas não queria perder o que eu conquistara depois de chegar àquele ponto”, explicou.43 Ela se retesou no chão, apoiando-se sobre os braços e pernas, como um tripé, em um avanço rastejante, para começar de novo. Julie engatinhou pelos últimos 10 metros da corrida. Exigiu tanto de si que perdeu o controle das funções corporais. “Sujei as calças em rede nacional”, revelou a repórteres. Tudo isso acontecia enquanto ela se exauria para cruzar a linha de chegada, contorcendo-se rente ao chão daqueles campos de lava havaianos. “Na minha mente, estava fazendo um bom tempo. As imagens gravadas revelaram uma versão mais lenta e mais verdadeira”, disse ela em outra ocasião.44 Ela enxotava quem tentava ajudá-la, no esforço para não ser desclassificada, chegando a afastar até a própria mãe, que lhe ofereceu um colar de flores havaiano quando ela tentava se erguer para cruzar a linha de chegada. O engatinhar doloroso era a única opção. 39 Jim McKay, da NBC, falou pelas muitas pessoas que assistiram à cena quando classificou aquela chegada de Moss como “o mais inspirador momento dos esportes que eu já vi”. O número de inscrições no Ironman dobrou nos três anos seguintes.45 Durante aquele flagelo, ela concluiu: “Minha vida seria diferente. Senti que estava mudando naquele instante. Assumi um compromisso comigo mesma. E o cumpri. Não me importava que doesse, não me importava que fosse chocante, mas eu iria até o fim, eu terminaria.” Ela finalmente completou os últimos 10 metros, 29 segundos depois da competidora que a ultrapassara, o que continua sendo a menor margem de vitória em todas as competições de Ironman.46 Julie ainda imagina como teria sido a vitória, mas, sem dúvida, atribui àquela quase vitória as mudanças irreversíveis pelas quais passou desde então. O caminhar constante não é apenas uma forma de movimento. Também reflete como vivemos. “Quando nos imaginamos, nos vemos caminhando”, lembra a autora Rebecca Solnit. “‘Quando ele caminhou sobre a Terra’ é uma maneira de descrever a existência de alguém; a profissão é a ‘caminhada pela vida’; o especialista é uma ‘enciclopédia ambulante’; e ‘ele caminhou com Deus’ são os termos do Antigo Testamento para descrever o estado de graça.”47 O pintor Mark Bradford, referindo-se ao processo que adota na procura de material básico para as suas obras monumentais, diz: “Como não encontro o que preciso, tenho que me tornar disponível para o universo, então saio caminhando por aí, em busca de papel, do papel certo.”48 O que queremos mas não temos gera nossa marcha para a frente. Os mestres são os melhores não porque levam a obra até o fim, mas porque sabem que não há fim. Nos territórios mais amenos, o trajeto entre o propósito e a realização sempre se encontra em um futuro permanente. Michelangelo fazia caminhadas nas montanhas em busca das pedreiras de mármore totalmente branco, onde encontraria a pietra viva certa. Havia certa umidade nesse mármore preso ao veio da montanha, ou 40 escavado tão recentemente que conservava a seiva original, possibilitando a criação de esculturas que melhor “emulassem os antigos”.49 Ele era o único artista da Itália do século XV, de semelhante reputação, que buscava ele mesmo o próprio material. Contratava outras pessoas para ajudá-lo, mas também passava boa parte do ano nessa busca – oito meses seguidos.50 Em Carrara, nos Alpes Apuanos, ele olhava para o oceano e imaginava entalhar em uma das montanhas uma obra colossal, uma escultura que pudesse ser vista por todos os navegantes que se aproximassem da costa. Quando Condivi escreveu a biografia do artista e narrou sua carreira tão meticulosamente documentada, Michelangelo quis que esse exemplo vívido de sua trajetória inacabada fosse parte do registro de sua vida.51 Esse foi o único ponto na biografia em que Condivi citou diretamente sua conversa com o artista, para dar ênfase. Michelangelo denominou essa ideia persistente de “loucura que me acometeu” e continuou: “Se eu tivesse, porém, a certeza de viver quatro vezes mais, eu tentaria realizá-la.”52 Para Michelangelo, a arte era “uma sucessão infindável de lutas”. “Davi com sua funda, eu com meu arco”: era como o artista via sua obra famosa, sua jornada, suas ferramentas.53 Suas realizações são produtos do foco no que restava fazer, enquanto mantinha o olhar nas montanhas que constantemente se erguiam em seu caminho. Agora faziam sentido para mim as palavras do técnico – ditas quase no fim do treinamento, sem que as arqueiras o ouvissem – ao afirmar que muitos de seus colegas nunca se consideram capazes de fazer o suficiente por seus arqueiros. Alguns simplesmente abandonam a profissão, sentindo que todo o seu arsenal de instruções não é o bastante. Os exercícios de visualização e postura não são eficazes para ajudar os arqueiros a superar os obstáculos. Esse comentário não pareceu exatamente uma queixa, mas um reconhecimento humilde, uma maneira de expressar o fato de que ele se desdobra em um caminho voraz, que sempre exige mais dos caminhantes. Construímos sobre os alicerces das ideias inacabadas, mesmo que essas ideias sejam parte de nosso antigo ego. “A utopia está lá no horizon41 te”, disse o escritor Eduardo Galeano. “Ando dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho 10 passos e ela corre mais 10 passos. Por mais que eu avance, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isto: para que eu não deixe de caminhar.”54 A utopia impulsiona o que jamais teríamos criado sem ela. A conclusão é o objetivo, mas, assim esperamos, nunca o fim. 42 INFORMAÇÕES SOBRE A SEXTANTE Para saber mais sobre os títulos e autores da EDITORA SEXTANTE, visite o site www.sextante.com.br e curta as nossas redes sociais. Além de informações sobre os próximos lançamentos, você terá acesso a conteúdos exclusivos e poderá participar de promoções e sorteios. www.sextante.com.br facebook.com/esextante twitter.com/sextante instagram.com/editorasextante skoob.com.br/sextante Se quiser receber informações por e-mail, basta se cadastrar diretamente no nosso site ou enviar uma mensagem para [email protected] Editora Sextante Rua Voluntários da Pátria, 45 / 1.404 – Botafogo Rio de Janeiro – RJ – 22270-000 – Brasil Telefone: (21) 2538-4100 – Fax: (21) 2286-9244 E-mail: [email protected]
Baixar