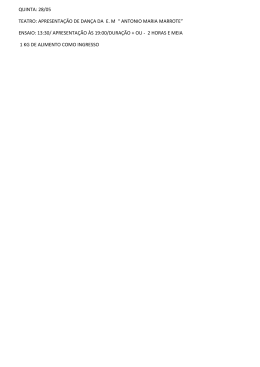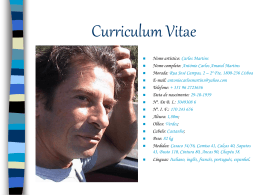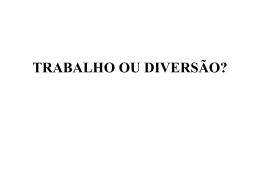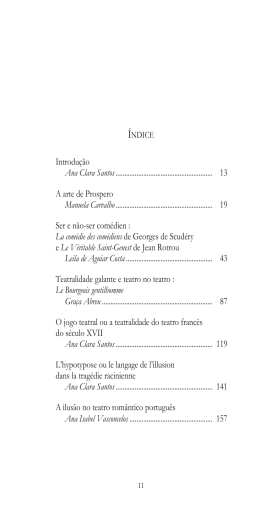UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEATRO MESTRADO EM TEATRO PRISCILA DE AZEVEDO SOUZA MESQUITA EM BUSCA DE UM TEATRO FEMINISTA: RELATOS E REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO TEXTO E ESPETÁCULO “JARDIM DE JOANA” FLORIANÓPOLIS - SC 2012 PRISCILA DE AZEVEDO SOUZA MESQUITA EM BUSCA DE UM TEATRO FEMINISTA: RELATOS E REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO TEXTO E ESPETÁCULO “JARDIM DE JOANA” Dissertação apresentada como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Teatro, Curso de Mestrado em Teatro, Linha de Pesquisa: Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetividade. Orientadora: Profa. Dra. Maria Brigida de Miranda FLORIANÓPOLIS - SC 2012 PRISCILA DE AZEVEDO SOUZA MESQUITA EM BUSCA DE UM TEATRO FEMINISTA: RELATOS E REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO TEXTO E ESPETÁCULO “JARDIM DE JOANA” Esta dissertação foi julgada aprovada para a obtenção do título de Mestre em Teatro, na linha de pesquisa Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetividade, em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, em 27 de abril de 2012. Prof. Dr. Stephan Arnulf Baumgärtel Coordenador do PPGT - UDESC Apresentada à Comissão Examinadora, integrada pelos professores: Prof.ª Dr.ª Maria Brigida de Miranda Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC Orientadora Prof. Dr. Stephan Arnulf Baumgärtel Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC Membro Prof.ª Dr.ª Lucia V. Sander Universidade de Brasília - UnB Membro Florianópolis - SC, 27 de abril de 2012. Dedico este trabalho para minha mãe Vera, admirável guerreira e incentivadora de meus sonhos, para minha querida vó Sebastiana (in memorian), que por tanto tempo dividiu seu quarto comigo, e se foi, deixando um profundo silêncio, e para a querida vó Gaby (in memorian), que mesmo distante, me ensinou a andar sempre pelo caminho do bem. AGRADECIMENTOS Agradeço antes de tudo à Vera, minha mãe, quem me ensinou os primeiros pensamentos feministas, mesmo sem chamá-los assim. Ao Beto Ribeiro, que com seu amor, me incentivou, deu broncas, carinhos, e me proporcionou muitos momentos de diversão, presença fundamental para que eu chegasse até aqui. Agradeço a cada uma do grupo (Em) Companhia de Mulheres, as belas flores desse jardim, sem as quais ele não teria existido: Maria Brigida de Miranda, minha orientadora, por confiar em meu trabalho, me guiando e estimulando neste processo; Lisa Brito, que com seu bom humor e disposição me transmitia sensações boas nos momentos mais difíceis; Julia Oliveira, pelo seu comprometimento, presença cênica e por fazer-me rir; Emanuele Mattiello, pelo seu sorriso, carinho e atenção; Rosimeire da Silva, pela troca constante de ideias, textos e traduções; Morgana Martins, pelas lindas canções que compôs para o nosso espetáculo; Marina Sell e Vanessa Civiero, que intensamente estiveram conosco no início deste processo. Agradeço àqueles que com muita boa vontade (e por amor à camisa) participaram da criação do vídeo e das músicas que fizeram parte do espetáculo Jardim de Joana: Carol Miranda, Claudia Mussi, Fábio Yokomizo, Helôisa Petry, Leonardo Brandão, Lohanny Rezende, Luana Leite, Luana Tavano Garcia, Lucas Ferraza, Lucas Heymann, Marcelo F. de Souza, Oto Henrique, Priscila Marinho, Renata Swoboda, Tuany Fagundes. Agradeço imensamente ao PPGT/ UDESC: às secretárias Emília “Mila” Leite e Sandra Siggelkow e a todos os professores que participaram desta jornada em algum momento; aos professores integrantes da banca examinadora de qualificação e defesa, Stephan Arnulf Baumgärtel, Lucia V. Sander e Fátima Costa de Lima. Agradeço às minhas amigas-irmãs, companheiras de teatro e de vida: à Karina de Paula, por sempre estar ao meu lado, e por emprestar seu computador nas duas vezes em que o meu quebrou durante a escrita dessa dissertação; à Sarah Ferreira, pelas loucas conversas sérias e Lívia Gonçalves pela tranquilidade transmitida. Agradeço às minhas amigas-irmãs, que mesmo distantes, me transmitem inspiração e motivação: à Susan Möller Ferreira, por me inspirar com as suas aventuras e à Thaís Nozaki que me motiva a mudar sempre que necessário. Agradeço à CAPES por financiar esta pesquisa, detalhe importantíssimo... “A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la – e como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia, e que instantaneamente reconheço. A linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas – volto com o indizível. O indizível só me será dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu.” Clarice Lispector RESUMO MESQUITA, Priscila de Azevedo Souza de. Em busca de um teatro feminista: Relatos e reflexões sobre o processo de criação do texto e espetáculo “Jardim de Joana”. 2012. Dissertação (Mestrado em Teatro – Linha: Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetividade). Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-graduação em Teatro. Florianópolis, 2012. Considerando a lacuna de textos teatrais escritos por mulheres e/ ou que contemplem assuntos relacionados ao universo feminino, o grupo de pesquisa (Em) Companhia de Mulheres, da UDESC/ Florianópolis, formado para a execução desta pesquisa, propôsse a criar seu próprio texto e espetáculo dentro do método devised theatre. A partir das sete demandas estabelecidas pelo women’s liberation movement, nos anos 1970, o grupo desenvolveu uma temática voltada às causas feministas, optando pela questão da legitimação da relação homo afetiva perante a lei e sua aceitação pela família e sociedade. Esta dissertação descreve como o grupo atingiu seus objetivos, desde a sua formação, passando pelas formas de organização até as estratégias de criação, que culminaram na criação do texto e espetáculo Jardim de Joana. Para refletir sobre este processo, a prática do grupo é colocada em diálogo com os procedimentos utilizados pela prática teatral feminista bem como com os conceitos que permeiam a teoria teatral feminista. Palavras-chave: Teatro Feminista. Processo criativo. Devised Theatre. ABSTRACT MESQUITA, Priscila de Azevedo Souza de. Em busca de um teatro feminista: Relatos e reflexões sobre o processo de criação do texto e espetáculo “Jardim de Joana”. 2012. Dissertação (Mestrado em Teatro – Linha: Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetividade). Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-graduação em Teatro. Florianópolis, 2012. Considering the lack of theatrical texts written by women and / or include issues related to the feminine, the research group (Em) Companhia de Mulheres, UDESC / Florianópolis, formed to carry out this research, it was proposed to create your own text and spectacle within the devised theatre method. From the seven demands set by the women's liberation movement in the 1970s, the group developed a theme dedicated to feminist causes, opting for the question the legitimacy of homosexual affection relationship before the law and its acceptance by family and society. This dissertation describes how the group achieved its objectives, since their formation, passing through the forms of organization to create strategies that culminated in the creation of text and spectacle Jardim de Joana. To reflect on this process, the group practice is placed in dialogue with the procedures used by feminist theatrical practice as well as the concepts that permeate the feminist theatrical theory. Key-words: Feminist Theatre. Creative process. Devised Theatre. SUMÁRIO INTRODUÇÃO............................................................................................................ 10 1 APONTAMENTOS SOBRE O TEATRO FEMINISTA E TEORIA TEATRAL FEMINISTA.................................................................................................................. 18 1.1 ‘TEATRO FEMINISTA’: UM TERMO INVISÍVEL NO BRASIL?..................... 18 1.1.1 Definindo o termo ‘teatro feminista’..................................................................... 19 1.2 A PRÁTICA TEATRAL FEMINISTA COMO UMA PRÁTICA POLÍTICA....... 23 1.3 AS VERTENTES FEMINISTAS E A INFLUÊNCIA NA PRÁTICA TEATRAL FEMINISTA................................................................................................................... 28 1.3.1 Feminismo radical/ cultural................................................................................... 28 1.3.2 Feminismo materialista....................................................................................... 30 1.4 A QUESTÃO DA DRAMATURGIA: MULHERES ESCRITORAS FORA DO CÂNONE E A NECESSIDADE DE CRIAR NOVOS TEXTOS, QUE CONTEMPLEM ASSUNTOS RELACIONADOS À MULHER ................................ 31 1.4.1 Resgatando a tradição feminina ‘perdida’ ............................................................ 35 1.4.2 Texto e contexto ................................................................................................... 39 1.4.3 O caso brasileiro.................................................................................................... 41 2 GRUPO (EM) COMPANHIA DE MULHERES: FORMAÇÃO; ORGANIZAÇÃO E “PRIMEIRA FASE” DE TRABALHO.................................. 47 2.1 FORMAÇÃO DO GRUPO...................................................................................... 47 2.1.1 “Espaço Ginocêntrico”.......................................................................................... 54 2.1.1.1 Ponto de vista sobre o treinamento psicofísico no grupo (Em) Companhia de Mulheres: entre o incômodo e o prazer.......................................................................... 56 2.1.2 Empowerment/ empoderamento............................................................................ 58 2.2 PROCESSO CRIATIVO.......................................................................................... 63 2.2.1 Treinamento, Rituais e festas: nossos meios de integração e criação................... 63 2.2.2. Trabalhando com contos....................................................................................... 69 2.2.3 “Mulher selvagem”, “Arquétipo” e “Princípio Feminino”: Estudos..................... 79 2.3 O PERCURSO.......................................................................................................... 86 2.3.1 Descrição do Percurso ou Primeira Tentativa de Dramaturgia............................. 86 2.3.2 Reflexão sobre o Percurso.................................................................................... 87 3 EM BUSCA DE UMA DRAMATURGIA FEMINISTA: “SEGUNDA FASE” DE TRABALHO E O JARDIM DE JOANA..................................................................... 97 3.1 EM BUSCA DE UM TEMA E DE UMA DIREÇÃO............................................. 97 3.1.1 Em busca de um tema............................................................................................ 97 3.1.2 Em busca de uma direção...................................................................................... 99 3.2 TEATRO “COLETIVO”, “COLABORATIVO,” “DRAMATURGIA EM PROCESSO” E “DEVISED THEATRE” ..................................................................... 104 3.2.1 Apontamentos sobre o uso dos termos................................................................ 104 3.2.2 “Criação coletiva”, “processo colaborativo” e “dramaturgia em processo”........ 105 3.2.3 “Devised Theatre”............................................................................................... 107 3.2.4 A opção pelo “devised theatre”........................................................................... 109 3.3 A IMPROVISAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DO NOSSO DEVISED THEATRE..................................................................................................................... 112 3.3.1 A criação de uma história com conflitos............................................................. 113 3.3.2 A caixa de Pandora: criação de cenas oníricas.................................................... 114 3.3.3 A criação da última cena como estímulo para a criação da primeira...................118 3.3.4 Reflexões............................................................................................................. 119 3.4 JARDIM DE JOANA: DA IMPROVISAÇÃO PARA O TEXTO E DO TEXTO PARA O ESPETÁCULO............................................................................................. 122 3.4.1 A escrita do texto dramático ............................................................................... 122 3.4.2 O texto de volta à cena........................................................................................ 128 3.4.3 O vídeo do casamento.......................................................................................... 129 3.5 JARDIM DE JOANA: O AMOR ENTRE MULHERES.........................................130 3.5.1 O espetáculo Jardim de Joana.............................................................................. 130 3.5.2 As apresentações.................................................................................................. 134 3.5.3 Algumas reflexões............................................................................................... 135 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................... 143 REFERÊNCIAS.......................................................................................................... 148 ANEXO – JARDIM DE JOANA (TEXTO DRAMÁTICO) .................................. 153 INTRODUÇÃO “Não acredito na autolibertação. libertação é um ato social.” A Paulo Freire Para abrir este trabalho, partirei da minha experiência enquanto aluna de teatro dentro de uma universidade pública, brasileira, a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Inicio com esta discussão pessoal estimulada pelo artigo The personal is political (1969), escrito pela feminista radical Carol Hanisch, enquanto acontecia a segunda onda feminista. Conforme Hanisch (2006) conta, em uma recente introdução explicativa ao referido artigo de 1969, na época em que o escreveu, os grupos de conscientização que estavam se formando e que faziam parte do Women's Liberation Movement, foram criticados por não serem nada além de “terapia pessoal”. Hanisch (2006) explica que nestes grupos de mulheres discutiam-se as opressões vividas por elas e questões de seu contexto pessoal, o que era visto como não político pelos seus oponentes. De acordo com Hanisch (2006), este posicionamento, tanto de homens quanto de mulheres, contrário aos grupos de consciência, menosprezava a tentativa de tais grupos de introduzir na esfera política, problemas enfrentados por muitas mulheres. Em resposta a essas críticas, Hanisch escreveu The personal is political, onde explica que ao discutir problemas que fazem parte do universo individual, não se procurava encontrar soluções pessoais para estes problemas, mas sim soluções coletivas. Assim, a razão de eu participar dessas reuniões não é para resolver qualquer problema pessoal. Uma das primeiras coisas que descobrimos nestes grupos é que os problemas pessoais são problemas políticos. Não há soluções pessoais neste momento. Há apenas ação coletiva para uma solução coletiva. 1 (HANISCH, 1969, p. 4, tradução nossa). 1 “So the reason I participate in these meetings is not to solve any personal problem. One of the first things we discover in these groups is that personal problems are political problems. There are no personal solutions at this time. There is only collective action for a collective solution.” 10 A autora afirma que as reuniões destes grupos eram uma forma de ação política, na medida em que as mulheres eram incentivadas a falarem de suas próprias experiências, e de suas vidas como elas realmente são, e não como foram instruídas a falar sobre. Deste modo, questões propostas eram debatidas a partir das experiências individuais, para, em seguida, serem feitas conexões a partir da generalização do que foi dito, e finalmente tentar encontrar as soluções coletivamente e que servissem ao coletivo. Apesar do slogan “O pessoal é político” ter sido criado há mais de 40 anos, em um contexto diferente dos dias de hoje, ele permanece atual. Assim, espero que ao trocar essa experiência com o leitor, possamos realizar conexões com outras histórias e pensarmos em soluções que possam servir a outrem. Formei-me na graduação no ano de 2008, após seis anos de universidade. Não me lembro de em nenhuma das disciplinas de história do teatro ou de dramaturgia ter lido algum texto teatral escrito por uma mulher. Mas, apesar dessa possível ausência de dramaturgas em nosso currículo (escrevo possível, pois poderia talvez haver alguma, mas eu realmente não consigo me lembrar), penso que deveriam ter dramaturgas tão importantes quanto os dramaturgos que nos são dados a conhecer. Aos poucos vou lembrando os autores que li: Sófocles, Goethe, Corneille, Georg Büchner, Alfred Jarry, Shakespeare, Ionesco, Beckett, foram alguns dos dramaturgos considerados “clássicos” lidos para as disciplinas. Plínio Marcos, Bertold Brecht, Karl Valentin, Nelson Rodrigues, Ivo Bender, Antonin Artaud, foram alguns autores cujos textos encenei. Mas o texto que montei , com o qual mais me aproximei, foi uma adaptação do romance A paixão 2º G.H., de Clarice Lispector (1974) 2. Será por que se tratava de um texto escrito por uma mulher? 3 2 LISPECTOR, Clarice. A Paixão Segundo G. H. Rio de Janeiro: J. Olímpio, 1974. 3 Este trabalho, batizado de A P. 2º G.H., foi realizado no ano de 2005, dirigido pela então graduanda Sarah Ferreira, e com atuação minha. Foi desenvolvido na disciplina de Encenação II, na qual Ferreira estava matriculada, sob a orientação do Prof. José Ronaldo Faleiro. Nesta encenação, eu e Ferreira adaptamos o texto para a cena, em um processo colaborativo, que consistiu em grifar no texto as passagens mais significativas para cada uma de nós. Após termos realizado essa primeira seleção, retiramos as passagens do texto que foram sublinhadas por nós duas. Paralelo a esse trabalho sobre o texto, Ferreira me passou uma sequência de movimentos corporais, influenciada pelo seu trabalho com a dança e o contato improvisação, e esta sequência tornou-se a matriz sobre a qual eu criei toda a partitura de cena. Após termos iniciado este trabalho, contamos com a participação dos músicos Rafael Pesce e Juliano Pires, os quais criaram o repertório sonoro da peça em conjunto com a criação de minha partitura. Assim, a minha movimentação no espaço, contribuiu para que eles criassem as músicas, e as músicas que eles criavam, contribuía para o desenvolvimento de minha partitura corporal. Dialogando com criação da partitura de cena, fomos aos poucos incluindo o texto. Pesce foi também responsável pela minha preparação vocal, e Leandro Rodrigues de Souza trabalhou como assistente de produção. A P. 2º G.H. foi apresentado em festivais como o Isnard de Azevedo (circuito 3 em 1), de Florianópolis, Didascálico, da 11 Durante a graduação, nunca questionei onde estariam os textos teatrais escritos por mulheres. Não indaguei o porquê não as estudávamos. Mas hoje me pergunto: Será que não havia dramaturgas? Se havia e se há, por que não estudá-las? Será que seus textos não são tão bons quanto os dos “clássicos” masculinos que estudamos? Temos autoras consideradas “clássicas” na literatura para o teatro? E se temos, por que quase não se fala delas, por que não apareciam dentro do conteúdo das disciplinas do curso de teatro? Por que se privilegia o estudo de autores masculinos? Elas estão fora do cânone? Se este cânone que conhecemos é tradicionalmente masculino, podemos falar na existência de um cânone feminino? Em 2008, após me graduar, atuei em uma encenação do texto A Serpente4, última peça escrita por Nelson Rodrigues, em 1978. Neste momento comecei a sentirme incomodada com algo, que ainda não compreendia muito bem o que era. Eu não gostava daquele texto. Eu não queria ser Lígia, a mulher traída e abandonada pelo marido, e muito menos Guida, a irmã que empresta o marido para a irmã abandonada. Fazia-me mal colocar aquela situação em cena, por meio de uma interpretação realista, pois não me identificava com a personagem e nem com a história. Sentia-me deslocada, pois sem conseguir identificar-me com a personagem, a atuação tornava-se estranha, diferente de tudo que eu havia feito até então. Eu também não sabia como questionar aquele texto em cena, pois esta poderia ser uma possível solução para meu incômodo. Talvez, no fim da cena, após a minha personagem, Lígia, ter dormido com o marido emprestado pela irmã, eu tenha conseguido transformar o meu incômodo. Fazendo daquela cena trágica, uma cena cômica, mostramos o conflito entre as irmãs devido à satisfação sexual de uma, à custa do marido da outra. Depois dessa experiência, eu queria fazer outro trabalho, utilizando um texto por meio do qual eu pudesse expressar questões relativas às minhas experiências. Mas eu não sabia qual, não conseguia lembrar-me de nenhum que eu tivesse lido e sentido vontade de encenar. Então, Clarice Lispector sempre vinha à minha mente como uma possibilidade, mas era preciso encontrar outras. Foi quando comecei a ler Mulheres que Escola Técnica Federal, em Florianópolis e Riocenacontemporânea (mostra universitária), no Rio de Janeiro. 4 A peça “A Serpente” foi dirigida por Amanda Gartner e Thaís Carli, com atuação de Priscila Mesquita e Joyce Sangolete Chaimsohn, dentro da disciplina de Direção Teatral, sob coordenação do Profº José Ronaldo Faleiro, no segundo semestre de 2008, no CEART/ UDESC. O texto de Nelson Rodrigues não foi montado por completo, mas sim somente as cenas que mostravam a relação entre as irmãs Guida e Lígia. 12 correm com os lobos – Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, de Clarissa Pínkola Estés (1994), e gostei das antigas histórias, os mitos e contos de diferentes países, que autora conta neste livro. Tive vontade de ver estas histórias em cena e de compartilhá-las com outras mulheres. Pensei em fazer um grupo só de mulheres para que juntas, lêssemos essas histórias e pensássemos em como colocá-las em cena. Ou utilizá-las apenas como estímulo, para que contássemos nossas próprias histórias. Como precisava de um espaço onde pudesse desenvolver tais ideias, cogitei que isso seria viável dentro de uma pesquisa de mestrado na UDESC, onde eu acreditava que haveria uma professora que orientasse este projeto, Maria Brígida de Miranda, a qual já coordenava o grupo de estudos Teatro e Gênero desde 2006. Assim, dessa ideia inicial, de realizar um trabalho cênico com um grupo apenas de mulheres, e apoiada pelo referido livro de Estés (1994), desenvolvi o projeto de pesquisa para ingressar no curso de mestrado. Após ser aceita no programa, e estando sob a orientação de Miranda, a partir de sua sugestão, meu projeto de pesquisa uniu-se a ao projeto de suas outras duas orientandas. Deste modo, eu, Rosimeire da Silva e Lisa Brito, que ingressamos no mestrado no mesmo ano (2010), começamos a coordenar um laboratório de pesquisa prática. Este grupo prático iniciou como um desdobramento do grupo de estudos Teatro e Gênero, tendo como integrantes mulheres que já participavam do grupo de estudos, dentre elas, as duas mestrandas acima citadas, Miranda e as estudantes do curso de graduação em teatro, Emanuele Weber Mattiello, Julia Oliveira, Marina Sell, Vanessa Civiero e a mestre em teatro Morgana Martins. Nosso trabalho iniciou em março de 2010, e o grupo foi batizado no fim do mesmo ano, recebendo o nome (Em) Companhia de Mulheres. Dito isto, o foco deste estudo é mostrar o percurso traçado pelo grupo (Em) Companhia de Mulheres, no período compreendido entre março de 2010 até dezembro de 2011, inserindo-o dentro da prática teatral feminista. A proposta é descrever e refletir sobre os procedimentos adotados por este grupo durante o processo de criação, no qual buscou construir seu próprio texto e espetáculo. Olhar para o processo a partir de uma perspectiva feminista, utilizando como apoio uma bibliografia sobre a teoria teatral feminista é a tarefa a qual me proponho nas páginas que se seguem, a fim de refletir, registrar e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido, compartilhando esta experiência. 13 No decorrer da investigação, constatei que há poucas referências sobre a teoria teatral feminista disponível em língua portuguesa. Diante deste fato, meu limitado conhecimento em língua inglesa precisou se desenvolver ao longo da pesquisa, tornando a tarefa mais demorada e exaustiva, fator que também limitou o número de fontes primárias utilizadas. Mas, ao mesmo tempo em que fui descobrindo um novo modo de pensar o teatro, ao menos novo para mim, ampliei meu conhecimento da língua inglesa, tornando esta experiência mais rica e gratificante. Além disso, agucei meu olhar para questões políticas que abrangem lutas por diferentes causas. Isto significa que estudar o teatro feminista, me levou a conhecer não só o(s) pensamento(s) feminista(s), como também perceber que me posicionar politicamente faz com que a minha inconformidade com o mundo em que vivo me impulsiona cada vez mais para ação. Entendo com isso que a luta feminista abrange não apenas questões ligadas à mulher, mas amplia-se para questões ligadas a definição do humano. Antes de adentrarmos na descrição e reflexão do trabalho do grupo (Em) Companhia de Mulheres, o presente trabalho traz no Capítulo 1 alguns apontamentos sobre a teoria e a prática teatral feminista. Assim, refletimos sobre a invisibilidade do termo “teatro feminista” no Brasil e apresentamos uma possível definição para o termo. Utilizando como principal referência Elaine Aston (1995; 1999) e Jill Dolan (1991; 2011), mostramos como se desenvolve o teatro feminista a partir dos anos 1960, em países como Inglaterra e Estados Unidos, e como as diferentes vertentes do feminismo influenciam na criação de diferentes formas de fazer teatro feminista. Ainda no Capítulo 1, a partir do que escreve Aston (1995), Dolan (1991) e Lucia V. Sander (2007), abordamos o lugar das mulheres na história do teatro, demonstrando que não se trata tanto da inexistência de dramaturgas ou de mulheres trabalhando em outras funções no teatro, mas muito mais do que isso, isto é, a invisibilidade a qual seus trabalhos foram destinados, sendo que o resgate destes trabalhos “enterrados pela história” é uma das tarefas do feminismo. Conforme o demonstrado pelas autoras citadas, discutimos sobre como a existência de um cânone literário que exclui as mulheres, prejudicou e continua a prejudicar o desenvolvimento destas enquanto dramaturgas e consequentemente a sua colocação profissional. Se por um lado, elas são aplaudidas quando escrevem peças obedecendo aos padrões determinados por uma tradição literária, de outro lado, quando fogem deste padrão, não têm seus trabalhos reconhecidos. Assim, refletimos se é possível estabelecer um cânone 14 feminino, uma vez que o cânone é universal, e o universal, de acordo com a crítica feminista é masculino e consequentemente excludente dos assuntos relacionados à mulher. Ao trazer a discussão para o contexto brasileiro, utilizamos autores como André Luís Gomes e Laura Castro Araújo (2008), os quais fazem uma análise de 207 peças teatrais brasileiras publicadas entre 1960 e 2006, verificando que há o predomínio do discurso de autoria masculina, fator que influencia na construção da identidade feminina na dramaturgia brasileira. Por sua vez, a obra de Ana Lúcia Vieira Andrade (2006), ao examinar o trabalho das dramaturgas Leilah Assunção, Maria Adelaide Amaral e Ísis Baião, demonstra como a recepção de suas obras calcadas em aparatos críticos tradicionalmente masculinos, influencia na continuidade da carreira das autoras. Deste modo, o Capítulo 1 demonstra a necessidade de repensarmos o fazer teatral de forma que as mulheres possam construir a sua própria identidade na dramaturgia, em contraponto à predominância do discurso de autoria masculina. O Capítulo 2, ao descrever e analisar as estratégias de criação utilizadas pelo grupo (Em) Companhia de Mulheres, pretende mostrar o caminho encontrado pelo grupo para a construção dessa identidade no teatro. O Capítulo 2 inicia relatando desde o momento de fomentação da proposta desta pesquisa até a formação do grupo (Em) Companhia de Mulheres. Na sequência o grupo é contextualizado dentro de um “espaço ginocêntrico,” conceito abordado por Maria Brigida de Miranda (2010), como um espaço de empoderamento, conceito também tratado neste capítulo, tendo como aporte teórico Paulo Freire e Ira Shor (1986) e Rodrigo R. Horochovski e Giselle Meirelles (2007). Dando sequência ao relato sobre a formação do grupo, o Capítulo 2 mostra como as opções de trabalho do grupo, que iam além da sala de ensaio, serviram para uma maior aproximação das integrantes. Além disso, o capítulo descreve a “primeira fase” do trabalho criativo do grupo, utilizando como estímulos mitos e contos aliados ao treinamento psicofísico e aos jogos teatrais como estratégias de geração de material cênico. Para completar esta descrição, são apresentadas as leituras aproveitadas como estímulo durante o processo criativo, como os mitos e contos do livro de Estés (1994). Porém, este primeiro contato com antigas histórias despertou no grupo o interesse de compreender a dimensão arquetípica que as envolvem. Assim, Carl Jung (1964) e Jean 15 Shinoda Bolen (1990) foram referências de apoio para o entendimento do conceito de “arquétipo”, complementando a compreensão do conceito de “mulher selvagem”, abordado por Estés (1994). Junito Brandão (1984), Joseph Campbell (1990) e Beatrice Bruteau (1989) são autores que nos ajudaram a compreender a noção de “princípio feminino”, conceito que surgiu para nós também a partir da leitura de mitos. Estes estudos são posteriormente analisados em relação ao viés essencialista do feminismo cultural. Após o trabalho prático inicial, e estas leituras complementares, chegamos a um resultado cênico, que chamamos de percurso, descrito e analisado no fim deste capítulo. A análise é realizada tendo como apoio Hans-Thies Lehmann (2004; 2007), o qual discute questões ligadas às formas teatrais chamadas por ele de pós-dramáticas, e apresenta outro olhar sobre a noção de texto teatral. Também recorremos a Dolan (1991), que explica o estilo de teatro desenvolvido pelas feministas culturais, o que dialoga com o resultado obtido no percurso, contribuindo para a compreensão do mesmo. O Capítulo 3 trata da “segunda fase” do processo criativo do grupo, quando do desenvolvimento do texto e espetáculo Jardim de Joana. Para começar, contextualiza a necessidade do grupo em definir temas para a criação de um espetáculo, deixando para trás o resultado cênico obtido até então, isto é, o percurso. Da necessidade de definição de temas, seguiu-se também a necessidade de ter uma direção, pois até então o grupo trabalhara sem que alguém assumisse essa função. Aston (1999) é a referência principal para conversar com este momento vivenciado pelo grupo, ajudando-nos a problematizar as necessidades surgidas. Após comentar sobre a entrada de Miranda na direção do trabalho e sobre a delimitação de temas, o capítulo apresenta a forma de criação do texto dramático Jardim de Joana, contextualizando-o dentro da estratégia do “devised theatre”, método de trabalho recorrente em grupos teatrais feministas, e explicado por autoras como Miranda (2010), Alison Oddey (1994), Deirdre Heddon e Jane Milling (2006). Tratamos também de outros métodos, como “processo colaborativo”, “criação coletiva” e “dramaturgia em processo”, para verificar as possíveis diferenças e pontos de intersecções entre eles e, para tal, recorremos aos autores Antônio Araújo (2006), Sérgio de Carvalho (2009ª; 2009b) e Aleksandar Sasha Dundjerovic (2007) 16 Resumidamente, são descritas as improvisações realizadas que culminaram na criação do texto teatral Jardim de Joana. Em seguida contamos como foi o processo de escrita do texto, a partir da filmagem das improvisações e discutimos sobre as dúvidas que surgiram no grupo quanto a validade do texto criado. O refinamento textual que ocorreu durante os ensaios que desembocaram no espetáculo Jardim de Joana, e as apresentações do espetáculo também são relatados neste capítulo. Além de dialogar com as autoras citadas que escrevem sobre a prática teatral feminista, o capítulo aborda como o trabalho realizado na “primeira fase” influenciou na criação do Jardim de Joana. Finalmente, o capítulo faz uma reflexão sobre o espetáculo criado, a partir dos objetivos iniciais do grupo e o resultado obtido, trazendo ainda o conceito de “espectador ideal” tratado por Dolan (1991). 17 1 APONTAMENTOS SOBRE O TEATRO FEMINISTA E TEORIA TEATRAL FEMINISTA 1.1 ‘TEATRO FEMINISTA’: UM TERMO INVISÍVEL NO BRASIL? Ao iniciar a presente pesquisa averiguamos que publicações brasileiras sobre o teatro feminista são escassas, realidade apontada por duas recentes pesquisas brasileiras que abordam o tema: De quem é esse corpo? – A performatividade do feminino no teatro contemporâneo (2009), tese de Lucia Regina Vieira Romano e Teatro Feminista: uma abordagem sobre as teorias, as práticas e as experiências (2008), monografia de Luana Tavano Garcia5. Apesar da lacuna no estudo do teatro, no Brasil os estudos de gênero com uma visão feminista possuem um grande número de publicações em outras áreas, como por exemplo, nas ciências sociais, literatura e áreas da saúde. Além disso, Romano (2009) ressalta que nessas outras áreas existem traduções de pesquisas recentes realizadas em outros países, porém existe uma brecha no que diz respeito a traduções de pesquisas sobre teatro e gênero com vieses feministas. Devido à carência de material publicado sobre a prática teatral feminista no Brasil, a despeito dos esforços de pesquisadoras reunidas no Simpósio Temático Teatro e Gênero do Seminário Fazendo Gênero 8 e 96, e das pesquisas geradas no grupo de estudo Teatro e Gênero7, o presente trabalho utiliza como principal aporte teórico 5 Estas duas pesquisas ainda não forma publicadas, mas encontram-se disponíveis on-line. Vide Referências. 6 O Seminário Internacional Fazendo Gênero, incorporou na 8ª edição do evento, em 2008, o Simpósio Temático Atos de violência: representações de agressão à mulher no palco, coordenado por Maria Brigida de Miranda (UDESC), Ciane Fernandes (UFBA) e Lucia Regina Vieira Romano (USP), e em 2010, na 9ª edição do evento, o Simpósio Temático Teatro e Gênero, coordenado por Miranda e Kátia Rodrigues Paranhos (UFU). Deste modo, os trabalhos compartilhados nestes Simpósios têm contribuído para ampliar a discussão na área do teatro e gênero. Para maiores informações, consulte http://www.fazendogenero.ufsc.br/, onde também se encontram disponíveis os artigos publicados nos anais deste evento. 7 O Grupo Teatro e Gênero iniciou na pesquisa Poéticas do Feminino e Masculino: A Prática Teatral nas Pesquisas de Gênero (2006-2009), no DAC/CEART/UDESC, sob coordenação de Maria Brigida de Miranda. O grupo, atualmente vinculado à pesquisa Poéticas Feministas: a reinvenção da histeria nas peças teatrais feministas da década de 1990, encontra-se aberto a quaisquer interessados na discussão. Dentre as pesquisas produzidas como fruto deste grupo, podemos listar algumas, além da monografia de Garcia, a monografia Aspectos feministas em produções teatrais: análise de três casos brasileiros 18 publicações de pesquisadoras inglesas e americanas, como Elaine Aston (1995; 1999), Jill Dolan (1991) e Lizbeth Goodman (1993), as quais discorrem sobre este tema em seus países, a partir da década de 1960. É curioso refletir sobre o fato de que os trabalhos destas autoras, indispensáveis para o entendimento do teatro feminista, não se encontram ainda disponíveis em língua portuguesa. Estas autoras, além de explicarem os contextos nos quais os teatros feministas se desenvolveram, fornecem informações sobre o modo como os grupos se organizavam, bem como suas estratégias de criação, o que dialoga com a prática teatral desenvolvida pelo grupo (Em) Companhia de Mulheres, aqui estudado. Escrevemos teatros feministas no plural, pois como demonstram as autoras, existem diversos modos de fazer teatro feminista, em decorrência das diferentes vertentes feministas. 1.1.1 Definindo o termo ‘teatro feminista’ Ao longo do texto utilizaremos não somente o termo ‘feminista’, mas também o termo “feminino”, portanto, trazemos aqui uma possível diferenciação destes. Peter Barry (2002, p. 122) distingue os termos, “feminista”, “fêmea” e “feminino”, de acordo com a explicação de Toril Moi8, para quem “feminista” refere-se a uma posição política, “fêmea” a aspectos biológicos e “feminino” a características culturais. Ao estudar questões relativas à prática teatral feminista, o que será desenvolvido ao longo do texto, percebe-se que o teatro feminista apresentado por Aston (1995; 1999), Goodman (1993) ou Dolan (1991), busca em sua prática, um modo de trabalho relacionado aos ideais feministas do Women’s Liberation Movement, movimento político que teve início nos anos 1960, durante a Segunda Onda Feminista, lutando pela igualdade de direitos para as mulheres. Ainda que as práticas apontadas pelas autoras citadas sejam comuns em grupos feministas, cabe ressaltar que não são exclusivas destes. (MATOS, 2008) e os artigos Women's experimental theatre e Monstrous regiment : duas representações de teatros feministas da década de 1970 (GARCIA; MIRANDA, 2007/ 2008); Teatro Feminista: da pesquisa à sala de aula (MIRANDA, 2007/ 2008); Teatro Feminista no Brasil: Loucas de Pedra Lilás (MATOS, MIRANDA, 2007/ 2008); As canções de Vinegar Tom: uma releitura contemporânea da música na obra de Brecht (MUSSI; MIRANDA, 2007/ 2008); Das ‘aflições femininas’; ervas, poções e sangrias: a representação de curandeiras e médicos no espetáculo Vinegar Tom (MIRANDA, 2008/ 2009). 8 MOI, Toril. Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. London: Methuen, 1985. 19 Em Contemporary Feminist Theatres, Goodman (1993), utiliza a noção de teatro feminista como definida por Susan Bassnett9, segundo a qual, o feminist theatre [teatro feminista], tem uma posição política específica, baseada nas sete demandas estabelecidas pelo Women’s Movement. Para especificar essas demandas, citamos Bassnett (1984) apud Goodman (1993, p. 30-31, tradução nossa): 'Teatro feminista' logicamente baseia-se nas preocupações estabelecidas pelo Women’s Movement, sobre as sete demandas: igualdade de remuneração; educação e oportunidades iguais de trabalho; creches gratuitas e 24 horas; contracepção grátis e aborto sob pedido; independência financeira e legal; um fim da discriminação contra lésbicas e o direito da mulher definir sua própria sexualidade; liberdade de violência e coerção sexual. Estas sete demandas, das quais as quatro primeiras foram estabelecidos em 1970, e o restante em 1975 e 1978 mostram uma mudança para um conceito mais radical do feminismo que afirma a homossexualidade feminina e percebe a violência como sendo proveniente de homens. A tendência, portanto, não é tanto no sentido de uma re-avaliação do papel das mulheres como nós o conhecemos, mas em direção à criação de um cenário totalmente novo de estruturas sociais em que os tradicionais papéis masculino-feminino serão redefinidos. 10 Além de explicar que o feminist theatre baseia-se nessas sete demandas, Goodman também diferencia o termo feminist theatre de women’s theatre, elucidando que este último não se encontra comprometido com as sete demandas e se trata de um termo mais genérico. Essa variedade de termos “teatro das mulheres”, “teatro de mulheres”, “teatro feminino” e “teatro feminista”, pretendem denotar práticas feitas por mulheres, mas com diferentes posicionamentos em relação à própria noção de “mulher”. Optamos por utilizar a noção de feminist theatre, pois é a que mais se adequa à proposta do grupo (Em) Companhia de Mulheres, a ser discutida nos capítulos seguintes, bem como ao teatro feminista estudado a partir das autoras já citadas para dialogar com a prática do grupo. Para auxiliar na compreensão do que significa teatro feminista, buscamos também uma explicação clara e concisa sobre tal termo no Dicionário de Teatro de 9 BASSNETT, Susan. “Towards a theory of women’s theatre”. Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe, v.10: The Semiotics of Drama and Theatre, Herta Schimid and Aloysius Van Kesteren (Eds.), Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 1984. 10 “‘Feminist theatre’ logically bases itself on the established concerns of the organized Women’s Movement, on the seven demands: equal pay; equal education and job opportunities; free 24-hours nurseries; free contraception and abortion on demand; financial and legal independence; an end to discrimination against lesbians and a woman’s right to define her own sexuality; freedom from violence and sexual coercion. These seven demands, of which the first four were established in 1970, and the remainder in 1975 and 1978 show a shift towards a more radical concept of feminism that asserts female homosexuality and perceives violence as originating from men. The tendency therefore [p. 31] is not so much towards a re-evaluation of the role of women within as we know it, but towards the creation of a totally new set of social structures in which the traditional male-female roles will be redefine.” 20 Patrice Pavis (2008), pois esta publicação fornece uma compilação de diversos aspectos do teatro. Porém, no Dicionário não encontramos o verbete teatro feminista, mas apenas o verbete teatro das mulheres, como segue: Mais do que teatro de mulheres (feito por mulheres ou para mulheres), expressão que sugere de imediato que existe um gênero específico, ou que teatro feminino, o qual remete a uma visão militante de teatro, preferimos o termo mais neutro e mais genérico teatro das mulheres: feito por mulheres e tendo uma temática e uma especificidade femininas. Este termo, aliás, convém melhor à nossa época, que passou, no espaço de trinta anos, de um movimento feminista ativo a um ‘feminismo difuso’. [...] A questão é, todavia, saber se estamos em condições de levantar os critérios de uma escritura dramática ou de uma prática cênica especificamente feminina. Toda generalização se expõe, na verdade, a um desmentido rápido ou a uma excessiva simplificação. (PAVIS, 2008, p. 377-378) Portanto, para este autor, teatro das mulheres é um termo mais genérico e neutro do que teatro de mulheres, ou seja, aquele feito por mulheres ou para mulheres e o termo teatro feminino remete a um teatro militante. As perguntas que surgem a partir desta explanação são as seguintes: por que, o Dicionário de Teatro ignora a existência do teatro feminista, sendo que há publicações que tratam sobre o tema, e que inclusive levam em seu título o termo Feminist Theatre11? O que representa a inexistência de tal verbete no dicionário? Será devido ao contexto teatral no qual o autor se insere, será uma questão de tradução, ou será a complexidade do termo que não permite sua concisão em um verbete do Dicionário? Apesar de enumerar diversas formas teatrais, ou autor não menciona o teatro feminista. Pavis opta pela utilização de um termo mais neutro e mais genérico. Segundo o autor, generalizar pode levar a uma simplificação, que não corresponderia ao teatro feito por todas as mulheres. Se pensarmos que nem todo teatro feito por mulheres possui um viés feminista, a utilização do termo “teatro feminista”, excluiria o teatro feito por todas as mulheres. Contudo, por que não evidenciar a existência de um teatro especificamente feminista? Pavis evita utilizar o termo “feminista”, utilizando “feminino” para se referir a uma prática militante. Mas, se utilizasse o termo “teatro feminista”, o autor correria o risco de fazer uma generalização equivocada ou teria esta forma teatral suas especificidades? Esta é uma das questões que nos interessa e que discutiremos neste capítulo. 11 Podemos citar alguns títulos como exemplos: An Introduction to Feminism and Theatre (ASTON, 1995); Contemporary feminist theatres: To each her own (GOODMAN, 1993); A Sourcebook of Feminist Theatre and Performance: On and Beyond the Stage (MARTIN, 1996). 21 O autor questiona se é possível fazer um levantamento dos critérios que especifiquem uma prática cênica feminina, ou seja, questiona se a diferença entre os sexos define as diferenças entre as formas de pensar e agir e consequentemente se existe uma diferença entre a escritura dramática feminina e a masculina. Para ele, “existe uma diferença, mas ela é dificilmente perceptível e generalizável” (2008, p. 378). Pode ser que esta diferença seja dificilmente generalizável ou perceptível, mas seria ela inexistente a ponto de ser ignorada? Embasado no argumento de escritoras como M. Fabien e N. Sarraute, o autor considera a diferença sexual, porém, assinala que a diferença na escritura está além da diferença sexual, pois decorre também do contexto social, político e histórico no qual as artistas se inserem, sendo que estas últimas diferenças, Pavis considera mais pertinentes do que a diferença entre os sexos. Se considerarmos que o termo “feminino” refere-se a um conjunto de características culturalmente definidas, conforme aponta Barry (2002, p. 122), podemos entender que a diferença está sim além do sexo, pois, aos aspectos biológicos agrega-se ainda uma série de características que o contexto cultural determina. Portanto, as características culturalmente definidas não estariam associadas ao sexo biológico? Para completar o verbete teatro das mulheres, Pavis argumenta que a diferença sexual pode ser mais visível na prática cênica: Talvez no trabalho concreto de preparação do espetáculo, de direção de ator e de encenação é que se observará mais facilmente a maneira feminina de fazer teatro. A relação com a autoridade, com a lei e com noções metafísicas como o gênio ou a inspiração difere bastante claramente entre os sexos, por causa dos hábitos seculares da divisão de tarefas. (2008, p. 378). A partir do que Pavis escreve, percebe-se que este considera o sexo como algo que influencia na construção dos papéis sociais e, portanto, os “hábitos seculares da divisão de tarefas” (2007, p. 378) influenciam mais claramente na prática cênica do que na escrita. Porém, se o que o indivíduo escreve está relacionado com a sua experiência, não seria possível na escrita, tanto quanto na prática cênica, perceber a diferença entre os sexos? Lucia V. Sander, no livro Susan e Eu: ensaios críticos e autocríticos sobre o teatro de Susan Glaspell (2007), ao discutir sobre a recepção da obra da dramaturga norte-americana Susan Glaspell (1876-1948), defende que a diferença entre os sexos influencia não só na recepção de um texto como também na escritura deste. Sander utiliza este argumento para explicar o porquê de leituras equivocadas da obra de 22 Glaspell, pelos críticos de sua época. Sander, apoiada na teoria da recepção, elucubra que, se “a natureza da estrutura de conhecimento de quem lê” determina “a natureza da compreensão de um texto” é preciso, portanto, “considerar que homens e mulheres em nossa cultura são sistematicamente expostos a experiências diferentes desde a infância, e que os conhecimentos vinculados e específicos aos gêneros são extremamente ricos e diferentes” (2007, p. 41). Considerando o exposto por Sander, é possível especular que um dos motivos que levou Glaspell, enquanto dramaturga, a cair no esquecimento, foi o fato de seus textos teatrais abordarem experiências e condições especificamente femininas. De acordo com Sander, apesar da pretensa universalidade e neutralidade dos critérios utilizados na avaliação de obras literárias e teatrais, estes são pautados “pela percepção, pelo conhecimento” e “pela experiência do gênero dominante” (2007, p. 42), ou seja, o gênero masculino. Assim, por tratar da experiência feminina, e pela crítica de sua época estar composta majoritariamente por homens, os temas e formas utilizados por Glaspell podem não ter sido bem compreendidos. 1.2 A PRÁTICA TEATRAL FEMINISTA COMO UMA PRÁTICA POLÍTICA Para contextualizar o teatro feminista recorremos a Elaine Aston e seus livros Feminist Theatre Practice: A handbook (1999) e An Introduction to Feminism and Theatre (1995). No primeiro livro mencionado, Aston (1999) escreve sobre a prática do teatro feminista, como esta é ensinada e investigada no âmbito acadêmico inglês, objetivando reunir propostas práticas para que este tipo de teatro possa ser atualizado e efetivado. Neste volume, Aston explica que seu trabalho dentro de universidades inglesas tem envolvido pequenos grupos de mulheres, para experimentar uma prática teatral feminista, que desafie os modos de representação das mulheres dentro dos sistemas dominantes. Com isto, Aston espera estimular as participantes a desenvolverem uma perspectiva crítica com um viés feminista e que levem para suas vidas a experiência da prática do teatro feminista como um meio de mudar as próprias vidas e a de outras pessoas. No contexto acadêmico inglês ao qual Aston se refere, os estudos teatrais envolvem três áreas chaves: “história, teoria e prática” 12 (1999, p. 3, tradução nossa). 12 “history, theory and practice”. 23 Com referência em Goodman13, Aston acrescenta que o estudo do teatro feminista, dentro da academia, além destas três áreas chaves, ainda inclui “estudos da mulher, estudos políticos ou de mídia” 14 (1999, p. 3, tradução nossa), e ressalta que é uma disciplina marginalizada, apesar de abranger diversas áreas de estudos, “mesmo dentro de instituições ‘liberais’.” 15 (GOODMAN, 1996 apud ASTON, 1999, p. 3, tradução nossa). Aston (1999) explica que nos anos 1970 a performance feminista era realizada por profissionais do teatro fora da academia, e por ativistas feministas fazendo teatro no contexto do Women’s Liberation Movement. Enquanto isso, no âmbito acadêmico, havia o desenvolvimento da teoria crítica feminista, principalmente nos estudo literários e fílmicos, porém, como Aston aponta, é somente no fim dos anos 1980 que o teatro feminista como prática entra na academia, por meio de palestras, workshops e performances, estimulando o desenvolvimento de teorias acerca desta prática. Deste modo, várias dramaturgas e profissionais do teatro feminista tiveram contato com a teoria feminista e isso refletiu em seus trabalhos. Ainda de acordo com Aston (1999), durante os anos 1970 o movimento feminista propiciou o início de uma transformação na vida das mulheres que tinham acesso às ideias feministas. Porém, essas mudanças ainda estavam limitadas à classe média e à população branca. Voltando o olhar para a própria condição social a qual estavam inseridas, o feminismo proporcionou às mulheres um olhar político para suas próprias vidas. Com isso, as mulheres perceberam o quanto haviam sido oprimidas e muitas vezes excluídas “da atividade social, política, cultural.” 16 (ASTON, 1999, p. 5, tradução nossa). Neste contexto, as mulheres também começaram a questionar sua representação na história, ao mesmo tempo em que descobriram “como elas tinham sido ‘escondidas da história.’” 17 (ASTON, 1999, p. 15, tradução nossa). Esta noção possibilitou que desafiassem os modelos dominantes, inclusive dos sistemas teatrais. 13 GOODMAN, Lizbeth. “Feminisms and theatres: canon fodder and cultural change”. In: CAMPBELL, P. (ed.). Analysing Performance. Manchester: Manchester University Press, 1996. Pp. 19-42. 14 “women’s studies, media studies or politics”. 15 “even within otherwise ‘liberal’ instituitions.” 16 “of social, cultural and politic activity.” 17 “[…] how they had been ‘hidden from history’.” 24 Os protestos das mulheres em prol de direitos iguais aos dos homens levaram às feministas para as ruas, onde utilizavam as técnicas do agit-prop18 em suas manifestações. Neste período, suas reivindicações giravam em torno de “quatro questões básica”, sendo elas: “igualdade de remuneração; educação e oportunidades iguais; creches 24 horas; e contracepção gratuita e aborto sob pedido.” 19 (ASTON, 1999, p. 5, tradução nossa). Como consequência destas manifestações, e do desenvolvimento do teatro de rua e dos festivais de teatro, Aston explica que as praticantes feministas passaram a se preocupar com o fazer teatral, e as profissionais criaram grupos exclusivamente de mulheres, nos quais tiveram a liberdade de desenvolver-se profissionalmente em diferentes campos de atuação no teatro e ao mesmo tempo desenvolver formas de trabalho apropriadas aos discursos feministas. [...] elas organizaram o seu trabalho de forma democrática e não hierárquica, de acordo com o modelo de conscientização do Women’s Liberation Movement e desenvolveram estilos de atuação e estética que facilitaria o ethos de coletividade e colaboração, mais do que o culto ao individualismo burguês. 20 (ASTON, 1999, p. 6, tradução nossa). Isto significa que as artistas engajadas na luta feminista precisaram criar seu próprio espaço, uma vez que casas de espetáculos comerciais e até mesmo os grupos teatrais da esquerda socialista, eram organizados de forma hierárquica, com homens ocupando os cargos mais altos e com papéis dramáticos que não valorizavam a experiência feminina. Assim, o teatro feminista da “contra-cultura” quis deslocar para o centro do palco as questões das mulheres e apresentá-las em seu próprio direito, em oposição à representação do teatro tradicional que as colocavam como pertencentes ao homem, ou seja, em função dele. A intenção também era representar as mulheres como “realmente são” (na perspectiva das mulheres envolvidas com o processo criativo), e não como eram representadas por um imaginário calcado no patriarcado. Para tal, centraram o conflito dramático nas relações “intra-femininas”, tais como, mãe e filha, 18 Para exemplificar no que consiste o teatro de agit-prop, recorremos a Patrice Pavis, segundo o qual: “O teatro de agit-prop (termo proveniente do russo agitatsiya-propaganda: agitação e propaganda) é uma forma de animação teatral que visa sensibilizar um público para uma situação política ou social” (PAVIS, 2008, p. 379). Pavis continua explicando que esta forma teatral, com intenções claramente políticas, pode estar a favor da oposição, bem como, pode ser utilizada como instrumento para propagar a ideologia política do poder vigente, o que, para o autor, faz do agit-prop um movimento crítico contraditório. 19 “[…]four basic issues […] equal pay; equal education and opportunity; twenty-four-hours nurseries; and free contraception and abortion on demand.” 20 “they organized their work democratically and non-hierarchically, in line with the consciousnessraising model of the Women’s Libaration Movement, and developed acting styles and aesthetics that would facilitate the ethos of collectivity and collaboration, rather than the cult of bourgeois individualism.” 25 irmãs e amantes lésbicas e, nas relações inter-sexuais, colocando em evidência as relações prejudiciais às mulheres por meio da representação de papéis formais, como marido e esposa, pai e filha, irmão e irmã. “Para desenvolver práticas contra-culturais, as feministas precisaram estar aptas a compreender as propriedades formais e conteúdos ideológicos das formas culturais dominantes.”21 (ASTON, 1999, p. 6, tradução nossa). Um exemplo desta compreensão é o conceito de Laura Mulvey22 sobre o olhar no contexto do cinema, principalmente o Hollywoodiano. Aston (1999) explica que a teoria de Mulvey considera o olhar masculino como ativo e o feminino como passivo, ou seja, o homem como o portador do olhar e a mulher como imagem a ser vista. Transferindo esta compreensão para o contexto do teatro, Aston explica que a estrutura narrativa do teatro realista, segue a forma do sujeito masculino como ativo e o feminino como passivo. Este tipo de construção apresenta-se tanto na relação entre personagens, quanto entre personagens e atores e entre estes últimos e o público. Na tradição realista, o Método de atuação herdado de Constantin Stanislavski, convida a atriz a se identificar com as personagens femininas que se encontram em situação de submissão e opressão. Citando Sue-Ellen Case23, Aston esclarece que essas personagens femininas raramente representam mulheres que vivem em seu próprio direito, mas são determinadas em relação ao outro, ao personagem masculino, geralmente mais importante, e, assumindo o papel de mãe, amante ou esposa. Aston (1999) esclarece que para as praticantes do teatro feminista que passaram a se sentir alienadas pela estrutura realista, a qual colocava as personagens femininas em função dos personagens masculinos, a intenção era trabalhar com temas e experiências que dissessem respeito à mulher. Mais do que inventar novos estilos de atuação e formas teatrais, as artistas feministas buscaram desconstruir as velhas formas e estilos, retrabalhando-as e explorando outros modelos, contribuindo para a busca de diferentes formas de atuação. A respeito desta busca em descontruir velhas formas de atuação, escreve a atriz Lauren Love (2002), em seu artigo que critica, sob o ponto de vista de “To develop counter-cultural practices, feminists needed to be able to understand the formal properties and ideological content/s of dominant cultural forms.” 22 MULVEY, Laura. Visual and Other Pleasures. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: Macmillan, 1989. MULVEY, Laura. “Visual pleasure and narrative cinema”. In: Screen, pp. 22-34, 1992 (1975). 23 CASE, Sue-Ellen. Feminism and Theatre. London: Macmillan, 1988. 21 26 teorias feministas, a abordagem orgânica de atuação. Para a autora, além do modo de atuação naturalista/ realista convidar a atriz a representar personagens femininas que perpetuam a ideologia dominante, o método não permite a abertura para a crítica e a reflexão dos conteúdos imbuídos em um texto. Assim, cegamente, a atriz treinada neste sistema de atuação, produz sentidos que correspondem a ideologia que procura resistir. A partir deste problema, Love questiona a possibilidade de resistir a esta ideologia por meio da atuação, e mostra a complexidade do problema: Eu continuo a me perguntar se eu posso aplicar os conhecimentos que adquiri enquanto estudante de atuação às estratégias feministas de resistência, ou se eles estão muito enredados em um sistema ideológico opressivo para 24 ser utilizado com êxito. (LOVE, 2002, p. 278, tradução nossa). Ao procurar uma identificação com os personagens e suas ações, o palco naturalista não dá espaço para a reflexão. De acordo com Love, quando a plateia identifica-se com os personagens, se reafirma no público a moralidade inculcada na peça, perpetuando de modo circular o sistema de valores da ideologia dominante. Na busca por uma atuação resistente, Love (2002) cita sua experiência como atriz trabalhando com um texto de Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest25. De acordo com a autora, a estética não realista do texto, que critica as práticas sociais Vitorianas, já permitia uma abertura crítica e resistente. Segundo Love, sua forma de criar uma atuação resistente foi misturar diferentes técnicas aprendidas, como a consciência física adquirida com as artes marciais asiáticas, técnica de distanciamento brechtiano e técnicas psicológicas, sem que sua atuação interrompesse totalmente a encenação. Buscando utilizar as “ferramentas potencialmente opressivas” 26 (2002, p. 285, tradução nossa) da interpretação pisicologizada contra elas mesmas, a atriz encontrou uma possibilidade por meio da manipulação do subtexto. Isto significa, como explica Love, que por meio de nuances na interpretação, a atriz pode inserir o significado que quiser no texto enunciado. Mas, ao mesmo tempo em que a atriz está produzindo seus próprios significados por meio de sua atuação, todos os outros elementos da encenação estão produzindo sentidos concorrentes. Assim, segundo Love, ter consciência dos agentes semióticos que estavam em torno dela durante a sua atuação, 24 “I continue to wonder whether I can apply the skills I acquired as an acting student to feminist strategies of resistance, or whether they are too mired in oppressive ideological systems to use successfully.” 25 WILDE, Oscar. “The Importance of Being Ernst”. In: Penguin Plays. New York: Penguin Books, 1979. 26 “potentially oppressive tools.” 27 contribuiu para que ela pudesse encontrar meios de “perturbar a sua transmissão.” 27 (2002, p. 286). 1.3 AS VERTENTES FEMINISTAS E A INFLUÊNCIA NA PRÁTICA TEATRAL FEMINISTA O pensamento feminista influenciou de distintos modos na prática, na história e na teoria teatral, sendo este fato uma decorrência das diferentes vertentes feministas. De acordo com Dolan (1991), o feminismo americano pode ser dividido em três segmentos principais, sendo eles, o feminismo liberal, feminismo radical ou cultural e feminismo materialista. Enquanto o feminismo liberal reivindicava uma posição de igualdade para as mulheres, aceitando que as mulheres se encaixassem no genérico e universal masculino, o feminismo cultural (ou radical) propôs considerar as diferenças de gênero e valorizar as características biológicas específicas da mulher, como por exemplo, a capacidade de ser mãe (DOLAN, 1991, p. 5-6). Na recente introdução da próxima edição de seu livro The Feminist Spectator as Critic, Dolan (2011) 28 explica que as feministas liberais, no lugar de tentar derrubar os sistemas sociais vigentes, tentaram fazer mudanças dentro deste próprio sistema. Além disso, as “feministas liberais também não têm nenhuma desavença com o realismo e se sentem confortáveis trabalhando nas formas do teatro convencional” 29 (DOLAN, 2011, p. 4, tradução nossa). 1.3.1 Feminismo radical/ cultural Como aponta Aston (1995), a maioria dos textos dramáticos “canônicos” foram escritos por homens e, portanto, a mulher representada nestes textos corresponde a uma visão masculina. Do mesmo modo, em palcos de determinadas épocas e lugares, as personagens femininas eram interpretadas por eles, uma vez que mulheres não podiam atuar. Assim, uma das preocupações das feministas radicais (ou culturais), segundo Aston (1999), é a re-apropriação do próprio corpo, o qual fora confiscado pela cultura patriarcal. Para este viés do feminismo, o patriarcado é o ponto crucial “da desigualdade entre homens e mulheres e fala da opressão priorizando as experiências peculiares às 27 “disrupt their transmission.” Esta recente introdução, ainda não publicada, foi gentilmente cedida pela autora, durante o desenvolvimento desta pesquisa. 29 “Liberal feminists also hold no quarrel with realism and feel comfortable working in conventional theatre forms.” 28 28 mulheres: o parto, maternidade, menstruação, e assim por diante.” 30 (ASTON, 1999, p. 8-9, tradução nossa). Embasada em Dolan (1991), Aston esclarece que para o pensamento feminista radical/ cultural, levar as experiências femininas para o palco seria um meio de tornar o teatro um lugar onde as mulheres pudessem olhar para e refletir sobre suas próprias experiências. 31 Aston (1999) ainda nos apresenta as teóricas feministas francesas, Hélène Cixous32, Luce Irigarary e Julia Kristeva33, as quais representam o modelo do feminismo cultural. A partir de uma exploração lacaniana, para estas teóricas a mulher é identificada como o ‘outro’, em relação ao sistema dominante. O trabalho dessas mulheres [Cixous, Irigarary e Kristeva] é geralmente identificado com uma exploração psicanalítica lacaniana das mulheres como "outro" em relação à ordenação simbólica de representação social e cultural e de comunicação. Neste modelo, a subjetividade é reconhecida como problemáticas para as mulheres, que são obrigadas a participar lingüística, social, culturalmente, etc, em um sistema que as constrói como marginais e alienígenas. 34 (ASTON, 1999, p. 9, tradução nossa). A partir da percepção desta construção sócio-simbólica das mulheres como o “outro” em relação ao homem, a questão levantada por Julia Kristeva (1982 [1979]), de acordo com Aston (1999), é como a mulher pode mostrar o lugar em que está inserida e então tranformar os papéis herdados por tradição. O teatro feminista cultural teve influência do pensamento de Hélène Cixous35, a qual, em The Laugh of the Medusa (1976), sugere um caminho de resistência e 30 “This position sees patriarchy at the heart of inequality between men and women, and addresses oppression by prioritizing experiences peculiar to women: birthing, mothering, menstruating, and so on”. 31 Cf. DOLAN, 1991, p. 83-97. 32 CIXOUS, Hélène. Portrait of Dora. In: Benmussa Directs. London: John Calder, 1979. Pp. 28-67. _____________. “The laugh og the medusa”. In: MARKS, E; COURTIVRON, I. (eds.). New French Feminisms. Brighton: Harvester Press, 1981 (1975). Pp. 245-264. Trad.: K. Cohen e P. Cohen. ____________. “Aller a la mer”. In: Modern Drama, v. 4, pp. 546-548. Trad.: B. Kerslake. 33 KRISTEVA, Julia. “Women’s time”. In: KEOHANE, N. O.; ROSALDO, M. Z.; GELPI, B. C. (eds.). Feminist Theory: A Critique of Ideology. Brighton: Harvester Press, 1982 (1979). Pp. 31-53. 34 “the work of these women is generally identified with a psychoanalytic, Lacanian exploration of women as ‘other’ in relation to the symbolic ordering of social and cultural representation and communication. In this model, subjectivity is recognized as problematic for women, who are required to participate linguistically, socially, culturally, etc., in a system that constructs them as marginal and alien.” 35 Hélène Cixous nasceu na França em 5 de junho de 1937. Além de professora universitária, Cixous é uma escritora feminista, poeta, dramaturga, filósofa, crítica literária e retoricista. Em 1974 fundou na Universidade de Paris VIII o Centre de Recherches en Etudes Féminines [Centro de Pesquisa em Estudos da Mulher], o primeiro deste tipo na Europa. Disponível em <http://www.egs.edu/faculty/helenecixous/biography/>, acesso em 26 ago. 2012. A partir de 1985, Cixous começou a trabalhar em colaboração com Ariane Mnouchkine, diretora do Théâtre du Soleil. Cixous escreveu para a companhia peças inéditas e acompanhou o trabalho coletivo. 29 transformação, para que as mulheres possam ter seu corpo de volta: a escrita. Para Cixous, as mulheres devem escrever sobre elas mesmas e para elas. A écriture féminine de Cixous propõe que, a mulher escrevendo individualmente, sobre ela mesma, poderá ter seu corpo de volta, este corpo que até então foi construído como o ‘outro’ estranho e misterioso, o local e a causa de inibições; pois, ao censurar o corpo, censura-se também a respiração e a fala. Deste modo, a écriture féminine sugere que a mulher, ao escrever sobre a mulher e para a mulher, incentivará que outras mulheres também escrevam e assim entrem na história da qual foram excluídas. Embasada em Dolan (1991), Aston esclarece que para o pensamento feminista radical/ cultural, levar as experiências femininas para o palco seria um meio de tornar o teatro um lugar onde as mulheres pudessem olhar para e refletir sobre suas próprias experiências.36 Dolan (2011, p. 4, tradução nossa) explica que “tais inclinações ideológicas produziria peças menos realistas e formas de atuação estruturadas mais como rituais coletivos do que narrativas lineares que valorizam as façanhas de heróis individuais.”37 No Capítulo 2 voltaremos a refletir sobre o teatro feminista cultural, procurando demonstrar como esta prática dialoga com a “primeira fase” de criação do grupo (Em) Companhia de Mulheres. 1.3.2 Feminismo materialista Conforme Aston (1999), para a prática feminista materialista não era suficiente rever a experiência feminina como determinada somente no corpo e através dele, necessitando, portanto, de uma revisão sustentada pelas condições materiais que definem gênero, sexualidade, classe e raça. O feminismo materialista é o que propõe uma intervenção mais radical no sistema de representação, “através da alienação do sistema de signo de gênero.” 38 (ASTON, 1999, p. 11, tradução nossa). Esta vertente feminista realiza uma análise crítica mais apurada das estruturas ideológicas “das formas, conteúdos e modos de produção” apoiando-se no materialismo marxista e nas “teorias do construcionismo social derivada de Foucault e da filósofa feminista americana Judith Butler,” 39 desmitificando assim, o essencialismo de gênero e a noção 36 Cf. DOLAN, 1991, p. 83-97. “such ideological leanings would produce less realist plays and performance forms structured more like collective rituals than linear narratives that valorize the exploits of individual heroes.” 38 “through the alienation of the gender sign-system.” 39 “of forms, contents, and modes of production […] theories of social constructionism derived from Foucault and American feminist philosopher Judith Butler.” 37 30 de “cultura das mulheres” que se apresentava no pensamento do feminismo cultural (DOLAN, 2011, p. 4, tradução nossa). No campo teatral, este viés é o mais expressivo no que diz respeito aos objetivos políticos e a colaboração com a teoria, combinando a prática com uma revisão feminista-materialista da teoria de Bertolt Brecht (ASTON, 1999). Enquanto no modelo brechtiniano a preocupação é demonstrar as opressões de classe, na prática teatral feminista materialista a preocupação ampliou-se para a demonstração de gênero, o que significa demonstrar por meio do distanciamento como o gênero é construído culturalmente. De acordo com Elin Diamond40 apud Aston (1999, p. 13, tradução nossa), no lugar de convidar a atriz a se identificar com esta construção, tal como no modelo realista, a utilização do efeito de distanciamento “busca expor ou ironizar as restrições de gênero, para revelar o gênero como aparência, como o efeito, não a précondição, das práticas de regulação.” 41 Isto significa, segundo Dolan (2011, p. 4, tradução nossa), que a tendência das produções teatrais que seguem esta linha de pensamento, é serem “desconstrutivas, seguindo o pós-estruturalismo, ao invés de montar estruturas, narrativas realistas ou rituais.” 42 1.4 A QUESTÃO DA DRAMATURGIA: MULHERES ESCRITORAS FORA DO CÂNONE E A NECESSIDADE DE CRIAR NOVOS TEXTOS, QUE CONTEMPLEM ASSUNTOS RELACIONADOS À MULHER Além de não termos herdado uma quantidade de textos dramáticos escritos por mulheres equivalente à quantidade de textos escritos por homens, a dramaturgia canônica, quando fala da mulher, a apresenta sob o ponto de vista masculino. Decorrente destes fatores existe uma prática recorrente nos grupos teatrais feministas para criarem suas próprias dramaturgias de modo colaborativo, como uma forma de produzir textos que tratem de assuntos de interesse das mulheres e sob o ponto de vista delas. O modo de escrita em cena que resulta em espetáculos criados coletivamente, muitas vezes produz uma dramaturgia que não existe independentemente da cena, enquanto texto literário. Este fator pode ser uma das causas de não termos herdado 40 DIAMOND, Elin. Unmaking Mimesis. London and New York: Routledge, 1997. “seeks to expose or mock the strictures of gender, to reveal gender-as-appearance, as the effect, not the precondition, of regulatory practices.” 42 “to be deconstructive, following post-structuralism, rather than assembling realist or ritual narratives or structures.” 41 31 muitos textos teatrais escritos por mulheres e que apresentem uma temática com viés feminista. Outra causa é apontada por Aston (1995), ao apresentar o conceito feminista de mulheres ‘escondidas da história.’ Este conceito “motivou críticas feministas a entender como e por que mulheres [...] foram enterradas pela história feita pelos homens”, dando início a “recuperação de suas ancestrais femininas ‘perdidas’” 43 (ASTON, 1995, p. 15). Tentar entender como e por que os trabalhos de mulheres não sobreviveram até os dias de hoje levou a crítica literária a rever a representação feminina na literatura e a resgatar o trabalho de mulheres escritoras na prosa e na poesia, porém, tardiamente e com maior dificuldade, esta tarefa foi realizada na área da dramaturgia. De acordo com Aston, a dramaturga Honor Moore, a qual escreveu uma antologia americana dedicada à obra de dramaturgas contemporâneas44, defende que a falta de uma tradição feminina na dramaturgia está vinculada ao impedimento por parte dos homens das mulheres fazerem parte do teatro. Aston amplia a noção explicando que o problema não é que não tenha existido uma tradição feminina, mas sim que os trabalhos de mulheres foram “enterrados” pela história - escrita por homens - tornando o seu resgate mais difícil. A partir disto, Aston (1995) analisa como o feminismo re-mapeou a história do teatro, por meio da crítica à exclusão das mulheres da história do teatro, e da busca por uma tradição de escrita feminina. De acordo com Aston, (1995) na história do teatro ocidental, durante os períodos ‘clássicos’, tais como o grego e o elisabetano, as mulheres foram excluídas do teatro. Esta exclusão dava-se tanto no impedimento de sua atuação no palco, quanto por meio da atribuição ao que seria considerada “boa” literatura, com valores calcados no “universal,” vinculado ao sistema patriarcal. Tais valores automaticamente excluíam a expressão da experiência feminina, pois esta não estava incluída no que era considerado “universal.” Este fator impulsionou a crítica literária feminista a entender as mulheres como um signo construído pelos homens durante os períodos acima citados, uma vez que, elas próprias encontravam-se ausentes dos palcos. Também estavam ausentes da dramaturgia, pois o aparato crítico embasava-se em valores patriarcais, os quais 43 “it motivated feminist critics to understand how and why women […] had been buried by man-made history, and, second, it initiated the recovery of their ‘lost’ female ancestors.” (Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 44 MOORE, Honor (Edit.). The New Women’s Theatre: Ten Plays by Contemporary Women. New York: Vintage Books, 1977. 32 definiram [e continuam a definir] o que pode ser considerada “boa” literatura. Assim, o que não se encaixava em requisitos como o da “universalidade,” ficou de fora do cânone. No caso do teatro grego ‘clássico’, Aston (1995) explica que a crítica feminista tentou compreender como seria a construção visual do gênero no palco, porém, a performance dos textos em seu contexto original, só pode ser especulada. Utilizando o exemplo da peça Alceste de Eurípedes, na qual a personagem do título sacrifica a própria vida para salvar a do marido, Aston elucida que a forma de construção dos textos gregos indica a ausência de mulheres no palco, uma vez que a descrição da personagem feminina, bem como a linguagem utilizada por ela, indicam que existe um ator masculino representando a personagem feminina. A ausência das mulheres no teatro, suas representações construídas por homens, no texto e na cena, refletem a situação da mulher na sociedade ateniense. Por meio dos textos teatrais, podemos compreender a situação das mulheres não só na sociedade ateniense, mas também em diferentes épocas e locais. Segundo Aston (1995), o gênero como uma construção ficcional tem suas implicações ideológicas. Tal afirmação é mais bem exemplificada por Case (1985, p. 322, tradução nossa): Em cada uma das culturas que produziu os “clássicos” para o palco (não apenas na ateniense, mas na romana e na elisabetana), foi negado às mulheres acesso ao palco e emancipação econômica. Esses mesmos valores de produção estão imbuídos nos textos desses períodos. Personagens femininas são derivadas da ausência de mulheres reais no palco e das razões de sua ausência. Cada cultura que valoriza a reprodução desses textos “clássicos” participa ativamente no mesmo subtexto patriarcal que criou tais personagens femininas como “Mulher”. 45 Para auxiliar nesta reflexão sobre a questão ideológica imbuída nos textos teatrais, apresentamos o exposto por Sander (2007), acerca do nascimento do teatro grego. Sander, na tentativa de entender porque as peças de Glaspell foram consideradas estranhas por uma parte da crítica de sua época, busca uma resposta na origem do teatro grego e o consequente estabelecimento das convenções teatrais. Assim, a autora informa 45 “In each of the cultures which has produced ‘classics’ for the stage (not only the Athenian but the Roman, and the Elizabethan) women were denied access to the stage and to legal and economic enfranchisement. These same production values were embedded in the texts of these periods. Female character are derived from the absence of actual women on the stage and from the reasons for their absence. Each culture which valorizes the reproduction of those ‘classic’ texts actively participates in the same patriarchal subtext which created those female characters as ‘Woman’.” 33 que o nascimento do teatro coincide com a origem do patriarcado no século V a. C. e, aponta Orestes de Ésquilo, como o texto fundador do teatro, sendo este texto uma dramatização da instituição do patriarcado. Sendo assim, que as convenções que regulam o comportamento da escrita para o teatro contenham noções discriminatórias no que se refere ao comportamento dos gêneros feminino e masculino é de se esperar, uma vez que foram estabelecidas a partir dos primeiros textos dramáticos de que temos notícia, e mais tarde sistematizadas e prescritas por Aristóteles e seus seguidores. (SANDER, 2007, p. 173). Portanto, conforme Sander, a situação social e política na qual o teatro tem origem no ocidente, explica por que o “universo do teatro tem sido historicamente masculino” (2007, p. 173). A autora elucida que esta forma de arte surge justamente no momento de ascensão da polis Grega, momento no qual as mulheres são excluídas da esfera pública e consequentemente do teatro, e destinadas ao mundo privado. Refletindo sobre a acusação de “estranheza” que as peças de Glaspell receberam, Sander especula que isto se deu porque suas peças no lugar de enfatizar a ação das personagens, enfatizavam o contexto, sendo que o contexto referia-se ao mundo em que as mulheres viviam. Isto significa que as peças de Glaspell colocavam em evidência o universo privado, enquanto que nos textos clássicos era privilegiada a esfera pública, ou seja, o mundo dos homens, deixando “invisível ao fundo” (2007, p. 173) a esfera privada, que se referia ao mundo das mulheres. As ações das personagens femininas não eram consideradas ações, por não se tratarem de feitos grandiosos, como no caso dos personagens masculinos de peças canônicas. Este ponto é explicitado por Alice Rayner46 apud Sander (2007, p. 174): Em tragédias e dramas, o centro do palco fica reservado aos homens – aos protagonistas, aos heróis trágicos, aos “executores” da ação principal. [...] As laterais, o fundo do palco, os nichos e os balcões funcionam como um espaço doméstico interno onde as mulheres são mantidas. Ter a consciência do contexto no qual surgem as regras para o que pode ser considerada “boa” dramaturgia, nos ajuda a olhar para a produção feminina sob outro ponto de vista e avaliar e valorizar essa produção a partir de diferentes aspectos, que não são aqueles estabelecidos pela crítica tradicional. Do mesmo modo, reconhecemos a importância de conhecer textos teatrais de diferentes contextos, pois estes trazem consigo os valores da época e do local no qual foram escritos. Mas, como sugere Case 46 RAYNER, Alice. To act, to do, to perform: drama and the phenomenology of action. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994. 34 (1985) apud Aston (1995) a respeito dos textos gregos clássicos, a simples representação destes tais quais eles são, sem um posicionamento crítico acerca do conteúdo e contexto de sua produção, insere os atores no subtexto patriarcal no qual foram produzidos. Mas, como, hoje, encenar estes textos questionando e desafiando a ideologia implícita neles? O artigo de Love, como já mostrado anteriormente, apresenta algumas pistas para encontrar um estilo de interpretação que questione e critique, ao invés de perpetuar a ideologia implícita. Do mesmo modo, podemos encontrar respostas no teatro feminista materialista, o qual utiliza um estilo de representação pautado pelo efeito de distanciamento brechtiniano. Os textos canônicos podem ser utilizados a partir de um questionamento sobre tais culturas, para que possam ser re-apresentados de uma forma que subverta o subtexto. 1.4.1 Resgatando a tradição feminina ‘perdida’ Como vimos neste estudo, uma das linhas da história do teatro feminista preocupa-se em analisar a ausência das mulheres no palco, o que consiste também em resgatar textos dramáticos de autoria feminina ou que falem sobre mulheres. De acordo com Aston (1995), a atenção voltada ao trabalho de dramaturgas proporcionou que a história do teatro fosse reelaborada pelos estudos feministas de uma forma diferente daquela estabelecida pela crítica canônica tradicional. Assim, a autora (1995) apresenta alguns estudos voltados ao resgate de ‘mulheres pioneiras’, e cita alguns exemplos destas, o que nos leva a perceber que apesar dos esforços em direção à reelaboração da história do teatro, para incluir o nome de mulheres, alguns destes nomes ainda permanecem segregados da história oficial. Uma das ‘pioneiras’ que Aston (1995) apresenta é Hrotsvit, dramaturga alemã que viveu na Idade Média. Embasada no que Sigrid Novak47 escreve sobre a invisibilidade de Hrotsvit, Aston explica que uma das justificativas do fato das mulheres terem sido deixadas de fora do cânone do teatro alemão, foi o preconceito de que elas não sabiam escrever para o teatro. As peças femininas e consequentemente as personagens criadas por mulheres, julgadas por críticos profissionais, por tradição homens, ou seja, por meio de uma psicologia masculina, explica a avaliação enviesada que estas peças receberam. 47 NOVAK, Sigrid. “The invisible Woman: The Case of the Female Playwright in German Literature”. Journal of Social Issues, n. 28, pp. 47-57, 1972. 35 Outro fator apontado por Aston (1995) que contribuiu para que as mulheres ficassem de fora do cânone masculino diz respeito ao conteúdo das peças, como também explica Sander (2007) a respeito da obra de Glaspell. “O padrão de um ‘silenciamento’ dos textos femininos parece ocorrer onde e quando quer que a autoria feminina critique ou ridiculariza as formas e ideologias da cultura dominante” 48 (ASTON, 1995, p. 25). Hrotsvit, por exemplo, reverteu a perspectiva dramática masculina ao representar mulheres contrariamente ao modelo da comédia baseada na desonra da mulher e em sua objetificação. Para elucidar, Aston, embasada em Case49, cita Dulcitius50, segunda peça de Hrotsvit, na qual as personagens enganam um governador que tenta estuprá-las. Aston argumenta que a importância de resgatar autoras do passado, como Hrotsvit, além de entender o porquê elas foram escondidas da história, fornece uma base para futuras dramaturgas. Se autores canônicos (masculinos) são modelos e fornecem pistas para novos escritores, as mulheres também precisam destes modelos, mas desde que estes se harmonizem com sua realidade enquanto mulheres. O cânone reproduz sua história em seu futuro. Sem uma posição primária no cânone para Hrotsvit no papel da primeira dramaturga, as peças de mulheres permanecerão invisíveis, menores, ou no máximo “separadas, porém iguais” – marginalizadas em antologias de mulheres, grupos de performance femininos e estudos femininos. 51 (CASE, 1983 apud ASTON, 1995, p. 25) A defesa de um cânone feminino é contraditória, pois apresenta o perigo de tornar-se como o cânone masculino, firmando os mesmos valores. A ideia de encontrar uma tradição feminina não é a de construir um cânone masculino às avessas. Como aponta Aston (1995, p. 25), “[...] o conceito de um cânone do teatro feminino arrisca o perigo de subscrever os valores do cânone masculino.” 52 A autora complementa sua 48 “The pattern of an historical ‘silencing’ of women’s texts appears to occur whenever and wherever female authorship critiques or ridicules the forms and ideologies of dominant culture.” (Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 49 CASE, Sue-Ellen. “Re-Viewing Hrotsvit”. In: Theatre Journal, n. 35, pp. 533-542, 1983. 50 HROTSVIT. “Dulcitius”. In: WILSON, K. M. (ed). Medieval Women Writers. Manchester: Manchester University Press, 1984. Pp.53-60. 51 “the canon reproduces its history in its future. Without a primary position in the canon for Hrotsvit in the role of the first woman playwright, women’s plays will remain invisible, minor, or at best ‘separate but equal’ – ghettoized in women’s anthologies, women’s performance groups and women’s studies.” (Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 52 “the concepto f a ‘canon’ of women’s theatre risks the danger of subscribing to tje values of the male canon. ” (Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 36 explicação citando June Schlueter, editora de um livro voltado a releituras feministas do cânone masculino americano53, e um livro relativo ao cânone feminino54: “o perigo é que operando por auto-interesse, não importa quão altamente concebido, as acadêmicas podem criar um “cânone” alternativo 55 que não é mais equilibrado ou representativo do que o que herdamos.” (SCHLUETER, 1990 apud ASTON, 1995, p. 25-26). Assim, entendemos que recuperar as dramaturgas femininas “perdidas”, significa oferecer possibilidades e estratégias de escrita e inspirar as futuras escritoras, e não ditar regras do que é bom ou ruim, como faz o cânone masculino. Outra dramaturga apresentada por Aston (1995) é Aphra Behn, autora inglesa que viveu no período da restauração, entre 1640 e 168956. Conforme Aston (1995), Maureen Duffy57, dramaturga e biógrafa de Behn escreve que esta foi a primeira mulher inglesa a ganhar a vida escrevendo profissionalmente. É interessante notar que assim como Behn, outras escritoras que fizeram sucesso na época em que estavam vivas, ficaram de fora do cânone. Este é o exemplo de Glaspell, dramaturga norte-americana também estudada por Aston (1995). Em 1915, Glaspell juntamente com seu marido George Cram Cook, fundaram o grupo de teatro experimental The Provincentown Players, o qual encerrou suas atividades em 1922, sendo hoje considerado “o berço do teatro norte-americano moderno” (BIGSBY58 apud SANDER, 2007, p. 18). Sander conta que apesar de Glaspell ter feito sucesso em seu tempo, o que nos chega hoje por meio da história oficial (inclusive nas disciplinas de história do teatro), é somente o seu contemporâneo e colega de área, o dramaturgo Eugene O’Neill, considerado o pai do drama moderno, com quem Glaspell dividiu o mesmo teatro e público. E como aponta Sander, se o drama moderno norte-americano teve um pai, esqueceram que também teve uma mãe. 53 SCHLUETER, June (ed.). Feminist Readings of Modern American Drama. London and Toronto: Associated University Press, 1989. 54 SCHLUETER, June (ed.). Modern American Drama: The Female Canon. London and Toronto: Associated University Press, 1990. 55 “the danger is that in operating out of self-interest, no matter how rightly conceived, female academicians may create an alternative ‘canon’ no more balanced or representative than the one we have inherited’.” (Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 56 A data de nascimento e morte da autora está de acordo com a informação fornecida pelo site http://en.wikipedia.org/wiki/Aphra_Behn. 57 DUFFY, Maureen. The Passionate Shepherdess: Aphra Behn 1640-89. London: Methuen, 1977. 58 BIGSBY, C. W. E. (Ed.). Plays by Susan Glaspell. London and Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 37 O período sufragista, segundo Aston (1995), também foi objeto dos estudos feministas sobre a história do teatro britânico, os quais recuperaram o drama sufragista que envolvia questões sobre as mulheres e o voto feminino. Esta recuperação permitiu que a história do ‘novo drama’ fosse alterada, pois esta trazia principalmente nomes masculinos e raramente fazia-se referência ao drama sufragista. Assim, nomes de dramaturgas “como Elizabeth Baker (1876-1962), Elizabeth Robins (1862-1952), Cicely Hamilton (1872-1952) e Githa Sowerby (1876-1970)” 59 (ASTON, 1995, p. 2627), puderam ser resgatados e incluídos no mapa histórico teatral. No entanto, Aston (1995) explica, a partir de Michelene Wandor60, que o foco nos períodos da primeira e segunda onda feminista corre o risco de deixar de lado o trabalho teatral de mulheres que atuaram em períodos nos quais as organizações feministas eram menos aparentes, como no período entre guerras. Garcia (2008) explica que durante o período sufragista, as mulheres que lutavam nesta causa utilizaram o teatro, de modo panfletário, como meio de divulgar suas reivindicações. A pesquisadora brasileira Valéria Andrade Souto-Maior (1997), apresenta em seu artigo algumas reflexões a partir de sua dissertação de mestrado sobre o trabalho da escritora Josephina Alvares de Azevedo. No início dos anos 1890, Azevedo escreveu sua única peça, O Voto Feminino, como uma forma clara de divulgar as ideias sufragistas. Apesar de ter sido diretora e redatora do jornal feminista A Familia, do Rio de Janeiro, e de nunca ter escrito uma peça de teatro, esta foi uma estratégia que Azevedo utilizou pra intensificar a propaganda em prol do voto feminino. De acordo com Souto-Maior, mesmo sendo uma peça malsucedida, no que se refere aos seus propósitos de efeito político imediato (o voto feminino só foi aprovado no Brasil quase meio século depois, em 1932), “o maior merecimento desse trabalho,” segundo as palavras da própria Azevedo61 apud Souto-Maior (1997, p. 289), foi “o de ir levar a Paris, aquele areópago da civilização atual, o testemunho da operosidade de todas nós, que trabalhamos em um meio em que ainda há pouco são elaboradas leis que fecham às mulheres as portas da academia.” Para Souto-Maior, o mérito da obra de Azevedo é antecipar o que mais tarde viria a ser o teatro de agit-prop entre nós e abrir “umas das primeiras trilhas da dramaturgia e da justiça social em nosso país, por onde hoje muitas 59 “such as Elizabeth Baker (1876-1962), Elizabeth Robins (1862-1952), Cicely Hamilton (1872-1952) e Githa Sowerby (1876-1970).” (Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 60 WANDOR, Michelene. Carry on, Understudies: Theatre and Sexual Politics. London: Routledge & Kegan paul, 1986. 61 AZEVEDO, Josephina de. “O Voto Feminino”. In: A Família, n. 23, out. 1890. 38 de nós mulheres já podemos seguir com um pouco mais de segurança e sucesso” (1997, p. 289). 1.4.2 Texto e contexto Embasada em Susan Bassnett62, Aston (1995) alerta que a excessiva ênfase no teatro baseado no texto dramático, deixa de lado os contextos nos quais as mulheres estavam trabalhando. Isto quer dizer que mulheres que estavam trabalhando em outras funções no teatro são esquecidas, e que se olharmos para o contexto no qual estavam trabalhando, a lista de nomes de mulheres poderá ser ampliada. Portanto, o remapeamento da história do teatro pela linha feminista de investigação propôs perceber o teatro como uma arte multi-autoral, em contraposição ao princípio conservador que privilegia o entendimento do autor/ dramaturgo (masculino) como único responsável pelo ato teatral. Este fato recupera tradições e práticas teatrais femininas que foram deixadas de lado pela história do teatro, devido ao foco nos estudos do texto. Assim, Aston afirma que o estudo feminista da história do teatro direcionou-se também para “atrizes e suas condições de trabalho, mulheres como gerentes teatrais e diretoras; e a performer feminina como texto” 63 (ASTON, 1995, p. 29). Durante os séculos XVII e XIII, conforme Aston ressalta, era comum que atrizes e atores bem sucedidos participassem dos lucros das companhias. Este fator aumentava o poder profissional das mulheres, e por vezes elas até deixavam de atuar para apenas gerenciar os negócios. No século XIX era de costume que companhias teatrais fossem dirigidas por atores-gerentes. A recuperação de tais mulheres foi vista como significativa, não apenas porque é importante saber que havia mulheres que conseguiam atingir um status gerencial “masculino”, mas também analisar que mudanças e melhorias podem ser feitas aos programas artísticos e às condições de trabalho de um teatro quando uma mulher estava no comando. 64 (ASTON, 1995, p. 30). Interessante saber que, no contexto do teatro Eduardiano, as mulheres trabalhando na gerência de casas de espetáculos estavam mais receptivas a testar novos 62 BASSNETT, Susan. “Struggling with the Past: Women’s Theatre in Search of a History”. New Theatre Quartely, n. 18, pp. 107-112, 1989. 63 “actresses and their working conditions; women as theatrical manangers and directors; and the female performer as text.” (Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 64 “The recovery of such women has been viewed as significant, not only because it is importante to know that there were women who achieved ‘male’ managerial status, but also to analyse what changes and improvements might be made to the artistic programmes and the working conditions of a theatre when a woman was in charge.” (Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 39 estilos e a encenar textos novos. Este fator garantia espaço para as dramaturgas competirem no mesmo nível com os homens, sem que elas tivessem que escrever sob pseudônimos masculinos para terem suas peças encenadas. Como exemplo destas atrizes-gerentes, Aston cita Annie Horniman e Sarah Bernhardt. Sobre este mesmo período, no início do século XX, Aston (1995) informa que nas formas experimentais do teatro, a função do diretor ganha mais poder nos processos de encenação, porém, nos estudos sobre o surgimento do diretor, raramente encontramos detalhamento sobre mulheres que trabalhassem nessa função ou aos grupos teatrais de mulheres. Como exemplo desses nomes que não são mencionados, Aston cita o Théatre Féministe, criado em 1897 por Marya-Chéliga, com o intuito de incentivar o trabalho de dramaturgas, e Edy Craig, cujo trabalho junto à companhia Pioneer Players envolvia apenas mulheres em todas as funções, além de ser organizada nos moldes dos grupos experimentais. O trabalho da companhia, assim como o trabalho das dramaturgas pioneiras, oferece um modelo à prática teatral de grupos de mulheres. No Pioneer Players, Edy Craig projetava os cenários e dirigiu a maioria das peças, juntamente com outras mulheres que produziam, escreviam e atuavam. A companhia, além de incentivar o trabalho de dramaturgas, oferecia maior número de papéis femininos para as mulheres atuarem. Apesar da importância do trabalho de Craig, sua história foi obscurecida por críticos e historiadores, e hoje só ouvimos falar de seu irmão, Gordon Craig. O trabalho de Edy Craig é mais bem estudado no livro Innocent Flowers: Women in the Edwardian Theatre, de Julie Holledge (1981) 65 , mais uma publicação que infelizmente não se encontra disponível em língua portuguesa. De acordo com Aston (1995, p. 34), “trazer a tradição “perdida” da história do teatro das mulheres à investigação é um passo político importante se o academicismo teatral feminista deseja mudar a história futura do palco.” 66 A partir da intervenção do entendimento feminista, podemos compreender o teatro como um sistema de signos e o trabalho da performer com um viés subversivo em diferentes palcos da história, como por exemplo, o já mencionado trabalho da atriz Lauren Love. Assim, a investigação feminista propõe considerar “a performer como criadora potencial de um texto ‘alternativo’ ao palco de autoria masculina, no qual ela é 65 HOLLEDGE, Julie. Innocent Flowers: Women in the Edwardian Theatre. London: Virago, 1981. “bringing the ‘lost’ tradition of women’s theatre history into view is an important political step if feminist theatre scholarship is to change the future history of the stage.”(Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 66 40 ‘emoldurada,’” 67 isto é, como autora de um texto que se cria em cena, por meio de sua indumentária, maquiagem, gestos, voz e atributos físicos (ASTON, 1995, p. 32). Como exemplo, Aston cita as performers inglesas da década de 1660, as quais atuavam travestidas de homens. Este exemplo inverte o que acontecia nos palcos em que as mulheres impedidas de atuar, eram representadas por homens, pois a mulher travestida de homem faz a sua construção “do homem como signo” 68 (ASTON, 1995, p. 34). 1.4.3 O caso brasileiro No Brasil, temos algumas publicações que se referem a questão da dramaturgia feminina na cena teatral brasileira, dentre as quais podemos destacar Um teatro da Mulher, de Elza Cunha de Vicenzo (1992), Margem e Centro: A dramaturgia de Leilah Assunção, Maria Adelaide Amaral e Ísis Baião, de Ana Lúcia Vieira de Andrade (2006) e a recente pesquisa A personagem feminina na dramaturgia brasileira contemporânea, realizada por André Luís Gomes e Laura Castro Araújo (2008). Com a intenção de contribuir “para o ‘registro coletivo’ da fala feminina no teatro,” Vicenzo (1992, p. XXI) discorre sobre o trabalho de dramaturgas do ano de 1969 e das décadas de 1970 e 1980 no Brasil. Além disso, a autora apresenta dramaturgas anteriores a 1969, ressaltando que os nomes de autoras antes deste período aparecem esporadicamente nos compêndios de história do teatro brasileiro, apresentando uma grande diferença se comparado à quantidade de autores. A informação é complementada, por meio de dados estatísticos, na pesquisa de Gomes e Araújo (2008) sobre a representação da mulher na Dramaturgia Brasileira Contemporânea, na qual os autores verificaram em publicações teatrais entre 1960 até 2006, que há o predomínio do discurso de autoria masculina. Apesar da crescente participação de mulheres na dramaturgia pós 1969, conforme aponta Vicenzo, a pesquisa de Gomes e Araújo informa que das 207 peças analisadas, apenas 52 são de autoria feminina, fator que, segundo os autores, influencia na construção da identidade feminina na dramaturgia brasileira. Segundo Vicenzo, apesar da lacuna no que diz respeito à dramaturgia feminina, o mesmo não acontece no caso de mulheres 67 “the female performer as potential creator of an ‘alternative’ text to the male-authored stage picture in which she is ‘framed’.”(Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 68 “the male as sign.” (Tradução de Daniel Soares Duarte. Não publicada). 41 trabalhando como atrizes, o que nos remete à Aston (1995), sobre a necessidade de olharmos para o contexto nos quais as mulheres têm trabalhado no teatro: Uma leitura mais atenta de obras de história do teatro brasileiro como o Panorama, de Sábato Magaldi, as coletâneas de crítica de Décio de Almeida Prado ou Miroel Silveira, e mesmo os levantamentos e estudos especiais sobre a atividade teatral de entidades como o TBC ou de grupos como o Arena e o Oficina, enquanto nos revela a presença constante e marcante de atrizes, nos leva a concluir pela quase ausência de autoras. (VICENZO, 1992, p. XVI). Se, de acordo com Aston (1995), pensarmos a performance feminina como uma possibilidade de subversão e resistência, podemos considerar que mesmo não escrevendo para o teatro, as atrizes deixavam suas próprias impressões ao trabalhar a partir de textos de autoria masculina. Se, em termos de análise textual, a identidade feminina é influenciada pela predominância do discurso masculino, até que ponto as atrizes brasileiras, em suas performances, estariam reforçando ou subvertendo esse discurso e criando seu próprio texto em cena? É importante ressaltar que a pesquisa de Gomes e Araújo refere-se somente ao universo de peças teatrais publicadas, não levando em conta peças que são criadas em outros contextos, como por exemplo, o de criações coletivas e peças de improviso, as quais não produzem textos independentes da cena. Assim, é preciso considerar a existência de atrizes, como Dercy Gonçalves, a qual criou textos em um teatro de improviso, e que existiam somente na cena. Além disso, não podemos deixar de pensar na hipótese de que há produção de peças teatrais de autoria feminina, que não são publicadas. De acordo com Vicenzo (1992), se antes os nomes de dramaturgas apareciam isolados e esporadicamente na história do teatro brasileiro, já no ano de 1969, surgem em conjunto. Este fenômeno, segundo a autora, está relacionado à três fatores: o renascimento do movimento feminista no Brasil e no mundo; as lutas feministas que reivindicavam a “abertura de novos espaços para a atuação da mulher em novos campos” (VICENZO, 1992, p. XX); e o contexto político e social de ditadura e repressão, que atingia a toda a população, incitando a luta política. Neste contexto, o teatro era um lugar de resistência, onde as mulheres também lutavam, manifestando não somente as preocupações que atingiam a maioria das pessoas, mas também revelando questões ligadas à “sua própria condição feminina” (VICENZO, 1992, p. XVI). 42 Por sua vez, Andrade (2006), traz uma reflexão em torno do trabalho das três dramaturgas que dão o subtítulo de seu livro, entre as décadas de 1960 a 1990. A autora discute os parâmetros críticos que determinam a inclusão ou exclusão das dramaturgas no cânone literário, e faz uma reflexão sobre como a recepção das obras influencia na continuidade da carreira das autoras. Andrade traz o conceito de Stanley Fish de comunidades interpretativas, para entender a teoria da recepção e demonstrar “como o público de teatro age segundo os parâmetros da comunidade à qual pertence,” (2006, p. XII) isto é, como um determinado contexto cultural induz posturas coletivas em relação à obra teatral. A recepção de uma peça, seu êxito ou o seu fracasso depende do local, da época e dos valores que permeiam a comunidade na qual ela acontece. Assim, no contexto estudado por Andrade, o rechaço da crítica a peças com conteúdos feministas, influenciaram na recepção das mesmas, e também nas escolhas estéticas e temáticas das autoras no decorrer de suas carreiras. A partir deste entendimento, Andrade (2006) discute, por exemplo, o êxito do trabalho de Leilah Assunção, com a peça Fala Baixo Senão Eu Grito estreada em 1969. Em um contexto no qual a repressão da ditadura militar e a falta de liberdade política imperavam no país, uma peça como a de Assunção que tratava do tema da submissão feminina, foi bem recebida, pois “a questão feminina, pela primeira vez, deixava de ser unicamente feminina para tornar-se mais universal: o desmascaramento do poder autoritário” (ANDRADE, 2006, p. 133). Além disso, Assunção integrava o conjunto de nomes de jovens dramaturgos, sendo que neste período os intelectuais menos conservadores estimavam a juventude, por essa se encontrar mais distante do poder e por isso obter um caráter marginal, o que era valorizado dentro da noção das vanguardas artísticas do fim dos anos 60. Já uma dramaturga como Ísis Baião, que apresentava um posicionamento feminista de forma mais incisiva, uma estética que se aproximava do grotesco, com sátiras mordazes e atacando de frente os valores conservadores, esteve à margem do cânone literário (Andrade, 2006). Como já vimos a respeito das obras de Glaspell, o mesmo acontece no caso das autoras brasileiras que tratam de questões ligadas ao universo feminino e feminista. Analisando resenhas críticas sobre as peças das autoras estudadas, Andrade (2006, p. XIII) obteve a confirmação: [...] existem de fato posições prévias, pré-definidas, que determinam as posturas demonstradas nas resenhas. No caso dos comentários com os quais 43 trabalhamos, pode-se perceber, por exemplo, quase sempre uma antipatia direcionada para qualquer tipo de expressão que busque dar voz a um conteúdo de caráter feminista, ou que se suponha feminista. Esse tipo de posicionamento, embora mais comum nos anos 1970 e 1980 (ainda marcados pela presença da ditadura militar), continua, em menor proporção, até a década de 1990, o que demonstra a existência de um certo [sic] desprezo por parte da comunidade crítica (de predominância masculina) pelo teatro que busque, às vezes de maneira muito sutil, apresentar um enfoque mais ideologizado, principalmente quando essa ideologia é ou parece ser feminista. Das autoras analisadas por Andrade, Maria Adelaide do Amaral é a que obteve maior sucesso comercial e de crítica, entrando definitivamente no cânone. Isto porque, as peças de Amaral, em geral, apresentam uma maior sintonia com os parâmetros conservadores da comunidade interpretativa e aos interesses do público e do mercado. Mesmo quando aborda questões de gênero, com certo viés feminista, como na peça De Braços Abertos, obtém uma boa aceitação, por “não comentar de maneira específica as estruturas patriarcais” (ANDRADE, 2006, p. 138). Além disso, podemos citar a peça A Resistência, na qual Amaral, de acordo com Andrade (2006, p. 77), “dialogava de maneira muito clara com a dramaturgia canônica norte-americana [...] o chamado malecanon pela crítica feminista, evitando desenvolver as questões referentes às relações de gênero.” No que diz respeito à construção das personagens, a pesquisa de Gomes e Araújo (2008), aponta que nas peças analisadas, as personagens femininas que assumem o papel de protagonistas são raras: [...] elas são quase sempre coadjuvantes, cuja representação construída reafirma estereótipos: mulheres assumindo e aceitando o papel de donas de casa, circunscritas ao ambiente doméstico, vivenciando tramas familiares onde aparecem como figura conciliadora e, na maioria, passiva e submissa. [...] em um universo de 340 personagens femininas, apenas 27,7% assume o papel de protagonista. Nas demais, elas não assumem papéis responsáveis pela condução e desfecho das intrigas; até influenciam, mas não têm autonomia para conduzir em primeiro plano o desenrolar da história. (GOMES; ARAÚJO, 2008, p. 85-86). Segundo os autores da pesquisa, essas personagens quase nunca representam ou questionam peculiaridades de seu gênero nem refletem as novas condições sociais, econômicas e política da mulher. As especificidades do mundo feminino e a subjetividade da mulher ficam sem espaço na cena brasileira, com representações parciais e limitadas, talvez como consequência da predominância do discurso de autoria masculina (GOMES; ARAÙJO, 2008). Podemos ainda acrescentar o fator apontado por Andrade (2006), a qual demonstra como questões relativas ao universo feminino e 44 posturas ideologizadas são recebidas com desconfiança pela crítica, predominantemente masculina, influenciando nas temáticas escolhidas pelos dramaturgos e dramaturgas para que suas peças possam se inserir no mercado. Ainda de acordo com Gomes e Araújo, a situação muda quando nos referimos a peças de autoras como Maria Adelaide Amaral, Leilah Assunção e Consuelo de Castro, as quais apresentam personagens femininas ocupando espaço no trabalho e na universidade e abordando temas como política e sexualidade. Os autores ressaltam que quando as personagens dessas autoras ocupam o espaço doméstico, nunca é com exclusividade, representando o conflito ao se dividir entre vários papéis. “Algumas peças” tanto de autoria masculina quanto feminina, “retratam justamente a crise das relações devido aos conflitos gerados pelas novas posições sociais ocupadas pela mulher” (GOMES; ARAÚJO, 2008, p. 96). Os dados estatísticos da pesquisa, também demonstram que as personagens geralmente são brancas e pertencem à elite econômica ou a classe média, o que significa que as questões raciais, além das questões de gênero, também ocupam pouco espaço na Dramaturgia Brasileira Contemporânea. No mais, a pesquisa aponta que das personagens negras que aparecem nos textos, 100% são pobres e não intelectuais. Os autores consideram de difícil desconstrução a influência do discurso masculino na dramaturgia brasileira, devido a forte presença desta influência que está ligada aos “fatores sociais, políticos e religiosos que sempre marcaram a História do Teatro” (2008, p. 72). A dificuldade de mudar este quadro tem raízes na marginalização sofrida pelas mulheres de teatro, as quais sofriam restrições quanto a sua participação nesta atividade. Como exemplo, Gomes e Araújo elucidam que “papéis femininos no teatro dos colégios” eram proibidos “a fim de evitar a ‘excitação ao devaneio ou às paixões’ da mocidade, como pode ser comprovado através de documentos do século XVII” (2008, p. 73). A restrição moral quanto à participação das mulheres aparece também na orientação sexual dos personagens, o que demonstra, segundo Gomes e Araújo, “certo conservadorismo temático” (2008, p. 88). A homossexualidade feminina como tema, ou personagens homossexuais quase não aparecem nas peças analisadas pelos autores. Em um universo de 434 personagens femininas, somente 15 são apresentadas como homossexuais, e 15 como bissexuais, sendo que destas, somente 5 são as protagonistas 45 homossexuais e 8 as protagonistas bissexuais. “O que predomina são enredos desenvolvidos em famílias patriarcais e/ ou a partir de triângulos amorosos, em que temos o marido, a esposa e a amante” (2008. P. 88). Como exemplo de peças que trazem personagens femininas homossexuais, os autores citam As sereias de Rive Gauche, de Vange Leonel, e Um porto para Elizabeth Bishop, de Marta Goés. Tais peças refletem as implicações sociais e subjetivas da orientação sexual das personagens. A homossexualidade feminina também aparece na peça Querida Mamãe, de Maria Adelaide Amaral, discutida por Andrade (2006), na qual a filha da protagonista é homossexual. Apesar disso, Andrade informa que algumas críticas consideraram que a construção da personagem homossexual não foi bem elaborada pela autora. Para Andrade, Amaral apenas criou esta característica para gerar maior conflito entre mãe e filha, o que foi confirmado pela própria dramaturga em entrevista à pesquisadora. O texto de Gomes e Araújo, lido e discutido no grupo de estudos Teatro e Gênero, gerou discussões sobre a criação de novos textos onde a representação da mulher ecoasse questões atuais daquele pequeno grupo de mulheres ali reunidas. Como propõe os próprios autores na conclusão da pesquisa: “A partir daí, poderemos localizar temas e conteúdos ausentes de nossa dramaturgia, sugerindo novos caminhos para nossa produção dramática” (2008, p. 98). O grupo (Em) Companhia de Mulheres e o espetáculo Jardim de Joana surgiram do desejo de criar um espetáculo, desde a sua dramaturgia, no qual poderíamos abordar questões que nos dissessem respeito, e de uma forma inteiramente nossa. Como veremos no decorrer desta dissertação, o trabalho desenvolvido pelo grupo aborda a questão da homossexualidade feminina e suas implicações sociais. 46 2 GRUPO (EM) COMPANHIA DE MULHERES: FORMAÇÃO; ORGANIZAÇÃO E “PRIMEIRA FASE” DE TRABALHO 2.1 FORMAÇÃO DO GRUPO O Capítulo 2 descreve como se formou o grupo de pesquisa teatral (Em) Companhia de Mulheres, e relata o que chamarei de “primeira fase” do trabalho do grupo, compreendida entre os meses de março à julho de 2010. O objetivo é mostrar como o grupo organizou seus trabalhos iniciais, e para tal será feita a apresentação de algumas estratégias de criação. Assim, pretende-se demonstrar como o trabalho inicial focado no treinamento corporal, jogos teatrais, leituras de contos, mitos, dentre outros estudos teóricos, foi um momento preparatório que desencadeou na criação da dramaturgia do espetáculo Jardim de Joana. A fase de criação do texto e espetáculo Jardim de Joana, que chamaremos de “segunda fase”, é relatada no Capítulo 3 desta dissertação69. Contar como o grupo se formou, é também contar um pouco a minha história. No projeto de mestrado propus pesquisar sobre o teatro feminista e montar grupos teatrais apenas com mulheres para a criação de espetáculos a partir de uma prática colaborativa, onde a intenção era que criássemos o nosso próprio texto. Partindo da leitura de alguns contos e mitos retirados do livro Mulheres que Correm com os Lobos (ESTÉS, 1994), a ideia era que essas histórias estimulassem o surgimento de histórias pessoais das integrantes dos grupos. Deste modo, o objetivo do projeto não consistia apenas em criar uma peça teatral, mas também construir um espaço onde mulheres pudessem compartilhar histórias e apreender umas com as histórias das outras. Naquele momento, tinha como estímulo para essas ideias o livro citado de Clarissa Pínkola Estés, cuja leitura havia me envolvido completamente, o que pode ser justificado pela escrita de Estés (1994, p. 36): 69 Durante a realização desta pesquisa criei e alimentei o blog “(Em) Companhia de Mulheres”, com o objetivo de divulgar e compartilhar nosso processo, além de ser um canal de pesquisa onde busquei aglutinar diversos sites e blogs sobre o feminismo e teatro feminista Disponível em: <http://emcompanhiademulheres.blogspot.com/>. 47 As histórias conferem movimento à nossa vida interior, e isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina, mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas, aberturas que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos devolvem à nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes. Absorta por esta leitura, as narrativas apresentadas por Estés mostraram-me uma saída, estimulando na escrita do projeto de mestrado. No projeto de pesquisa, a proposta era fazer o trabalho prático com dois grupos de mulheres, sendo um deles dentro da universidade, com mulheres universitárias, estudantes de teatro, e o outro grupo com mulheres estudantes do ensino fundamental na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino de Florianópolis. Eu pretendia fazer o trabalho com esses dois grupos de realidades distintas por algumas razões. Uma delas vinha do fato de que eu já havia trabalhado na Educação de Jovens e Adultos70, em um contexto onde houve uma troca muito gratificante com os alunos, e no caso específico das alunas. A nossa aproximação se deu principalmente quando realizamos a criação coletiva de uma peça de teatro71, cujo trabalho percebi surtir efeitos transformadores nas mulheres envolvidas, na relação entre nós e entre o grupo em geral. 70 Trabalho desenvolvido em 2009, como professora substituta de Artes Cênicas da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no núcleo EJA Leste III, que abrangia as comunidades dos Ingleses e do Rio Vermelho, sob a coordenação de Antonio Chedid. O desenvolvimento de esquetes teatrais aconteceu unicamente com a comunidade do Rio Vermelho, onde eu também residia na época, o que possiblitou uma maior integração com a comunidade. Vale ressaltar que o êxito deste trabalho se deu em grande parte devido ao apoio recebido do coordenador e dos professores deste núcleo. Para divulgar os trabalhos desenvolvidos neste núcleo, criei um blog onde postei fotos que tirei durante a realização de nossas atividades, bem como informações sobre elas. O blog ainda encontra-se disponível em http://ejazingaredriver.blogspot.com/. 71 A peça em questão foi criada a partir da união de três grupos que pesquisavam temas diferentes. O grupo formado por mulheres adultas que tratava do tema da prostituição infantil, propôs que outros dois grupos, (formados por homens, a maioria adolescentes) se juntassem à elas para a criação de uma peça, devido à aproximação dos temas, que eram sobre a pedofilia e sobre o menor infrator. A união destes três grupos desencadeou em uma peça na qual os três temas se entrelaçavam em uma única história. Como professora de teatro, estimulei na criação desta história, que partiu de um trabalho de mesa, com algumas proposições iniciais, partindo a seguir para as improvisações. Como os grupos estavam pesquisando sobre estes temas, eles tiveram maior embasamento para tratar deles em cena. É importante informar que os temas trabalhados foram livremente escolhidos pelos alunos. A peça foi encenada no parquinho da escola, e teve como público alunos, professores e familiares dos alunos. É interessante observar que, no início do ano letivo havia um clima de conflito entre as mulheres mais velhas e os adolescentes homens, vindo principalmente por parte das mulheres deste grupo. Porém, ao trabalharem juntos, as tensões se dissiparam. Outra peça que colaborei na criação foi realizada por duas alunas que trabalhavam sobre o tema do transtorno bipolar. Neste trabalho também percebi como se modificou a relação entre mim e as alunas, gerando maior confiança entre nós, e também na relação dessas alunas com o restante do grupo. Como este trabalho foi realizado no início do ano letivo, estabelecemos uma relação positiva que perdurou por todo o ano. 48 Neste trabalho, percebi o quanto era importante o contato com outras mulheres, em um grupo onde pudéssemos trabalhar juntas, o que certamente nos fortaleceu ao abrir espaço para compartilharmos nossas experiências umas com as outras. Muitas vezes restritas às relações sociais que implicam família e trabalho, as mulheres desta turma da EJA, pareciam precisar de um espaço acolhedor onde pudessem rir de si mesmas, falar à vontade sobre suas histórias e investir sua energia criativa em algo satisfatório, contexto com o qual eu também me identificava. Neste sentido, compreendo o espaço escolar como um lugar de vivência, socialização e construção de saberes, que pode e deve valorizar as experiências individuais dos alunos e alunas, sendo o teatro uma ferramenta que possibilita a concretização destes objetivos. O artigo Cotidiano ritualizado: grupos de mulheres no enfrentamento à violência de gênero (MENEGHEL et al, 2005) aborda a experiência realizada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio grande do Sul, com diferentes grupos de mulheres que tinham em comum o fato de estarem vivendo uma situação de violência de gênero. Segundo os autores, foram realizadas oficinas com estes grupos, utilizando dinâmicas como narrativas e pinturas que trabalhassem sobre a questão da violência de gênero, com o intuito de estimular o empoderamento das mulheres participantes. No referido artigo, encontramos noções que dialogam com a presente pesquisa, como por exemplo, trabalhar com grupos de mulheres, trazendo a questão do “pessoal é político”, com o objetivo do empoderamento. Além disso, o artigo apresenta um discurso que valoriza a construção do feminino no cotidiano das mulheres, dialogando com a noção já apresentada de Estés (1994): A experiência das mulheres contém sempre a experiência de outras mulheres e esta experiência vem sendo transmitida oralmente, por gestos, olhares e narrativas. As mulheres foram e são construídas com palavras. Neste processo de construção identitária, a imaginação e a justiça são instrumentos possibilitadores de narrativas [...]. (MENEGHEL et al., 2005, p. 3). Na sequência, o texto cita a professora Drª Edla Eggert72, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos: [...] “a pequena história pessoal é parte de uma grande história. Este é um dos principais caminhos por meio do qual uma pessoa elabora e assimila 72 EGGERT, Edla. “Narrativa: uma filosofia a partir da experiência das mulheres”. In: TIBURI, M et al (Org.). As mulheres e a filosofia. Unisinos: São Leopoldo, 2002. Pp. 193-202. 49 significados, constrói sua identidade e descobre quem ela é.” (EGGERT apud MENEGHEL et al., 2005, p. 3, grifo dos autores). Inspirada por essa percepção, planejei um projeto propondo trocar experiências e histórias pessoais entre mulheres com a finalidade de construir um espetáculo teatral, não apenas para satisfazer pessoalmente cada mulher, mas também para, juntas, criarmos um produto artístico por meio do qual poderíamos ampliar as questões pessoais para um grupo maior da comunidade, como uma tentativa de transformar o pessoal em político. Sendo que, por se tratar de uma criação de texto e espetáculo que partiria dos próprios grupos, as questões tratadas seriam atuais e talvez urgentes, e colocá-las em debate por meio da criação teatral seria uma forma de ação política. A escolha pelo segundo grupo, o de mulheres dentro do contexto universitário, era porque eu acreditava que neste espaço, encontraria histórias diferentes, resultando em um trabalho com outra temática e estética, pois as mulheres teriam em comum o fato de serem universitárias e estudantes de teatro. O projeto desta pesquisa já trazia uma noção fundamental para o feminismo: que a categoria mulher não é homogênea, abrangendo diferentes contextos sociais, culturais, econômicos, que refletem no modo de ser mulher. Para melhor compreensão do que isto significa, aproveitamos o artigo de Adriana Piscitelli, Re-criando a categoria mulher (2002), o qual apresenta uma explanação didática sobre como se formam conceitos e categorias fundamentais para o pensamento feminista após os anos 1960, tais como “mulher, opressão e patriarcado,” que, segundo Piscitelli, são aspectos centrais para a compreensão do “contexto no qual se desenvolve o conceito de gênero” (2002, p. 4). Por meio da explanação de Piscitelli, entende-se que a noção da categoria “mulher” começa a desenvolver-se no pensamento feminista radical, também chamado de feminismo cultural (DOLAN, 1991), o qual entendeu que esta categoria definia-se a partir de aspectos biológicos e socialmente construídos. A categoria ‘mulher’ tem raízes na ideia do feminismo radical segundo a qual, para além de questões de classe e raça, as mulheres são oprimidas pelo fato de serem mulheres – pela sua womanhood [feminilidade]. [...] O reconhecimento político das mulheres como coletividade ancora-se na ideia de que o que une as mulheres ultrapassa em muito as diferenças entre elas. Dessa maneira, a ‘identidade’ entre as mulheres tornava-se primária (PISCITELLI, 2002, p. 4). Portanto, para a linha de pensamento do feminismo radical, o que une as mulheres primariamente é o fator biológico, sendo o modo de reprodução do ser 50 humano considerado determinante das “diferenças entre os papéis sociais e econômicos de homens e mulheres, o poder político e a psicologia coletiva” (PISCITELLI, 2002, p. 4) e da hierarquia de gênero. Apoiando-se na explicação de Linda Nicholson73, Piscitelli (2002) observa que o feminismo hoje, tenta eliminar a noção essencializante do determinismo biológico, ancorando-se no “fundacionalismo biológico”, isto é, na noção de que os traços da personalidade e do comportamento não são determinados pela biologia, mas sim, convivem ao mesmo tempo com as características biológicas, e que “as relações entre eles são acidentais” (2002, p. 20). Meu interesse em trabalhar com dois grupos diferentes de mulheres era, portanto inspirado pela ideia de ter contato com experiências de vida diferentes, considerando os aspectos socioculturais que envolvem estas experiências, o que me levaria também a confrontar os processos e resultados dentro de uma perspectiva metodológica. Como encaminhamento da pesquisa, foi proposto, pela orientadora de mestrado, que eu trabalhasse somente com o grupo do contexto universitário, onde eu também estava inserida como sujeito e compartilhava com outras mulheres do mesmo contexto sociocultural, pois no tempo definido para o desenvolvimento da pesquisa de dois anos seria difícil conseguir contemplar os dois grupos e escrever sobre o processo. Ficamos, portanto, apenas com o grupo universitário, permanecendo ainda o desejo, para uma posterior pesquisa, a realização deste trabalho prático com grupos de mulheres em outros contextos. Miranda fez outra proposta que facilitaria o encaminhamento da pesquisa, considerando os prazos para execução do projeto de mestrado: que eu me unisse com suas duas outras orientandas, Rosimeire da Silva e Lisa Brito, para que juntas, coordenássemos esse projeto, unindo as nossas pesquisas teóricas em um laboratório de pesquisa prático. Miranda que coordena o grupo de estudos Teatro e Gênero desde 2006 sugeriu que convidássemos as mulheres que faziam parte deste grupo para o nosso trabalho prático. O laboratório tornou-se um desdobramento do grupo de estudos, e dessa junção nasceu o grupo (Em) Companhia de Mulheres, e o espetáculo Jardim de 73 NICHOLSON, Linda. “Interpretando Gênero”. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, CFH/ UFSC, v. 8, n. 2, pp. 9-43, 2000. 51 Joana, cujo processo de criação será descrito a seguir. Nem todas que participavam do grupo de estudos participaram também do laboratório. Inicialmente o grupo prático estava formado por mim, que fiquei responsável pelo trabalho com os contos e mitos, juntamente com as mestrandas Silva e Brito, responsáveis respectivamente pelo treinamento psicofísico e pela aplicação de jogos teatrais. Uniram-se a nós as graduandas do curso de Teatro da UDESC, Emanuele Weber Mattiello, Julia Oliveira, Vanessa Civiero e Marina Sell. As duas últimas integrantes saíram do grupo em maio e em agosto de 2010, respectivamente. Em outubro de 2011, já em uma fase avançada do trabalho, com o espetáculo recém-estreado, Mattiello deixou o grupo. Apesar de ter saído do grupo quando finalmente já tínhamos estreado nosso espetáculo, convém comentar a enorme contribuição de Mattiello para o grupo. Demonstrando-se sempre muito interessada e preocupada com o andamento de nossos trabalhos, Mattiello teve uma participação ativa no que diz respeito à construção da dramaturgia, do espetáculo e de questões relativas à produção. Devido a essa intensa participação, a sua voz manteve-se no espetáculo, mesmo não estando mais presente no grupo e na cena. Vale dizer que Oliveira e Mattiello dividiam o mesmo apartamento durante o processo de criação do espetáculo Jardim de Joana, sendo que Civiero também morou por um período com elas, bem no início de nosso processo. Em setembro de 2010, integrou-se ao grupo, Morgana Martins, que também fazia parte do Programa de Pós Graduação em Teatro da UDESC, com pesquisa de mestrado na área de repertório sonoro. Martins se encarregou do repertório sonoro do espetáculo Jardim de Joana, além de compor a trilha sonora que complementou a dramaturgia e a encenação. Sua contribuição excedeu a execução do repertório sonoro, pois, durante os ensaios, como estava assistindo tudo de fora da cena, sempre apresentava alguma sugestão em relação ao nosso processo criativo. Martins e Brito eram namoradas e foram morar juntas enquanto desenvolvíamos nosso trabalho, o que claramente influenciou no que criamos. Além disso, Martins já era minha colega desde a época da graduação, sendo que fui sua caloura no curso de Artes Cênicas da UDESC. Silva e eu também já nos conhecíamos desde 2002, ano em que ingressei na graduação da UDESC, e que fiz minha primeira peça, na qual contracenava com ela. Na 52 peça Quanto Vale!? 74 , eu e Silva interpretávamos catadoras de papel, sendo que eu fazia o papel de sua filha (Figura 1). Durante toda a graduação mantivemos contato, por vezes fazendo disciplinas juntas, assistindo os espetáculos uma da outra e por vezes nos encontrando em festas na cidade, inclusive na própria casa de Silva. Figura 1: Espetáculo Quanto Vale!? (2002): Rosimeire da Silva e Priscila Mesquita. Fonte: Arquivos de Rosimeire da Silva. Em 2010, após ingressar no mestrado, moramos em uma mesma casa, na qual o espaço compartilhado era somente a cozinha e o quintal. Neste período pudemos trocar muitas ideias a respeito de nossas pesquisas e nos conhecer melhor. Posteriormente, em 2011, Silva mudou de casa, mas continuamos vizinhas, morando no mesmo terreno, o que facilitou que déssemos sequência aos nossos encontros de trocas de ideias e inclusive cogitar futuros projetos em conjunto. Durante o período da graduação, no ano de 2005, tive aula com Miranda na disciplina de Estética Teatral. Além disso, a mesma orientou o Trabalho de Conclusão 74 Montagem realizada na disciplina de Encenação Teatral, no 2º semestre de 2002, sob coordenação do Profº José Ronaldo Faleiro. Quanto Vale!? tratava-se de um espetáculo de rua e teve direção de Julie Cristie Knabben. O texto foi criado coletivamente pelo grupo, a partir do cruzamento dos textos Homens de Papel de Plínio Marcos e Mãe Coragem de Bertold Brecht. Além das apresentações como prova pública da disciplina de Encenação Teatral, o espetáculo também se apresentou no Festival de Teatro Isnard de Azevedo, em Florianópolis (2002). 53 de Curso75 de Silva, a qual, já neste período, direcionava seus estudos teatrais para as questões de gênero. Miranda, além de orientar as pesquisas das três mestrandas que participavam do grupo, esteve sempre nos orientando em relação ao encaminhamento do trabalho prático, mesmo quando ainda não participava dos encontros práticos do grupo. No período de agosto de 2010 à outubro de 2011, participou como diretora artística do espetáculo Jardim de Joana, estimulando na criação da dramaturgia e depois na colocação da mesma em cena. Conforme o descrito, sobre as integrantes do grupo, podemos instigar uma reflexão sobre como as relações estabelecidas fora do ambiente da pesquisa influenciaram neste processo. Assim, as entradas e saídas de integrantes, não estão isentas dos relacionamentos pessoais que aconteciam do lado de fora do grupo. As relações pessoais, acadêmicas, afetivas, de amizade foram determinantes para os acontecimentos no decorrer do processo criativo e inclusive no que o grupo obteve como ‘resultado final’. Além disso, as novas relações que começaram a se delinear a partir do encontro entre essas mulheres dentro do laboratório de pesquisa, determinaram também rumos para suas relações fora dali. 2.1.1 “Espaço Ginocêntrico” Ao longo da pesquisa conheci um termo específico para nomear o tipo de espaço exclusivamente de mulheres que estávamos formando na pesquisa prática: “espaço ginocêntrico” (Figura 2). O termo “espaço ginocêntrico” é utilizado por Miranda (2010, p. 151) para nomear treinamentos de grupos de teatro composto exclusivamente por mulheres, e que assumem essa exclusividade como estratégia de empowerment 76 . Em Playful Training: Towards Capoeira in the Physical Training of Actor, Miranda dedica um capítulo77, às práticas femininas do teatro, no qual explica que, nos anos 1970, nos Estados Unidos, a criação de projetos e grupos teatrais formados apenas por mulheres, foi uma estratégia utilizada por artistas do sexo feminino que desejavam levar para o palco questões centradas especificamente nas mulheres. Nos grupos mistos, compostos tanto por homens quanto por mulheres, ainda que estes fossem grupos de teatro alternativo, as artistas sentiam que suas opiniões não eram suficientemente ouvidas, 75 O treinamento psicofísico em busca da corporeidade feminina (SILVA, 2006). A utilização do termo empowerment [empoderamento] neste trabalho será abordada no próximo ítem. 77 O capítulo do livro em questão se chama Innovative Female Practioners (MIRANDA, 2010, pp. 196217). 76 54 como é o exemplo citado por Miranda (2010, p. 198), de Muriel Miguel, que, nos anos 1970, deixou de trabalhar no Open Theatre, para fundar um grupo formado apenas por mulheres, o Spiderwoman. Segundo a autora, em diferentes países estes primeiros grupos de mulheres foram o locus de experimentação para muitas artistas que anos depois retomaram trabalhos independentes ou em grupos mistos. Estes grupos construíram-se como espaços para estimular a autoconfiança, pois ofereciam um espaço no qual as participantes podiam desenvolver a sua criatividade e o seu trabalho com maior liberdade e autonomia. Figura 2: “Espaço ginocêntrico”: integrantes do grupo (Em) Companhia de Mulheres ao final de um ensaio (nov. 2010). Da esquerda para a direita: Brito, Mattiello, Oliveira, Silva e Mesquita Ao mesmo tempo em que o espaço ginocêntrico potencialmente torna possível para as mulheres a abordagem de questões referentes a sua realidade, pode-se também experimentar e desenvolver um tipo de treinamento físico voltado para o seu corpo. Como exemplo, Miranda cita o Blood Group Women’s Experimental Theatre, um grupo de teatro totalmente composto de mulheres, fundado pela atriz, dramaturga e diretora inglesa Anna Furse, nos anos 1980, para a experimentação de um treinamento físico. A criação de Furse do Blood Group foi particularmente motivada por sua experiência de trabalho e de formação com grupos de teatro e 55 projetos cujos parâmetros físicos refletiam modelos masculinos de fisicalidade e treinamento.78 (MIRANDA, 2010, p. 216, tradução nossa). A autora explica que esta motivação de Furse veio após sua experiência em trabalhos baseados em ideias de corpo e treinamento de Jerzy Grotowski, pois estes regimes de treinamento tendem a perpetuar ideias de um corpo “neutro”, porém cujos exercícios derivam de práticas historicamente masculinas. Os experimentos do Blood Group durante os anos 1980 são um exemplo de um grupo de teatro que resistiu a "cegueira de gênero" no treinamento físico. Vale ressaltar que Furse criou um ambiente de apoio para as praticantes do sexo feminino, permitindo-lhes pesquisar, produzir teatro físico e performances. A consciência da identidade de gênero pode ser considerada uma importante estratégia de resistência durante o desenvolvimento do teatro físico.79 (MIRANDA, 2010, p. 217, tradução nossa). Miranda discute como os processos de treinamento de atores não têm problematizado questões de gênero ao discutir o corpo do ator. Isto significa que, ao emprestarmos uma prática física de uma determinada tradição, devemos questionar e ter consciência de sua procedência, de quem a pratica ou praticava e em qual contexto. O que parece acontecer muitas vezes é uma idolatria a sistemas de treinamento herdados de outros países e realmente uma cegueira de gênero, onde não há questionamento sobre o que se faz, simplesmente reproduzindo movimentos e tentando se enquadrar no que se costuma chamar de corpo “neutro”. Se representar textos canônicos, sem um questionamento sobre o contexto no qual foi produzido corre-se o risco de reproduzir a ideologia implícita neles, o mesmo pode ocorrer no caso de sistemas de treinamento. É também necessário compreender os conteúdos ideológicos que permeiam as práticas de treinamento que utilizamos. 2.1.1.1 Ponto de vista sobre o treinamento psicofísico no grupo (Em) Companhia de Mulheres: entre o incômodo e o prazer Silva, a responsável pelo treinamento psicofísico no grupo (Em) Companhia de Mulheres, concomitante ao treinamento que coordenava, também pesquisava uma 78 “Furse’s creation of the Blood Group was particularly motivated by her experience of working and training with theatre groups and projects whose physical parameters reflected masculinist models of physicality and training.” 79 “The Blood Group experiments during the 1980s are an example of a theatre group that resisted “gender blindness” in physical training. It is noteworthy that Furse created a supportive environment for female practitioners enabling them to research, produce physical theatre and performances. Awareness of gender identity can be considered an important strategy of resistance when developing physical theatre.” 56 estrutura de treinamento voltada para o corpo da mulher. Ainda que com tradições herdadas de mestres como Jerzy Grotowski, Eugenio Barba e Luís Otávio Burnier, Silva experimentava os exercícios destes modelos masculinos de acordo com as necessidades específicas do nosso grupo. Ao mesmo tempo, seu treinamento dialogava com os estudos sobre os mitos e contos e com os estudos feministas, contribuindo para que conseguíssemos repercutir fisicamente aquilo que pesquisávamos. Enquanto participante de seu treinamento, hoje percebo que este possibilitou que eu ampliasse meu repertório e consciência corporal, conseguindo assim perceber meu corpo mais vivo e presente durante o período do treinamento. Esta experiência foi valiosa para dar continuidade a minha pesquisa de atriz, experimentar novos exercícios e me confrontar com limitações psicofísicas que talvez estivesse evitando confrontar. Também pude perceber o quanto o meu corpo pode ‘enferrujar’, mesmo ficando pouco tempo sem praticar nada, e que mesmo fazendo diversos exercícios, o corpo sempre apresenta algum ponto de resistência. Estes pontos de resistência refletidos no corpo, claramente mostraram-se para mim como provenientes da minha mente. Enquanto realizava o treinamento me sentia a vontade com os momentos de alongamento, e quando trabalhávamos o corpo voltando a atenção para o nosso interior, porém, quando o treinamento direcionava-se para a exaustão e exteriorização, já não me sentia tão bem, resistindo a esses momentos. Talvez, o que faltasse para mim em alguns momentos do treinamento era sentir prazer. Ainda não sei bem o que proporciona este sentimento, mas me parece que quando não sei para quê faço determinado exercício, ou se faço algo que não fico tão envolvida a ponto de conseguir parar de pensar “para quê estou fazendo isso?”, fica difícil sentir prazer, pois fico pensando demais, e os pensamentos às vezes atrapalham. Acho interessantes os exercícios terem suas origens e finalidades contextualizadas, pois preciso entender o que estou fazendo. É curioso pensar que durante uma oficina de danças populares brasileiras danço por três horas seguidas e com prazer, pois isto me diverte, e quero conhecer mais. Especulo que a música percussiva, tocada ao vivo, é um elemento bastante estimulante para o movimento corporal. Já em uma sala de ensaio, quando o treinamento torna-se mecânico, me canso em poucos minutos, e me sinto angustiada, querendo que tudo acabe logo. Em alguns exercícios, que repetimos em vários ensaios e que fazíamos coletivamente olhando nos olhos umas das outras, comecei a gostar de fazê-los. Talvez 57 por ter incorporado os movimentos e sentido a apropriação destes por todo o grupo, chegando a um momento em que reconhecíamos o exercício como “nosso.” Percebo que meu corpo precisa de uma prática física associada ao lúdico, à brincadeira, à dança, ao jogo. O treinamento psicofísico também não pode se restringir à sala de ensaio, mas cada um deve procurar no dia a dia aquilo que mais lhe satisfaz, pensando nas práticas físicas, tais como esportes, danças ou lutas, como ampliadoras do condicionamento físico e do repertório corporal. Acredito que para uma pesquisa de treinamento voltado para o corpo da mulher, há infinitas possibilidades. A variedade dos corpos femininos é tão extensa quanto às possibilidades de treinamento. Parece-me interessante buscar práticas corporais provenientes também de nossa própria cultura, e investigar, por exemplo, danças brasileiras executadas tradicionalmente por mulheres, como uma forma de romper com modelos de treinamento eurocêntricos e masculinos, e para valorizar e difundir a cultura brasileira e feminina. Parece pertinente que cada ator e cada grupo, antes de optar por determinada estrutura de treinamento, discutam o que querem para si e quais os objetivos que pretendem atingir com o treinamento. Enquanto atriz, sei que cada treinamento por qual passamos fica gravado em nosso corpo, e aparece em algum momento em algum trabalho que se faça. É importante sempre rever que trabalho queremos fazer e o que queremos transmitir por meio dele. Percebo como algo extremamente particular a escolha pelo tipo de treinamento. Cada corpo tem uma necessidade, um interesse, se sente melhor fazendo isto ou aquilo. Por isso é importante experimentar, até encontrar o que é adequado para si. E ao mesmo tempo, em cada momento da vida, escolhemos algo diferente, nos adaptamos melhor a determinadas práticas. Certa vez, quando aluna da graduação, estava fazendo a disciplina de Encenação Teatral, a qual consistia em dirigir um espetáculo, comentei com o professor José Ronaldo Faleiro, o qual ministrava a disciplina, que não sabia como dirigir os atores, pois às vezes eles pareciam desanimados. Faleiro me respondeu dizendo que “atores gostam de novidades”, e isso jamais me esqueci, pois é o que sinto em meu trabalho. 2.1.2 Empowerment/ empoderamento 58 Se, segundo Miranda, a criação de espaços ginocêntricos de treinamento possibilitam o empowerment [empoderamento] das participantes, é preciso clarificar o sentido que empregamos aqui deste termo, o qual pode sugerir diferentes significados. De acordo com o Glossário Social (SCHIAVO; MOREIRA, 2004) elaborado pela empresa Comunicarte80 para difundir conceitos que orientam as práticas sociais, empoderamento é: Processo pelo qual um indivíduo, um grupo social ou uma instituição adquire autonomia para realizar, por si, as ações e mudanças necessárias ao seu crescimento e desenvolvimento pessoal e social numa determinada área ou tema. Implica, essencialmente, a obtenção de informações, um processo de reflexão e tomada de consciência quanto a sua condição atual, uma clara formulação das mudanças desejadas e da condição a ser construída. A essas variáveis, deve somar-se uma mudança de atitude que impulsione a pessoa, grupo ou instituição para a ação prática, metódica e sistemática, no sentido de objetivos e metas traçadas, abandonando-se a antiga postura meramente reativa ou receptiva. Criado por Paulo Freire, este conceito ficou mais conhecido por sua versão em inglês – empowerment, que significa ‘dar poder’ a alguém para realizar uma tarefa sem precisar da permissão de outras pessoas. Observe-se, no entanto, que o termo em inglês trai o sentido original da expressão: empoderamento implica conquista, avanço e superação por parte daquele que se empodera (sujeito ativo do processo), e não, uma simples doação ou transferência por benevolência, como denota o termo inglês empowerment, que transforma o sujeito em objeto passivo. (SCHIAVO; MOREIRA, 2004, p. 59-60, grifo nosso). Paulo Freire e Ira Shor em Medo e Ousadia: O cotidiano do professor (1986), livro estruturado em forma de diálogo para falar sobre a pedagogia dialógica, utilizam o termo empowerment no contexto da educação. Diferentemente dos autores do Glossário Social, em Medo e Ousadia, os autores optam pela não tradução do termo: [...] devido à riqueza da palavra [...], que significa A) dar poder a, B) ativar a potencialidade criativa, C) desenvolver a potencialidade criativa do sujeito, D) dinamizar a potencialidade do sujeito. (FREIRE; SHOR, 1986, p. 10). Optamos pelo uso da palavra em português uma vez que o termo encontra-se incorporado nesta língua, apesar de não encontrar-se em todos os dicionários (HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2007). Porém, ao fazer referência ao livro de Freire e Shor (1986), utilizaremos a palavra em inglês, respeitando a opção que fazem os autores neste livro, assim como fazem os autores do artigo Para além de Capital Social: 80 “A Comunicarte Agência de Responsabilidade Social é uma empresa de consultoria em comunicação e gestão socioambiental voltada à criação, planejamento, implementação, supervisão e avaliação de projetos desenvolvidos por organizações privadas, governamentais, da sociedade civil ou de cooperação internacional”. Fonte: COMUNICARTE. Disponível em < http://www.comunicarte.com.br/sitecomunicarte/apresentacao.php?ativo=quemsomos>. Acesso em 28 dez. 2011. 59 juventude, empoderamento e cidadania (BAQUERO, M; BAQUERO, R.; KEIL, 2006), ao citarem o mesmo livro. A respeito desta confusão acerca não só da utilização do termo (se em português ou inglês), mas também dos significados gerados em cada língua e por cada autor, nosso objetivo não é problematizá-lo, mas apenas contextualizar o sentido que utilizamos neste trabalho. De acordo com Shor e Freire, empowerment é um termo utilizado na linguagem da pedagogia libertadora, juntamente com outras palavras, tais como, diálogo, conscientização e consciência crítica. O empowerment, segundo Freire (1986, p. 71), não é suficiente para uma transformação social, porém ele é um passo fundamental. A partir do momento em que o sujeito sente-se empoderado e mais livre, ele precisa ajudar para que outras pessoas sintam o mesmo, para que, deste modo, possamos caminhar em direção a uma transformação global. Shor (1986) explica que nos anos 1960, a ideia de uma pedagogia que pudesse mudar a sociedade, era muito popular, porém a noção de empowerment nos Estados Unidos, historicamente, está associada à ideia de individualismo. Isso significa um apreço pelas pessoas livres e independentes que alcançam seu sucesso individualmente. Shor prossegue dizendo que o individualismo foi ainda mais motivado pelo crescimento econômico, pela acelerada modernização e pela busca do Sonho Americano e, aliado a isso, a limitada eficiência dos movimentos sociais. Este processo refletiu-se na pedagogia, incentivando o poder individual, a autoconfiança, autoajuda e auto aperfeiçoamento. Assim, os esforços individuais ganham maior credibilidade do que a inteligência social e o poder político. Mas, Shor ainda afirma que o culto ao individualismo sempre coexistiu com lutas sociais, como as ondas pela libertação feminina e as lutas pela igualdade racial. Freire, ampliando a questão colocada por Shor, traz o tema para o contexto latino-americano, dizendo que entende “o conceito de empowerment ligado à classe social” (1986, p. 72). A partir deste entendimento, Freire questiona se é possível utilizar na América do Norte uma pedagogia libertadora proveniente do Terceiro Mundo: A questão do empowerment da classe social envolve a questão de como a classe trabalhadora, através de suas próprias experiências, sua própria construção de cultura, se empenha na obtenção de poder político. Isto faz do empowerment muito mais do que um invento individual ou psicológico. Indica um processo político das classes dominadas que buscam a própria liberdade da dominação, um longo processo histórico de que a educação é uma frente de luta (FREIRE; SHOR, 1986, p. 72, grifo nosso). 60 A partir desta explanação, entende-se o empoderamento como um primeiro passo no processo de transformação social. Enquanto Freire fala do empowerment de classe social, como por exemplo, o da classe trabalhadora, podemos transpor a questão para o empoderamento da categoria “mulher”, pois esta é a causa aqui em questão. Isto é, não se trata apenas do empoderamento individual, de cada mulher, mas sim, de toda a categoria. O empoderamento desta categoria já iniciado desde a primeira onda do movimento feminista, é um processo contínuo, que exige ações contínuas. O processo de criação teatral, bem como processos educativos, são formas de ação, onde mulheres podem compartilhar suas experiências, saberes e transformações com outras mulheres, incentivando a conscientização de suas condições de vida e o empoderamento de cada uma e de todas, levando à almejada transformação social, que vem acontecendo aos poucos. O método de educação dialógica explicado por Freire (1986) aproxima-se dos grupos de consciência defendido por Carol Hanish (1969), já citada na introdução do presente trabalho, nos quais se buscava a transformação do pessoal em político. Isso por que, a partir do que ambos os autores escrevem, podemos compreender que ao falar sobre suas próprias experiências, podemos relacioná-las com uma realidade mais abrangente, que transcende a experiência individual, levando ao pensamento crítico ao tentar compreender a própria experiência. Ao compartilhar experiências com as integrantes do grupo (Em) Companhia de Mulheres tive contato com preocupações que escapavam ao meu universo enquanto uma mulher heterossexual. Enquanto eu preocupava-me com questões como a violência contra a mulher e o aborto, o contato com mulheres homossexuais mostrou-me outros problemas que enfrentam, ajudando a ampliar minha visão sobre o feminismo e a aguçar a minha consciência crítica, acerca das causas feministas. Isto me faz ver que a causa do outro, de uma forma ou de outra, também é minha. Ou seja, problemas todas nós enfrentamos, ainda que diferentes, então porque não nos unirmos enquanto uma categoria e nos ajudarmos a resolver estes problemas? O artigo Problematizando o conceito de empoderamento, de Rodrigo R. Horochovski e Giselle Meirelles (2007) é um aporte teórico bastante esclarecedor, demostrando a complexidade do conceito de empoderamento e ampliando a noção apresentada por Shor e Freire (1986). O artigo apresenta noções do termo utilizado para 61 propósitos políticos diferentes, além de elucidar os níveis (individual, organizacional e comunitário), motivações (empoderamento reativo e empoderamento proativo), recursos (poderes identitários, econômicos, sociais e políticos), modalidades (empoderamento formal, instrumental e substantivo) e barreiras do empoderamento. Aprendemos com Horochovski e Meirelles (2007, p. 496), que os processos de empoderamento, como no caso do laboratório (Em) Companhia de Mulheres, não garantem o empoderamento, pois é necessário um próximo passo que é “introduzir mecanismos de avaliação,” tanto no nível individual quanto coletivo. O modo colaborativo pelo qual o grupo (Em) Companhia de Mulheres optou trabalhar, de acordo com o que Horochovski e Meirelles (2007, p. 486) explicam, podemos chamar de uma ação estratégica para promover a emancipação. Isto significa que a nossa emancipação enquanto artistas-criadoras desemboca na emancipação da categoria mulher, pois buscamos desenvolver um trabalho próprio, procurando dar voz às questões concernentes a realidade que vivemos e visibilidade ao que criamos. Numa perspectiva emancipatória, empoderar é o processo pelo qual indivíduos, organizações e comunidades angariam recursos que lhes permitam ter voz, visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão. Nesse sentido, equivale aos sujeitos terem poder de agenda nos temas que afetam suas vidas. Como o acesso a esses recursos normalmente não é automático, ações estratégicas mais ou menos coordenadas são necessárias para sua obtenção. Ademais, como os sujeitos que se quer ver empoderados muitas vezes estão em desvantagem e dificilmente obtiveram os referidos recursos espontaneamente, intervenções externas de indivíduos e organizações são necessárias, consubstanciadas em projetos de combate à exclusão, promoção de direitos e desenvolvimento, sobretudo em âmbito local e regional, mas com vistas à transformação das relações de poder de alcance nacional e global. Trata-se, portanto, da promoção de direitos de cidadania que propiciem, principalmente aos estratos de menor status socioeconômico a ampliação do que Sen (2000) 81 denomina liberdades substantivas. (HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2007, p. 486). O processo do grupo desenvolveu a capacidade de ação e decisão, não apenas para nós enquanto indivíduos, mas também enquanto grupo. Como explicam Horochovski e Meirelles (2007) o processo de empoderamento precisa de ações estratégicas coordenadas em maior ou menor grau, uma vez que os indivíduos ou grupos que precisam passar por esse processo normalmente encontram-se em desvantagem. Isto significa, no caso de nosso grupo, que foi fundamental a intervenção e a coordenação de Miranda, para que posteriormente pudéssemos desenvolver nossas próprias ações e tomar decisões sozinhas, sem a necessidade de um líder. Como ouvi 81 SEN, A. K. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 62 certa vez o ex-presidente Lula dizer, o negócio não é dar o peixe, mas ensinar a pessoa a pescar, um ditado que dialoga com a pedagogia de Freire. Os procedimentos do grupo demonstram uma forma de trabalhar que busca a democracia, a divisão de tarefas, estimula a capacidade de decisão, encoraja a colocação individual de ideias, proporcionando um crescimento para nossas vidas pessoais e profissionais. Trata-se de um processo muitas vezes problemático, pois requer momentos de negociações, acordos, debates. Mas são estes percalços encontrados no caminho, estes embates, desejos opostos, que nos tornam sujeitos mais empoderados, ao aprender a negociar as decisões em grupo, de forma horizontal, sem que essa decisão venha de cima para baixo como acontece em grupos organizados hierarquicamente. Deste modo, o trabalho do grupo mostrou-me um caminho possível a ser continuado em outros contextos, com outros grupos teatrais e também em processos educativos, afinal, se segundo Freire, o empowerment é um processo político, precisamos “passar para frente” o que aprendemos neste laboratório. Não como uma fórmula a ser seguida, mas como um processo em que indivíduos desenvolvem e descobrem conjuntamente as ferramentas e métodos apropriados para seu trabalho. 2.2 PROCESSO CRIATIVO 2.2.1 Treinamento, Rituais e festas: nossos meios de integração e criação A relação estabelecida pelo grupo e a as relações entre cada indivíduo de um grupo é fator fundamental para se pensar dentro de uma prática coletiva. No “espaço ginocêntrico” do grupo (Em) Companhia de Mulheres, assim como em qualquer grupo, estabelecer a confiança entre as integrantes foi fundamental. Sabemos que este sentimento não se cria da noite para o dia, deste modo, o momento inicial do grupo, precisou trabalhar a relação entre as participantes, através de jogos e exercícios. Este momento foi importante para o grupo ganhar força, o que, ao meu ver, contribuiu para a força individual. O que fizemos, foi tentar criar um espaço acolhedor, realizando nosso primeiro encontro em um jardim. O que a princípio poderia passar despercebido, mostrou-se como uma estratégia para estabelecer a confiança entre nós a partir da utilização do espaço. Isto por que, ao sair do espaço reconhecidamente institucionalizado da sala de aula, ficamos mais à vontade. Para ilustrar esta situação, podemos pensar quando 63 recebemos uma visita em casa, o espaço da casa no qual a recebemos e acomodamos. O lugar onde se posicionam pode dizer muito da relação existente entre a visita e o anfitrião. Uma organização espacial, bem como colocação das pessoas neste espaço corresponde à relação entre essas pessoas e as relações de poder existentes. Augusto Boal, em Jogos para atores e não atores (2005, p. 213), sugere alguns jogos para pensarmos “a invenção do espaço e as estruturas espaciais de poder,” como diz o título da seção destinada a estes exercícios. Nesta seção, ao explicar o exercício “O grande jogo do poder”, Boal (2005, p. 217) argumenta que: Em qualquer lugar onde estejamos, vivemos sempre em estruturas espaciais de poder. Quando vamos ao banco, se entramos na fila do caixa, temos muito pouco poder; se sentamos à mesa com o gerente, cresce nosso poder; se o gerente, ainda por cima, tem uma sala reservada, nosso poder será ainda maior: fomos recebidos pelo chefe. Estruturas espaciais de poder existem em toda parte: na sala de aula, na igreja, e até dentro de casa. Pensar os espaços de encontro e de treinamento do grupo já voltando para os objetivos desejados, como por exemplo, diluir as possíveis relações hierárquicas, pode ser considerada uma estratégia de treinamento. Como foi o caso de pensar em um ambiente, como o jardim, com o objetivo de que todas se sentissem à vontade e em situação de igualdade. Mas, ainda de acordo com Boal (2005, p. 218), “nenhuma estrutura espacial é inocente: todas têm um significado e uma desigual distribuição de poder – pode-se aproveitá-la ou não.” Neste primeiro momento e em momentos subsequentes, encontrar-nos fora da sala de aula de teatro contribuiu para uma maior aproximação entre nós e para estabelecer uma forma de contato que se estendesse para além da sala de ensaio, devido ao clima mais descontraído que este fator proporciona. As escolhas de lugares e procedimentos são reflexos dos objetivos de todas as integrantes, pois todas tiveram a oportunidade de sugerir atividades e os locais onde seriam desenvolvidas. Ainda que os objetivos de cada uma e do grupo como um todo, ainda não estivessem muito claros no início, e que muitas escolhas tenham sido intuitivas, as escolhas consequentemente refletiram no trabalho gerado, pois acabamos levando para a sala de ensaio o que vivenciamos fora dela. Depois do primeiro encontro no jardim, seguiram-se outras modalidades de encontros, que passaram por salas de ensaio, casas das integrantes e os jardins de suas casas. Fizemos almoços (Figura 3), piqueniques (Figura 4), cafés, festas e participamos de oficinas ministradas por pessoas de fora do grupo. 64 Figura 3: Almoço de domingo na casa de Silva (mai. 2010). Da esquerda para a direita: Oliveira, Mattiello, Silva, Mesquita e Sell. Figura 4: Piquenique no jardim de Silva e Mesquita (out. 2010). Da esquerda para a direita: Mattiello, Silva, Miranda e Oliveira. 65 A maioria destes encontros tinham objetivos precisos de trabalho, como ler textos, organizar cronogramas, tomar decisões e fazer avaliações sobre o processo. Muitos deles ocorreram na casa de Silva, talvez por estarmos próximas, no mesmo terreno e também pelo espaço amplo de sua casa, por ter um enorme jardim e até mesmo pela localização, na Barra da Lagoa, um bairro mais distante da universidade e próximo da praia. Outros encontros tinham o objetivo apenas de celebrar e interagir umas com as outras, como por exemplo, em maio de 2010, que por ocasião do aniversário de Sell, que naquele momento ainda integrava o grupo, decidimos fazer um ritual ao deus Pan, na casa de Silva, ficando cada mulher encarregada de levar um elemento em oferenda à este deus. Tudo isso começou porque Mattiello levou em um dos encontros o livro O anuário da grande mãe: Guia prático de rituais para celebrar a Deusa (FAUR, 2001), o qual contém informações sobre os deuses e deusas que são celebrados em cada dia do ano em diferentes partes do mundo. Assim, descobrimos que no dia do aniversário de Sell, o deus celebrado era Pan. De acordo com Faur, Pan era [...] o deus greco-romano da natureza, fertilidade, sexualidade e vigor masculino. Pan era um dos deuses gregos mais antigos, considerado a força vital do mundo, regente dos espíritos da natureza, das florestas e dos animais, protetor dos homens, padroeiro da agricultura e da pecuária, da música e da dança, além de mestre da cura. Ele tinha também, seu lado ‘escuro’, causando os medos inexplicáveis e repentinos, a ‘síndrome do pânico’. Pan era representado por uma figura masculina selvagem, peluda, com chifres e cascos, o pênis ereto, tocando uma flauta. Como uma representação explícita da força dos instintos e da potência sexual, sua imagem foi usada pelo cristianismo para representar o Diabo, figura inexistente nas antigas escrituras. (FAUR, 2001, p. 116). Fizemos uma festa na casa de Silva, e lá cozinhamos, comemos, bebemos e fizemos o ritual para o qual levamos os objetos associados a esta deidade: uvas, velas verdes, pinhão, vinho, incensos, flauta e uma tiara de plástico de chifres verdes luminosos, na falta de chifres de verdade. Convidamos para o evento outras mulheres que não faziam parte do grupo, inclusive Martins, que neste momento ainda não havia se integrado ao grupo, mas já namorava Brito. No total, éramos em nove mulheres. De olhos fechados e concentradas, realizamos um momento solene, de agradecimentos e pedidos ao deus Pan, como uma oração. Neste momento, o riso foi inevitável para algumas, o que acredito que também fazia parte desta solenidade. Pareceu-me engraçado no momento, ao me perceber no meio de oito mulheres, em torno daqueles objetos oferecidos a um deus tão distante, e que parecia ser a antítese daquilo que um 66 grupo de mulheres procurava como representação. Na verdade, parecia tudo ser uma grande brincadeira, mas dessas brincadeiras sérias, como crianças que acreditam nas histórias que inventam. Na Figura 5 podemos observar um dos momentos de descontração deste encontro. Figura 5: Ritual ao deus Pã: encontro entre 9 mulheres Interessante que em nosso primeiro “ritual celebratório” escolhemos um deus que representava justamente a força e o vigor masculino. Se por um lado, podemos pensar que buscávamos também ter essa força (dita masculina) dentro de nós (ou fora), por outro lado ela poderia representar o que rejeitávamos deste mesmo masculino. Além disso, algumas das mulheres presentes neste encontro eram homossexuais, e o que representaria este deus para elas? Outro encontro extra-acadêmico realizado foi em outubro de 2010, quando Miranda promoveu o nosso primeiro Café Feminista (Figura 6), em um café em Florianópolis, com a pesquisadora convidada, Lucia V. Sander, a qual trouxe contribuições importantes para o nosso trabalho. Como foi um evento aberto para outros participantes, além das integrantes do grupo (Em) Companhia de Mulheres, também 67 estiveram presentes outras integrantes do grupo de estudos Teatro e Gênero, professoras da UDESC e inclusive um homem. Além dessas estruturas sociais, recorremos também a formatos mais correntes na educação da prática teatral, como a participação em oficinas. Com o objetivo de direcionar técnicas corporais específicas para a criação de um espetáculo, participamos em 2010 da Oficina para Palhaças, ministrada por Michelle Silveira, a palhaça Barrica, que vive atualmente em Chapecó/ SC, e em 2011 da oficina de Máscara e Voz na Commedia Dell’arte, ministrada por Massimiliano Buldrini, Marta Dalla Via e Margherita Ferri, do Grupo Italiano TILT. Nestas oficinas desenvolvemos novas técnicas e criamos materiais que levamos depois para nosso trabalho. Por estar com outras mulheres do grupo, pudemos observar os materiais criados umas pelas outras, ajudando-nos a manter estes materiais vivos e levá-los posteriormente para nossos ensaios. Figura 6: Café Feminista, com a participação de Lucia V. Sander. Em novembro de 2010, a partir de nosso convite, Buldrini esteve presente em três encontros com o grupo ministrando oficina de voz (Figura 7) para nós, pois a 68 questão do treinamento vocal apresentava-se até então deficiente no grupo. Um dos apontamentos feitos por Buldrini que achei bastante interessante, foi em relação ao uso que faço da minha voz, que segundo ele, é muito “educada,” e eu preciso “deseducá-la”. Suas contribuições nos ajudaram a desenvolver partituras vocais que em seguida acrescentamos ao espetáculo Jardim de Joana. Figura 7: Oficina de Voz com Massimiliano Buldrini (nov. 2010). Instantâneo feito a partir da filmagem, 2.2.2. Trabalhando com contos A proposta deste laboratório de pesquisa iniciou-se com o intuito de investigar procedimentos para a elaboração de texto e espetáculo tendo como estímulos mitos e contos que abordassem assuntos relativos ao universo feminino, além de experimentar procedimentos para compreender e buscar a técnica cênica pessoal e experimentar jogos teatrais. Em paralelo às práticas de treinamentos psicofísicos ministrados por Silva, realizamos a leitura de contos e mitos da já mencionada obra de Estés (1994) para serem trabalhados com o grupo. Antes de experimentar os contos e mitos em cena, e para que não nos influenciássemos pelas análises da autora, realizamos os seguintes procedimentos com as histórias escolhidas, a partir da sugestão dada por Silva: 1- Leitura em voz alta: uma pessoa do grupo lia a história; 69 2- Exercitar a memória: recontar o conto na ordem dos acontecimentos. Juntas, tentávamos recontar a história, nos ajudando a lembrar de todos os fatos da mesma; 3- Falar sobre os sentimentos e as sensações presentes na história; 4- Falar sobre os sentimentos e sensações que a história suscitou em nós; 5- Relacionar três verbos e três adjetivos à história e às sensações suscitadas por ela. A partir deste procedimento inicial, agregado à leitura das análises que Estés apresenta sobre cada história, realizamos discussões, desenvolvemos jogos de improvisação e de contação de histórias, coordenados por Brito, criamos partituras corporais e vocais coordenadas por Silva e escrevemos nossas histórias. Um dos procedimentos adotados para a criação de cenas aconteceu da seguinte forma: ao final dos trabalhos práticos, cada uma de nós recebia um filete de papel e escrevia um fragmento de uma história, estimuladas pelos estudos anteriores e o processo vivenciado no dia. Estes pequenos papéis eram enrolados com lã, como pequenos novelos (como mostra a Figura 8) guardados com muito cuidado em uma bolsa de crochê, e em segredo, para serem utilizados em momentos posteriores de improvisação coletiva, nos quais, aos poucos, os fragmentos se revelaram estimulando gradualmente na criação de cenas. Esta prática de enrolar histórias em novelos foi sugerida por Silva, em uma reunião entre nós duas. a) Baubo - a deusa do ventre O primeiro mito, trabalhado no primeiro encontro do grupo, foi: Baubo - a deusa do ventre. Neste momento nem todas do grupo se conheciam, pois este foi nosso segundo contato. Combinamos de nesse dia, por ser verão, levar cangas e fazer o nosso encontro no jardim do CEART. O mito de Baubo, a “deusa da obscenidade”, fala de uma deusa da Grécia antiga, uma variante das deusas da sexualidade sagrada. Conforme Estés (1994, p. 419), “conhece-se apenas uma referência escrita a Baubo remanescente de tempos remotos, dando a nítida impressão de que seu culto foi destruído e soterrado pelas diversas conquistas.” A história mostra imagens de uma sexualidade feminina irreverente que foge do comportamento da dita “boa educação” socialmente admitida para as mulheres, além de representar a irmandade entre as mulheres. Baubo, com sua irreverência, faz 70 Deméter sorrir novamente, após vaguear pelo mundo, suja e desolada porque sua filha Perséfone fora raptada por Hades, o deus dos Infernos. Figura 8: Os novelos de lã com fragmentos de histórias dentro. Após realizar o procedimento descrito acima, de ler e recontar a história, ao exemplo de Baubo, propomos trocar histórias “apimentadas” e engraçadas, para despertar o riso e a intimidade neste grupo que começava a se formar. Ainda um pouco tímidas neste primeiro encontro, posteriormente essa troca de histórias aconteceu naturalmente, conforme nos conhecíamos melhor e criávamos intimidade. b) A boneca no bolso: Vasalisa, a sabida No mesmo encontro lemos o conto A boneca no bolso: Vasalisa, a sabida, que, segundo Estés (1994), se trata de um conto russo muito antigo. Nesta história, a mãe de Vasalisa morre, deixando para ela uma benção: uma boneca de pano, que veste as mesmas roupas de Vasalisa, o mesmo avental branco e as mesmas botas vermelhas. A mãe diz à Vasalisa que quando ela tiver dúvida sobre o que fazer, para perguntar à 71 boneca. Ao mesmo tempo, avisa que esta boneca deve ser alimentada e guardada em segredo. Algum tempo depois da morte da mãe de Vasalisa, seu pai casa-se novamente com uma viúva que tem duas filhas. Sem o conhecimento do pai, Vasalisa passa a ser maltratada pelas três mulheres, tornando-se uma espécie de escrava. As três mulheres, querendo livrar-se de Vasalisa, preparam uma armadilha: apagam o fogo da casa e a mandam ir à casa da temida Baba Yaga buscar mais fogo, com a certeza de que Vasalisa será comida por Baba Yaga. Tanto no caminho até à casa de Baba Yaga, quanto na casa desta velha feiticeira, Vasalisa deve vencer obstáculos e cumprir tarefas, o que faz pedindo sempre ajuda à sua boneca. Saindo vitoriosa dos desafios, Vasalisa retorna à sua casa, com o fogo prometido. A madrasta e suas filhas, as quais achavam que Vasalisava já estava morta há muito tempo, são reduzidas a cinzas pela caveira incandescente que Vasalisa recebeu de Baba Yaga. Este conto, na interpretação de Estés (1994, p. 145), apresenta a importância de alimentar e aguçar a intuição feminina “que consiste em não permitir que ninguém reprima nossas energias de vida [...], ou seja, nossas opiniões, pensamentos, ideias, valores, conceitos morais, nossos ideais.” O conto nos fez refletir sobre a necessidade de respeitar nossos ciclos de vida e morte. De acordo com a autora, todos os personagens representam aspectos de uma mesma psique, e o principal objetivo das tarefas que Vasalisa deve cumprir, consiste em deixar morrer a mãe boa demais, pois “a recompensa por ser boazinha, em circunstâncias repressoras, é a de ser mais maltratada” (ESTÉS, 1994, p. 114). Ao mesmo tempo, “a boneca representa o espírito interior das mulheres: a voz da razão, do conhecimento e da conscientização” (ESTÉS, 1994, p. 117). A meu ver, o conto parece ensinar algumas estratégias de empoderamento, pois apresenta uma mulher em uma situação de desvantagem, que precisa conscientizar-se da sua condição atual e do seu poder individual de transformação de si mesma e do que está ao seu redor. Tanto a boneca de Vasalisa, dada por sua mãe antes de morrer, quanto a própria mãe, podem ser compreendidas como elementos mediadores no processo de empoderamento, sem os quais Vasalisa dificilmente encontraria o seu poder individual. Tomando consciência de seu poder Vasalisa pode modificar a situação e libertar-se de uma situação de submissão. A história, ao mostrar um acontecimento individual, dentro do pequeno círculo familiar, pode ensinar a necessidade e o poder de mudança em um 72 contexto muito maior, demonstrando que a transformação de algo inicia dentro de cada um. Nos três encontros seguintes partimos das reflexões e imagens obtidas a partir da leitura dos contos Baubo, a deusa do ventre e Vasalisa, a sabida, bem como dos verbos e adjetivos pensados para cada um deles. Assim, Silva coordenou o trabalho psicofísico aliado a estes elementos/ estímulos. Criamos individualmente uma partitura física a partir dos seis adjetivos que cada integrante escolheu para cada um dos contos lidos (três para cada conto). Os seis adjetivos escolhidos por mim foram: suja, engraçada e inocente (para o conto de Baubo) e corajosa, ausente e sábia (para o conto de Vasalisa). Para cada adjetivo criamos um movimento isolado, ou imagem congelada, fazendo depois a ligação entre esses movimentos/ imagens, em um movimento em fluxo contínuo, resultando em uma pequena partitura. Apresentamos nossas partituras para o restante do grupo e depois, reunidas em duplas ou trios, ensinamos as nossas partituras individuais para as parceiras do pequeno grupo e por último reorganizamos essas partituras mesclando com as de nossas parceiras, formando uma partitura maior que continha movimentos criados por todas. Após criar as partituras coletivas, as apresentamos novamente para o restante do grupo. Na Figura 9, vemos Oliveira, eu e Silva no momento em que apresentamos as partituras já mescladas umas às outras. O movimento que vemos na imagem da esquerda fazia parte da partitura criada individualmente por mim, e na imagem da direita fazia parte da partitura de Silva. Este exercício contribuiu para a ampliação do repertório corporal, já que aprendíamos os movimentos de outras mulheres, que eram embasados no que cada uma já tinha como repertório, refletindo as práticas corporais vivenciadas em outros momentos. Além disso, as partituras coletivas tornaram-se mais ricas tanto na forma quanto nos sentidos produzidos, pois agregamos em uma única partitura os sentidos dados por diferentes mulheres às mesmas histórias. Nas Figuras 10 e 11 vemos as partituras criadas por Civiero e Sell e Mattiello e Brito, respespectivamente. 73 Figura 9: Oliveira, Mesquita e Silva, apresentando a partitura criada a partir dos contos Baubo, a deusa do ventre e A boneca no bolso: Vasalisa, a sabida. Instantâneos feitos a partir da filmagem. Figura 10: Civiero e Sell apresentando a partitura criada a partir dos contos Baubo, a deusa do ventre e A boneca no bolso: Vasalisa, a sabida. Instantâneos feitos a partir da filmagem. Figura 11: Mattiello e Brito apresentando a partitura criada a partir dos contos Baubo, a deusa do ventre e A boneca no bolso: Vasalisa, a sabida. Instantâneos feitos a partir da filmagem. c) Os sapatinhos vermelhos Os Sapatinhos Vermelhos conta a história de uma menina órfã, que ao ser adotada por uma senhora rica, teve que jogar fora seu par de sapatos feito por suas 74 próprias mãos, os quais foram substituídos por sapatos pretos e sem graça. Na ocasião de sua crisma, a menina pôde escolher um novo par de sapatos. Fascinou-se por um par de sapatos vermelhos e reluzentes que chamavam muita atenção e não eram adequados para ir à igreja. Mas como a velha senhora não enxergava bem, isto passou despercebido. Depois de informada do fato, a senhora proibiu a menina de usá-los. Mas, a menina, obcecada pela cor de seus próprios sapatos, desafiou a ordem e a moral e os usou assim mesmo. Olhando sempre para seus próprios pés, mexendo-os de um lado para o outro, a menina percebeu que os sapatos a fazia dançar. Sem mais poder controlar esta dança, e sem conseguir mais tirar os sapatos, dançou até mesmo no velório de sua mãe adotiva. Sob o olhar reprovador da sociedade, saiu dançando floresta adentro. Ela queria parar, mas já não podia mais. Pediu a um carrasco da cidade que morava na floresta, para cortar os seus sapatos, mas eles não saiam de seus pés. Pediu então que ele cortasse os seus pés, e assim ele o fez. A dança teve fim, e a menina aleijada teve de trabalhar como criada para poder sobreviver. Os sapatinhos vermelhos, na interpretação de Estés, representa a mulher faminta, sem proteção, sem equilíbrio, que cai facilmente em armadilhas. “O horripilante fecho dessa história é típico dos finais de histórias de fadas nas quais a protagonista espiritual é incapaz de completar um esforço de transformação,” explica Estés (1994, p. 275). Já pra algumas integrantes do nosso grupo, essa história retrata a tentativa de domesticação dos instintos e de obediência a um sistema de valores socialmente imposto e, por não se enquadrar neste sistema, a personagem foi punida por ele. Sapatinhos Vermelhos foi um dos contos mais trabalhados pelo grupo, gerando muitos materiais físicos para a criação de cenas. Além do desenvolvimento de partituras, seguindo o mesmo princípio dos contos anteriores, fizemos também alguns jogos propostos por Brito, que expandiram a etapa de recontar a história. Recontamos a história como fizemos com os outros contos, mas acrescentamos o jogo com o espaço, experimentando contar a história coletivamente ocupando o espaço com cadeiras, as quais foram dispostas em um círculo grande, ficando cada uma em um lugar fixo (conforme Figura 12). Acrescentamos depois a variação do ritmo ao contar a história, podendo mudar as cadeiras de lugar e transitar pelo espaço. Este tipo de exercício no qual todas participam da contação da história, sem obedecer uma ordem no círculo, é importante para desenvolver a capacidade de ouvir e falar, pois devemos perceber 75 quando é hora de ouvir a outra e quando é a hora de contarmos um pedaço da história. É um trabalho de escuta coletiva. No exercício seguinte, realizado individualmente, cada uma contava uma história lembrada a partir da leitura de Os Sapatinhos Vermelhos. Esta história deveria ser contada utilizando o espaço e os movimentos criados nos encontros anteriores. As histórias contadas variaram no conteúdo, na forma contada e também no tempo utilizado para a contação. Figura 12: Recontando a história utilizando o espaço. Em sentido horário, no canto esquerdo, Brito dando as instruções, Sell, Oliveira e Civiero. Um dos elementos do conto mais marcante para as integrantes tratava-se da dança obsessiva da personagem. Pensando na questão da obsessão, cada uma desenvolveu fisicamente um movimento obsessivo, que não precisava estar relacionado ao conto, mas sim a uma obsessão que poderia ser pessoal. Assim surgiram movimentos de cheirar, limpar, jogar objetos, tirar a calcinha da bunda e coçar. Sob a coordenação de Brito, cada uma levou um par de sapatos, com os quais desenvolvemos individualmente cinco movimentos, e, entre um movimento e outro, incluímos o 76 movimento obsessivo. A Figura 13 mostra Oliveira apresentando seus movimentos e na Figura 14, Civiero, Sell, Silva e Mattiello realizam a mesma improvisação. Depois de cada uma ter mostrado sua sequência, Brito propôs um jogo em duplas, onde, cada uma com seu sapato e utilizando o que havia criado, deveria fazer a outra sair do espaço, e vice-versa. Figura 13: Oliveira fazendo improvisação com sapatos: o tênis é embalado como um bebê Figura 14: Civieiro e Sell (em cima) e Silva e Mattiello (embaixo): Improvisação com os sapatos. d) O Mito de Géia 77 O mito de Géia, também chamada de Gaia, foi lido pelo grupo na versão contada pela psiquiatra e analista junguiana Jean Shinoda Bolen, em seu livro As Deusas e a Mulher (1990), no qual, a autora se embasa no poeta grego Hesíodo para contar essa história. De acordo com a autora, Hesíodo escreveu Teogonia, cerca de 700 a.C., livro no qual o autor tenta formar um sistema organizado da antiga tradição dos deuses gregos e explicar a origem deles. O mito de Géia trata-se de um mito de criação, ou seja, explica o início do universo e dos deuses gregos. Segundo Bolen (1990), o mito conta que no início havia o Caos, e dele surgiu primeiro Géia (a terra), depois o Tátaro (as profundezas da Terra) e por último Eros (o Amor). Géia deu a luz a um filho, Urano, e depois, unindo-se à ele, gerou os doze Titãs. Como ficara ressentido com os filhos que teve com Géia, Urano os devolveu ao seio materno. Géia, juntamente com seu filho Crono, o mais jovem dos doze Titãs, planeja vingar-se de Urano. Assim, quando Urano vai deitar-se novamente com Géia, seus órgãos genitais são arrancados por Crono e jogados ao mar. Crono torna-se então a divindade masculina mais poderosa, e ao unir-se com sua irmã Réia, nasce a primeira geração de deuses olímpicos. Antes de levar este mito para o grupo prático, Silva, Brito e eu discutimos bastante acerca de algumas impressões que este mito nos passava, como por exemplo, a destruição, crueldade, resistência e manipulação. Após ler e discutir este mito com o grupo, partimos para o trabalho físico conduzidas por Silva, levando para a cena a questão da destruição de algo devido a uma força exterior. A partir disso, formamos um bloco, nos contaminando umas pelos movimentos da outra. A ideia de formar um bloco foi motivada pelo início do mito, o qual diz que no começo do mundo só havia um elemento, o Caos, e depois, do caos, surgiu Géia, a terra. Deslocamo-nos neste bloco, variando a velocidade, e os movimentos, em cada momento nos contaminando pelo movimento de uma pessoa. Deixar-se contaminar pelos movimentos alheios era uma tentativa de formar um corpo único. Caminhando neste bloco, Silva propôs que chamássemos nossas ‘antepassadas’, com sons que poderiam ser gritos, gargalhadas, sussurros. Depois, cada uma no seu tempo e de seu jeito, se deslocou do bloco, com a ideia de uma força exterior que nos puxasse para fora. Assim, a partir do que compreendemos naquele 78 momento, tentamos contar o mito da Grande Deusa fisicamente, sua formação e sua destruição. 2.2.3 “Mulher selvagem”, “Arquétipo” e “Princípio Feminino”: Estudos Após o primeiro contato com os contos e o mito, o grupo investigou o que são os “arquétipos”, pois nas histórias que lemos, de acordo com Estés (1994), encontram-se as expressões destes. A investigação realizada, além de ajudar no entendimento dos conceitos que surgiam dos materiais preliminares de criação, também foi um meio de alimentar o processo criativo. Assim, os estudos realizados são considerados como procedimento de criação do grupo, pois as leituras estimularam reflexões e discussões críticas, transformando-se em estímulos para o trabalho prático. Conforme Antônio G. Cunha, em seu Dicionário Etimológico, a palavra “arquétipo” significa “modelo de seres criados, padrão, modelo protótipo” (1986, p. 69). Nas teorias psicanalíticas de C.G. Jung, o conceito de “arquétipo” aparece como um desdobramento da ideia de “resíduos arcaicos” de Sigmund Freud, que significa “[...] formas mentais cuja presença não encontra explicação alguma na vida do individuo e que parecem, antes, formas primitivas e inatas, representando uma herança do espírito humano” (JUNG, 1964, p. 67). Jung chama os “resíduos arcaicos” de “arquétipo” ou “imagens primordiais”, tratando-os como representações que se originam na consciência ou são adquiridas por ela “que podem ter inúmeras variações de detalhes sem perder a sua configuração original” (JUNG, 1964, p. 67). A citação abaixo exemplifica a noção de arquétipo em Jung (1964, p. 69): Arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva [...] Chamamos instinto aos impulsos fisiológicos percebidos pelos sentidos. Mas, ao mesmo tempo, esses instintos podem também manifestar-se como fantasias e revelar, muitas vezes, a sua presença apenas através de imagens simbólicas. São a estas manifestações que chamo arquétipos. A sua origem não é conhecida; e eles se repetem em qualquer época e em qualquer lugar do mundo - mesmo onde não é possível explicar a sua transmissão por descendência direta ou por “fecundações cruzadas” resultantes da migração. Essa definição contribui para compreendermos o significado de arquétipo da “mulher selvagem,” o qual, segundo Estés (1994, p. 19): Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem, um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca ou simplesmente não ser mais compreendido. 79 Partindo de uma perspectiva feminista, Bolen (1990) revê os conceitos de Jung. Para a autora, os “arquétipos” são forças interiores poderosas que influenciam a mulher no sentimento, pensamento e ação. Segundo Bolen, são esses padrões interiores que tornam as mulheres diferentes entre si. Mas seriam estas “forças interiores” realmente interiores? Não seriam elas questões culturais, já fortemente enraizadas em cada mulher? Ao relacionar os padrões arquetípicos a sete deusas gregas, – Deméter, Perséfone, Hera, Afrodite, Ártemis, Atenas e Héstia - Bolen (1990) tenta ampliar a teoria de Jung, com o que, segundo ela, Jung não consegue explicar: que a mulher é um ser multifacetado e pode estar influenciada por diferentes padrões arquetípicos ao mesmo tempo, ou em diferentes momentos da vida. [...] as deusas proporcionam uma explicação para as incompatibilidades entre o comportamento das mulheres e a teoria dos tipos psicológicos de Jung. De acordo com esses tipos supõe-se que uma pessoa seja extrovertida ou introvertida na atitude; use sentimento ou razão como modo de avaliação; e perceba através da intuição ou sensação (através dos cinco sentidos). Além do mais, supõe-se que uma dessas quatro funções (pensamento, sentimento, intuição, sensação) seja mais conscientemente desenvolvida e confiável; seja qual ela for, supõe-se que a outra metade do par seja a menos segura ou menos consciente. (BOLEN, 1990, p. 25). Ao perceber isso, e ao apresentar as sete deusas gregas, a autora pretende estimular em suas pacientes e/ ou leitoras, o desenvolvimento de padrões arquetípicos que não estão bem desenvolvidos e que precisam se desenvolver, e a amenizar o padrão predominante que está sendo prejudicial. Mas somente a mulher pode ser considerada um ser multifacetado? E quanto ao homem, também não estaria influenciado por diferentes padrões arquetípicos? O entendimento que Estés (1994) e Bolen (1990) apresentam sobre o conceito de “arquétipo” tem origem no pensamento supracitado de Jung, porém, direcionando o olhar para a mulher. Essas abordagens colaboram para compreendermos o entendimento de Estés sobre a expressão dos “arquétipos” presentes nos mitos e contos, com os quais trabalhamos. Os estudos sobre as sete deusas abordadas por Bolen (1990), conduziu o grupo ao mito de Géia e, a partir deste, chegamos ao conceito de “princípio feminino,” abordado no livro O novo despertar deusa – O principio feminino hoje (NICHOLSON, 1993). Por meio de nossas pesquisas encontramos outras obras que tratam deste 80 conceito, enriquecendo nossos estudos sobre o assunto. Em Teatro Grego: tragédia e comédia (1984), o professor e escritor Junito de S. Brandão, especialista em mitologia grega e latina, explica as diferentes características das culturas matriarcal e patriarcal,82 fornecendo uma base para o entendimento de “princípio feminino”. A cultura matriarcal se caracteriza pela importância dada aos laços de sangue, vínculos estreitos com o solo, a Terra-mãe universal, e por uma aceitação passiva de todos os fenômenos naturais. O patriarcado, ao revés, se distingue pelo respeito à lei e à ordem; pelo predomínio do racional e pelo esforço para modificar os fenômenos naturais. Dentro de tais princípios, na sociedade matriarcal todos os homens são iguais, por isso que todos são irmãos; na patriarcal o que se postula é a obediência à autoridade e uma ordem hierárquica na sociedade. O matriarcado é o universalismo, o patriarcado é a limitação. A família matriarcal é aberta, porque é universal; a patriarcal é fechada, porque individual. Numa predomina o caos, a natureza, a liberdade, o Eros, o amor; na outra, a limitação, a hierarquia, a ordem, o logos. (BRANDÃO, 1984, p. 28-29). Joseph Campbell (1990), outro estudioso da mitologia, relaciona o “princípio feminino” à adoração da Grande Deusa, existente em diversas mitologias de sociedades antigas83. De acordo com Campbell (1990), nestas sociedades antigas, a reverência prestada à Grande Deusa está primeiramente ligada à agricultura, isto porque, assim como a mulher, a terra também dá origem à vida. Portanto, segundo o autor, nas sociedades agrárias, a Deusa era a figura mítica dominante. O feminino representa o que [...] chamamos de formas da sensibilidade. Ela é espaço e tempo, e o mistério para além de todos os pares de opostos. Assim, não é masculina nem feminina. Nem é, nem deixa de ser. Mas tudo está dentro dela, de modo que os deuses são seus filhos. Tudo quanto você vê, tudo aquilo em que possa pensar, é produto da Deusa. (CAMPBELL, 1990, p. 177). A citação remete-nos ao mito de Géia, a qual dá origem aos deuses. De acordo com o autor, o pensamento de unidade e totalidade, de que a terra e nós somos apenas um praticamente desapareceu, soterrado pela dominação da cultura patriarcal, pelas descobertas científicas e pelo culto a individualidade. Mas Campbell, assim como as autoras dos artigos do livro organizado por Nicholson (1993), diz que este mito está retornando, pois para ele, a Deusa retorna devido à necessidade latente que percebemos 82 Para um entendimento dessa passagem do sistema matriarcal para o patriarcal, sob o ponto de vista histórico, Cf. ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. 12ª. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. 83 No texto de Campbell, o autor utiliza a expressão ‘sociedades primitivas’, porém optamos pelo termo ‘sociedades antigas’ para evitar uma visão etnocêntrica destas sociedades, conforme notou a Profª Drª Fátima Costa Lima durante a banca de qualificação. Aqui, apenas demonstramos o caminho de estudos percorrido pelo grupo, o que não significa uma concordância com os textos lidos. Os materiais lidos serviram justamente para provocar a reflexão e estimular a criação de materiais cênicos. 81 no mundo de hoje de preservar a vida. “Eis o que a Deusa é, o campo que produz formas” (CAMPBELL, 1990, p. 177). Entendo que com isso, Campbell quer dizer que a Deusa é a energia criativa que dá origem à vida, assim como no mito de Géia. As noções apresentadas sobre o “princípio feminino” podem ser complementadas pelo pensamento da filósofa Beatrice Bruteau (1993). A partir da análise do mito de Deméter/ Perséfone, a autora sugere que o significado básico da feminilidade é a totalidade. Isso significa a integração de todos os pares de opostos, não só através da complementaridade, mas também da alternância. Na interpretação da autora, assim como no mito, a totalidade feminina (representada pelo par Deméter/ Perséfone) foi sequestrada pelo principio masculino e levada ao subterrâneo, de onde retorna fortalecida. Por se unir ao masculino no subterrâneo, quando retorna traz consigo este princípio, eliminando a noção de forças que se opõem, e trazendo a ideia de equilíbrio para o alcance da totalidade. No trabalho inicial do grupo, a abordagem de tais conceitos aproximou-nos do chamado feminismo cultural ou radical, o qual, de acordo com Garcia (2008, p. 19), possui uma tendência essencialista, ou seja, baseado na ideia de que a categoria mulher é definida primeiramente pelos aspectos biológicos. De acordo com Dolan (1991), o pensamento do feminismo cultural baseia-se na diferenciação sexual, determinado pelo biológico, onde as mulheres, por serem capazes de parir, possuem qualidades específicas que os homem não apresentam, tal como a intuição. Por que elas podem parir, as mulheres são vistas como instintivamente mais naturais, mais aproximadamente conectadas aos ciclos da vida espelhados na natureza. Homens são vistos como retirados da natureza que eles difamam gananciosamente. Como mulheres parem, elas são vistas como instintivamente pacifistas. Homens, por outro lado, são vistos como instintivamente violentos e agressivos. Mulheres são espirituais; homens perderam o contato com seus espíritos no seu caminho para obter e 84 conquistar. (DOLAN, 1991, p. 7). A explicação da autora conecta-se à ideia de diferenciação entre as sociedades matriarcal e patriarcal, e do conceito de “princípio feminino”, pois estas noções ancoram-se na distinção sexual. Além disso, quando o “princípio feminino” e a sociedade matriarcal são colocados como um exemplo a seguir, dialoga com a noção do 84 “Because they can give birth, women are viewed as instinctually more natural, more closely related to life cycles mirrored in nature. Men are seen as removed from nature, which they denigrate rapaciously. Since women are nurtures, they are seen as instinctively pacifist. Men, on the other hand, are viwed as instinctually violent and aggressive. Women are spiritual; men have lost touch with their spirit in their allencompassing drive to conquer and claim.” (Tradução de Luana Tavano Garcia. Não publicada). 82 feminismo cultural, que segundo Dolan (1991, p. 6), considera a “feminilidade como inata e hereditariamente superior a masculinidade,” 85 devido a capacidade das mulheres de gerar vida. A autora afirma que “a estratégia política do feminismo cultural é voltada não para abolir categorias de gêneros, mas para modificar a hierarquia estabelecida de gênero ao posicionar os valores femininos como superiores” 86 (DOLAN, 1991, p. 7). Ainda tocando no pensamento do feminismo cultural, Jung (1964) ou Estés (1994) ao abordarem os “arquétipos” trazem a noção de manifestações simbólicas que refletem uma essência ancestral e impulsos fisiológicos, isto é, os instintos, e que independem do local, da cultura e da época. Tal noção pode ser problemática, pois parece não considerar também as determinações culturais. Dolan (1991) explica que o problema nesta vertente do feminismo, é o fato de que ele enfatiza as diferenças entre homens e mulheres, porém ignora as diferenças entre as mulheres, tendendo a colocá-las em um mesmo paradigma universalizante. Por este motivo, o teatro do feminismo cultural é criticado por Sue-Ellen Case87 como “racista e classicista” (DOLAN, 1991, p. 9), representando as experiências da classe dominante, mulheres brancas e da classe média, da mesma forma como já faz o teatro masculino dentro do sistema capitalista. Apoiada pela crítica de Case, Dolan esclarece que o feminismo cultural, por focar somente nos conflitos de gênero, as mulheres são homogeneizadas, como se as experiências e conflitos de um único grupo privilegiado contemplasse a todas as mulheres. Quando li pela primeira vez a obra de Estés (1994) aceitei o termo “mulher selvagem” sem questioná-lo. Posteriormente, lendo a crítica feminista, comecei a refletir sobre este termo que autora trata como um conceito. Trata-se de um conceito essencialista? O conceito de “mulher selvagem” é universalizante? Quer dizer que temos uma natureza que é essencial e que se torna aculturada, formatada pelos padrões dominantes? Mas o que é o natural, caso exista um natural? Se tirarmos tudo o que nos constrói culturalmente, o que fica? É uma questão que não saberia responder, pois se tirar tudo que me constrói culturalmente, a partir de que parâmetros responderei esta questão? Se tentar respondê-la ainda sim estarei me baseando a partir de uma 85 “femininity as innate and inherently superior to masculinity.” (Tradução de Luana Tavano Garcia. Não publicada). 86 “the cultural feminist political strategy is not to abolish gender categories, but to change the established gender hierarchy by situating female values as superior” (Tradução de Luana Tavano Garcia. Não publicada). 87 CASE, Sue Ellen. “The Personal is Not the Political”. Art e Cinema, v. 1, n. 3, p.4, Fall 1987. 83 capacidade de entendimento que foi construída culturalmente e que refletirá em minha resposta. Estés (1994) utiliza o termo “mulher selvagem” dizendo que todas as mulheres, independente da cultura, podem entendê-lo. Segundo a autora, ela dá esse nome, pois sem um nome, não conseguiríamos visualizá-la, e que, para a “mulher selvagem”, existem diversos outros nomes que variam de acordo com a cultura. Porém, para Estés, trata-se de uma mesma coisa, uma mesma essência. Mas, se varia sua denominação de acordo com a cultura, a essência também se modifica de acordo com a cultura? Essa questão reflete a diversidade que encontramos nas diferentes vertentes do pensamento feminista, conforme explica Piscitelli (2002), pois ao mesmo tempo em que se fala de uma essência ‘natural’, encontrada em qualquer sociedade, defende-se também uma variação culturalmente determinada. Ao falar em recuperar a natureza selvagem que por algum motivo pode ter sido obscurecida, Estés (1994) aproxima-se também de uma ideia central para o feminismo desenvolvido após os anos 1960, que segundo Piscitelli (2002, p. 2), Em termos políticos, consideram que as mulheres ocupam lugares sociais subordinados em relação aos mundos masculinos. A subordinação feminina é pensada como algo que varia em função da época histórica e do lugar do mundo que se estude. No entanto, ela é pensada como universal, na medida em que pareça ocorrer em todas as partes e em todos os períodos históricos conhecidos. O obscurecimento da natureza selvagem feminina pode ser associado ao fato de que a história foi contada por grupos específicos de homens que possuíam maior poder econômico e intelectual, ocultando a mulher desta história oficial ou distorcendo suas histórias. Tal fato está ligado à carência de obras teatrais escritas por mulheres, bem como sua modesta participação na história oficial do teatro. Ignorar o passado das mulheres é uma das muitas maneiras de distanciá-las de sua natureza selvagem, não entendendo aqui a natureza selvagem como algo que faz com que todas as mulheres sejam iguais, mas cada qual com sua especificidade. Não conhecer a história de nossas antepassadas, é distanciar-nos de nosso passado individual. Sander, ao discorrer sobre as peças Bagatelas, Bernice e A casa de Alison, de Susan Glaspell, conta que estas peças encenam uma tentativa de recuperar um passado perdido e escreve, citando Freud, “somente um tolo não se interessa pelo seu passado” (2007, p. 197). Segundo Sander, quando Glaspell coloca em cena personagens que falam de outras personagens ausentes, 84 essas últimas são construídas em cena por meio da imaginação e da fala das que estão presentes. Piscitelli (2002) esclarece que as diferentes vertentes feministas questionaram se a subordinação da mulher é natural. Em decorrência deste questionamento, sustentaram que a subordinação não é natural, e sim uma consequência da forma como a mulher é construída socialmente. A autora demonstra que esta percepção nos conduz a uma possibilidade de solução, pois, se a subordinação é decorrente de construções sociais, ela pode ser modificada. Significa que “alterando as maneiras como as mulheres são percebidas seria possível mudar o espaço social por elas ocupado” (PISCITELLI, 2002, p. 2). Esta colocação conduz à reflexão sobre qual seria o papel do teatro na alteração desta percepção sobre as mulheres e de seu papel social. Assim, utilizando o teatro como um espaço de debate, reflexão e transformação, pode-se pensar em como as mulheres artistas envolvidas com o fazer teatral podem refletir sobre suas experiências, ao escrever sobre elas e encená-las no palco. A encenação teatral tem o potencial de modificar o modo como as mulheres são percebidas, ao reapresentá-las sob o ponto de vista de mulheres e para mulheres, assim como diz Cixous (1976) sobre a escrita feminina. Do mesmo modo, a recuperação da história de mulheres trabalhando no teatro, e escrevendo para ele, reformula a história escrita majoritariamente por homens, proporcionando a revisão desta história sob a perspectiva de mulheres. Isto não significa a salvação de um sistema que está em funcionamento há tantos séculos, mas indica possibilidades, pequenas ações para pequenas mudanças. Ações que já ocorrem há tempos e que por isso hoje somos vitoriosas por muitas conquistas. Como apontam Horochovski e Meirelles (2007), ações estratégicas para o empoderamento são mais eficientes quando pontuais, em pequena escala, sendo as ações globais mais difíceis de obterem êxito. Ações localizadas, com pequenos grupos, podem estimular a consciência crítica de mulheres, mostrando-lhes a necessidade de resistir a um sistema que precisa de pessoas alienadas para continuar a existir, estimulando um consumismo desenfreado e produzindo uma massificação da cultura, a qual insiste em apresentar mulheresobjetos, como produtos à venda e à serviço do homem. Dolan (1991), explica que nos Estados Unidos, nos anos de 1960 e início de 1970, algumas mulheres deixaram de trabalhar em grupos mistos de teatro experimental para criar seus próprios grupos, conforme já abordado neste capítulo, no item “Espaço ginocêntrico.” Neste período, as criadoras do teatro feminista cultural preocuparam-se 85 em fazer teatro entre mulheres, para mulheres e com o foco em suas experiências, pois, a identificação entre as mulheres “era concebida como um antídoto contra a opressão do patriarcado” 88 (DOLAN, 1991, p. 85, tradução nossa). Portanto, ao mesmo tempo em que a abordagem essencialista experimentada pelo grupo (Em) Companhia de Mulheres pode ser problemática por não considerar as diferenças entre as mulheres, ela é válida por proporcionar uma valorização da mulher. Tal procedimento parece muito útil no combate às relações opressivas entre gêneros, e também em outros tipos de relação de poder. Focar em histórias que abordavam nossas experiências e praticar um treinamento físico em diálogo com essas histórias e com as especificidades de nossos corpos, nos conduziu a um olhar para nosso interior, proporcionando o conhecimento e a valorização do “eu”. Iniciar o processo criativo estimuladas pela leitura dos mitos e contos, pelos estudos dos “arquétipos” e “princípio feminino,” nos fez perceber a abrangência deste universo e as múltiplas reflexões que ele proporciona. Estes assuntos nos influenciaram na realização do trabalho corporal/ vocal e posteriormente na criação do que chamamos de percurso (explicado no próximo item) e na dramaturgia criada. 2.3 O PERCURSO 2.3.1 Descrição do Percurso ou Primeira Tentativa de Dramaturgia 6 Mulheres [quem?, onde?] caminham em bloco. Atravessam a sala em diagonal. Sons surgem num crescente, desde uma vaporização89, sopros, mantras e orações até gritos chamando por seu passado mais ancestral. Em meio a esses sons o bloco se desfaz lentamente e cada uma das mulheres se entrega a um movimento obsessivo. Mulher 1 – (coçando-se obsessivamente) [texto?] Mulher 2 – (tirando a calcinha da bunda obsessivamente) [texto?] Mulher 3 – (roendo as unhas obsessivamente) [texto?] Mulher 4 – (cheirando obsessivamente) [texto?] Mulher 5 – (cheirando-se obsessivamente) – [texto?] 88 “Identifying with each other as women was meant as an antidote to their oppression under patriarchy.” Na vaporização, emitimos sons apenas soltando o ar pela boca, sem a utilização das cordas vocais. São como assopros. 89 86 Mulher 6 – (atirando obsessivamente) [texto?] para longe parte de sua roupa Após o movimento obsessivo, cada mulher se desfaz na posição ovo90 – congelam nesta posição até que todas estejam nela - e depois na posição tigresa, caminham em bando, se estranham e matam uma do bando. O corpo morto é reconhecido, as tigresas se humanizam, velam o corpo e o carregam. Diálogo entre as partituras desenvolvidas individualmente [qual é a situação, quem são, onde estão, o que fazem, o que falam?]. Uma a uma desaparece por trás das cortinas. Som de salivação começa de forma sutil, ouvem-se sussurros. Mulheres - (por trás das cortinas, sussurram em tempos diferentes) Saaaaliva Os sons crescem em volume e intensidade. Mulheres - (por trás das cortinas, repetem, cada uma em seu tempo, entre sussurros e sons mais altos) Tem saliva nos meus sapatos! Saliiiivaaaa... Tem saliva nos seus sapatos! Saliva. Sapatos. Na parte de baixo das cortinas aparecem as cabeças das mulheres que olham pontualmente para frente. Elas fazem uma corrida sem usar os pés na direção das cadeiras colocadas em frente do público. Do jeito que conseguem, pegam as cadeiras e levam para o centro do palco, ainda sem usar os pés. Apenas uma mulher se levanta ao pegar a cadeira e a carrega em pé, sem dificuldades, até o centro do palco. Formam um circulo com elas, uma delas abre um novelo de lã aleatório contendo o início de uma história. Lê em voz alta e as outras, uma de cada vez, vão dando continuidade à esta história. Ao mesmo tempo realizam movimentos corporais com as cadeiras. Para melhor compreender o que consistiu o percurso, a Figura 15 mostra uma foto-sequência feita a partir de uma filmagem do mesmo. Nesta filmagem, realizada por Sell, estão participando do exercício, Mattiello, Silva, Oliveira e eu. 2.3.2 Reflexão sobre o Percurso Ao final da “primeira fase” de nosso trabalho, em julho de 2010, o grupo sentiu a necessidade de ter um texto escrito, ou uma história, para ser encenada. Entre os meses de março a julho de 2010, havíamos feito um intenso trabalho corporal, 90 Até este momento, todas estavam de pé realizando seu movimento obsessivo. Se desfazer na posição ovo, significa ir ao chão, em uma posição sobre os quatro apoios (pés e mãos), tentando realizar um formato arredondado, como se tivesse um ovo entre os braços e as pernas. Esta movimentação nos foi passada por Silva, e consistia no primeiro movimento para iniciarmos o exercício das tigresas, onde todas ficavam na posição sobre os pés, mãos e joelhos. 87 Figura 15: O Percurso em quadros: Caminhando em bloco (1º quadro); contaminando-se pelos movimentos das outras (2º quadro); tigresas reconhecendo o corpo morto (3º quadro); diálogo 88 entre partituras individuais (4º, 5º e 6º quadro); desenrolando o novelo (7º quadro); contando histórias (8º quadro). orientadas por Silva, realizamos jogos teatrais coordenados por Brito e lemos quatro contos do livro Mulheres que correm com os lobos e As Deusas e a Mulher. Além disso, participamos dos encontros teóricos do grupo de estudo Teatro e Gênero coordenado por Miranda e fizemos outros encontros teóricos onde discutimos os textos do livro O Novo despertar da Deusa (NICHOLSON, 1993), sugerido por Mattiello. Também promovemos encontros de outra natureza, tais como almoços e rituais, anteriormente citados. Em julho, com a necessidade de fixar alguns elementos com os quais já havíamos trabalhado, Silva sugeriu que desenhássemos um percurso no espaço. Assim, com papel e caneta na mão, juntas desenhamos a sala onde trabalhávamos, como um espaço delimitador e dentro deste espaço desenhamos a nossa movimentação nele. Colocamos neste desenho uma seleção das partituras criadas coletivamente e individualmente, bem como alguns exercícios corporais improvisados a partir de uma estrutura fixa e finalizávamos com um jogo de contação histórias a partir do desenrolar de um novelo. Incluímos também uma frase retirada anteriormente de um novelo, com a qual já havíamos realizado uma improvisação (ver Figura 16). Figura 16: Frase do novelo 89 Delimitamos o lugar onde aconteceria cada ação, de onde partiríamos, os lugares por onde passaríamos e como isso terminava. Tendo feito isso no papel, passamos à experimentação prática deste exercício que passou a ser chamado por nós de percurso. Repetimos algumas vezes e rearranjamos os elementos conforme as necessidades que surgiam. Este percurso era o início do que podemos chamar de dramaturgia. Mas, naquele momento o percurso cênico realizado, não satisfazia ao grupo. Apesar deste posicionamento, posteriormente, enquanto escrevia esta dissertação, enviei meu texto para Silva ler e contribuir com sua opinião sobre o que eu estava escrevendo. Nesta parte, Silva ressaltou que não se incomodava com o fato de não termos uma história, “sempre disse que do percurso poderíamos realizar desdobramentos.”91 O que parecia incomodar o grupo era o fato deste percurso não contar uma história linear, não descrever personagens e não situar um espaço. De acordo com a definição de Pavis (2008, p. 113) sobre a dramaturgia clássica, não havia “exposição, nó, conflito, conclusão, epílogo, etc.” Da forma como estava não poderia ser transformado em um texto com esses elementos, mas, assim mesmo, o escrevi em forma de texto teatral descrevendo as ações desse percurso. Um texto composto de rubricas, sem diálogos e com frases aleatórias. No percurso, o conflito não aparecia no texto escrito, no embate dialógico entre personagens, mas sim na fisicalidade dos corpos das atrizes em relação na cena. Não havia uma história com definição de quem, onde e o quê. Éramos apenas nós, dando corpo e voz às nossas impressões sobre os mitos e contos que lemos no grupo, associado com as sete deusas que pesquisamos, com nossos estudos sobre teatro feminista, tudo isso aliado ao treinamento corporal e aos jogos teatrais. Neste sentido, o percurso estaria mais próximo do “teatro performativo”, conforme a definição de Josette Féral (2008), o que, de acordo com autora, é chamado de teatro pós-dramático por Hans-Thies Lehmann (2007). Segundo Féral (2008), no teatro performativo, o “fazer”, ou seja, a ação em si, é mais valorizada do que a representação, em seu sentido mimético. Se assim tivéssemos compreendido, poderíamos continuar a trabalhar sobre o percurso e, se ele fosse lapidado, refinado, poderia ser apresentado ao público, sem a preocupação de contar uma história, pois ali já se apresentava uma ação. Interessante notar que justamente o que o grupo achava que 91 Anotação de Rosimeire da Silva sobre esta dissertação, durante o processo de escrita, em 05/07/2011. 90 faltava era uma história. Dentro do percurso não aparecia claramente o que queríamos falar. Talvez ali já se encontrasse o que queríamos falar, não se apresentando de forma representativa, mimética, mas apenas através de ações. Não era desejo do grupo fazer uma peça realista, convencional, e não só por isso, mas também em decorrência de nossas pesquisas e do treinamento conduzido por Silva, criamos muitos materiais subjetivos na “primeira fase” do processo (que deram origem ao percurso), representando a subjetividade de cada mulher e do grupo. O desafio foi colocar esses materiais em diálogo com a história criada posteriormente92, buscando e criando aberturas onde esses materiais subjetivos pudessem ser encaixados. Refletindo sobre a citação abaixo de Lehmann, em Just a word on a page and there is drama (2004), entende-se que o texto no teatro, não é necessariamente o texto escrito. Não é necessário ter um texto escrito em um papel para dizer que temos um texto. Assim é o texto entendido como “roteiro”. Se concebemos o texto como ‘roteiro’ num sentido mais amplo, ou seja, se compreendemos uma performance, um ritual, uma montagem teatral como a realização de um projeto, este sempre será uma espécie de “texto”, independentemente de estar fixado por escrito ou não, e todo tipo de encenação continuará o duplo ou a sombra de algo que a precede. [...] Para o teatro das últimas três décadas, um triplo processo possui importância: a problematização teórica do modo como se deve pensar aquela configuração chamada texto, ‘acabado’ somente na aparência; ao mesmo tempo, a ampliação do conceito de texto; e a redução do peso da participação do elemento verbal (em seu sentido mais restrito) na experiência teatral. (LEHMANN, 2004, p. ...).93 O percurso, ao mesmo tempo em que era um roteiro de ações, era também o duplo dos contos, do treinamento, dos jogos. Porém, não ter um texto entendido de um modo tradicional, ou seja, não ter uma história a ser contada, com personagens, diálogos, etc., incomodava ao grupo. De acordo com o ponto de vista apontado por Lehmann (2004), o conceito de texto pode ser ampliado, o elemento verbal pode ter seu peso reduzido, e seu sentido modificado. Neste sentido, o que fazíamos já era por si só, um texto, mas um texto escrito em cena. Esta questão Lehmann aborda em Teatro pósdramático e Antonin Artaud (1999) em O teatro e seu duplo. No teatro pós-dramático, a respiração, o ritmo e o agora da presença carnal do corpo tomam a frente do lógos. Chega-se a uma abertura e a uma 92 O texto dramático Jardim de Joana foi criado na fase seguinte do processo do grupo, a qual é discutida no Capítulo 3. 93 Tradução de Stephan Baumgärtel. Não publicada. A paginação do documento traduzido não remete à paginação do texto original. 91 dispersão do lógos de tal maneira que não mais necessariamente se comunica um significado de A (palco) para B (espectador), mas dá-se por meio da linguagem uma transmissão e uma ligação “mágicas”, especificamente teatrais. (LEHMANN, 2007, p. 246). Artaud já propunha uma mudança de hierarquia, na qual o texto estaria aberto “de sua lógica e de sua arquitetura opressiva, a fim de reconquistar para o teatro sua ‘dimensão de acontecimento’ (Derrida)” (LEHMANN, 2007, p. 246). Lehmann se refere à chora, e ao lógos, ambos elementos constitutivos da linguagem. O autor, embasado em Julia Kristeva, explica que: chora é algo como a antecâmara e ao mesmo tempo a infraestrutura oculta do lógos da linguagem. Ela permanece em contraposição ao lógos. Como ritmo e prazer com o som, ela está presente em todas as línguas na qualidade de sua “poesia.” (LEHMANN, 2007, p. 246). O que Lehmann chama de “novo teatro” é por ele caracterizado por uma tentativa de se recuperar a chora. Isso quer dizer, a busca “de um espaço e de um discurso sem télos94, hierarquia, causalidade, sentido fixável e unidade” (2007, p. 247). O autor também ressalta que o interessante não é destruir o lógos, mas sim desconstruílo poeticamente, teatralmente: “desconstrução do discurso centrado no sentido e invenção de um espaço que se subtrai à lei do télos e da unidade” (2007, p. 247). Lehmann defende que desagregar o sentido não significa subtrair o sentido. O sentido continua existindo, mas fora da ordem lógica. Isso quer dizer que, por mais que o percurso parecesse não ter sentido, ele existia sim, porém fora da ordem lógica. Lehmann faz referência “a noções sobre o processo de significação, desenvolvidas por Julia Kristeva” 95 , o fenotexto e o genotexto. Sob o fenotexto, encontramos o genotexto, isto é, sob o ‘simbólico’ encontramos o ritmo do ‘semiótico’. Stephan Baumgärtel, na tradução do texto de Lehmann (2004), faz uma nota distinguindo essas duas noções desenvolvidas por Kristeva, para melhor compreensão do leitor. Explica que o fenotexto se refere ao simbólico “como o modo lógico e referencial da construção (social) do discurso”, assim, “o simbólico é marcado por processos lógicos de significação.” 96 Já, ao semiótico, Baumgärtel se refere “como o modo pré-simbólico, marcado pela pulsão libidinal, do qual surge o discurso do sujeito 94 “Termo grego que significa "finalidade". A noção era especialmente importante na filosofia de Aristóteles, que entendia que todas as coisas tinham uma finalidade natural.” Fonte: Dicionário Escolar de Filosofia. Disponível em http://www.defnarede.com/t.html . Acesso em 25 jan. 2012. 95 Nota do tradutor Stephan Baumgärtel em: LEHMANN, 2004. 96 Idem. 92 [...]. O semiótico se expressa no discurso através das qualidades rítmicas, energéticas, sonoras e gestuais deste.” 97 Trata-se do genotexto. Entendemos, portanto, que o simbólico é o lógos, enquanto o semiótico se refere à chora (LEHMANN, 2007, p. 246). Nesta tradução, Baumgärtel ainda nota que de acordo com Kristeva, ambos os modos, o semiótico e o simbólico, constituem o sujeito e o discurso, ressaltando que na estética pós-dramática, Lehmann propõe que esses dois modos estão em constante tensão. O texto é “feito com um processo de bricolagem, composto por desejos e sonhos antagônicos, ideologemas incompatíveis, impulsos, motivos e recalques pré, semi, ou inconscientes, de seus autores. No caso de seus maiores representantes, os elementos se encaixam muito menos do que a sabedoria acadêmica ousa imaginar”. Os textos desses autores se configuram a partir de “estratégias (muitas vezes geniais) de juntar os elementos antagônicos, disfarçar abismos, salvar as construções formais da desintegração. A unidade do texto é aparência, a ilusão desta é produto da convenção.” (LEHMANN, 2004, p. ...). 98 A partir desta explanação, podemos pensar que o percurso era a criação do genotexto, e que a história criada posteriormente é o fenotexto. Este último surgido pela necessidade de transformar os processos pré-simbólicos em uma unidade lógica, sendo esta unidade uma ilusão criada em resposta às necessidades de seguir determinadas convenções. Talvez esta necessidade exista por querer se fazer compreender dentro de um sistema de signos no qual já existem regras estabelecidas. Perante os distintos modos do ‘teatro pós-dramático’, surge a questão de como pode ganhar valor o enorme potencial (quase ilimitado) que possuem a língua, a fala, a poesia, a retórica, os mil jogos entre sentido e voz, entre vozes e outros sentidos, numa prática teatral que aboliu o papel primordial do texto na hierarquia dos meios teatrais. [...] prazer que também surge no texto em sua realidade sensorial como puro material acústico e espaço associativo; um prazer que deve ser atualizado também no ato de leitura. (LEHMANN, 2004, p. ...).99 No percurso, o prazer no texto surgia quando nossas vozes evocavam nossos antepassados. Quando falávamos “tem saliva nos seus sapatos”, e outras frases que eram ditas mais pela sua sonoridade e pelas possibilidades imaginativas que provocavam, do que por sua significação concreta. Aí o texto não estava sendo dito com um significado pré-estabelecido, como fala de um personagem, mas sim como um material sonoro. Na etapa seguinte do processo, com a história escrita e o texto decorado, inicialmente 97 Nota do tradutor Stephan Baumgärtel em: LEHMANN, 2004. Tradução de Stephan Baumgärtel. Não publicada. Não tivemos acesso ao texto original e a paginação do documento traduzido não remete à paginação do texto original. 99 Ibid. 98 93 perdemos os jogos entre vozes e sentidos. A preocupação voltou-se para contar a história ao invés de voltar-se para o ato teatral. Viola Spolin (2006), no manual de instrução de seu fichário de jogos teatrais, fornece uma importante informação sobre o uso da palavra: Palavras podem dizer o que você quer ouvir e podem esconder o que você necessitaria saber. Procure absorver a mensagem real e não as palavras que estão em seu lugar. Deixe que as palavras sejam sons que precisam ser ouvidos – ativadores – não apenas gravações, rótulos e informação usada em lugar de encontro, diálogo, contato. Os significados das palavras devem penetrar e ativar o ouvinte, o escritor, o leitor (2006, p. 63). Aqui, pensamos então, na palavra não enquanto transmissora de informação, mas enquanto ativadora de sentidos. O teatro proposto por Artaud propunha a diluição da hierarquia do texto em relação a cena. Conseguimos em nosso grupo experimentar a relação de poder enquanto pessoas trabalhando colaborativamente, mas e quanto à forma teatral, superamos a submissão da cena ao texto? Essa superação se faz necessária? E por quê? Em algum momento esse foi o objetivo do grupo, ou apenas o meu? Nosso estudo inicial aproximou-se de ideias essencialistas, portanto isto não poderia ser diferente no trabalho criado em cena, como no caso em pauta, o percurso. Como resume Garcia (2008), a partir da explicação de Dolan (1991) e da ideia de écriture féminine de Hèlene Cixous, “a tendência essencialista do feminismo cultural era representada no palco através de uma textualidade corporal feminina com característica ritualística” (2008, p. 19). O percurso apresentava características ritualísticas, uma vez que partimos de contos e mitos, buscando uma atualização destes no palco, por meio do trabalho corporal. Além disso, como demonstrado anteriormente, trabalhamos com as ideias de natureza selvagem e “princípio feminino”, dialogando com o que Dolan descreve como sendo a ideia base do pensamento feminista cultural, isto é, “a revelação da experiência de conexão intuitiva e espiritual das mulheres umas com as outras e com o mundo natural”100 (1991, p. 7). Como exemplo de grupo teatral que trabalhava dentro dos princípios do feminismo cultural, Dolan cita o grupo “At the Foot of the Mountain Theatre”, de Minneapolis, o qual, em um folheto101 escrito em 100 “The revelation of women’s experience and intuitive, spiritual connection with each other and the natural world […].” 101 Citado em: LEAVITT, Dinah. Feminist Theatre Groups. Jefferson, N. C.: Mc Farland, 1980. P. 67. 94 1976, detalha como a influência desta corrente feminista está presente em seu trabalho em cena: “At the Foot of the Mountain” é um teatro de mulheres – emergente, batalhador, furioso, cheio de alegria... Estamos perguntando: qual é o espaço da mulher? Qual é o ritual da mulher? Como ele se difere do teatro do patriarcado? Nós lutamos para redefinir tradições como peças lineares, teatro de proscênio, ritual não participatório, e procuramos revelar um teatro que é circular, intuitivo, pessoal, envolvente. Somos um teatro de protesto, testemunho da destruição de uma sociedade que é alienada a si mesma, e um teatro de celebração, participante da profecia de um novo mundo que está 102 emergindo através do renascimento da consciência das mulheres. (1991, p. 8). Dolan relaciona a teorização da écriture féminine de Cixous com o teatro pretendido por Artaud, relação que também podemos fazer na leitura da citação do folheto divulgado pelo At the Foot of the Mountain Theatre. Artaud e Cixous defendem a inversão da “autoridade do texto para o privilegio do corpo e do gesto como essência primordial” 103 (DOLAN, 1991, p. 8), o fim de enredos e a narrativa não linear. As perguntas feitas pelo At the Foot of the Mountain Theatre se parecem bastante com os questionamentos que o grupo (Em) Companhia de Mulheres fez na “primeira fase” de seu trabalho. É no mínimo curioso pensar que fazíamos as mesmas perguntas que aquelas mulheres fizeram há mais de 30 anos. Por que isso? O que faltou para nós para que fizéssemos novas perguntas, e não as mesmas? Talvez tenha faltado conhecer o trabalho daquelas mulheres, e de outras que falaram sobre elas. Será que isso tem algo a ver com a invisibilidade a que os trabalhos de mulheres muitas vezes estão fadados? Por isso é tão importante conhecer o passado, é preciso dar um passo atrás para podermos seguir em frente. Precisamos conhecer e divulgar os trabalhos que já existem e precisamos nos esforçar para traduzir as publicações sobre o teatro feminista que estão em outras línguas. Se no momento de criação do percurso, tivéssemos ampliado nossas noções de texto e dramaturgia, e tido conhecimento de como as formas do teatro feminista correspondiam às suas ideologias, teríamos ficado satisfeitas com aquele trabalho 102 “At the Foot of the Mountain is a women’s theatre – emergent, struggling, angry, joyous… We are asking: What is a woman’s space? What is a women’s ritual? How does it differ from the theatre of the patriarchy? We struggle to relinquish traditions such as linear plays, proscenium theatre, nonparticipatory ritual and seek to reveal theatre that is circular, intuitive, personal, involving. We are a theatre of protest, witnesses to the destructiveness of a society which is alienated from itself, and a theatre of celebration, participants in the prophesy of a new world which is emerging through the rebirth of women’s consciousness.” 103 “overturns the authority of the text to privilegie the body and gesture as the primordial essence.” 95 embrionário? Mas por que não o entendíamos como teatro, e sim apenas como um exercício? Isso não quer dizer que não gostamos do texto que criamos posteriormente, mas antes, negamos o que já havíamos criado. A partir do entendimento sobre o teatro feminista cultural, percebo que teria sido cabível continuar com nosso projeto sobre o percurso, se nos apoiássemos na argumentação teórica apresentada pelo feminismo cultural e por Artaud, pois material criativo nós já tínhamos, e bastante. Mas não foi assim que aconteceu. Será que isso foi uma negação ou uma superação? Sérgio de Carvalho, diretor e dramaturgo da Cia. Do Latão, ao discorrer sobre o processo de criação de dramaturgia, explica que: É como se o processo colaborativo tivesse que passar por pelo menos duas etapas antes que o roteiro se estabeleça segundo o caminho do espetáculo: a primeira de geração de materiais e perspectivas formais, a segunda de crítica e reinvenção desses materiais numa nova visão de escrita (em que a fase anterior é negada e superada). É evidente que essas etapas podem não ser sucessivas, e que a própria geração de material ganha intensidade quando pautada por um propósito crítico. (CARVALHO, 2009a, p. 69). Como bem aponta Carvalho, a fase de geração de materiais torna-se mais rica quando apoiada por uma proposta crítica. Mas como iniciamos nosso trabalho sem antes ter realizado os estudos que fizemos no decorrer do processo, pode ser que tenhamos perdido a oportunidade de criar materiais mais consistentes naquele momento. Mas o percurso foi importante enquanto exercício, gerador de materiais e de reflexão para esta dissertação. O que criamos ali, não foi totalmente negado e superado. Diversos elementos físicos e de relações que surgiram no percurso se encontravam, ainda que diluídos, nas cenas que criamos posteriormente. Chegando muito próximas de uma ritualização, celebrando nossas deusas, através do percurso que criamos, depois o destruímos, tentando formatá-lo dentro dos moldes de uma dramaturgia tradicional, acabando talvez com a ritualização e nos distanciando novamente da natureza selvagem? Como não perder isso? O que ficou do percurso enquanto essência? O que levamos dele para o espetáculo Jardim de Joana? 96 3 EM BUSCA DE UMA DRAMATURGIA FEMINISTA: “SEGUNDA FASE” DE TRABALHO E O JARDIM DE JOANA Neste capítulo, abordarei os procedimentos utilizados na “segunda fase” do laboratório de criação do grupo (Em) Companhia de Mulheres, realizado entre agosto de 2010 e dezembro de 2011. Esta “segunda fase” poderia ainda ser subdividida em três partes, a primeira, entre os meses de agosto a dezembro de 2010, período no qual o grupo preocupou-se em delinear temas para a elaboração de texto dramático, realizando improvisações a partir dos temas, que culminaram na criação do texto Jardim de Joana; a segunda parte, de fevereiro a julho de 2011, trabalhou em torno do texto para o desenvolvimento de um espetáculo; e na terceira parte, compreendida entre os meses de agosto a dezembro de 2011, o grupo apresentou e continuou a aperfeiçoar o espetáculo. Primeiro trato de um conceito e estratégia recorrente na produção de dramaturgia feminista, o “devised theatre”, com o objetivo de situar o processo de criação de Jardim de Joana dentro desta prática. Em segundo lugar descrevo os procedimentos utilizados durante o processo de criação do texto e do espetáculo Jardim de Joana, utilizando como referência os materiais gerados durante o processo, tais como, minhas anotações, vídeos, fotos, gravações de áudio e textos produzidos, buscando dialogar com a literatura sobre a prática teatral feminista abordada até então. E, finalmente, faço uma reflexão acerca do espetáculo criado, utilizando como suporte para reflexão o conceito de “espectador ideal”, de Dolan (1991), para que possamos pensar para quem o espetáculo é criado, e como este fator influencia no que se cria. 3.1 EM BUSCA DE UM TEMA E DE UMA DIREÇÃO 3.1.1 Em busca de um tema Em uma reunião do grupo, em julho de 2010, referente à avaliação do processo ocorrido na “primeira fase”, a necessidade da palavra em cena foi colocada por algumas integrantes do grupo, mas não qualquer palavra, e sim, uma palavra mútua. Sell esclareceu seu incômodo sobre o treinamento corporal, sem a existência da palavra que, 97 segundo ela, não precisava ser necessariamente falada, mas que ao menos permeasse todo o processo. Além disso, Sell apontou sobre a necessidade de termos um tema104. Apesar de ter sua última participação no grupo durante esta reunião, as considerações de Sell, bem como das outras integrantes, foram determinantes para o encaminhamento da próxima etapa do trabalho do grupo. Na definição dada por Patrice Pavis (2008, p. 399), “o tema geral é o resumo da ação ou do universo dramático, sua ideia central ou seu princípio organizador”, e a preocupação demonstrada pelo grupo era que nos faltava um princípio organizador. Existiam palavras permeando o processo, advindas dos materiais de leitura, principalmente os contos e mitos da obra de Estés (1994). Talvez o problema fosse o fato de serem palavras no plural, falávamos de mulheres e de experiências femininas sem um foco específico. Como estávamos em um laboratório de pesquisa e criação, e trabalhamos com quatro contos diferentes e lemos materiais diversos sobre deusas, mitos e arquétipos, ainda não tínhamos encontrado o tema geral. Conversávamos sobre assuntos diversos a respeito de nossas experiências individuais, e tentamos levar essas experiências para a cena. Foi um período para experimentar. Estávamos nos conhecendo e até então, não tínhamos desenvolvido nem mesmo a noção de grupo ou o nome, que veio depois. Logo no início da referida reunião, Oliveira falou sobre a sua ansiedade para que definíssemos nosso argumento. Mattiello, nesta mesma reunião também apontou para esta necessidade da “palavra mútua”. Segundo suas próprias palavras: Gostaria de uma “palavra mútua”. Eu ainda não sei o que estamos falando. Senti insegurança de que alguém desistisse. Desespero quando a Vanessa [Civiero] desistiu. A falta da palavra mútua me deixa insegura. Falta de saber quem é quem e o que a gente quer dentro do grupo. (Informação verbal). 105 Não ter ainda um tema neste momento, está relacionado com alguns fatores: o grupo iniciou com a proposta de um laboratório para experimentar procedimentos de criação; o grupo estava se formando; não tínhamos uma direção e nem um dramaturgo/a; não estava claro a que público se direcionaria o nosso trabalho; e, ainda 104 Segundo minhas anotações feitas durante a reunião do dia 06/07/2010, na qual estavam presentes Marina Sell, Lisa Brito, Rosimeire da Silva, Emanuele Weber Mattiello e Julia Oliveira. 105 Palavras de Emanuele Weber Mattiello, segundo minhas anotações feitas durante a reunião do dia 06/07/2010. 98 não tínhamos parado para conversar pontualmente sobre tais questões. Deste modo, tínhamos uma porção de materiais criados, mas não sabíamos o que fazer com eles. Os contos serviram de estímulo, e o meu objetivo ao propor esse trabalho, era que desses contos emergisse dentro do grupo o tema que gostaríamos de abordar. A intenção não era adaptar os contos para o palco, mas apenas utilizá-los como estímulo para criarmos outras histórias. Eu gostava da ideia de trabalhar sobre o percurso, e criar algo que não fosse necessariamente uma história a ser contada, mas sim explorar o caráter performativo, que o percurso trazia. Acredito que o próprio treinamento corporal, aliado aos jogos e aos contos, já eram princípios organizadores, fios condutores que nos levaram à criação de um determinado material físico e subjetivo. Os temas surgidos dos contos e as histórias contadas por nós se apresentavam no percurso, ainda que diluídos, e atingindo talvez outras formas de entendimento, que passam primeiramente pelas sensações e emoções. 3.1.2 Em busca de uma direção Na mesma reunião acima citada o grupo manifestou a necessidade de centrar a função de direção em apenas uma pessoa, porém nenhuma mulher do grupo quis assumir essa função. O problema de poucas vezes ter alguém olhando o processo de fora, se dava ao fato de que todas as integrantes estavam assumindo o papel de atrizes, todas queriam estar em cena, e isso provavelmente influenciou na opção das integrantes do grupo por não assumir a direção. No meu caso, além de querer estar em cena, não me sentia confiante para assumir tal função. Algumas vezes fiquei em dúvida se participava ou não do trabalho prático, pois queria registrar os exercícios com fotos, vídeos, anotações. Portanto, tive dificuldades de registro ao estar dentro da prática, mas era preciso escolher. Apesar de ter proposto no projeto de pesquisa uma prática que desencadeasse na criação coletiva de um texto e espetáculo, eu não sabia como dirigir um grupo para esta finalidade. Como dirigir um trabalho sem ter um texto teatral? Como começar a partir do zero? Apesar de termos iniciado a partir de alguns estímulos textuais e de termos criado um esboço de espetáculo na “primeira fase”, tudo aquilo foi colocado de lado pelo grupo. E eu não sabia como recomeçar e não tive coragem de tentar. Uma auto cobrança me fazia crer que tudo que eu fizesse, eu teria que fazer bem, e tive medo de fazer muito mal por não saber como fazê-lo. E o risco maior, era colocar outras pessoas juntas em um barco que poderia ser furado. Assim, preferia manter um 99 olhar mais distanciado, se é que isso seria possível, observando como o processo se desenvolveria, para aprender como é que se faz. Mas por que esta postura de querer atenuar as responsabilidades, lançando-as para outrem? Estaria isso associado ao fator histórico e cultural que definem os papéis de gênero? Ou estaria ligado ao fato de que a sociedade cobra o êxito tanto de homens quanto mulheres, tornando difícil lidar com o fracasso? A própria noção de ter um produto pronto e acabado dificulta também o entendimento de nossos esforços como processos. Se entendermos como processo, não existem sucesso nem fracasso, pois sempre poderemos transformar os resultados quando eles não funcionam, sendo isto um processo de aprendizado. Além desses fatores ainda posso acrescentar o fato de estarmos inseridas no contexto acadêmico. Afinal, eu já havia feito um trabalho deste modo, criado um espetáculo a partir do zero com meus alunos da Educação de Jovens e Adultos, já abordado no início do Capítulo 2. Mas na EJA, não tive medo de não saber como fazer. Eu simplesmente fiz, e não fiz sozinha. Não havia um peso de responsabilidade por estar dirigindo aquele grupo de alunos, mas a responsabilidade era compartilhada. Se alguém não tivesse se comprometido o suficiente e não tivesse feito bem a sua parte, não teríamos feito um bom trabalho. Naquele contexto fizemos bem o que tínhamos condições de fazer naquele momento. Não me senti insegura e soube lidar com as condições que tínhamos. E talvez por isso, o trabalho simplesmente aconteceu. No mais, se eu não coordenasse aquele grupo de alunos na criação de um espetáculo, ninguém mais o faria. Dito isto, podemos acrescentar que a postura do grupo (Em) Companhia de Mulheres diante da necessidade de ter uma direção dialoga com algumas considerações de Pavis, sobre a criação coletiva: Em determinado momento, no trabalho de equipe, a necessidade de coordenação dos elementos improvisados se faz sentir: é então que se torna necessário o trabalho do dramaturgo [...] e do encenador (grifo do autor) (2008, p. 79). O autor observa que isso não significa que necessariamente a figura do diretor esteja centrada em uma só pessoa, mas sim que o grupo precisa unificar seus esboços tanto no que diz respeito ao estilo quanto à narrativa, ou seja, precisávamos da palavra mútua da qual Sell falava. No caso do grupo de mulheres, não conseguimos sozinhas realizar essa unificação e sentimos a necessidade de ter uma direção no encaminhamento dos materiais, alguém que nos ajudasse a realizar essa unificação. Isso poderia otimizar o tempo do processo, pois ao trabalhar com muitas pessoas dando 100 ideias, os objetivos podem ficar confusos e as tomadas de decisões se tornam mais demoradas. Não queríamos um diretor ditador, mas alguém que pudesse ter uma visão de fora, ajudando a clarificar as nossas ideias e que trabalhasse a partir delas. Sobre esta questão, Aston escreve que: Tal como acontece com o papel do escritor, o papel do diretor muitas vezes pode ser aquele que vem a dominar o trabalho em grupo, não só porque o diretor é provável que seja a pessoa no grupo com uma personalidade dominante e forte, mas porque o grupo também pode estar buscando a garantia de que está sendo dirigido: de ser dito o que fazer. Ou, às vezes as mulheres diretoras se queixam de que os intérpretes recorrem a elas como figuras maternas, desejando ser alimentados e cuidados. 106 (1999, p. 37, tradução nossa). Mesmo trabalhando dentro de uma ideia de autonomia, parecia que neste caso o grupo precisava de alguém que dissesse o que fazer, por não conseguir tomar certas decisões coletivamente, ou por não conseguir entrar em acordo. Ao mesmo tempo em que o grupo rejeitava a ideia de uma direção ditatorial, queria uma pessoa que ajudasse nos encaminhamentos do trabalho. Isto poderia ir contra os propósitos do grupo, pois com uma única pessoa dirigindo o trabalho, será que ele ainda corresponderia a multiplicidade de desejos dentro do grupo? A questão é que o grupo não estava disposto a se sujeitar a fazer o que não quisesse. Mesmo com alguém dirigindo, o grupo queria ter o espaço e a autonomia para dar ideias e recusar o que não concordava, sem que isso criasse qualquer problema, pois a necessidade de ter uma direção neste momento vinha principalmente porque era preciso um olhar externo. O que o grupo não discutiu é que um olhar externo, com o alvará para nos dirigir, poderia ter a inclinação de realizar um trabalho de acordo com suas próprias noções do que é um espetáculo, e que talvez isso pudesse tirar do grupo a liberdade de experimentar a criação de algo totalmente diferente. Mas, como disse anteriormente, se o próprio grupo não conseguia chegar a um consenso sozinho, ele precisava de uma intervenção externa, talvez não um líder, mas um mediador. Aston (1999) sugere que compartilhar a direção no início do trabalho com duas mulheres, evita que se caia nas armadilhas citadas acima. Utilizamos este procedimento 106 “As with the role of the writer, the role of director can often be one that comes to dominate group work, not just because a director is likely to be the person in a group with a dominant or forceful personality, but because the group may also be seeking the reassurance of being directed: of being told what to do. Or, sometimes women directors complain that performers turn to them as mother-figures, desiring to be nurtured and looked after.” 101 durante os primeiros três meses de trabalho, quando ainda não havíamos definido o tema geral do enredo, e dividíamos o encaminhamento do trabalho entre as três mulheres pesquisadoras do mestrado, cada qual com uma tarefa no grupo. Talvez por isso tenhamos gerado tantos materiais diferentes e aparentemente sem uma possibilidade de unificação. A autora também recomenda “garantir que um diretor trabalhe em estreita colaboração com um dramaturgo que está mantendo um registro do processo do grupo, afinando idéias entre os intérpretes e diretor / s” 107 (ASTON, 1999, p. 38, tradução nossa). Este procedimento foi realizado por nós, quando eu, Brito e Silva decidíamos conjuntamente o andamento do trabalho, colocando em relação o treinamento corporal coordenado por Silva, os jogos teatrais coordenado por Brito e os contos e mitos sugeridos por mim. Por último Aston (1999) aconselha que a direção seja compartilhada entre todas do grupo, e esta foi uma sugestão dada por Miranda na retomada de nossos trabalhos em março de 2011. A ideia era que cada uma de nós dirigisse uma cena do espetáculo que estávamos criando. Naquele momento, esta ideia não foi efetivada, porém em um momento posterior do grupo, em outubro de 2011, com a saída de Miranda da direção, a direção compartilhada foi um procedimento espontaneamente adotado pelo grupo. Não havia pessoas específicas para dirigir cada cena, mas a direção do trabalho em geral coube a todas as participantes. A partir da necessidade apontada pelo grupo na reunião citada no início deste capítulo, decidimos convidar Miranda para nos dirigir, pois além de coordenar o grupo de estudos Teatro e Gênero, orientava a presente pesquisa de mestrado e também as pesquisas de Silva e Brito. Miranda aceitou o convite e em nossa primeira reunião108 com ela como diretora, demonstrando preocupação com relação ao fato de interferir no material que já havíamos criado, Miranda nos perguntou: “Sobre o que vocês querem falar?” Silva manifestou seu interesse por histórias de presidiárias e por buscar o que cada uma gostaria de dizer, dentro de um lugar comum. Anteriormente, Silva havia dado a ideia de que cada uma de nós pesquisasse uma mulher histórica para representála. Mattiello ressaltou que no momento estava buscando o seu lado espiritual, a força interior “tem momento em que você tem que cuidar de você mesma, porque não tem 107 “To ensure a director works closely with a dramaturg who is keeping a record of the group’s makingprocess, and relaying ideas between performers and director/s.” 108 Esta reunião aconteceu em 15 de agosto de 2010, no apartamento onde moravam Julia Oliveira e Emanuele Mattiello. 102 ninguém” (Informação verbal).109 Também demonstrou interesse pelo tema da morte, de vários tipos de morte e da relação entre irmãs e entre mãe e filha. Brito queria falar sobre relações humanas, sobre a solidão e a necessidade de definir rumos, como por exemplo, ter um companheiro e constituir família. Já Oliveira, disse querer falar sobre loucura. Miranda sugeriu uma imagem de mulheres preparando um corpo para um velório. Eu não me lembro do que falei, acho que não falei nada. É interessante notar que estes temas já vinham surgindo nas improvisações, desdobradas a partir das histórias lidas, do treinamento, jogos e estudos. Miranda tinha algumas informações sobre o nosso processo até então, a partir do que lhe contávamos e do material escrito sobre o processo. Falamos que tínhamos criado uma quantidade significativa de materiais corporais, movimentos cênicos e que já tínhamos inclusive um percurso no espaço, que se tratava de um exercício resumido de tudo que já havíamos feito. Tínhamos inclusive fragmentos de textos, resultado do exercício dos novelos de lã. Apesar de ter feito uma porção de coisas, às vezes parecia que não iríamos chegar a lugar nenhum. Acredito que este pensamento tenha passado por algum momento pela cabeça de todas. Pensamento que pode ter sido agravado pela saída da integrante Civiero em maio, aos dois primeiros meses de trabalho, e pela saída de outra integrante, Sell, quando iríamos iniciar a “segunda fase” de nosso trabalho, no mês de agosto. Estas saídas fragilizaram o grupo. Como nos propomos criar um texto próprio, o tempo de criação seria diferente de quando se monta um espetáculo sobre um texto pronto. Assim, era preciso ter paciência e não ansiar pelo lugar onde iríamos chegar, mas compreender que cada momento do processo era importante para o que estávamos nos propondo a fazer. Com isso, penso que o tempo de laboratório durante a “primeira fase” foi essencial para o que criamos a seguir. Foi onde começaram a surgir as inquietações, as necessidades, as ansiedades, os laços afetivos e todos os sentimentos e relações fundamentais para a definição do tema e criação da dramaturgia. Cada uma no grupo tinha um interesse, uma angústia, uma necessidade. Antes de Miranda começar a nos dirigir, em nossas orientações coletivas sobre as pesquisas, lhe contamos nosso interesse por deusas, e de contar a história dessas deusas. Miranda dizia 109 Palavras de Emanuele Weber Mattiello, segundo minhas anotações da reunião do dia 15/08/2008. 103 que as deusas poderiam ser diluídas em nós mesmas, que as personagens não precisariam ser aquelas deusas, nem a história delas, e sim nós e as nossas histórias. Quando voltamos com a ideia de contar a história de outras mulheres importantes na história, Miranda falou que era interessante as nossas memórias, as nossas histórias, a história de mulheres de nossa família, ou seja, histórias que já vinham aparecendo em nossas improvisações. Mesmo não estando nos livros de história, nem as nossas mães ou avós, também temos histórias tão interessantes quanto das mulheres que estão nos livros. Entendo que a valorização das experiências individuais é uma ação importante, se não fundamental, no processo de empoderamento, bem como o modo de criação apoiado no método do “devised theatre,” como veremos a seguir. 3.2 TEATRO “COLETIVO”, “COLABORATIVO,” “DRAMATURGIA EM PROCESSO” E “DEVISED THEATRE” 3.2.1 Apontamentos sobre o uso dos termos Para dar continuidade a esta descrição e análise sobre o processo de criação da peça Jardim de Joana, do grupo (Em) Companhia de Mulheres, convém explicar o método de criação utilizado pelo grupo, que se aproxima do que algumas autoras como Oddey (1998), Aston (1999), Goodman (1993) e Miranda (2010) definem como “devised theatre”. Este termo, que literalmente significa teatro ‘feito’ ou ‘criado’, pode ser entendido como uma prática teatral onde o espetáculo é resultado do material criado durante o processo de montagem. Na falta de uma tradução já consolidada para o termo, faz-se aqui a opção por utilizá-lo no original em língua inglesa. A escolha deste termo deu-se por sua associação às práticas teatrais principalmente feministas. Assim, as autoras acima citadas utilizam o termo “devised theatre” ao se referir aos processos de trabalho de grupos de teatro com uma posição clara sobre sua produção artística com um viés na teoria e/ou prática feminista. Vale lembrar, como discutido no primeiro capítulo, que a prática de escrita do próprio texto nos grupos de teatro feminista surgiu pela escassez de peças teatrais que tivessem temas relacionados ao que esses grupos queriam tratar. Ao longo do texto também aparecerão três termos derivados: devising processes (processos de criação de espetáculo); devising performances (performances criadas durante um processo); e, devising practices (práticas de criação de um espetáculo). 104 Similaridades podem ser encontradas entre o “devising theatre” e o que aqui no Brasil chamamos de “processo colaborativo,” “criação coletiva” e “dramaturgia em processo”, porém, acredito que não podemos utilizar estes termos como tradução para “devised theatre”, pois existem diferenças entre eles. Em alguns textos pesquisados, estes termos aparecem como sinônimos e às vezes como sendo diferentes. Também me deparei com o termo “processo colaborativo” sendo utilizado como tradução para “devised theatre”. Diante desta diversidade terminológica e conceitual encontrada, busquei um maior esclarecimento sobre as possíveis diferenças, bem como os pontos de intersecção entre os termos, para não cometermos enganos na hora de utilizar determinado termo para explicar o processo de criação do grupo (Em) Companhia de Mulheres. Conhecer diferentes formas de criação contribui com nosso trabalho, pois nos ajuda a perceber o que serve e nos dá poder de escolher qual o melhor caminho para nós em cada momento do processo. Quando, juntamente com Rosimeire da Silva, traduzimos o artigo de Alison Oddey, Devising (Women’s) Theatre as meeting the needs of changing times (1998), eu ainda não havia tido contato com o artigo de Aleksandar Sasha Dundjerovic (2007), no qual o autor explica as diferenças entre o “processo colaborativo” e a “criação coletiva”. No artigo de Sasha, nas passagens citadas do livro Devising theatre: a practical and theoretical handbook de Oddey (1994), o tradutor do artigo opta por traduzir “devised theatre” como “processo colaborativo”. Inicialmente, assim como ele, também fizemos a tradução do artigo de Oddey desta forma, mas, sem ter certeza da maneira adequada, pesquisei outras formas de tradução, mas ainda não encontrei outros textos em português que oferecessem uma tradução diferente para “devised theatre”. Assim, recorri a textos em inglês que tratam deste assunto, bem como aos textos em português sobre o “processo colaborativo” e “criação coletiva”, para compreender estes diferentes conceitos. Nas linhas que se seguem, ofereço uma reflexão sobre os termos acima mencionados, seguida de uma contextualização do “devised theatre”. 3.2.2 “Criação coletiva”, “processo colaborativo” e “dramaturgia em processo” Segundo Sérgio de Carvalho (2009a), diretor e dramaturgo da Companhia do Latão, de São Paulo, o que hoje denominamos de processo colaborativo “é o mesmo procedimento que no passado foi chamado de criação coletiva, sendo que diferenças 105 conceituais só podem ser estabelecidas caso a caso” (2009a, p. 67, grifo do autor). Neste seu texto, porém, Carvalho não aponta outras diferenças, mas sim, o que segundo ele, existe em comum entre estes dois métodos: [...] é o fato de que o material dramatúrgico, as personagens e o conjunto das relações ficcionais e estéticas surgem na sala de ensaio com base nas improvisações dos atores e nos debates do grupo sobre um tema ou projeto formal. (2009ª, p. 67). Dundjerovic (2007), no artigo acima mencionado, ao abordar o método de trabalho de Robert Lepage explica que os termos “colaborativo” e “coletivo” [...] demarcam a mudança entre grupo de atores trabalhando juntos para grupo de artistas colaborando uns com os outros. É uma mudança entre as décadas de 1970 e de 1980, uma transição do trabalho centrado no ator (década de 1970) para a entrada de outras mídias e tecnologias na encenação (década de 1980). (2007, p. 154). Até aqui, verificamos que estes dois autores, Carvalho e Dundjerovic concordam que estes termos se modificam com o tempo. Porém, enquanto Carvalho parece dizer que o que muda é apenas a terminologia para um mesmo modo de trabalho, Dundjerovic acrescenta uma diferença, explicando que o que muda não é só o termo, mas também a forma de trabalhar. Mas, o que significa falar em “atores trabalhando juntos” e em “grupo de artistas colaborando uns com os outros”? Antônio Araújo (2006) escrevendo sobre o método de criação do Teatro da Vertigem, deixa claro essa diferença, ao escrever que o processo colaborativo: [...] constitui-se numa metodologia de criação em que todos os integrantes, a partir de suas funções artísticas específicas, têm igual espaço propositivo, trabalhando sem hierarquias – ou com hierarquias móveis, a depender do momento do processo – e produzindo uma obra cuja autoria é compartilhada por todos. (2006, p. 127). Assim, compreendemos que no processo colaborativo os integrantes têm funções artísticas específicas, e é isso que o difere da criação coletiva praticada nos anos 60 e 70. Ainda de acordo com Araújo, enquanto na criação coletiva, temos um método de trabalho onde “todo mundo faz tudo”, no processo colaborativo nós temos a atribuição de funções. Araújo explica que, se nas criações coletivas havia um “desejo de diluição das funções artísticas ou, no mínimo, de sua relativização” (2006, p.127), no processo colaborativo cada artista é responsável por uma função, seja por ter maior conhecimento dentro de determinada área ou pelo seu interesse em aprofundar seus conhecimentos em uma área na qual possui maior afinidade. Portanto, como escreve Araújo, com encarregados específicos para cada função, como iluminador, cenógrafo, dramaturgo, 106 diretor, etc., cada responsável por sua área pode sintetizar as sugestões que todos dão, “propondo-lhe um conceito estruturador” (2006, p. 130). Este procedimento, segundo o autor, facilita no momento de tomar decisões, pois, por mais que todos contribuam com suas opiniões, o responsável por determinada área tem o direito à palavra final, evitando assim que não se chegue à uma solução diante de um impasse. Outro termo que aparece nos textos de Carvalho (2009b) e Araújo (2006) é “dramaturgia em processo”. Carvalho denomina de dramaturgia em processo o modo de escrita coletivizada, a qual acontece nas salas de ensaio, e que, segundo ele, também chamamos de “processo colaborativo” (2009b, p. 75). Do mesmo modo, Araújo utiliza o termo dramaturgia em processo para definir o trabalho de criação dramatúrgica do grupo Teatro da Vertigem. Assim como no trabalho da Companhia do Latão, o texto não existe a priori, mas sim, trata-se de “um objeto em contínuo fluxo de transformação” (ARAÚJO, 2006, p. 129). E essa transformação acontece no decorrer dos ensaios, improvisando, criando cenas e textos e experimentando o texto criado em cena. Convém ressaltar a diferença estabelecida por Araújo entre “dramaturgia em processo” e “processo colaborativo”, pois, de acordo com ele, tais termos não podem ser utilizados como sinônimos. Araújo explica que o processo colaborativo: [...] apresenta um caráter mais geral […], não é somente a dramaturgia o que está sendo desenvolvido conjuntamente, numa abordagem de tentativa e erro, mas todos os outros elementos que compõem a cena. A perspectiva do compartilhamento não acontece apenas entre outros colaboradores e o dramaturgo, mas é de todos com todos, simultaneamente: o ator traz elementos para o cenógrafo que, por sua vez, propõe sugestões para o iluminador, e este para o diretor, numa contaminação freqüente. Portanto, cumpre falar de uma encenação em processo, de uma cenografia em processo, de uma sonoplastia em processo e assim por diante, com todos esses desenvolvimentos juntos compondo o que chamamos de processo colaborativo. (2006, p. 130, grifo do autor). 3.2.3 “Devised Theatre” Como já apresentamos alguns apontamentos sobre os termos “processo colaborativo”, “criação coletiva” e “dramaturgia em processo”, o texto segue explicando o termo “devised theatre” e em sequência contextualiza as condições de seu aparecimento e sua utilização por grupos de teatro de mulheres e feministas. Começamos pelo artigo já mencionado de Dundjerovic, pois, como já mencionado, o 107 tradutor do artigo traduz “devised theatre” como processo colaborativo, tradução não utilizada aqui pelo motivo que veremos a seguir. Explicando que Robert Lepage trabalha a partir de um processo colaborativo, Dundjerovic utiliza como referência o livro de Oddey (1994) a respeito do devised theatre. O autor escreve: “Assim como a acadêmica Alison Oddey comenta em seu livro seminal “Devising Theatre” (Teatro Colaborativo), o principal é que o grupo colabore com o trabalho que emerge a partir de cada indivíduo, e não de um texto” (DUNDJEROVIC, 2007, p. 155, grifo nosso). Como já comentamos, em outras passagens do texto, na qual Dundjerovic cita trechos do livro de Oddey, quando aparece o termo devised theatre, o tradutor do artigo o traduz como “processo colaborativo”: 110 Teatro colaborativo pode surgir de qualquer coisa. Ele é determinado e definido por um grupo de pessoas que estabelece um modelo de trabalho ou estrutura a ser explorada e experimentada com ideias, imagens, conceitos, temas ou estímulos específicos que podem incluir música, texto, objetos, quadros ou movimento. (ODDEY, 1994 apud DUNDJROVIC, 2007, p. 155, grifo nosso, tradução do autor). O que Dundjerovic explica sobre o processo colaborativo também cabe ao devised theatre, mas, se recorrermos ao significado que Deirdre Heddon111 e Jane Milling112 (2006) dão à esta palavra, encontraremos uma pequena diferença. No livro Devising Performance: a critical history, as autoras analisam trabalhos de grupos teatrais que utilizam os termos “devising” ou então “criação colaborativa” para definir seu trabalho. De acordo com as autoras, estes grupos trabalham sem nenhum roteiro pré-definido, não existindo a priori nem um texto a ser encenado, nem uma partitura de performance. Mas isso não significa que não possa existir a utilização de um texto em algum momento deste processo. [...] a criação e o uso de texto ou partitura frequentemente ocorrem em diferentes pontos dentro dos devising processes, e em momentos diferentes dentro da obra da companhia, de acordo com os propósitos com os quais eles pretendem colocar os seus trabalhos. No entanto, para as companhias aqui estudadas, devising é um processo para a criação de 110 “Devised theatre can start from anything.” (ODDEY, 1994, p. 1, grifo nosso) Deirdre Heddon é PhD em Performance Arte de mulheres e atualmente ensina, entre outras coisas, Performance Contemporânea e performance autobiográfica na Universidade de Exeter. Fonte: Google books. Disponível em: <http://books.google.com/books?id=pRpQgAACAAJ&dq=devising+performance&hl=en&src=bmrr&ei=MiKBTevFFYOI0QHa2JDxCA&sa=X &oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA >. Acesso em: 15 ago. 2011. 112 Jane Milling ensinou devising nas universidades Sheffield e Exeter. Fonte: Google books. Disponível em: <http://books.google.com/books?id=pRpQgAACAAJ&dq=devising+performance&hl=en&src=bmrr&ei=MiKBTevFFYOI0QHa2JDxCA&sa=X &oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA >. Acesso em: 15 ago. 2011. 111 108 performance a partir do zero, pelo grupo, sem um roteiro pré-existente.113 (HEDDON; MILLING, 2006, p. 3). As autoras ainda acrescentam que as práticas de criação de textos e espetáculos durante os ensaios encompassam inúmeras variantes. E não devem ser confundidas com criação coletiva, mas devemos entender que a criação coletiva é um método dentro do chamado “devised theatre”. Devised performance não tem de envolver colaboradores. A esta medida, o âmbito das devising practices é muito maior do que pode, eventualmente, ser englobadas aqui. Temos deliberadamente limitado nosso foco para criação colaborativa e, portanto, colocar a nossa ênfase em companhias, em vez de indivíduos.114 (HEDDON; MILLING, 2006, p. 3, tradução nossa). Portanto, a partir desta citação, podemos compreender que a diferença está no fato de que o devised pode ser uma criação colaborativa, mas não necessariamente deve ser. Um devised work pode ser feito por um artista trabalhando individualmente, já o termo criação colaborativa implica que existem pessoas trabalhando em colaboração. Tendo encontrado a diferença apontada por Heddon e Milling (2006), a trago como referência para justificar o porquê de não utilizar processo colaborativo como tradução para “devised theatre”. 3.2.4 A opção pelo “devised theatre” Como já explicitado, a opção pelo termo “devised theatre” deu-se principalmente pelo seu uso recorrente pelas praticantes e teóricas do teatro feminista aqui estudadas. Em Devising theatre: a practical and theoretical handbook, Oddey (1994) esclarece o que é a prática do Devised Theatre e propõe uma teoria geral sobre o assunto, além de dar alguns exemplos de grupos britânicos das décadas de 80 e 90, que trabalharam neste contexto. Este livro pode ser utilizado como um guia prático e teórico, pois aponta ideias que grupos de teatro podem aproveitar. Sobre o mesmo tema Oddey escreve no artigo Devising (Women’s) Theatre as meeting the needs of changing times (1998), e explica que no “devised theatre” o processo de criação pode iniciar a 113 “the creation and the use of text or score often occur at different points within the devising processes, and at different times within a company’s oeuvre, according to the purposes to which they intend to put their work. However, for the companies studied here, devising is a process for creating performance from scratch, by the group, without a pre-existing script.” 114 “Devised performance does not have to involve collaborators. To this extent the scope of devising practices is much larger than can possibly be encompassed here. We have deliberately limited our focus to collaborative creation and therefore place our emphasis on companies, rather than individuals.” 109 partir de qualquer elemento, como já vimos na citação de Oddey (1994) apud Dundjerovic (2007). No artigo, a autora também aborda as dificuldades que os grupos passam para obter um financiamento de um projeto desta natureza, pois as agências financiadoras tendem a apostar em projetos mais “certos”, isto é, projetos que se propõe a montar textos prontos, de autores consagrados parecem mais “certos” de serem promissores. Miranda, explica que apesar de não existir uma prática única entre os grupos feministas ou de mulheres, o devised theatre aparece como um método recorrente. Segundo a autora, tal método de trabalho “abriu inúmeras possibilidades para os artistas e grupos interessados em ampliar as fronteiras da prática do teatro conservador e tradicional” 115 (2010, p. 196, tradução nossa), sendo que, esta forma de fazer teatro surgiu também em “contextos políticos repressivos” 116 (2010, p. 197, tradução nossa), como por exemplo, na época da ditadura militar, no Brasil dos anos 1960. Como exemplo brasileiro, Miranda cita o trabalho de Augusto Boal junto ao grupo Teatro de Arena. Já para os grupos de teatro de mulheres surgidos nos anos 1970 e 1980 em países como Austrália, Inglaterra e EUA, o devised theatre era a forma de trabalho mais utilizada, pois oferecia “uma estrutura alternativa de trabalho para aquela do teatro tradicional.” 117 (MIRANDA, 2010, p. 198, tradução nossa). Isso significa a criação de espaços mais democráticos, sem estrutura hierárquica, no qual as mulheres teriam espaço para participar ativamente, desenvolver sua criatividade e trabalhar questões centradas na mulher. Miranda, ao fazer um apanhado do contexto teatral inglês, explica que “a questão da diferença de gênero ainda não era parte da agenda da prática de teatro alternativo” 118 (2010, p. 198, tradução nossa) da Inglaterra até 1968. Sustentada pelas informações fornecidas por Michelene Wandor119, a autora explica que “questões relativas às mulheres e à orientação sexual”120 só entraram na agenda do teatro 115 “opened up numerous possibilities for performers and groups interested in pushing the boundaries of conservative and mainstream theatre practice.” 116 “repressive political contexts.” 117 “an alternative working structure to that of traditional theatre.” 118 the issue of gender difference was not yet part of the agenda of alternative theatre practice.” 119 WANDOR, Michelene. Carry on, Understudies: Theatre and Sexual Politics. London: Routledge & Kegan paul, 1986. 120 “issues related to women and sexual orientation.” 110 alternativo neste país na “revolução teatral pós-1968”121 (WANDOR, 1986 apud MIRANDA, 2010, p. 198, tradução nossa). Segundo Miranda (2010, p. 198, tradução nossa), “compartilhar a responsabilidade e o crédito ou criar uma peça de performance é empoderar as artistas que participam do processo.” 122 O devised theatre, ainda de acordo com a autora, pode ser utilizado não apenas para que as artistas encontrem o seu espaço e a sua voz, mas também “proporciona oportunidades para a inovação artística” 123 (2010, p. 200, tradução nossa), pois é aberto para as artistas desenvolverem estratégias de criação. Assim, o grupo pode escolher técnicas e exercícios específicos, ou criar novos, de acordo com as suas necessidades. Mas, se o devised theatre apresenta vantagens, há também problemas nesse formato, como, por exemplo, um período maior de trabalho que deve ser dedicado ao desenvolvimento de temas, textos e scripts, fato que verificamos durante o processo do grupo (Em) Companhia de Mulheres. Trabalhar a partir da adaptação de textos não teatrais para o teatro, em um devising project, conforme Aston(1999) aponta, a dificuldade em organizar o material criado é frequentemente vivenciada por grupos que trabalham neste contexto, assim como nosso grupo. A autora também ressalta que: Todos os membros do grupo devem participar na escolha de uma história, ao invés de depender de um membro do grupo para encontrar e convencer aos outros de sua escolha. Apesar de ser um processo demorado, o grupo provavelmente será beneficiado em longo prazo, como todos os membros podem sentir que têm tomado parte em um processo de consulta, e ter compartilhado pensamentos preliminares, objetivos e processos decisórios, e assim por diante.124 (1999, p. 150-151, tradução nossa). Até chegar à questão de qual história o grupo iria contar, ou seja, qual o nosso tema geral, ou a nossa “palavra mútua”, o processo foi lento, às vezes angustiante, mas tínhamos esperança de chegar à palavra comum. O tempo utilizado foi bom para que amadurecêssemos nossas ideias e adquiríssemos mais confiança individual e em nós enquanto um grupo. (Em) Companhia de Mulheres optou pelo devised theatre porque 121 “post-1968 theatre revolution.” “sharing the responsibility and credit or creating a performance piece is empowering for the performers participating in the process.” 123 “provide opportunities for artistic innovation.” 124 “All members of your group should participate in choosing a story, rather than relying on one group member to find and to persuade the others of her choice. Although a time-consuming process, the group is likely to benefit in the long term as all members can feel they have taken part in a consultative process, and have shared in preliminary thoughts, aims and decision-making processes, and so on.” 122 111 queria criar uma dramaturgia própria que tratasse de questões feministas, dentro dos temas escolhidos pelo grupo agregados aos estudos primeiros sobre os contos, mitos e deusas. O meu desejo enquanto pesquisadora era experimentar este tipo de prática na qual a dramaturgia se cria coletivamente. Além disso, Miranda já havia nos apontado este caminho, ainda que não tivéssemos conhecimento do termo devised theatre. A importância que percebo deste modo de trabalho para a prática teatral feminista é a valorização dos indivíduos, suas experiências e habilidades. O devised theatre proporciona que todas as envolvidas possam se posicionar, expor suas ideias, suas histórias e colocar bastante de si no trabalho. Isso resulta em um trabalho onde percebemos um pouco de cada uma. Além disso, este método afrouxa as relações de poder, torna as hierarquias móveis, possibilitando a mudanças de papéis, a experimentação de diferentes funções artísticas e o consequente auxílio no processo de empoderamento, não somente individual, mas do grupo, e no caso, da categoria mulher. 3.3 A IMPROVISAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DO NOSSO DEVISED THEATRE O procedimento utilizado para que finalmente tivéssemos um texto escrito foi simples, porém exaustivo e demorado. A partir do interesse surgido no grupo pelos temas da “morte”, “relação entre mãe e filha”, “relação entre irmãs”, “loucura e solidão”, 125 Miranda sugeriu inicialmente algumas improvisações que depois foram desdobradas pelo grupo quando Miranda não estava presente. O texto foi escrito a partir das improvisações realizadas, dez no total, as quais foram registradas em vídeo e posteriormente transcritas em forma de texto dramático. 126 Nas linhas abaixo segue uma breve explanação de como foram feitas as improvisações e o processo de escrita do texto. Realizamos dois tipos diferentes de improvisação, as improvisações guiadas e não guiadas. As improvisações guiadas foram aquelas dirigidas por Miranda, a qual sugeria uma situação para ser improvisada. Durante estas improvisações guiadas, a diretora também dava instruções, para o melhor aproveitamento dos elementos que surgiam em cena e maior consciência do que fazíamos. Já as improvisações não guiadas foram aquelas realizadas sem a presença de Miranda, as quais o grupo decidia em conjunto o que deveria trabalhar, e então 125 Estes temas forma abordados na reunião do dia15/08/2011, a qual é comentada no final do segundo capítulo. 126 Um vídeo com um resumo das improvisações realizadas, encontra-se disponível em <http://youtu.be/3kJsY5gbaqs>. Acesso em: 28 mar. 2012. 112 improvisávamos sem o olhar externo e sem instruções externas, mas sim a partir das necessidades que surgiam na cena e que percebíamos de dentro dela. Com as improvisações coordenadas principalmente por Miranda, a partir da busca por uma história a contar e temas para abordar no palco, realizamos improvisações que partiam mais do trabalho atoral, onde a partir de uma proposta situacional a ser resolvida em cena, com espaço, personagens e situações definidas, as atrizes deveriam representar e desenvolver a situação dada através de ações e diálogos. Nesta fase do processo, durante a maior parte do tempo as improvisações possuíam uma interpretação realista, com algumas aberturas para o estilo de interpretação pautada mais no físico, experimentada na “primeira fase” do processo. 3.3.1 A criação de uma história com conflitos Todas as improvisações partiram de estímulos tanto temáticos quanto materiais. O luto foi o pano de fundo que serviu como estímulo para criação, devido ao suposto falecimento de uma mulher, que inicialmente pensamos ser uma amiga de todas as mulheres em cena. No decorrer das improvisações, junto com a coordenação de Miranda, definimos quem era a mulher que morreu e quem eram as personagens em cena, as relações entre si e entre a falecida, e assim delineamos a nossa história. O jogo estabelecido na primeira improvisação utilizou como estímulo uma sacola com roupas e sapatos, e a ideia de que isto pertencia a mulher que morreu (Figura 17). Era como se aquele fosse o momento em que as pessoas mais próximas da falecida precisavam se desfazer dos pertences dela. As roupas foram experimentadas e manuseadas pelas atrizes, que a partir disso criaram lembranças e sentimentos, pelo fato de estar mexendo nas coisas de um ente querido que acabara de morrer. Assim iniciamos a construção da personagem falecida, de forma coletiva. Na segunda improvisação trabalhamos com três mulheres em cena, sendo que uma interpretou a companheira/ namorada da falecida, outra a irmã que morava numa cidade distante e a terceira uma amiga próxima do casal. A cena girou em torno do conflito sugerido por Miranda, no qual, a mãe da falecida tinha Alzheimer e morava com o casal, porém a viúva não teria condições de cuidar sozinha da sogra e a irmã da falecida também não poderia cuidar da própria mãe. Elas discutiam quem ia ficar com a mãe e a amiga apenas opinava na conversa. Já na terceira improvisação desdobramos o 113 conflito da mãe com Alzheimer, sendo que uma atriz fez a viúva e outra uma amiga/ conselheira do casal. Nesta cena, as duas atrizes/ personagens discutiam se a sogra deveria ser colocada em um asilo. Depois desta improvisação começamos a trabalhar com a ideia de que a dona da casa era a mulher morta e que a viúva deveria entregar a casa à família da falecida, pois a união delas não era legitimada perante a lei, o que gerava mais um conflito entre a irmã da falecida, a qual queria retomar a casa, e a viúva, que ainda morava na casa. É importante dizer que nas improvisações não chegávamos a um acordo ou a uma resolução para os conflitos estabelecidos, mas eram apenas expostos diferentes pontos de vista sobre uma mesma situação. Miranda nos orientava a não buscar soluções fáceis, mas sim um tipo de reconciliação. 3.3.2 A caixa de Pandora: criação de cenas oníricas Um dos estímulos dado por Miranda, e utilizado em mais de uma improvisação, foi a sugestão para uma das atrizes, como tarefa de casa, preparar uma caixa com objetos da personagem morta. Deveria ser como uma caixa de Pandora, mas com conteúdo feminista. Os objetos contidos nessas caixas preparadas por apenas uma atriz, eram segredo para as outras. Os objetos se revelavam somente durante a improvisação, no momento em que a caixa era aberta. Assim o elemento surpresa e o jogo de descoberta desses objetos estiveram muito presentes nessas improvisações, abrindo diversas possibilidades de criação. As caixas preparada por Mattiello e Oliveira, em dias diferentes de improvisação, continham elementos que estimularam na criação da ficção em torno da personagem falecida. Na relação com os objetos em cena, foram suscitadas lembranças fictícias sobre a morta e lembranças reais da vida das atrizes. Uma das sugestões de Miranda era que se alternassem momentos de atuação e momentos de memória, tentando embaçar a fronteira entre o ficcional e o real. Na Figura 18, o primeiro quadro mostra Miranda dando orientações para o grupo antes de iniciarmos a improvisação com a caixa preparada por Mattiello e o segundo quadro mostra, o grupo conversando após a realização da improvisação. No centro da mesa, vemos a caixa de Mattiello (com estampa de zebra), no primeiro quadro ela ainda estava fechada, e ninguém sabia o que tinha dentro. No segundo quadro, a caixa está aberta, e já havíamos feito a improvisação e conversávamos sobre o trabalho realizado. 114 Figura 17: Primeira improvisação: remexendo nos pertences da amiga falecida. Em cena: Silva, Mattiello, Brito e Oliveira Figura 18: Momentos antes e depois da improvisação “A caixa de Pandora,” preparada por Mattiello. Nas fotos: Brito, Miranda, Mattiello, Oliveira e Mesquita (quadro 1, da esquerda para a direita) A caixa preparada por Oliveira, continha, entre outras coisas, pequenos pedaços de papel com frases e palavras, de onde surgiam palavras surpresas que foram colocadas em cena de maneira interessante, provocando situações e estimulando na atuação das atrizes. Outro elemento que provocou uma grande transformação na cena foi uma garrafa de vodca, vazia. Assim, ao representar as personagens embriagando-se, aos poucos, o clima de luto tornou-se mais leve e até mesmo divertido, fator que deu a ideia da realização de uma improvisação em clima carnavalesco, que explicarei mais adiante. 115 A Figura 19 mostra em foto-sequência momentos da improvisação com a caixa preparada por Oliveira. Em outra improvisação fizemos um baú de memórias com objetos levados por todas as atrizes, mas sem ninguém saber o que as outras levaram para compor este baú. Figura 19: Improvisação “A caixa de Pandora” preparada por Oliveira. Foto-sequência com instantâneos feitos a partir da filmagem. Em cena: Oliveira, Mattielo, Brito e Silva (quadro 1, da esquerda para direita). Desdobrando uma sugestão de exercício de Aston (1999, p. 146), propus iniciar a improvisação com os olhos fechados, para desencadear uma relação com os objetos por meio dos outros sentidos, como tato e olfato. A Figura 20, por meio de uma fotosequência, mostra alguns momentos desta improvisação. 116 Figura 20: Improvisação “baú de memórias.” Em cena: Mattiello, Mesquita, Brito, Oliveira e Silva. Fotosequência com instantâneos feitos a partir da filmagem 117 Cada uma das atrizes entregou à Miranda os objetos e saímos da sala, e então Miranda organizou os objetos no espaço. As cinco atrizes entraram em cena de olhos fechados e, guiadas por nossa diretora, fomos colocadas em algum lugar deste espaço criado. Primeiro nos relacionamos individualmente com os objetos, sem ainda estabelecer relação entre nós. A diretora deu instruções verbais, como: “Lembra”; “O que isso te lembra?”; “Fala o que isso te lembra”; “Abram os olhos agora.” Aos poucos, universos pessoais emergiram em cena, provocados pelo manuseio dos objetos. A palavra foi solicitada em livre associação a partir do que sentíamos e lembrávamos. Depois, com os olhos abertos, cada uma em seu universo, entrou em contato visual com os objetos. Criamos primeiramente espaços e narrativas individuais, os objetos, entre eles, fotos, cartas, roupas, sapatos, colares, grampos, desencadearam um mergulho profundo em nossas memórias, que depois compartilhamos umas com as outras. Miranda, ressaltava que tivéssemos cuidado umas com as outras e que nos ouvíssemos, deixando nos contaminar pelo que estava sendo dito por meio da palavra e da composição visual dos objetos. Ao final da improvisação havíamos construído uma bela instalação com os objetos que levamos (Figura 21). Pela minha experiência nessa improvisação, percebi que iniciar o trabalho de olhos fechados foi uma forma de ajudar a pensar com o corpo. 3.3.3 A criação da última cena como estímulo para a criação da primeira Depois de realizar a improvisação na qual as personagens se embriagavam com uma garrafa de vodca, pensamos na ideia de variar o clima de luto no decorrer da peça. Assim, realizamos uma improvisação onde fizemos uma salada de frutas em clima carnavalesco, contrastando com as improvisações anteriores, cujo clima de luto era ainda muito latente. Brito levou como estímulo elementos carnavalescos, como chapéus, acessórios, roupas coloridas e marchinhas de carnaval. Levamos também frutas e os utensílios necessários para fazer uma salada de frutas. Neste dia, ninguém quis falar de morte, e era como se tivessem passado meses desde o falecimento. Mattiello levou um vestido de noiva, revelando-o apenas ao final da improvisação, culminando em uma cena de casamento entre mulheres e com um “padre” mulher abençoando a cerimônia (Figura 22). Como havíamos feito a salada de 118 frutas, aproveitamos o cacho de bananas como buquê e aliança. O clima carnavalesco desencadeou uma cena com características clownescas, devido ao clima de descontração e brincadeira, aos elementos utilizados e à experiência com o trabalho de clown das atrizes. Ao término da improvisação, decidimos que esta seria a última cena de nosso pretendido espetáculo, uma alusão ao casamento da viúva com a namorada falecida, como se fosse um momento de lembrança. Como já tínhamos criado o que seria a última cena e as cenas anteriores, precisávamos criar a primeira cena. Assim, após termos vislumbrado a última cena (o casamento), pensamos que a primeira cena seria o momento em que em que as personagens estão chegando do cemitério ou da missa de sétimo dia, quando o clima de luto ainda é latente. Seguindo essa ideia, fizemos uma improvisação, que iniciava com as personagens chegando da missa de sétimo dia. Como estímulo, deixamos vidros de florais sobre a mesa, e entramos todas de óculos escuros. Ainda contaminadas pelo clima descontraído da improvisação carnavalesca, assistindo aos vídeos, pude perceber um caráter cômico nesta cena. Quando todas começam a tomar florais, a falar coisas sem nexo, e a se lembrar de histórias pessoais engraçadas, como se fossem vividas pelas personagens, o riso é provocado. A utilização dos florais já havia surgido desde a primeira improvisação, quando Mattiello tomava remédio em cena. Por se tratar de uma situação triste, levamos para a cena o fato de que sempre buscamos de alguma forma, subterfúgios para as nossas aflições. 3.3.4 Reflexões Para concluir esta parte sobre as improvisações, convém refletir sobre os procedimentos adotados e os resultados obtidos, comparando o trabalho realizado na “primeira fase” do processo com o realizado no início da “segunda fase”. As histórias pessoais já surgiam no grupo como material de criação desde a “primeira fase”, e eram estimuladas a surgir no grupo a partir da leitura dos mitos e dos contos e a interpretação que fazíamos desses. 119 Figura 21: Parte da instalação criada a partir da improvisação “baú de memórias” Figura 22: Improvisação da cena do casamento entre mulheres. Em cena: Brito, Mattiello, Silva e Oliveira 120 Em um de nossos primeiros encontros, Brito coordenou um jogo no qual ficávamos no escuro, apenas à luz de velas, sentadas no chão e em círculo, e começávamos a contar histórias pessoais, sem interrupção, sendo que a história contada por uma, faria outras serem lembradas. A regra era percebermos o momento de cada uma falar. Esse trabalho permeou todo o processo criativo, inconscientemente, estando inclusive nas improvisações com temática definida. Na “primeira fase”, quando Silva coordenava o trabalho corporal, as improvisações que realizávamos eram principalmente pautadas no físico, eram expressões físicas de nossos sentimentos, desdobrados das leituras dos contos e mitos, incluindo as nossas pesquisas sobre mitos, contos, deusas e feminismo. Esse processo da “primeira fase” gerou um determinado material para a criação de uma dramaturgia, o qual resultou no percurso, um esboço dramatúrgico em potencial que poderia ter se desenvolvido e se transformado em uma performance ou peça teatral. Na “primeira fase” as propostas de improvisação também eram concretas, mas de um modo diferente. A concretude partia do físico, do movimento no espaço e do contato entre as atrizes, sem cenas realistas, sendo tudo transformado em proposições abertas a múltiplas significações para quem assistisse. Essa é a impressão que tenho enquanto participante do processo, realizando os exercícios e também enquanto espectadora, pois tive a oportunidade de assistir alguns dos exercícios das outras atrizes enquanto eles eram desenvolvidos e também por meio das filmagens. Os temas inicialmente estabelecidos, que surgiram de interesses pessoais dentro dos exercícios propostos na “primeira fase” do trabalho, foram desdobrados e costurados com outros temas que emergiram de dentro das improvisações com os primeiros temas norteadores. Os temas morte, relações familiares, loucura e solidão, se desdobraram nos temas do casamento gay, separação, doença, traição e pequenos vícios. Falar sobre a união entre duas mulheres colocou nosso trabalho dentro das demandas estabelecidas pelo women’s liberation movement (GOODMAN, 1993), já apontadas no Capítulo 1. A morte como pano de fundo que permeou a “segunda fase” do processo na construção da dramaturgia através das improvisações, já havia surgido durante a “primeira fase”, quando trabalhamos sobre o conto Sapatinhos Vermelhos e depois quando criamos o percurso, composto também pelo exercício do treinamento corporal, chamado “tigresas”, no qual, nós, como tigresas, tínhamos que atacar e matar umas as outras, e também nos defender. 121 3.4 JARDIM DE JOANA: DA IMPROVISAÇÃO PARA O TEXTO E DO TEXTO PARA O ESPETÁCULO 3.4.1 A escrita do texto dramático Como dito anteriormente, todas as improvisações foram registradas em vídeos, e o procedimento adotado para visualizar as palavras que surgiam durante essas improvisações, foi transcrevê-las, a partir dos vídeos em forma de texto dramático. Achei o resultado muito interessante, pois visualizar no papel as cenas que criamos possibilitou ao grupo brincar com o texto, cortando coisas, acrescentando, lapidando. Durante o processo de transcrição optei por cortar os vícios da linguagem oral, como por exemplo, os “nés” no final das frases. Tentei transformar a linguagem coloquial em linguagem escrita, pois quando olhava no papel, a linguagem coloquial me causava estranhamento. Apesar de Brito ter dito achar interessante transcrever os vídeos assim como falamos na cena, prossegui com a minha decisão, uma vez que, o texto transformado novamente em cena, seria mais uma vez transformado a partir da fala das atrizes, e então poderíamos tomar a decisão se falamos o texto como está escrito ou de um modo mais coloquial. A fase na qual trabalhamos sobre o texto transcrito foi feita coletivamente, porém eu havia começado a fazer isso sozinha. Quando iniciei este trabalho solitariamente, percebi que eu me apegava a alguns elementos que estavam no texto, ficando com “dó” de cortar certas coisas. Conclui que assim como eu, as outras mulheres também teriam esse apego, e tive medo de cortar coisas que seriam importantes para as outras e que inicialmente para mim não fazia sentido. Conversando com o grupo, resolvemos que faríamos esse procedimento juntas. Ao falar deste apego ao material criado, Araújo (2006) ressalta que a seleção do material deve beneficiar esteticamente o trabalho, e, portanto, deve-se evitar o apego aos materiais criados anteriormente. Por isso o autor aponta para a dificuldade de fazer esse trabalho coletivamente, e a dificuldade de tomar decisões se não tiver apalavra final de alguém, que segundo ele, dever ser um “dramaturgo com mão firme” (ARAÚJO, 2006, p. 136137). Os nomes das personagens não foram resolvidos em cena, mas após, no trabalho de mesa, quando já havíamos feito a transcrição de todas as cenas e começávamos 122 conjuntamente a realizar os ajustes do texto. O pano de fundo da nossa história era a morte, e morte nos lembrou flor, a partir da frase dita por Brito: “Cheiro de flor, sem flor, é cheiro de morte” 127. Assim demos o nome de flores às personagens, com exceção do nome da personagem morta, o qual já havia surgido na “primeira fase” do trabalho, num exercício de contação de história a partir dos novelos, onde apareceu o nome “Joana” (Figura 23). Outra vez, em uma das improvisações durante a “segunda fase”, antes de iniciarmos a cena, desenrolamos outro novelo para nos dar inspiraração, e novamente apareceu o nome “Joana” (Figura 24). Decidimos então que o nome do texto seria Jardim de Joana, e as personagens Lis, Margarida, Rosa, Dália e Acácia, seriam as flores de seu jardim. Figura 23: História do novelo Figura 24: História do novelo 127 Frase transcrita nas minhas anotações durante o trabalho de mesa. 123 Durante o ajuste do texto, além de nomear os personagens, precisamos distribuir as falas e as ações de acordo com cada personagem. Esse trabalho teve de ser realizado, pois na transcrição das improvisações, no lugar do nome das personagens, estava escrito o nome das atrizes que realizavam a ação e a fala. Foi um trabalho delicado distribuir as falas de acordo com a personalidade que definíamos para cada personagem, pois nas improvisações trocamos os papéis, cada dia fazendo um personagem diferente. Assim, a criação de cada personagem, foi um trabalho realizado não só na cena, onde cada dia uma atriz fazia uma personagem diferente, mas também durante os trabalhos de mesa, onde fomos definindo a personalidade de cada personagem. A protagonista de nossa história está morta e foi criada por todas as atrizes, o que considero muito interessante ao me deparar com a análise que Sander (2007) faz das peças da escritora norte-americana Susan Glaspell, ressaltando três peças de Glaspell onde não há a presença de uma protagonista: a protagonista ou está morta, ou está presa. Sander analisa esta ausência em uma escrita feminina, buscando os motivos e as estratégias utilizadas por Glaspell para tornar visível o invisível, não através da presença física, mas por meio de palavras. Segundo Sander (2007, p. 178) “a ausência de uma personagem, ou a ausência do que quer que seja que não está quando a esperamos ver, abre espaço para a fantasia”. Assim como, por exemplo, na peça Bagatelas, de Glaspell, de acordo com a análise de Sander (2007) sobre esta obra, nossa protagonista nunca aparece fisicamente em cena. Mas fala-se dela o tempo todo, e tudo acontece por causa dela. Mas, no fim de nossa história, colocamos essa protagonista morta em cena, por meio de uma projeção de vídeo onde mostramos o casamento entre Joana e Lis, como um momento de lembrança. Joana, a personagem morta, por meio de sua ausência, proporcionou diversas possibilidades para ser criada por nós. Ela brotou de nossa fantasia, e continuou aberta para que o público pudesse recriá-la a seu modo. Acho interessante pensar sobre essa questão, e também sobre o fato de que todas as personagens foram construídas por todas as atrizes, tanto na cena quanto na escrita. Assim, cada personagem, carrega um pouco da personalidade de cada mulher que participou deste processo. As personagens foram sendo construídas em improvisações, refinadas em trabalho de mesa sobre o texto, e posteriormente reconstruídas para voltar à cena. Será que podemos falar em personagens psicologizadas? Essas personagens 124 refletem a multiplicidade da qual cada uma de nós somos feitas? Após o processo de escrita, na criação dessas personagens na cena, estas foram ganhando particularidades e sutilezas criadas pelas atrizes que as interpretavam. Mas ainda sim, no processo de criação de papéis, todas continuaram a dar sugestões na criação de todas as personagens. Cada uma dessas personagens carregava um pouco das ideias de cada uma das atrizes. A escrita coletiva, na qual todas participam igualmente deste processo, segundo Aston (1999), é a opção mais difícil e demorada, como pudemos comprovar. A autora ressalta que decidir coletivamente o que será cortado ou acrescentado a um texto, e chegar a um script dessa forma, é uma tarefa quase impossível, mesmo quando o grupo trabalha bem coletivamente. Mas a autora cita uma consideração de Mica Nava128 sobre seu trabalho com o WTG, o qual coletivamente desenvolveu o texto My Mother Says I never Should em 1974, apresentando um exemplo de que este procedimento é possível. Tendo decidido sobre as questões gerais que queríamos levantar, fizemos muitas pesquisas [...]. Depois juntamos as nossas informações, criamos personagens e um enredo, improvisado, e, finalmente, saímos em pares e trios para escrever e reescrever. Escrever era um trabalho longo e muitas vezes doloroso, inevitavelmente, houve divergências e concessões, mas também deu confiança a cada uma e outras assumiram riscos maiores. Em última análise, nós sentimos que o processo do grupo refinou uma clareza, não alcançável por nós individualmente.129 (NAVA apud ASTON, 1999, p. 34, tradução nossa). Apesar das cenas terem sido criadas a partir de improvisações, e já termos um esboço do que seria o nosso texto, nós também tivemos que passar por esse processo difícil para refinar o material. Neste trabalho realizado em grupo, precisamos negociar diversas vezes o que seria cortado e o que seria acrescentado no texto, e, ao mesmo tempo isto era interessante, pois íamos criando e descobrindo outras formas de entender o texto, que, se feito individualmente, teria sido diferente. Juntas, organizamos as cenas, dando começo meio e fim ao texto. Ao final desse primeiro trabalho de refinamento, em dezembro de 2010, Miranda sugeriu que duas mulheres do grupo ficassem encarregadas 128 NAVA, Mica. “Introduction to My Mother Says I Never Should”. In: WANDOR, Michelene (Ed.). Strike While the Iron is Hot. London: Journeyman Press, 1980. Pp. 115-117. 129 “Having decided on the general issues that we wanted to raise, we did a lot of research […].Then we pooled our information, created characters and a plot, improvised, and finally went off in twos and threes to write and rewrite. Writing was a long and often painful business, inevitably there were disagreements and compromises, but we also gave each other confidence and took greater risks. Ultimately we felt that the group process distilled a clarity nor obtainable by us individually.” 125 de realizar o ajuste final. Assim Mattiello e Oliveira, ficaram incumbidas desse processo, sobre o qual falarei mais adiante. Na fase de refinamento do texto nem sempre estavam todas presentes, sendo um momento de participação flutuante, gerando divergências após o trabalho textual estar mais apurado. Isso por que o resultado do trabalho de mesa, tão importante quanto o trabalho desenvolvido na “primeira fase” do processo e nas improvisações, não foi visto da mesma forma por quem não esteve presente neste momento. Araújo (2006, p. 129130) faz algumas considerações sobre este ponto: [...] precisamos de atores e diretor que não vejam qualquer proposta de texto materializada numa página impressa de papel como um texto final ou já como um esboço de estrutura, mas, simplesmente, como uma improvisação textual. É muito comum, antes de se ir à cena e experimentar, criticarmos ou prejulgarmos os esboços ou algum tipo de jorro verbal advindos do dramaturgo. É fundamental que o núcleo dos intérpretes e a direção revejam seus conceitos e parâmetros, para que também eles possam abrir-se a um novo tipo de relação com a dramaturgia. Apesar de, em nosso caso, o texto não ter sido um jorro verbal do dramaturgo, mas sim uma criação de todas do grupo, o texto no papel, segundo algumas considerações feitas posteriormente por Silva, não tinha a mesma vida que ele teve durante as improvisações. Surgiu então a questão sobre o valor deste texto escrito, assim como o seu potencial cênico. Ele poderia virar cena novamente, com a mesma energia, a mesma vida que tinha durante as improvisações? Questões que tentamos responder na fase posterior deste processo, na fase de montagem do texto. [...] o enfrentamento das dificuldades inerentes a um texto não deve ser reduzido a uma recusa ou depreciação deste último. Um fragmento dramatúrgico que, numa primeira leitura, pode soar canhestro ou mal escrito, à medida que o vamos “mastigando” e nos apropriando dele, pode revelar surpresas ou possibilidades não imaginadas. (ARAÚJO, 2006, p. 130). Portanto era preciso entender o texto não como um material acabado, mas uma base que dava possibilidade para muitas experimentações e transformações. Talvez isso gerasse angústia, por parecer que nunca teríamos um texto “pronto.” Por alguns momentos durante o processo, o desejo era de já ter um texto pronto, acabado, apenas para montá-lo, dada as dificuldades deste tipo de procedimento. O fato de termos criado um material diferente dos textos dramáticos tradicionais, pode ser a explicação mais adequada para a desvalorização, por nós mesmas, do que criamos, gerando dúvidas em 126 pessoas do grupo sobre a adequabilidade deste material, seu potencial cênico e sua riqueza. Como diz o dito popular: a grama do vizinho sempre parece ser mais verde. O fato é que precisávamos dar continuidade ao que iniciamos e testar o material criado. Assim, tentamos organizar o texto, dando à ele uma lógica linear, a qual estamos todas imbuídas, e é difícil se libertar. Para nós, foi difícil desconstruir a narrativa linear convencional, pois fomos formadas dentro desse tipo de narrativa. Tivemos também a necessidade de compreender o que estávamos fazendo dentro de um pensamento lógico e racional, pois foi assim que aprendemos a perceber. Como desconstruir esses padrões impostos pela ideologia dominante? Love (2002), no artigo Resisting the ‘organic’ – A feminist actor´s approach, já citado no Capítulo 1, faz perguntas parecidas sobre o seu trabalho como atriz. Inspirada por suas indagações, as reformulo, com um olhar voltado para a questão da criação dramatúrgica: como desconstruir o que aprendemos de uma atuação naturalista que busca uma “verdade” cênica, e como desconstruir isso na criação da dramaturgia que vem de exercícios de improvisação, onde o corpo da atriz que está em cena foi formado também dentro deste tipo de atuação naturalista, criando papéis que vinham de uma dramaturgia predominantemente masculina? Love (2002) escreve sobre a devoção de Constantin Stanislavski ao texto, devoção essa que nos foi transmitida durante nosso aprendizado. Na tentativa de criar uma dramaturgia colaborativa feminista, chegamos a um texto. O quanto devíamos nos prender a ele? Teria sido necessário chegar a um texto? Será que precisaríamos contar uma história em nossa dramaturgia? Como nos desprender dessa necessidade de representar tramas e histórias? Precisamos contar uma história para colocar em cena os assuntos sobre o quais queremos falar? São apenas algumas questões que emergem no decorrer desta escrita. Ao final do segundo semestre de trabalho, em dezembro de 2010, Miranda sugeriu que Mattiello e Oliveira ficassem incumbidas de fazer a finalização do texto, ou seja, que realizassem os últimos ajustes. Senti vontade de também participar deste processo, afinal minha pesquisa é justamente sobre esse processo de criação. Mas, compreendi que poderia ser interessante ver como esse texto se transformaria nas mãos de duas mulheres do grupo. Durante o processo de escrita coletiva, aquele no qual juntas cortamos partes do texto transcrito a partir das improvisações, o processo foi mais lento devido a diversidade de opiniões, apegos e discordâncias. Assim, a objetividade 127 necessária para otimizar o tempo de trabalho, não existiu. Portanto, apenas duas mulheres trabalhando juntas, aceleraria este processo. Mas, realiza-lo coletivamente, parece ser mais rico, pois uma quantidade maior de discussões é colocada na mesa, encorpando o texto e a argumentação. 3.4.2 O texto de volta à cena Ao final dos nossos dois meses de férias, a tarefa a qual Oliveira e Mattiello ficaram encarregadas, não havia sido executada. A ideia era que ao retomarmos nossos ensaios em março de 2011, o texto já estivesse pronto para que pudéssemos finalmente montar a nossa tão esperada peça. Sem o texto pronto, Miranda decidiu executar esta tarefa para a primeira cena, e sugeriu que cada uma de nós fizesse o mesmo com as outras cenas. No inicio dos ensaios, enquanto realizávamos nossas práticas de exercícios físicos, Miranda ficava, com seu texto na mão, fazendo os cortes na cena. Neste momento, nada foi acrescentado ao texto que já tínhamos, apenas foram cortadas as sobras, deixando o texto mais sucinto, e transformando muitas das palavras em ações. Após o nosso aquecimento, já tínhamos uma parte do texto, e já podíamos testá-lo em cena, verificando a eficiência dos cortes e também retirando outras partes que percebíamos sobrar em cena. Assim, ao final de quatro ensaios, já tínhamos o texto da primeira cena cortado e ensaiado. Fizemos o mesmo com as outras cenas, e nesta fase de ensaios, percebi o longo caminho até o texto ficar quase pronto, pois a cada ensaio sempre tinha falas para mudar de lugar, para ser acrescentada ou suprimida, e trocada da boca de uma personagem para outra. Neste período de ensaios, Martins acompanhou nosso trabalho voltando sua atenção para o repertório sonoro, nos ajudando a pensar nos sons da cena. A mesma também compôs canções a partir da história que criamos, as quais, depois de gravadas na voz de Luana Tavano Garcia, fizeram parte do espetáculo, compondo a dramaturgia final. O texto criado nas improvisações e lapidado no trabalho de mesa forneceu uma base para a criação das cenas, sendo que o texto, até a última apresentação do espetáculo, nunca esteve completamente pronto. Com o texto escrito, e o espetáculo já estruturado, novas questões brotavam. Um texto transcrito a partir de uma improvisação pode ser considerado dramaturgia? O que queremos falar com esse trabalho? Que mensagens queremos transmitir? Quais os nossos objetivos? Qual a nossa crítica? São 128 perguntas que deveríamos ter feito antes? O público consegue “entender” a história que contamos? Será que está clara a relação entre as personagens? 3.4.3 O vídeo do casamento A ideia para a cena final, a do casamento, foi fazê-la em vídeo, como se o filme do casamento entre elas saísse de dentro do baú de memórias. E assim o fizemos. Em um dia ensolarado de junho, convocamos alguns amigos e amigas para nos ajudarem nesta produção, tanto atores, que interpretaram os convidados do casamento, quanto cinegrafistas e fotógrafos. 130 Filmamos a cena do casamento no Moçambique, uma praia selvagem de Florianópolis com pouca circulação de pessoas nesta época do ano. Sem querer aludir a uma cerimônia de uma religião específica, criamos um altar com elementos encontrados na própria praia, como troncos secos e flores, e em torno acendemos tochas levadas por nós. Miranda interpretou a sacerdotisa que celebrou o casamento. No lugar de alianças, as duas noivas vestidas de branco trocaram fitas vermelhas. Seus cabelos foram enfeitados com flores e seus pés calçavam tênis vermelhos. Entre os convidados misturavam-se casais heterossexuais e homossexuais. Convém comentar que no vídeo do casamento, quem interpretou o papel de Joana foi Morgana Martins, que era namorada na vida real de Brito, que interpretava Lis. No vídeo também nos preocupamos em mostrar a relação entre as personagens, de modo que justificasse algumas atitudes das personagens durante o espetáculo. A Figura 25 mostra um momento durante a filmagem, quando a sacerdotisa, interpretada por Miranda, celebra o casamento entre Lis e Joana (Brito e Martins). 130 Equipe de criação do vídeo: Filmagem: Claudia Mussi, Renata Swoboda, Priscila Marinho e Marcelo F. de Souza; Edição: Morgana Martins e Claudia Mussi; Fotografia: Roberto Ribeiro; Elenco: Morgana Martins, Lohanny Rezende, Lucas Heymann, Tuany Fagundes, Lucas Ferraza, Helôisa Petry, Oto Henrique, Marcelo F. de Souza, Fábio Yokomizo, Luana Leite, Priscila Marinho, Roberto Ribeiro; Leonardo Brandão, Emanuele Mattiello, Julia Oliveira, Lisa Brito, Priscila Mesquita, Rosimeire da Silva e Maria Brigida de Miranda. 129 Figura 25: Filmagem da cena do casamento entre Joana e Lis. Em cena: Martins e Brito (noivas) e Miranda (sacerdotisa) 3.5 JARDIM DE JOANA: O AMOR ENTRE MULHERES 3.5.1 O espetáculo Jardim de Joana No espetáculo, cinco mulheres se reúnem após o enterro de Joana. Lis, a viúva de Joana, Dália, a irmã de Joana, Margarida e Rosa, amigas de Joana e Lis e Acácia, namorada de Margarida e pesquisadora do trabalho da historiadora Dona Violeta, mãe de Joana e Dália. Neste encontro surgem conflitos familiares, entre Lis e Dália, pois a mãe de Dália, Dona Violeta, mora com Lis, sofre de Alzheimer e a questão que surge é quem ficará com Dona Violeta. Outro conflito é quem ficará com a casa onde Lis mora, e que pertencia à Joana. Como não eram legalmente casadas (na época em que escrevemos o texto, o casamento gay ainda não havia sido legalizado), Dália pretende ficar com a casa. Rosa acabou de se separar do marido devido a uma traição, e chega à casa de Lis para passar uns dias. Entra em conflito com Dália, pois além de Rosa defender o direito da amiga Lis de ficar com a casa, Dália demonstra compreensão no caso da traição de seu pai com relação à Dona Violeta. Acácia e Margarida estão em conflito, pois Acácia fora traída por Margarida, a qual teve uma relação heterossexual e engravidou. 130 Em meio a estes conflitos, memórias pessoais são despertadas ao remexerem em objetos que pertenciam à Joana, momento em que texto e cena fogem do naturalismo, indo para um plano mais onírico. As improvisações da “caixa de Pandora” geraram para o espetáculo esta cena, chamada por nós de “baú de memórias,” e que acontece concomitantemente com um momento de grande tensão, e que Dália (Oliveira) vai embora dizendo que voltará com um advogado para reaver a casa. Lis (Brito) e Margarida (Silva) abrem uma mala deixada por Dália, e que contém objetos que pertenciam à Joana. Na cena Rosa (eu) lê cartas verdadeiras que recebi de minha falecida avó e Lis lê uma carta recebida por Brito de sua namorada. Margarida lê trechos de um livro de Anais Nin e mostra fotos da vida das atrizes e do nosso processo de criação. Enquanto isso, Acácia (Mattiello), como pesquisadora fotografa o que acontece e Lis veste o vestido e o véu de seu casamento. A cena termina com o vídeo do casamento sendo projetado no véu de Lis. Nas figuras a seguir, apresentamos algumas imagens da apresentação realizada no evento Ufsctock, em outubro de 2011131. A Figura 26 mostra o momento no qual as personagens Dália, Margarida e Rosa assustam-se com um som que inicialmente não sabem de onde vem, e a supersticiosa Margarida diz: “Ela (Joana), ainda está por aqui!”. Na Figura 27 Dália e Lis (ao fundo) conversam sobre Dona Violeta, e a pesquisadora Acácia, sempre interessada no que diz respeito à vida de Dona Violeta, pergunta à Dália: “E o seu pai?” A Figura 28, mostra o momento em que Dália, ao falar sobre a traição do pai, diz “Algo que ele não tinha dentro de casa, querida, foi procurar fora”, e Rosa, extremamente contrariada pelo comentário, tenta enforcar Dália, porém é impedida por Margarida e Lis. E finalmente, na Figura 29, vemos o momento em que Dália e Acácia discutem sobre quem vai ficar com a casa, enquanto Rosa e Margarida lêem cartas e Lis veste o vestido de noiva. Uma das falas de Dália durante a discussão, para argumentar que Lis não tem direito nenhum sobre a casa é: “Elas nunca foram casadas! Me dá a certidão desse casamento, que eu quero ver.”, sendo que, na sequência do espetáculo, ao ser projetado o vídeo do casamento, pode-se ver Dália e seu marido, contrariados e deslocados, entre os convidados, o que a faz uma testemunha do enlace que nunca aceitou. 131 As fotos foram tiradas pelo fotógrafo Pedro Caetano, e cedidas por ele para figurar neste trabalho. 131 Figura 26: “Ela ainda está por aqui!”. Em cena: Oliveira (Dália), Silva (Margarida) e Mesquita (Rosa). Foto: Pedro Caetano Figura 27: “E o seu pai?” Em cena: Oliveira (Dália), Mattiello (Acácia) e Brito (Lis). Foto: Pedro Caetano 132 Figura 28: “Algo que ele não tinha dentro de casa, querida, foi procurar fora.” Em cena: Brito (Lis), Mesquita (Rosa), Oliveira (Dália) e Mattiello (Acácia). Foto: Pedro Caetano Figura 29: “Elas nunca foram casadas! Me dá a certidão desse casamento, que eu quero ver.” Em cena, da esquerda para a direita: Oliveira (Dália), Silva (Margarida), Mesquita (Rosa), Brito (Lis), Mattiello (Acácia). Foto: Pedro Caetano 133 Na última versão do espetáculo, ficamos sem a personagem Acácia, devido a saída de Mattiello do grupo em novembro de 2011. Cogitamos a possibilidade de substituir a atriz, convidar outra mulher para fazer a personagem de Mattiello. Concluímos que não faria sentido. Acácia, personagem criada por Mattiello pertencia a ela. Com a vantagem de termos um texto todo escrito por nós, pudemos continuar a brincar com ele, transformá-lo de acordo com nossas necessidades. Assim, decidimos dissolver a personagem Acácia. Sua função na cena, suas ações e falas foram diluídas, suprimidas, redistribuídas, sem que se perdesse o sentido da história. O Anexo contém a última versão do texto Jardim de Joana, sem a personagem Acácia. 3.5.2 As apresentações O grupo realizou seu primeiro ensaio aberto em maio de 2011, em um espaço alternativo de uma pequena cervejaria localizada na chamada “Casa da Floresta.” Apesar da chuva e da trilha escorregadia para chegar até a casa, muitas amigas e amigos se deslocaram até lá. Neste ensaio, ocupamos a sala da casa, onde montamos nosso cenário com os móveis que ali se encontravam, uma vez que a cena se passava realmente em uma sala. Tínhamos a estrutura do espetáculo, mas somente a primeira cena estava marcada. Depois improvisamos a partir de tarefas dadas para cada uma das personagens. O espetáculo Jardim de Joana estreou em 20 de agosto de 2011, no espaço Casa das Máquinas, Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, onde também se apresentou no dia seguinte. 132 Depois da primeira apresentação abrimos o espaço para realizar uma conversa com o público, para falar do nosso processo e para ouvir as reflexões dos espectadores sobre o que apresentamos. Assim, pudemos perceber com maior clareza as lacunas que o nosso trabalho apresentava. Como uma dramaturgia criada em cena, por todas as atrizes, e com tanto envolvimento de todas, chegou um momento em que não conseguíamos mais perceber as falhas e os acertos de nosso próprio trabalho. Ao trocar com o público, as falhas na dramaturgia, tornaram-se evidentes, não só por percebê-los de dentro da cena, mas também depois, ao receber um feedback, daqueles que puderam 132 O vídeo de nossa primeira apresentação, quando Acácia ainda figurava dentre as personagens, pode ser assistido em < http://youtu.be/hi8J6BTmS-E >. A Filmagem feita por Marcelo F. de Souza e cedida pelo mesmo. 134 nos assistir. Para algumas pessoas do público não ficava muito clara a relação entre as personagens. Depois dessas apresentações, o nosso trabalho voltou-se para fazer pequenas alterações no texto, realçar os jogos estabelecidos entre as personagens na cena e criar subtextos, tudo isso na tentativa de deixar clara a relação entre as personagens e torna-las melhores resolvidas para nós mesmas. A dramaturgia criada em cena precisava da troca com o público, pois este também nos ajuda no processo de construção. Mas, nesta fase de repensar o texto e a cena uma das questões levantadas pelo grupo referia-se ao fato do que devemos explicitar na cena e o que podemos deixar somente nas entrelinhas. O que a dramaturgia e a cena precisam revelar para manter o público interessado na história e o que podem deixar em aberto para reflexão? Deixo esta questão para uma posterior investigação. Em 2011 também tivemos a oportunidade de apresentar na mostra cultural da II Semana da diversidade de Florianópolis, no Teatro da UBRO, no mês de setembro, e nos eventos Ufsctock, da UFSC, em outubro e no Bazalada, no Caravana Fusion e Trailer, em dezembro, sendo que este último evento aconteceu em um bar frequentado principalmente por mulheres gays. A última apresentação, no Bazalada, foi sem Miranda na direção e sem Mattiello atuando, e portanto, foi nossa primeira apresentação com esta nova configuração. Já estávamos acostumadas a modificar coisas em todas as apresentações, portanto, não foi difícil para nós trabalhar desta maneira. Até o fim deste relato, não havíamos realizado mais nenhuma apresentação, mas posso adiantar que pelas características deste trabalho, ele estaria aberto a ser modificado sempre. 3.5.3 Algumas reflexões Por que, ao tentarmos fugir de uma escrita canônica, masculina, viemos novamente de encontro à necessidade de se contar uma história, descrever personagens, criar diálogos e conflitos? Quando não nos satisfizemos com o percurso, acredito que tenha sido mais devido à preocupação de ter a aprovação de um olhar externo, do que por que nós não gostássemos deste percurso enquanto um esboço de dramaturgia, uma cena. Ou, segundo Silva, “não tinhamos conhecimento suficiente da teoria da crítica feminista e dos procedimentos do “devised theatre” que nos apoiasse a seguir apostando na ideia do percurso”133. 133 Anotação de Rosimeire da Silva sobre esta dissertação, durante o processo de escrita, em 05 jul. 2011. 135 Em nosso espetáculo, até que ponto subvertemos e até que ponto reafirmamos as noções dominantes sobre a categoria mulher? “A teoria semiótica feminista tentou descrever e desconstruir o signo de 'mulher', a fim de distinguir a biologia da cultura e a experiência da ideologia” (CASE, 1998, p. 145). Mas, a cultura pode se distinguir da biologia, e a experiência pode estar desvinculada da ideologia? De acordo com Case, a semiótica feminista vê a mulher como um signo, carregado de sentidos. Pergunto, hoje, a mulher enquanto signo, que significados carrega? Ver uma mulher em cena, ao que pode remeter? E como subverter os sentidos que são quase que automaticamente gerados por um pensamento impregnado pela ideologia dominante? Como modificar a nossa percepção para que possamos transgredir e ir além do que já está estabelecido ao fazer e ao receber o teatro? Como através da subversão do próprio conteúdo podemos ir além das formas estabelecidas como “certas”? Existe certo e errado no fazer teatral? Durante uma comunicação oral realizada na III Jornada latino-americana de Estudos Teatrais134, em Blumenau, na qual eu e Silva compartilhávamos parte de nosso processo de pesquisa no grupo, contamos sobre o nosso procedimento com os novelos de lã, nos quais enrolávamos fragmentos de histórias por nós escritas. Um dos ouvintes comentou após a nossa comunicação, que isso era “coisa de mulherzinha”. O comentário do colega me faz refletir, que de acordo com o que o senso comum pensa sobre as categorias mulher/ homem, isso realmente era “coisa de mulherzinha”, pois dificilmente um grupo com homens faria esse tipo de procedimento com os novelos, mas isso não significa que não pudessem fazê-lo. E, se o fizessem talvez descontruíssem a visão que se tem sobre o gênero masculino (tente imaginar cinco homens fortes e másculos enrolando novelos de lã, ou então cinco mulheres de salto e maquiagem fazendo massa de cimento). Assim, a escolha dos estímulos textuais, os materiais que utilizamos, como por exemplo, a lã, o treinamento psicofísico conduzido por uma mulher, e tantos outros elementos que remetem ao universo feminino que estiveram presentes durante o processo, nos leva a ter como resultado um determinado “produto” criativo, e não outro. Este produto, todo feito com nossas mãos, mãos de mulheres, 134 Mesquita, Priscila de A. S. & Silva, Rosimeire da. O Feminino em Cena: Diálogo sobre um processo de criação. Comunicação apresentada na III Jornada Latino-Americana de Estudos Teatrais, na FURB/ Blumenau, em Julho de 2010. 136 mulheres diferentes, será oferecido a quem? A quem agradará? A quem fará pensar? E o que transformará? A busca de construir o próprio texto e espetáculo era sustentada também pela ideia de dirigir nosso espetáculo para outras mulheres. Porém, no decorrer do processo me pareceu que inconscientemente o grupo era impelido a criar um espetáculo direcionado ao que Dolan (1991) categoriza como “espectador ideal”. No capítulo The discourse of feminisms: The spectator and representation sobre a crítica feminista de atuação, Dolan discorre sobre o teatro norte-americano e propõe o termo “ideal spectator”, que significa “espectador ideal”, para definir aquele espectador que, “historicamente, na cultura norte americana, [...] é assumidamente branco, de classe média, heterossexual, e homem” 135 (1991, p, 1). Trata-se de uma discussão sobre imaginário e representação de e para um público alvo que raramente corresponde a multiplicidade dos espectadores que compõem uma plateia. Apesar de definir o “espectador ideal” dentro do contexto norte-americano, acredito que esta definição possa servir ao contexto do teatro comercial brasileiro. Dolan (1991) afirma que na tradição do teatro ilusionista, onde atores e espectadores estão separados pela quarta parede, e onde a luz cega os atores, o público torna-se anônimo, visto pelos atores como uma massa única, na qual as diferenças entre cada espectador é ignorada. Segundo a autora, a crítica feminista da atuação visa desnaturalizar a ideologia dominante, expondo como esta é perpetuada pelos modos de representação dirigidos a um “espectador ideal”. Não ir de encontro ao “espectador ideal”, significa não ignorar a diferença entre cada espectador. No grupo (Em) Companhia de Mulheres, enquanto criávamos nossa dramaturgia, era necessário ter claro a quem queríamos falar. Tratava-se de uma delimitação de tema não somente a partir do que queríamos dizer, mas também, para quem. Estarmos conscientes para quem queríamos direcionar nosso espetáculo, ajudaria na forma como tratar o tema escolhido no palco. Acredito que se a nossa intenção fosse agradar ao “espectador ideal” definido por Dolan, nossas opções tanto à forma quanto ao conteúdo, teriam sido diferentes. Mesmo o grupo não tendo conversado claramente sobre quem seria o público alvo, eu percebia que a nossa produção estava evocando 135 “historically, in North American culture, this spectator has been assumed to be white, middle-class, heterosexual, and male.” (Tradução Luana Tavano Garcia. Não publicada). 137 outras mulheres e não o “espectador ideal”. Mas, se não paramos para pensar sobre isso, corremos o risco de direcionar nosso trabalho para esse tipo de espectador, pois fomos formadas dentro desta tradição. E na verdade, passamos por um conflito, quando já tínhamos o esboço de nosso texto dramático, pois seu valor foi questionado dentro do próprio grupo, pois este não parecia se enquadrar dentro de algum padrão estético conhecido por nós. A despeito deste estranhamento em relação ao texto, quando começamos a construir as cenas do espetáculo, e a desenhar as personagens, falas e movimentos cênicos, começamos a perceber dentro do espetáculo a multiplicidade das formas de interpretação convivendo dentro de um mesmo espaço. Enquanto Brito conduzia sua atuação por um caminho mais naturalista, Oliveira trazia elementos cômicos, Mattiello uma mistura de clown e naturalismo e Silva um trabalho corporal muito forte, com movimentações grandes e mais desenhadas. Esses diferentes estilos de interpretação conforme iam aparecendo nas improvisações e ensaios, também eram estimulados por Miranda, no sentido de que fossem realçados, a ponto de se perceber esses diferentes estilos convivendo dentro de um mesmo espetáculo. Ainda que abordássemos um tema considerado polêmico como o casamento entre mulheres, me parece que a forma a ser apresentada no palco deveria ser o mais de acordo possível com as formas tradicionais. Se questões relativas às mulheres tendem a ser rechaçados pelo “espectador ideal,” por não serem considerados “universais,” a questão tende a se agravar quando falamos sobre o relacionamento entre duas mulheres. Mais de trinta anos se passaram desde que este tópico foi incorporado pela agenda feminista, mas, apesar disso, ele precisa constar nas discussões de hoje, pois continuam a gerar polêmicas e opiniões controversas e preconceituosas que ferem o direito das mulheres. Como um exemplo bem atual que demonstra a falta de informação e o preconceito que ainda permeiam a nossa sociedade, cito um dia em que estava em uma aula de inglês e que deveríamos conversar em inglês sobre alguns tópicos, perguntando a opinião dos colegas sobre determinadas questões. Perguntei ao meu colega o que ele achava de um casal homossexual beijar-se em público, e ele me respondeu que era contra. Curiosa, perguntei por que ele era contra, e então ele me respondeu que este ato seria um mau exemplo para as crianças. Na mesma época, o então deputado Jair Bolsonaro gerou polêmicas ao responder em um programa de televisão o que faria se tivesse um filho gay. Segundo sua resposta: “Isso nem passa pela minha cabeça. Se tiver 138 uma boa educação e um pai presente, eu não corro esse risco.” 136 Em resposta ao deputado, cerca de 150 pessoas137 de Florianópolis participaram da performance “Um Beijo a Bolsonaro”, que propunha o encontro de casais homossexuais, brancos e negros para, ao badalar dos sinos às 18h do dia 13 de maio de 2011, beijarem-se ao mesmo tempo em frente à Catedral de Florianópolis, um dos cartões postais da cidade. 138 Curiosamente os sinos não soaram neste dia. Tais fatos, ocorridos enquanto desenvolvia esta pesquisa, mostra o quanto ainda temos que abordar este assunto para desmistificar o relacionamento homoafetivo. E é isso que Jardim de Joana se propõe a fazer. Fala do amor e da amizade entre mulheres, mostra as relações familiares e os conflitos gerados pelo preconceito. A história criada por nosso grupo me parece circular e não linear. Ela começa no tempo presente, recorre diversas vezes à memória e a cena final faz parte do passado. Sendo que esse passado é visto de uma forma positiva, como uma conquista da mulher de poder escolher com quem vai casar, e ter o direito igual aos casais heterossexuais de celebrar e legitimar seu enlace. Apesar da morte da cônjuge, o momento do casamento é relembrado com alegria, a dor da morte pode ser mais facilmente superada. O trabalho criado pelo grupo (Em) Companhia de Mulheres não representa mulheres enquanto um grupo homogêneo, pois, dentro de nosso próprio grupo, apesar de semelhanças, como por exemplo, o fato de sermos todas mulheres e universitárias, existe diferenças de classe, idade e opção sexual, o que faz com que nossas experiências sejam diferentes. E se pretendêssemos direcionar o trabalho a mulheres enquanto um grupo homogêneo, correríamos o risco de cair no “universal masculino” às avessas e naquele mesmo pressuposto essencialista que permeou nosso trabalho no inicio do processo, mas que amadureceu no decorrer de nossas pesquisas. A noção de diferenças dentro da categoria mulher, já discutida no Capítulo 2, pode ser reforçada pela citação abaixo da filósofa Teresa de Lauretis139 apud Dolan (1991, p. 9): Novamente vejo uma mudança [...] dentro do entendimento feminista de subjetividade: uma mudança da visão prévia de mulher definida 136 O vídeo com as declarações do deputado encontra-se disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=UrLpLXe-q08 >. Acesso em 10 dez. 2011. 137 Fonte: < http://www.revistanaipe.com.br/naipe-na-rua/17-naipe-na-rua/437-um-beijo-a-bolsonaro >. Acesso em 28 mar. 2012. 138 O convite para a performance encontra-se disponível em: < http://umbeijoabolsonaro.blogspot.com.br/ >. Acesso em 28 mar. 2012. 139 DE LAURETIS, Teresa. “Issues, Terms, Contexts”. In: DE LAURETIS, Teresa (ed.). Feminist Studies/ Critical Studies. Bloomington: Indiana University Press, 1986. 139 somente por diferenças sexuais para uma mais difícil e complexa noção que o sujeito feminino é um lugar de diferença; diferenças que não são somente sexuais, ou somente raciais, econômicas ou (sub) culturais, mas todas estas juntas, e muitas vezes em confronto umas com as outras. 140 Ampliando esta discussão a partir do que Jacques Rancière aborda em seu texto O espectador emancipado (2010), parece um tanto pretensioso querer que nosso espetáculo diga a mesma coisa para mulheres diferentes. Nem o teatro tradicional dirigido ao “espectador ideal”, nem um teatro que se pretende alternativo a esta corrente, dará conta da multiplicidade que compõe uma plateia. Assim como o “espectador ideal” é colocado dentro de uma mesma massa homogênea, corre-se o risco de fazer o mesmo quando pretendemos direcionar o trabalho para outras mulheres, pois isto poderia corresponder também a uma unidade que não é verdadeira. Mas que também é. Se formos considerar apenas o fator biológico, podemos falar em um grupo, o de mulheres, mas como ressalta Lauretis, é preciso considerar as diferenças que estão além do fator biológico. Como escreve Rancière (2010), o que torna os espectadores uma comunidade, pessoas em comum, é o fato de que todos têm a capacidade de associar e dissociar, interpretar, e fazer a sua própria poesia a partir do que vê, e depois fazer o que bem entender disso em suas vidas. A pressuposição do que o “teatro” significa sempre corre na frente da cena e prediz seus efeitos reais. Mas, num teatro, ou diante de um espetáculo, assim como num museu, numa escola, ou na rua, existem apenas indivíduos, abrindo seu próprio caminho através da floresta de palavras e coisas que se colocam diante deles ou em volta deles. O poder coletivo comum a estes espectadores não é o status de membro de um corpo coletivo. E também não é um tipo peculiar de interatividade. É o poder de traduzir do seu próprio modo aquilo que eles estão vendo. É o poder de conectar o que veem com a aventura intelectual que faz com que qualquer um seja parecido com qualquer outro, desde que o caminho dele ou dela não se pareça com o de mais ninguém. O poder comum é o poder da igualdade de inteligências. Este poder une os indivíduos na mesma medida em que os mantém separados uns dos outros; é o poder que cada um de nós possui na mesma proporção para abrirmos nosso próprio caminho no mundo. (RANCIÈRE, 2010, p. 118). A crítica de Dolan (1991) ao teatro americano dominado pela tradição ilusionista, o qual é dirigido ao que a autora cunha de “espectador ideal” aborda o problema desta forma para o público feminino, no sentido de que estes espetáculos normalmente não 140 “Again I see a shift... in the feminist understanding of female subjectivity: a shift from the earlier view of woman defined purely by sexual difference (i.e., in relation to man) to the more difficult and complex notion that the female subject is a site of differences; differences that are not only sexual or only racial, economic, or (sub) cultural, but all of these together, and often enough at odds with one another.” 140 são sobre a experiência das mulheres. Deste modo, a espectadora feminista se vê em uma situação onde o que lhe resta é identificar-se com o herói masculino, pois não quer partilhar da experiência das personagens femininas que estão à margem da cena. Deste modo, a espectadora feminista se percebe cúmplice de um sistema que rejeita. A reivindicação se relaciona ao que estes espetáculos falam e para quem. A espectadora feminista reivindica um espetáculo que não mais reproduza e reforce a ideologia dominante, mas que trabalhe contra ela. Pelo fato do grupo (Em) Companhia de Mulheres ser formado apenas por mulheres, trabalhar de um modo que busca modificar as formas mais tradicionais, e valorizar a experiência feminina, já pode ser considerado uma tentativa de subverter o que Dolan chama de ideologia dominante. O resultado do trabalho realizado pelo grupo é apenas uma consequência do modo como o grupo operou. O que posso afirmar hoje, é que para a minha experiência enquanto atriz e pesquisadora fez bastante diferença, ao me mostrar que é possível encontrar caminhos próprios, individualmente e em grupo. Assim como o espectador emancipado, cada uma no grupo faz a sua tradução do que foi ali vivenciado. O que escrevo aqui é a minha, e muito particular. Posso estar apresentando diversos pontos em discordâncias do que as outras participantes perceberam e ao mesmo tempo, ter deixado de lado tantos outros. A preocupação demonstrada em alguns momentos pelo grupo em relação a validade do próprio trabalho se minimiza aqui a partir do texto de Rancière, pois não podemos antecipar o efeito de um espetáculo, porque isto depende também de quem o vê. Artistas, como pesquisadores, constroem o palco onde a manifestação e o efeito das suas habilidades se tornam dúbios na medida em que eles moldam a história de uma nova aventura em um novo idioma. O efeito do idioma não pode ser antecipado. Ele demanda espectadores que são interpretadores ativos, que oferecem suas próprias traduções, que se apropriam da história para eles mesmos e que, finalmente, fazem a sua própria história a partir daquela. Uma comunidade emancipada é, na verdade, uma comunidade de contadores de história e tradutores. (2010, p. 122). Rancière cita o exemplo do livro. Para ele, assim como o livro é uma mediação entre o mestre e o aluno, o espetáculo também o é entre o ator e o espectador. O mestre não pode querer que o aluno entenda o que ele próprio entende daquele livro, mas sim questionar ao aluno quais suas percepções e conclusões do que leu. Do mesmo modo é o espetáculo, como um mediador. A distância a ser atravessada não é entre o que o aluno 141 ignora e o que o mestre conhece, mas sim entre o que o aluno ignora e o que ele pode vir a conhecer. Uma das preocupações do grupo em relação ao espetáculo era saber se o público entenderia a história. No processo de cortar o texto e criar as cenas, cortamos informações consideradas excessivas, e assim, muitas coisas ficavam subentendidas no espetáculo. Não era explicitado por palavras: “estamos voltando de um enterro,” mas as roupas pretas, os óculos escuros, e as “caras de velório” das personagens, tentavam remeter ao luto. E assim era durante todo o espetáculo. As personagens falavam de Joana, a falecida, mas não deixavam claro que a Joana era casada com Lis, sendo somente depois de certo tempo de espetáculo que isto ficava claro. As relações entre as personagens também eram reveladas aos poucos. Muitas dúvidas surgidas no decorrer do processo criativo e na escrita desta dissertação, percebo que surgiram devido ao modo como aprendemos o que é um espetáculo, texto, personagem. Algo que me incomodava até o último dia de apresentação, era o fato de ainda não ter “encontrado” a minha personagem. Eu não sabia exatamente quem ela era, o que ela fazia da vida, sua profissão, idade, todas essas questões que nos ajudam a construir um personagem dentro do método de atuação de Stanislavski. Assim, para cada apresentação eu pensava em uma profissão para ela. Acredito que este desconforto se dava porque eu precisava ter uma personagem “acabada”, completa, para poder interpretá-la bem. Mas o que eu tinha nas mãos era uma personagem cheia de dúvidas. Da mesma forma em relação ao texto, este nunca parecia “acabado”, completo, isso me incomodava e acredito que ao restante do grupo também, pois cobramos de nós mesmas a necessidade de ter as coisas prontas. 142 CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao estudar a teoria teatral feminista, esta esclareceu os incômodos que eu sentia quanto aos textos dramáticos mais disseminados, e o porquê não sentia mais desejo de encená-los. Obtive a confirmação de que tais textos, os chamados clássicos ou canônicos, são em sua maioria escritos por homens e geralmente ignoram a experiência feminina, e eu queria encenar um texto que falasse sobre tal experiência. A quase ausência de dramaturgas explicou-se pelo fato de que historicamente as mulheres foram excluídas do teatro, desde a sua fundação na Grécia Antiga, o que coincidia com a instituição do patriarcado. Sendo que, tal exclusão se agrava ao percebermos que as mulheres que realizaram trabalhos teatrais, foram “enterradas pela história” do teatro, por não se adequarem às normas estabelecidas por um aparato crítico predominantemente masculino. No caso das dramaturgas, quando tratavam de assuntos referentes à mulher e principalmente quando tratavam deste universo posicionando-se claramente como feministas, foram ignoradas, pois os assuntos relacionados à mulher não eram considerados “universais”, e, portanto, não interessavam à maioria. Como vimos, o “universal” é masculino. Parece-nos que poucas mulheres conseguiram alcançar um lugar ao sol na história oficial do teatro, ficando muitas delas destinadas a estudos especializados sobre o teatro feminista ou de mulheres. Faltam publicações em língua portuguesa sobra a teoria teatral feminista, contudo, quando vasculhamos na internet, nos deparamos com diversos artigos que abordam experiências teatrais com mulheres, ou sobre mulheres, e que nem sempre fazem uma referência clara ou direta ao feminismo, mesmo que ali possamos encontrar aspectos feministas. Tais relatos de experiências são tão ricos para nos indicar caminhos para futuros trabalhos, quanto a teoria teatral feminista o é, para refletirmos sobre o que estamos fazendo, nos fornecendo uma gama de argumentações e de estratégias que nos empoderam, no sentido de dar respaldo ao nosso trabalho, para que assim possamos explicar porque estamos fazendo deste modo, e não de outro. E, por estarmos fazendo deste modo, não significa que nosso trabalho seja pior (ou 143 melhor). É apenas o nosso jeito. Por isso, o trabalho das feministas de resgatar as mulheres “enterradas pela história” é tão importante para todas nós. Essas mulheres “enterradas”, pioneiras, nos mostram como com sua força e coragem desafiaram padrões e conseguiram alcançar outras mulheres, ajudando-as a fazer o mesmo. Além disso, mostra-se de fundamental importância a divulgação e circulação de trabalhos atuais voltados para o teatro feminista ou de mulheres, para termos conhecimento do que estamos produzindo hoje. No mais, reivindico que os livros que tratam sobre o teatro feminista sejam traduzidos para a língua portuguesa, para facilitar o nosso acesso a essa linha de pensamento. Ao propor este projeto de pesquisa, objetivei trabalhar em grupos exclusivamente de mulheres, principalmente pelo fato de que, em um grupo com apenas mulheres, pensei que nos sentiríamos mais a vontade para falar sobre o que quiséssemos, ou seja, assuntos relacionados aos interesses de mulheres, considerando as diferenças implícitas dentro desta mesma categoria. Eu já sentia, desde muito tempo, não só no fazer teatral, mas também em outros espaços onde homens estivessem presentes, que ao abordar determinados temas, estes poderiam ser mal interpretadas pelos ouvidos masculinos, isto quando havia espaço para falar. Outras vezes percebia que era melhor manter o silêncio. Nos estudos da teoria teatral feminista pude perceber que esta minha necessidade tinha precedentes, e que inclusive já existia um termo para especificar os espaços de treinamento composto exclusivamente por mulheres, e uma teoria acerca do chamado “espaço ginocêntrico”. Apesar de não ter contemplado os dois grupos de mulheres pretendidos no projeto, a pesquisa cumpriu o proposto ao conseguir criar um texto e um espetáculo, que ultrapassaram as expectativas iniciais. Quando propus uma prática de criação colaborativa com mulheres, pouco conhecia sobre o feminismo e menos ainda sobre a teoria teatral feminista, a qual eu nem ao menos sabia existir. No decorrer da investigação deparei-me com diferentes termos e métodos que se referem às práticas de criação coletivizada, como o “processo colaborativo”, “criação coletiva”, “dramaturgia em processo” e “devised theatre”. Após pesquisar o que significa cada um desses termos, verificando que apesar de parecerem tudo a mesma coisa, trata-se de métodos diferentes, optamos pelo uso do “devised theatre”, pela sua aproximação das práticas de grupos teatrais feministas. 144 Durante o processo aprendi que uma criação apoiada na prática do devised theatre, só pode ser eficiente e realmente empoderador para todas as mulheres envolvidas, se houver uma troca sincera de desejos, dúvidas, desconfortos. A prática do devised theatre, permite que todos se coloquem criativamente, porém, depende não só do grupo, mas da atitude individual. É preciso se posicionar perante o grupo quando não se está satisfeito com algo, quando se deseja ir além de onde está, quando sente que suas ideias não são suficientemente ouvidas. Só assim uma prática deste tipo pode dar certo. Não se pode esperar pelo outro, que o outro adivinhe o que sentimos ou o que pensamos. Se em um processo de devised theatre, aceitamos tudo o que os outros colocam, sem nos posicionarmos, dizendo claramente a nossa opinião, este tipo de processo pode não dar certo e alguém poderá sair ferido. É preciso estar aberto para ouvir o outro e estar disposto a dizer o que sente e pensa, mesmo que isso custe um mal estar. Mas, talvez o mal estar será maior se acumularmos dentro de nós nossos sentimentos, pois em algum momento isso transbordará, reverberando no todo e afetando o trabalho, provavelmente de forma negativa. Há coisas que realmente não precisam ser ditas, como me ensinou um dia a minha mãe, e a fronteira entre o que deve ou não ser dito, é muito tênue. Assim, precisamos aguçar a nossa percepção para saber o que é permitido. Importante também é refletir sobre como essas coisas serão ditas. Há muitas formas de dizer uma mesma coisa, e nem é preciso dizer, que devemos nos esforçar para não ferir ninguém com nossas palavras. Podemos ser sutis, mas ao mesmo tempo diretos. Meias palavras correm o risco de não serem claramente compreendidas. E ser direto não é a mesma coisa que agir grosseiramente. O pessoal só se torna político quando sai da esfera do privado. E para sair da esfera do privado, é necessária coragem de colocar as questões pessoais publicamente, nem que esse público seja inicialmente, um pequeno grupo. Propiciar um ambiente de confiança, promovendo os encontros extra-acadêmicos, e trabalhando inicialmente com os mitos e contos, foram meios que auxiliaram e estimularam que as integrantes compartilhassem suas histórias pessoais, o que acontecia tanto na sala de ensaio durante as improvisações cênicas quanto durante conversas informais. Considerando que o espetáculo Jardim de Joana aliou elementos ficcionais a histórias pessoais em sua criação, gostaria de ter aprofundado nesta pesquisa a questão da utilização de memórias pessoais em um trabalho criativo. Mas isto não foi possível, dada a prioridade que foi preciso destinar a outros aspectos, como por exemplo, traduzir 145 muitos textos da língua inglesa. As histórias pessoais trazidas pelas integrantes do grupo e mescladas à ficção tornaram-se públicas e políticas ao tornarem-se espetáculo. Criar uma história foi uma forma de organizar o que queríamos dizer, sendo que, dentro desta história conseguimos colocar diferentes coisas que cada uma queria dizer. A partir desta experiência percebo que o método encontrado pelo grupo, pode ser inspirador para os mais diferentes grupos, profissionais ou não, que busquem utilizar o teatro como ferramenta social, transformando questões pessoais em ação política de grande alcance. Se uma das buscas do grupo era por uma dramaturgia feminista, acredito que ela foi encontrada, não só por todos os nossos esforços nessa direção, mas principalmente pelo nosso desejo de estar ali juntas nesse objetivo. A palavra mútua existiu desde o início, quando unimos mulheres que já realizavam pesquisas nesta direção, com exceção de Brito, que tinha uma pesquisa voltada para o jogo teatral, sem pensar na questão de gênero, segundo o que ela mesma me disse. Mas ao estar ali conosco, porque Miranda era sua orientadora e sugeriu que assim o fizesse, descobriu e revelou que sua causa era tão feminista quanto das outras envolvidas. Para criar coletivamente, e esta criação atender a todos os desejos, me parece que as pessoas que trabalham juntas precisam ter um desejo parecido, se não igual, e trabalharem em direção à este desejo. Criar uma dramaturgia coletivamente a partir do “zero” foi um processo longo e difícil, mas os resultados, ao olhar para todo o nosso material produzido, percebo como algo extremamente gratificante. Se a intenção era saber como isso acontecia, como se cria uma dramaturgia coletivamente, pude perceber que existem diversos caminhos para isso, e o caminho que escolhemos foi o nosso e naquele momento. Provavelmente, se nos propuséssemos a fazer isso novamente, ainda que com o mesmo grupo, escolheríamos caminhos diferentes. Não existem fórmulas, mas possiblidades múltiplas, e devemos optar. O que cada uma teve oportunidade de levar para o trabalho, certamente contribuiu para o crescimento de todas. Aprendi muito com cada uma dessas mulheres, formas de lidar com o corpo, a importância de termos muito cuidado umas com as outras, com o que fala ou com o que faz, a necessidade de se posicionar e se oferecer para as funções, ou seja, ter atitude. Para mim, sempre foi muito difícil decidir. Ainda é. Às vezes não consigo falar, não consigo opinar, ou saber o que é melhor e tenho medo de fazer uma má escolha. Mas aprendi que é necessário arriscar. Talvez, neste trabalho, 146 não tenha conseguido arriscar o tanto que eu gostaria, mas sinto-me preparada para aventurar-me um pouco mais daqui em diante. Após descrever e analisar todo o percurso traçado pelo grupo (Em) Companhia de Mulheres, ler e reler tantas vezes o que escrevi sobre nosso trabalho, ver as fotos, vídeos, ouvir as gravações de áudio e canções, ler o Jardim de Joana e minhas anotações sobre o processo, o que me vem ao coração é um imenso sentimento de carinho por esse trabalho e por todas as mulheres que estiveram juntas neste projeto. Sem elas, nada disso teria acontecido. 147 REFERÊNCIAS Livros ANDRADE, Ana Lúcia Vieira. Margem e Centro: A dramaturgia de Leilah Assunção, Maria Adelaide Amaral e Ísis Baião. São Paulo: Perspectiva; Rio de Janeiro: UNIRIO: Capes-RJ, 2006. ARAÚJO, Laura Castro e GOMES, André Luís. “A personagem feminina na dramaturgia brasileira contemporânea”. In: __________ (Org.). Dramaturgia e Teatro: Intersecções. EdUFAL: Maceió. 2008. Pp. 69-100. ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. ASTON, Elaine. An Introduction to Feminism and Theatre. London/ New York: Routledge, 1995. _____________. Feminist Practice: A Handbook. Routledge: London/ New York, 1999. BARRY, Peter. “Feminist Criticism”. In: _________. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester e New York: Manchester University Press, 2002. Pp. 121-138. BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. BOLEN, Jean Shinoda. As Deusas e a Mulher: Nova Psicologia das Mulheres. São Paulo: Edições Paulinas, 1990. BRANDÃO, Junito de Souza. Teatro Grego: Tragédia e Comédia. Petrópolis: Vozes, 1984. BRUTEAU, Beatrice. “A deusa desconhecida”. IN: NICHOLSON, Shirlei (Org.). O novo despertar da Deusa: o princípio feminino hoje. Rio de janeiro: Rocco, 1993. Pp. 82-93. CAMPBELL, Joseph. “A dádiva da deusa.” In. ______. O Poder do Mito. São Paulo: Palas Athena, 1990. CARVALHO, Sérgio de. “Conversa sobre as virtudes do processo colaborativo”. In: ______. Introdução ao teatro dialético: experimentos da Companhia do Latão. São Paulo: Expressão Popular, 2009a. Pp. 67-74. ____________________. “Conversa sobre os equívocos do processo colaborativo”. In: ______. Introdução ao teatro dialético: experimentos da Companhia do Latão. São Paulo: Expressão Popular, 2009b. Pp. 75-78. CASE, Sue-Ellen. “Towards a new poetics”. In: GOODMAN, Lizbeth; DE GAY, Jane (Org.). The Routledge Reader in Gender and Performance. New York and London: Routledge, 1998. Pp. 143 – 148. 148 CUNHA, Antônio G. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. DOLAN, Jill. “New Intro”. Reissue, The feminist Spectator as Critic. 03 mai 2011. No prelo. ___________. The feminist Spectator as Critic. Michigan: University of Michigan Press, 1991. ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. ESTÉS, Clarissa Pínkola. Mulheres que correm com os lobos: Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. FAUR, Mirella. O anuário da grande mãe: Guia prático de rituais para celebrar a Deusa. São Paulo: Gaia, 2001. FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. GOODMAN, Lizbeth. “Common working methods of feminist theatres”. In: ______. Contemporary feminist theatres: To each her own. London: Routledge, 1993. Pp. 88113. GOODMAN, Lizbeth. “Contemporary feminist theatres”. In: ______. Contemporary feminist theatres: To each her own. London: Routledge, 1993. Pp. 14-37. HEDDON, Deirdre; MILLING, Jane. Devising Performance: a critical history. Palgrave Macmillan, New York: 2006. JUNG, Carl G. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1964. LEHMANN, Hans-Thies. Teatro pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007. LOVE, Lauren. “Resisting the ‘organic’ – A feminist actor´s approach”. In: ZARRILLI, Phillip B. Acting (Re) Considered: A Theoretical and practical guide. London/ New York: Routledge, 2002. Pp. 277-290. MARTIN, Carol (Org.). A Sourcebook of Feminist Theatre and Performance: On and Beyond the Stage. London/ New York: Routledge, 1996. MIRANDA, Maria Brigida de. Playful Training: Towards Capoeira in the Physical Training of Actors. Saarbrücken: LAP, 2010. ODDEY, Alison. “Devising (Women’s) Theatre as meeting the needs of changing times”. In: GOODMAN, Lizbeth; DE GAY, Jane (Org.). The Routledge Reader in Gender and Performance. New York and London: Routledge, 1998. Pp. 118-124. Tradução de Priscila de Azevedo Souza Mesquita e Rosimeire da Silva. Não publicada. _____________. Devising theatre: a practical and theoretical handbook. London: Routledge, 1994. 149 PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008. PISCITELLI, Adriana. “Re-criando a (categoria) mulher”. In: ALGRANTI, Leila Mezan. (Org.). A prática feminista e o conceito de gênero. Campinas: IFCH/UNICAMP, 2002, v. 48, p. 7-42. Disponível em: <http://www.pagu.unicamp.br/sites/www.pagu.unicamp.br/files/Adriana01.pdf> Acesso em: 20 ago. 2011. Aqui foi utilizada a numeração do arquivo em PDF. SANDER, Lucia V. Susan e eu: ensaios críticos e autocríticos sobre o teatro de Susan Glaspell. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2007. SCHIAVO, Marcio R.; MOREIRA, Eliesio N. Glossário Social. Rio de Janeiro: Comunicarte, 2004. Disponível em: <http://www.comunicarte.com.br/sitecomunicarte/downloads/glossario-social.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2011. SPOLIN, Viola. Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin. São Paulo: Perspectiva, 2006. VINCENZO, Elza Cunha de. Um teatro da mulher: dramaturgia feminina no palco brasileiro contemporâneo. São Paulo: Perspectiva: EDUSP, 1992. Artigos, Periódicos e Anais ARAÚJO, Antônio. “O processo colaborativo no Teatro da Vertigem”. Revista Sala Preta, São Paulo, n. 6, p. 127-133, 2006. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/salapreta/PDF06/SP06_015.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2010. BAQUERO, Marcello ; BAQUERO, R. V. A. ; KEIL, Ivete . Para além de Capital Social juventude, empoderamento e cidadania. In: III Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional, Santa Cruz do Sul, 2006. Disponível em: <http://www.capitalsocialsul.com.br/capitalsocialsul/desenvolvimentoregional/Grupo% 202/18.pdf>. Acesso em: 31 dez 2011. CASE, Sue-Ellen. “Classic Drag: The Greek Creation of Female Parts”. Theatre Journal, n. 37, pp. 317-327, 1985. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/3206851 >. Acesso em: 07 jun. 2011 CIXOUS, Hélène. “The laugh of the Medusa”. Signs, v. 1, n. 4, p. 875-893, summer 1976. Publicado por The University of Chicago Press. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/3173239>. Acesso em: 07 jun. 2011. DUNDJEROVIC, Aleksandar Sasha. “É um processo coletivo ou colaborativo? Descobrindo Lepage no Brasil”. Revista Sala Preta, São Paulo, n. 7, p. 153-165, 2007. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/salapreta/PDF07/SP07_018.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2010. GARCIA, Luana Tavano; MIRANDA, Maria Brigida de. “Women's experimental theatre e Monstrous regiment : duas representações de teatros feministas da década de 1970”. DAPesquisa: Revista de Investigação em Artes, Florianópolis, v.3, n.1, ago.2007/ jul.2008. Disponível em: <http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume3/numero1/cenicas.htm>. Acesso em: 27 ago. 2010. 150 HANISCH, Carol. “Introduction”. In: ______. The personal is political. 2006a. Disponível em: <http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PersonalisPol.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2011. ________________. The personal is political. 1969b. Disponível em: <http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PersonalisPol.pdf> Acesso em: 17 ago. 2011. HOROCHOVSKI, Rodrigo R.; MEIRELLES, Giselle. “Problematizando o conceito de empoderamento”. In: SEMINÁRIO NACIONAL MOVIMENTOS SOCIAIS, PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA, 2, 2007, Florianópolis. Anais do II Seminário nacional movimentos sociais, participação e democracia. Florianópolis, UFSC, 2007. p. 485-506. Disponível em: <http://www.sociologia.ufsc.br/npms/rodrigo_horochovski_meirelles.pdf>. Acesso em: 31 dez. 2011. LEHMANN, Hans-Thies. “Just a word on a page and there is drama. Anmerkungen zum Text im postdramatischen Theater”. In: ARNOLD, H. L. (Ed.), Text und Kritik. v. XI/04, p. 26- 33, 2004. Tradução de Stephan Baumgärtel. Não publicada. MATOS, Lara Tatiane de; MIRANDA, Maria Brigida de. “Teatro Feminista no Brasil: Loucas de Pedra Lilás”. DAPesquisa: Revista de Investigação em Artes, Florianópolis, v.3, n.1, ago.2007/ jul.2008. Disponível em: <http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume3/numero1/cenicas/lara_brigida.p df>. Acesso em: 12 ago. 2010. MENEGHEL, S. N.; BARBIANI, R.; BRENER, C.; TEIXEIRA, G.; STTEFEN, H.; SILVA, L. B.; ROSA, M. D.; BALLE, R.; BRITO, S. G. R.; RAMÃO, S. “Cotidiano ritualizado: grupos de mulheres no enfrentamento à violência de gênero”. Ciência e saúde coletiva, v.10, n.1 - Rio de Janeiro, Jan./Mar. 2005. Disponível em: <http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S141381232005000100018&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 10 out. 2009. MESQUITA, Priscila de A. S.; SILVA, Rosimeire da. “O Feminino em Cena: Diálogo sobre um processo de criação.” Comunicação apresentada na III Jornada LatinoAmericana de Estudos Teatrais, Blumenau: FURB, 2010. Não publicada. MIRANDA, Maria Brigida de. “Das ‘aflições femininas’; ervas, poções e sangrias: a representação de curandeiras e médicos no espetáculo Vinegar Tom”. DAPesquisa: Revista de Investigação em Artes, Florianópolis, v.4, n.1, ago. 2008/ jul.2009. Disponível em: < http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume4/numero1/cenicas/provisorias/arti go%20Brigida%20de%20miranda.pdf >. Acesso em: 7 set. 2010. MIRANDA, Maria Brigida de. “Teatro Feminista: da pesquisa à sala de aula”. DAPesquisa: Revista de Investigação em Artes, Florianópolis, v.3, n.1, ago.2007/ jul.2008. Disponível em: <http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume3/numero1/cenicas/prof_brigida. pdf >. Acesso em: 27 ago. 2010. 151 MUSSI, Cláudia; MIRANDA, Maria Brigida de. “As canções de Vinegar Tom: uma releitura contemporânea da música na obra de Brecht”. DAPesquisa: Revista de Investigação em Artes, Florianópolis, v.3, n.1, ago.2007/ jul.2008. Disponível em: <http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume3/numero1/cenicas/claudia_brigi da.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2010. RANCIÈRE, Jacques. “O espectador emancipado”. Revista Urdimento, Florianópolis, v. 1, n. 15, p. 107-122, out. 2010. SOUTO-MAIOR, Valéria Andrade. “A intuição feminista do agitprop no Teatro brasileiro em fins do século XIX.” Revista Estudos Feministas, Florianópolis/ Rio de Janeiro, CFH/ UFSC, IFCS/ UFRJ, n. 2, p. 275-289, 1997. TCCs, Dissertações e Teses GARCIA, Luana T. Teatro Feminista: uma abordagem sobre as teorias, as práticas e as experiências. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em artes cênicas), UDESC: Florianópolis, 2008. Disponível em: <http://www.pergamumweb.udesc.br/dadosbu/000000/00000000000B/00000B2D.pdf >. Acesso em: 20 set. 2010. MATOS, Lara Tatiane de. Aspectos feministas em produções teatrais: análise de três casos brasileiros. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Artes Cênicas), UDESC: Florianópolis, 2008. Disponível em: < http://www.pergamumweb.udesc.br/dados-bu/000000/000000000009/000009ED.pdf >. Acesso em: 25 fev. 2012. ROMANO, Lucia R. V. De quem é esse corpo? - a performatividade do feminino no teatro contemporâneo. Tese (Doutorado em Artes Cênicas). DAC/ ECA/ USP: São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27156/tde25102010-162044/pt-br.php >. Acesso em: 21 nov. 2011. SILVA, Rosimeire da. O treinamento psicofísico em busca da corporeidade feminina. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Artes Cênicas). UDESC: Florianópolis, 2006. Disponível em: < http://www.pergamumweb.udesc.br/dadosbu/000000/000000000004/00000439.pdf >. Acesso em: 16 ago. 2011. 152 ANEXO - JARDIM DE JOANA (TEXTO DRAMÁTICO) Autoras: Emanuele Mattiello, Julia Oliveira, Lisa Brito, Maria Brigida de Miranda, Priscila Mesquita e Rosimeire da Silva “Cheiro de flor, sem flor, é cheiro de morte.” Lisa Brito Personagens: Joana – A morta. Virginiana, tem cuidado com as coisas materiais, sociável, jornalista. Boêmia. Dália – Irmã de Joana. Já fez um aborto influenciada pelo marido. Quer vender a casa de Joana para comprar sua própria casa e ter um filho. É secretária do Sindicato dos metalúrgicos onde o marido trabalha. Lis – Namorada de Joana. Vive o luto. Lembranças de Joana. Relação de afetividade com todos na cena. Está na dúvida se coloca a sogra num asilo. Adora coisas que alterem sua percepção: floral, remédios, bebida, baseado. Rosa – Amiga. Conciliadora. Sempre pronta para ajudar e apaziguar a situação. Tem um senso de humor mórbido. Sente prazer em deixar a casa limpa e servir aos outros. Não concorda com o asilo. Está se separando. Margarida – Pesquisadora, escritora, macumbeira. Taurina. Não gosta de Dália, pois sabe de algo obscuro de seu passado, relacionado à mãe, Dona Violeta. Preocupada com as memórias. Dª Violeta – Mãe de Joana e Dália. Cheia de histórias. Confunde a realidade com a ficção. Tem alzheimer. Divertida, muito viva, bonita, vaidosa. Anda maquiada e bem vestida. Do tipo que roda a baiana. Boêmia. Mãezona. Relação de mãe com a nora. Tem uma risada gostosa. Acha que é Asja Lacis, amante de Walter Benjamin. Metal Pesado (Qual?) - Marido de Dália. Metalúrgico e líder sindical. Expansivo, tem uma presença forte. Lírio – Pai de Dália e Joana. Walter – Amante de D. Violeta. Sugestão de figurino: Todas as personagens usam sapatos vermelhos. 153 JARDIM DE JOANA Cena 1 – O Enterro Blackout. Lis abre a porta e acende a luz. Uma sala vazia. Atrás de Lis entram, Margarida, Dália e Rosa, todas carregando malas. Todas de óculos escuros, chegando de um enterro. Lis vai até o centro da sala, se dá conta do espaço vazio, abre sua mala, tira um tapete roxo de dentro, sacode e o coloca no centro da sala. Em seguida, tira de dentro da mala um par de sapatos vermelhos e o coloca sobre o tapete. Olha desolada para o par de sapatos e em seguida olha para a amiga Margarida, como quem pede ajuda. Margarida vai a até Lis, coloca sua mala no chão, põe Lis sentada sobre o tapete e então se senta sobre a própria mala, atrás de Lis, com a mão nos ombros da amiga. Dália entra na sala, avaliando o ambiente. Rosa fecha a porta, vai até o centro da sala, coloca sua mala ao lado da mala de Margarida e retira um banco de dentro da mala. Coloca o banco ao lado de Margarida para que Dália se sente. Dália se senta. Rosa retira outro banco de dentro da mala, o coloca ao lado de Lis, senta-se e respira profundamente. Permanecem 12 segundos imóveis e em profundo silêncio. Dália abre a mala e tira um saco de pipocas Bilú, come a primeira pipoca e todas olham. Quando come a segunda pipoca, Rosa tira da bolsa, lentamente um floral, e oferece à Lis, mas ela pega, lê o rótulo e passa para Margarida. Margarida toma e depois passa para Dália, que também toma. Rosa tira outro floral da bolsa e as mesmas ações se repetem. Rosa então tira um cigarro, ameaça fumá-lo, mas então o coloca na boca de Lis e o acende. Margarida, visivelmente brava, pois Lis havia parado de fumar, retira o cigarro da boca de Lis e o passa à Dália, que fuma. Rosa, sem saber mais o que fazer, tira uma caixinha de balinhas “Tic-Tac” da bolsa, a sacode animadamente e oferece para Lis. Lis pega a caixinha de balas e, com as mãos tremendo, segura por uns instantes o “Tic-Tac”. Lis – (levantando-se, com o “tic-tac” na mão) Café? Rosa – Ah, café! Margarida – Chá? Lis – (verifica que não há gás) O gás. Margarida – (corre para ajudar Lis, a abraça por uns segundos e então olha para Rosa) O gás! Rosa – (vai até sua mala, e diz para o público) A máquina de lavar ficou com ele. (tira uma cafeteira elétrica de dentro da mala e a mostra ao público, como nas antigas propagandas de eletrodomésticos) Mas a cafeteira coube na mala! Margarida - (vai até Rosa, pega a cafeteira e então a entrega para Lis) Café! Lis – (pegando a cafeteira) Café! Rosa – (tira uma garrafa de água de dentro da mala e a entrega para Margarida que a entrega para Lis) Água! Rosa e Margarida ficam ao lado de Lis, esperando pelo café, enquanto Lis prepara o café. Dália – (Lendo um rótulo de floral) Dizem que o capim cidreira abre os canais para o além. (Rosa e Margarida caminham em direção de Dália) Não quero me conectar com o além. (Rosa e Margarida se olham) Rosa – (apontando para o floral) Isso não funciona. 154 Toca uma música vinda do além, cantada por Joana. Margarida – Ela ainda está por aqui. (Rosa e Dália assustadas, se juntam à Margarida. Lis vira sua bolsa no chão, tira o celular que está tocando a música e o mostra para Margarida. Da bolsa também caem pedaços de bonecas Barbies e cabeças de bonecas). Margarida – Ela sempre foi muito apegada. Vamos fazer um ritual de passagem, para levá-la para o lado de lá (Margarida estende seu xale no chão sobre os sapatos vermelhos de Joana, pega os sapatos e o entrega à Dália, sem olhar para ela. Para Dália) Os sapatos vermelhos. Ela ia gostar que ficassem com você. (Dália pega os sapatos vermelhos, mas não os calça. Margarida tira uma rosa vermelha de dentro de sua bolsa e a coloca cuidadosamente no centro de seu xale. Arruma as bonecas sobre o xale, e, manipulando as Barbies começa a contar a história de Joana) “Joana era uma linda menina, que determinada andava pelo mundo calçando sapatos vermelhos. Esses sapatos ela havia ganhado de uma querida amiga e por isso eles detinham tanto valor. Pois, representavam muitas coisas e a fazia lembrar-se da sua querida amiga com mais todas as suas qualidades”. (Dália, Rosa e Lis observam a macumba. Margarida começa a falar como numa oração.) “A chuva brotando nos capitéis acanalados”. (Para as outras mulheres) Vocês têm que repetir. “A chuva brotando nos capitéis acanalados”. Todas - A chuva brotando nos capitéis acanalados. Margarida – Lavando o sangue azulado da dor materna. Todas – Lavando o sangue azulado da dor materna. Margarida – O útero rompido pelo grito abafado do mundo. Todas – O útero rompido pelo grito abafado do mundo. Margarida – Empurrando para baixo. Todas - Empurrando para baixo. Margarida – Empurrando para baixo. Todas - Empurrando para baixo. Dália – (interrompendo o ritual) Flor de Lis! Você não atende esse telefone! Deve ser a minha mãe. Lis – A Joana faz uma falta. Rosa – (para Dália, provocativa, em um tom de humor negro) Ela via a vida através do humor. O humor era para ela o amor. Margarida – (para Lis, referindo-se à Dália) O que ela está fazendo aqui? Rosa - (Rosa sai de perto de Dália, para sentar-se em outro lugar, vai caminhando e falando, senta-se) Humor, amor, humor. (Tensão entre Margarida e Dália, pois Dália interrompeu a macumba). Lis – (Lis, preocupada com a situação, tenta disfarçar, para Rosa) O dia está bonito hoje! Rosa – É, não choveu. Lis – Choveu ontem, o dia em que ela morreu. Morte combina com chuva. Rosa – E arco-íris. Lis – E arco-íris! Rosa – No enterro da minha prima, quando estavam cobrindo o caixão, no céu tinha um arco-íris. Lis – (Lis pega o floral que está sobre a mala de Dália) Tem mais? (Rosa pega em sua bolsa mais um floral e o entrega para Lis) Dália – Prendi a Joana no banheiro. Lis – Eram pequenas, não é? Dália – É. Lis – Ela tinha claustrofobia por causa disso. 155 Dália – Hum. Eu tinha sete anos a mais que a Joana, e evidentemente ela não se cuidava. Um belo dia, prensei ela contra parede e passei batom na marra. Ela ficou linda, mas só chorava. Ela tinha que ser bonitinha, como uma bonequinha. A minha bonequinha Depois disso ela nunca mais entrou no banheiro comigo. Rosa – E nunca mais usou maquiagem. Lis – E virou sapatão. Dália – Desde os três anos. (Rosa e Lis riem) Margarida – (ainda irritada, enquanto fala, vai para cima de Dália) Uma vez eu estava tomando banho com as minhas amigas, estava enxaguando a cabeça, daqui a pouco tum na minha boca. Uma delas enfiou um sabonete. Eu pensei, nunca mais tomo mais banho com ela, mas no dia seguinte estava lá eu de novo, quando de repente, sinto dois dedos no meu nariz. Meu nariz começou a sangrar, sangrar, sangrar. Lis – (segurando Margarida para não bater em Dália) Ela tinha problemas. Rosa – (apaziguadora) A Joana era briguenta? Lis – Opinião de irmã não vale. Todo irmão briga muito. Margarida – (contrariada, para Dália) Hum, irmã! Dália – (levantando-se) Irmã mais velha. (Lis pega a jarra de café, e procura xícaras. Margarida, ainda transtornada. Rosa sentada, apenas observa a situação). Dália – (caminhando com os sapatos de Joana) Vocês lembram como ela andava torta? Eu sempre falava: “Anda direito Joana”. Vocês sabiam que daqui a alguns meses a gente vai poder conhecer as pessoas que ganharam os órgãos dela? Lis – (sarcástica) Que legal! Que ótimo! (sai) Rosa – (tentando mudar de assunto) Ai que vontade de tomar um café. (Levanta-se, vai até a sua mala, retira um avental e veste. Pega a maletinha que está ao lado da mala e vai em direção de Dália). Lis – (segurando a jarra de café, vai até Rosa) Café! Rosa – (tira uma xícara de dentro da maleta e a coloca na cara de Dália) Café? A sua mãe não anda comendo muito. Se você puder dar uma ajudinha. Lis – (enquanto serve o café, para Dália) Vai ficar aqui essa noite? Dália – (Tomando café) Não. Rosa – (colocando uma xícara na frente de Lis) Café? Lis – (servindo café) Você não vai ficar aqui essa noite? Dália – Talvez não. (Clima tenso). Margarida – Seria bom pra sua mãe que você fizesse companhia pra ela... (Dália respira fundo como quem se incomoda com que está ouvindo). Lis – Dália, eu estou tomando muito remédio. Dália – Antidepressivo também? Lis – Não. Só Lexotan. Outro dia me deram Frontal, não tinha mais Lexotan. É mais tranquilo assim. Você só dorme se você deitar. Dália – Não durmo há dias. (Dália, Lis. Rosa e Margarida tomam café ao mesmo tempo. Margarida e Rosa ficam lado a lado tomando café. O clima é de tensão). Lis – A sua mãe tem sido uma grande companhia pra mim. Dália – (sorrindo) Ah! Esses dias eu sonhei que ela tinha matado a minha irmã. (Vai em direção à cadeira). Rosa – (desconfiada) Por que você sonhou isso? Lis – Eu posso dar algumas interpretações. Dália – (sentando-se) Vocês não conhecem a minha mãe. 156 Lis – Sua mãe é uma mulher fantástica, pioneira. Dália – Era autoritária. Me expulsou de casa. Lis – Ah, te expulsou? Ela aceitou muito bem o meu relacionamento com a sua irmã. Dália – Eu me dava bem com meu pai. (Rosa começa a ficar incomodada quando Dália fala do pai) Lis – (interrompendo) Eles brigavam muito. Ela conseguiu criar vocês. Uma mulher forte, independente. Dália – Engraçado você ver a história de um lado só. Lis – E tem outro? Dália – Mais ou menos. Lis – O seu pai... Dália – Estava sempre ali. Lis – Dália, sua mãe está piorando. Dália – Conversei com os médicos. (para o público) Deram a ideia de colocá-la num asilo. Coro – Asilo? Margarida – É uma forma de prisão. Rosa – Você vai aprisionar essa mulher. Margarida – (para o público) As pessoas parecem descartáveis. Margarida – (para o público) Vamos nos imaginar vivendo dentro de um asilo. (Pausa de cinco segundos para o público se imaginar dentro de um asilo.) Lis – (para Dália, se referindo à Margarida) O livro que ela está escrevendo. Dália – Ah, ela escreve? (ignora Margarida e faz a pergunta para Lis) Lis – Sim. Sobre as memórias da sua mãe. Dália – Que memórias? A minha mãe está com Alzheimer. Lis – Por isso que é importante ela escrever um livro sobre as memórias da sua mãe. A sua mãe tem histórias maravilhosas. Você precisa ver. Ela passa o dia todo com a sua mãe, o tempo todo, escrevendo no caderno, uma história mais interessante que a outra. A sua mãe foi uma mulher incrível. É ainda. A Joana era muito parecida. Margarida – (interrompendo) A sua mãe conheceu pessoas muito interessantes, Dália. Se você não se lembra, ela é uma antropóloga bem reconhecida. Fez um mapeamento de todas as curandeiras e parteiras dessa cidade. Dália – (desinteressada) Hum... Lis – (para Dália) Então Dália. Você podia ajudar na pesquisa dela. Dália – Não, não. Tem coisas que eu prefiro não lembrar. Lis – Por exemplo, (se empolgando ainda mais com a ideia) os namorados dela... Dália – Tinha vários! Lis – Lembra-se de algum? Dália – Tinha um que eu gostava muito. Ele sempre me trazia bombom. Parecia um irmão mais velho. Minha mãe sempre gostou de homem mais novo (sorrindo). Lis – Era uma mulher rebelde e revolucionária. Rosa – E o seu pai? Dália – Ah meu pai... Homem maravilhoso. Piloto de avião. Vivia me levando nessas viagens com ele. Rosa – (indo na direção de Dália) Ah, essas viagens! A sua mãe contou que ele vivia traindo ela nessas viagens. Margarida – E quando você ficou sabendo que seu pai tinha outra família? Lis – Você sabia disso, Dália? Dália – Ele me contou quando começou a sair com a outra. Mas eu entendi o meu pai. (Rosa, com o cachecol na mão, fica atrás de Dália). 157 Rosa – Entendeu? Dália – (com naturalidade) Algo que ele não tinha dentro de casa, querida. Foi procurar fora. Rosa – (indignada, tenta enforcar Dália com o cachecol, mas Lis a segura) Procurar fora? (Permanece indignada ainda por um tempo) Lis – O seu pai nunca estava dentro de casa, Dália. Vamos fumar um? (acende um baseado). Dália – Eu não gostei dessas... Metidas. O que elas sabem do meu pai? Rosa – (indignada) O que sabemos sobre seu pai! (Lis enfia o baseado na boca de Rosa, que continua resmungando). Dália – (colocando sobre o tapete a mala que trouxe com ela) Ah, isso aqui, é da Joana. Estava ocupando espaço lá em casa. Agora é de vocês. (Margarida e Lis sentam-se em torno da mala. Dália comendo uma mexerica e Rosa fumando, cada uma em uma canto, resmungam.) Rosa – O meu pai foi procura fora. O meu avô foi procurar fora. O meu bisavô foi procurar fora... O meu cachorro, aquele cachorro! Foi procurar fora... Dália – Como pesquisadora, não tem que tomar partido nenhum, nem ficar falando mal do meu pai. Essa casa está um lixo... Eu lembro quando eu era pequena, eu costumava colocar cascas de laranja no travesseiro da minha mãe... Enquanto Rosa e Dália resmungam, Margarida e Lis abrem a mala. De dentro, Lis tira uma caixinha de música e liga. Os resmungos vão diminuindo gradualmente. Lis pega luzes de natal e as coloca em torno do tapete. Margarida tira um maço de cartas e fotografias. Dália – (para Rosa) Ei! Liga para a minha mãe. Rosa – Liga você pra ela. Dália – Eu não tenho o número dela. Rosa – Ah! Esqueci! Você não liga para a sua mãe há mais de um ano. Dália – Vem cá. Com quem eu posso falar sobre a desocupação da casa? Rosa – Desocupação? (olha para Lis) Comigo. Dália – Arruma as coisas da minha mãe. Vou levá-la embora ainda hoje. Rosa – Eu não sou a sua empregada. E não vou deixar você levar a Dona Violeta para um asilo. Dália – Casa de repouso. Rosa – Asilo! Você perguntou pra sua mãe se é isso o que ela quer? Você vai acabar com as memórias dela. Dália – Que memórias? Rosa – As poucas coisas que ela lembra estão nesta cidade, nesta casa. Dália - Esta casa está um lixo. Essa é memória dela? Por que você gosta tanto da minha mãe? Ah, entendi, tu é sapatão também! Depois que virou corna, virou sapatão. (anotando no caderninho) Sa-pa-tão! Rosa – Eu larguei dele porque eu quis. (para público) E eu estou ótima! (para Dália) E a Lis? Dália – E eu com a Lis? O que tenho a ver com a Lis? Rosa – A Lis é a dona dessa casa. Não vou deixar que você tire essa casa dela. Aqui também é o consultório dela. Dália – Eu sou a dona. Sou a herdeira dessa casa. Rosa – A Lis e a Joana eram casadas. Construíram juntas esse lar. 158 Dália – Casadas? Elas nunca foram casadas. Me dá a certidão desse casamento, que eu quero ver. Vou agora mesmo falar com meu advogado. Vamos colocar essa história em pratos limpos. (sai, batendo a porta). Margarida – (lendo) “A casa tinha forma de ovo. O chão estava coberto de algodão. E não havia janelas. Dormia-se no andar de baixo, e ouvia-se ao longe o som do realejo e o vendedor de maçãs”. Rosa desliga a caixa de música e entra música cantada por Luana Garcia. Rosa organiza as cartas por data. Margarida mostra fotos para o público. Lis abre a mala onde está o vestidos de noiva, veste e se senta. Quando acaba a música cantada, Rosa lê trecho de antiga carta para Lis. Margarida a ajuda ler. Rosa – (lendo uma carta) Minha querida neta ... Margarida – (lendo outra carta) bla blablá... Depois da leitura de Margarida, ela e Rosa esticam o véu que está em Lis e formam uma tela onde é projetada a cena do casamento de Lis e Joana, na praia, enquanto toca a segunda música cantada por Luana Garcia. FIM 159
Download