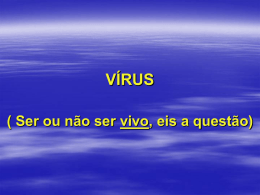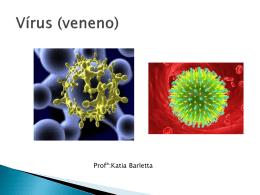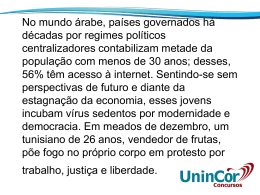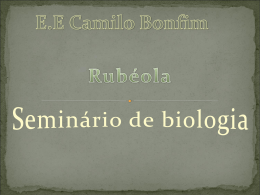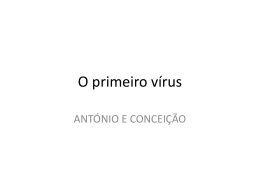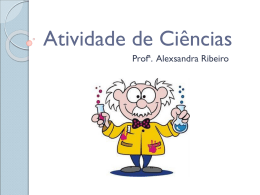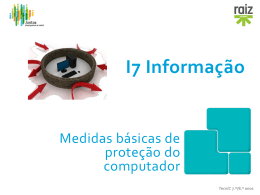Guilherme Bastos de Siqueira Rinotraqueíte Viral Felina (Herpesvírus Felino tipo I) São Paulo 2007 Guilherme Bastos de Siqueira Rinotraqueíte Viral Felina (Herpesvírus Felino tipo I) Trabalho apresentado para o cumprimento das atividades referentes à conclusão do curso de Especialização Lato sensu em Clínica Médica de Pequenos Animais – Qualittas São Paulo 2007 Sumário 1. INTRODUÇÃO Pág. 3 2. REVISÃO DE LITERATURA 3 2.1 - Sistema Imunológico Felino 3 2.1.1 - Componentes do Sistema Imunológico 6 2.2 - Generalidades Sobre os Vírus 8 2.2.1 - Morfologia e Estrutura Viral 11 2.2.2– Mecanismos de Penetração 13 I. Adsorção 13 II. Penetração 13 III. Desnudamento 14 IV. Replicação do Genoma Viral 14 V. Expressão dos Genes Virais 15 VI. Síntese dos Componentes Virais 15 VII. Montagem e Maturação 16 VIII. Liberação 16 2.3 - Herpervírus Felino tipo 1 17 2.3.1 - Biologia do Vírus 17 2.3.2 – Epidemiologia 17 2.3.3 – Patogênese 18 2.3.4 – Imunidade 19 2.3.5 - Sinais Clínicos 20 2.3.6 – Diagnóstico 22 2.3.7 - Controle e Tratamento da Doença 27 2.3.8 - Protocolo Vacinal 28 I. Vacinação Primária 29 II. Reforços Vacinais 29 2.3.9 - Controle da Doença por HVF-1 em Casos Específicos 30 I. Abrigos/Gatis 30 II. Filhotes em Amamentação 30 III. Vacinação de Gatos Imunocomprometidos 31 3. CONCLUSÃO 32 4. REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS 33 1 LISTA DE FIGURAS Pág. Figura 1. Esquematização das diferentes estruturas das imunoglobulinas (fonte: http://www.immunology.klimov.tom.ru/IGs.jpg) 6 Figura 2. Estrutura clássica de um herpesvírus (fonte: http://users.wfu.edu/butlrs4/images/Virusdrawing.jpg) 12 Figura 3. Felino com HVF-1. Observar sinais oftalmológicos e corrimento nasal seroso (fonte: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild: Katzenschnupfen_Herpes.jpg) 21 Figura 4. Detecção de anticorpos específicos através de imunofluorescência (fonte:http://www.cosmobio.co.jp/export_e/products/kits/products_sml_20061120/sml_roik01ex_3.jpg) 26 Figura 5. Lesões ulcerativas na cavidade oral de um gato acometido pelo HVF-1 (fonte: http://www.odontoveterinaria.com.br/imagens/gato2.jpg) 27 2 1. INTRODUÇÃO A rinotraqueíte viral felina é similar ao resfriado comum em seres humanos. É especialmente comum em gatos que foram expostos ao contato com muitos outros gatos, principalmente em ambientes fechados, como gatis e abrigos de animais. Essa doença raramente é fatal e se resolve no intervalo de uma a três semanas. (Binns et al, 2000). O tratamento geralmente consiste em cuidados de suporte. Em adição, antibióticos são fornecidos para proverem tratamento a possíveis infecções bacterianas secundárias. Entretanto, apesar dessas infecções bacterianas secundárias poderem agravar o quadro e levar a complicações, deve-se ter em mente que a causa primária da rinotraqueíte possui etiologia viral, sendo o herpes vírus felino tipo 1 o agente desta enfermidade, e infecções virais não são curadas pela administração de antibióticos; da mesma forma que o resfriado comum em seres humanos, não há nenhum tipo de tratamento completamente efetivo. Além de repouso, torna-se fundamental que o sistema imunológico do animal acometido pela infecção possa reagir adequadamente. Em casos raros, a doença poderá atingir o sistema respiratório inferior, ocasionando complicações mais graves, como pneumonia. Sinais oftálmicos e na cavidade oral também são freqüentemente vistos em quadros de infecção pelo herpesvírus. Também se apresenta o fato de que os gatos doentes irão se alimentar e/ou ingerir líquidos em menor quantidade (ou não irão fazê-lo), podendo apresentar quadros de desnutrição e/ou desidratação. Em casos assim, será necessária a internação e fluidoterapia endovenosa. 2. REVISÃO DE LITERATURA 2.1 - Sistema Imunológico Felino O sistema imunológico é um dos sistemas mais complexos do organismo dos animais, sendo responsável por proteger e agir contra agentes externos causadores de infecções e doenças (Janeway et al., 2001). O sistema imunológico dos felinos compreende alguns componentes e sistemas intimamente interligados, como pele, imunidade de mucosas, lisoenzima, fagócitos, imunoglobulinas, imunidade mediada por células, sistema complemento e interferon, dentre outros (Mayr & Guerreiro, 1981). Há dois tipos de imunidades conhecidas: a imunidade adaptativa ou específica e a imunidade natural ou não-adaptativa (Janeway et al., 2001). A imunidade natural combate muitas infecções diferentes, não permitindo assim que estas evoluam e levem a alterações no estado de saúde do animal. Quando o sistema natural não consegue lidar com tais infecções, é acionado, então, o sistema imunológico adaptativo, atuando os dois sistemas em conjunto e provendo, assim, uma ação altamente eficaz no combate aos agentes invasores do organismo. A imunidade natural compreende a primeira linha de defesa 3 do corpo, consistindo em barreiras físicas (pele, epitélio e tecidos mucosos), substâncias de secreção (ácido gástrico, muco e lisoenzimas) e também células, como fagócitos (neutrófilos e macrófagos), células natural killers (NK) e mediadores antiinflamatórios. A imunidade adaptativa envolve um mecanismo um pouco mais complexo, com ativação de células linfóides T e B, que são específicas para cada agente invasor, seguido pela ação de anticorpos patógeno-específicos ou células efetoras. Após uma agressão, em geral, ocorre formação de uma memória adaptativa, fazendo com que a memória imunológica específica a um patógeno específico seja preservada (Janeway et al., 2001). No caso de infecções virais, os linfócitos T serão aqueles que irão se destacar. Essas células reconhecem antígenos de patógenos intracelulares expressos na superfície de células corporais, como os vírus, e agem destruindo essas células. Os linfócitos B produzem anticorpos que reconhecem e destroem os antígenos extracelulares, como as bactérias. Os linfócitos T também têm importância quanto à ativação de células B, as quais produzem imunoglobulinas (Mayr & Guerreiro, 1981). Os órgãos do sistema imunológico podem ser divididos em órgãos linfóides centrais (ou primários) e órgãos linfóides periféricos (ou secundários). A medula óssea e o timo são os órgãos linfóides centrais; as células do sistema imunológico são originadas inicialmente das células-tronco, comuns na medula óssea. Já os órgãos linfóides periféricos podem ser divididos em estruturas encapsuladas (baço e linfonodos) e as não-encapsuladas (placas de Peyer, amígdalas e superfície cutânea) (Janeway et al., 2001). Dentre as células que compõem o sistema imunológico, destacam-se fagócitos, basófilos e mastócitos (células mielóides). Os fagócitos (leucócitos, eosinófilos e monócitos) têm a sua maturidade alcançada na medula óssea, são circulantes no sangue por um curto período e adentram os tecidos por meio de diapedese. Os basófilos e mastócitos são responsáveis pela liberação de mediadores de hipersensibilidade imediata, como a histamina, com efeitos tanto vasculares como antiinflamatórios. Os basófilos se fazem presentes na circulação e os mastócitos estão presentes apenas em tecidos. (Janeway et al., 2001). A célula mielóide é a precursora dos granulócitos (neutrófilos, eosinófilos e basófilos), macrófagos, mastócitos e células dendríticas. Os neutrófilos são os principais componentes celulares em termos de destruição bacteriana, sendo também os leucócitos mais abundantes na circulação. Possuem natureza fagocítica e são divididos em dois tipos, os neutrófilos primários, que caracterizam as células imaturas e muito jovens, e que contém proteínas catiônicas, defensinas, proteases, lisoenzimas e mieloperoxidase. Já os neutrófilos secundários representam os granulócitos maduros (Mayr & Guerreiro, 1981). Os eosinófilos apresentam-se em número bem reduzido no sangue, porém, infecções/infestações por parasitas ou doenças alérgicas/inflamatórias fazem com que seu número aumente de forma drástica. Possuem limitada habilidade fagocítica, responsáveis pela eliminação de parasitas revestidos por anticorpos. Algumas substâncias liberadas pelos eosinófilos e oriunda de seus grânulos citoplasmáticos são de características citotóxicas, podendo ocasionar danos à membrana do parasita (Mayr & Guerreiro, 1981). Os basófilos também possuem seu número bastante elevado durante as infecções e reações alérgicas. Eles deixam o sangue e se aglomeram no foco infeccioso ou inflamatório. Uma vez nesses 4 sítios, ocorre a liberação de substâncias mediadoras, como histamina, serotonina, prostaglandinas e leucotrienos. Com isso o fluxo sangüíneo para a área aumenta, incrementando, assim, o processo inflamatório em si (Mayr & Guerreiro, 1981). Os monócitos são células circulantes no sangue periférico, antes de adentrarem nos tecidos. Os monócitos recebem nomes específicos de acordo com o tecido em que se situam, como no fígado (células de Kupfer), no cérebro (micróglia), nos rins (células mesangiais) e nos ossos (osteoclastos) (Mayr & Guerreiro, 1981). Em outros tecidos são chamados de macrófagos teciduais. São eles responsáveis pela resposta primária aos agentes invasores. Quando não possuem especificidade de antígeno, fagocitam micróbios e fazem o transporte de antígenos para as células T e B, funcionando como células apresentadoras de antígenos, para assim ocorrer ativação da imunidade específica, além da resposta pela secreção de citocinas (Janeway et al., 2001). As células dendríticas, por sua vez, ao encontrarem um patógeno, sofrem rápido amadurecimento e migram para os linfonodos. Elas são responsáveis pela captação de antígenos em locais periféricos, funcionando, também, como células apresentadoras de antígenos nos linfonodos. Os mastócitos se localizam nas proximidades de pequenos vasos e liberam substâncias que irão aumentar a permeabilidade vascular, o edema, os espasmos musculares e a secreção de muco. Essas células liberam grânulos que contêm histamina, além de outros agentes importantes no processo inflamatório. Os leucócitos altamente especializados responsáveis pela identificação e destruição de agentes invasores são os linfócitos T, B e NK. Eles constituem cerca de 20 a 30% do total no número de leucócitos, sendo oriundos da medula óssea (Mayr & Guerreiro, 1981). Os linfócitos fazem o reconhecimento de antígenos por meio de receptores expressos em sua superfície. Um único linfócito, e o clone de células que deste se desenvolveram, possui a capacidade de reconhecer e agir a apenas um único determinante antigênico. As células B são estruturas redondas, de grandes núcleos e citoplasma e algumas organelas celulares mínimas. Sofrem ativação pela citocina secretada por células-ajudantes T (células T Helper), passando assim a serem chamadas de células plasmáticas. Os linfócitos B e as células plasmáticas, juntos, produzem anticorpos (imunidade humoral). São capazes também de fazerem o papel de células apresentadoras de antígenos. Células T possuem seu amadurecimento no timo e tem como característica a não-produção de imunoglobulinas. Essas células de defesa se dividem em subpopulações distintas: as células-ajudantes T (T Helper) e células citotóxicas. A distinção se faz com base em moléculas de superfície celular únicas, expressas por cada subconjunto, assim como pelas diferentes funções desempenhadas por cada tipo. Ambas expressam receptores de antígenos de células T. As células T Helper agem na função de reconhecimento do antígeno processado e auxiliam na coordenação da resposta imunológica. Produzem linfocinas, as quais auxiliam na ativação de células B. As células citotóxicas são efetoras do sistema imunológico que tem importante papel, especialmente na eliminação de células já infectadas por vírus (Janeway et al., 2001). Já as células NK correspondem a cerca de 10 a 15% de todos os linfócitos. São células linfocíticas granulares grandes, não possuindo receptores específicos de antígenos. Elas são capazes de eliminar as 5 células-alvo sem que haja sensibilização prévia, agindo em conjunto com as células T para oferecer imunidade mediada por células e matando células tumorais e algumas células infectadas por vírus. (Mayr & Guerreiro, 1981). 2.1.1 - Componentes do Sistema Imunológico A imunidade devida aos anticorpos é uma importante ferramenta do sistema imune. Os anticorpos são proteínas geradas a partir de uma reação imunológica e secretadas pelos linfócitos B. Após sua formação, são capazes de bloquear antígenos (Dawson & Lappin, 1998). Os anticorpos são glicoproteínas em forma de Y constituídos por dois tipos de cadeias polipeptídicas: duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. As cadeias pesadas se dividem em cinco formas: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE (Figura 1). Cada uma possui um papel importante na proteção contra organismos invasores (Mayr & Guerreiro, 1981). Figura 1. Esquematização das diferentes estruturas das imunoglobulinas (fonte:http://www.immunology.klimov.tom.ru/IGs.jpg) A IgG proporciona a principal imunidade baseada em anticorpos contra os patógenos que invadem o corpo. Como é incapaz de atravessar a barreira placentária, a imunidade só passará para os neonatos via colostro. A IgM é expressa na superfície das células B. Elimina patógenos nos estágios iniciais da imunidade mediada pelas células B antes que haja IgG suficiente. É muito eficaz no processo de aglutinação de antígenos, possuindo mais de dez sítios de ligação. A IgA é encontrada em áreas de mucosas, como os intestinos, trato respiratório e sistema urogenital, prevenindo sua colonização por 6 patógenos. É estável à degradação enzimática quando em secreções de mucosas. A IgD funciona, principalmente, como uma receptora de antígenos nas células B. É encontrada predominantemente na superfície de linfócitos B maduros. Suas funções são menos definidas que as dos outros isotipos. Finalmente, a IgE se liga a alérgenos e desencadeia a liberação de histaminas dos mastócitos, estando envolvida nos processos alérgicos e nas infestações por vermes parasitas. É amplamente ligada a receptores superficiais, principalmente em mastócitos e basófilos (Mayr & Guerreiro, 1981). A imunidade fagocitária se divide em componentes fixos e circulantes. Os fagócitos do primeiro componente são as células de Kupfer, macrófagos esplênicos e alveolares pulmonares e células microgliares cerebrais. Já as células circulantes com capacidade fagocítica incluem os granulócitos, monócitos e também os eosinófilos. Para que ocorra a destruição e fagocitose adequadas de um antígeno são necessários diversos mecanismos interligados, como movimentos aleatórios, quimiotaxia, opsonização e fixação ao material estranho e sua posterior ingestão, ativação metabólica do fagócito para a destruição do material estranho e destruição completa do mesmo (Janeway et al., 2001). A imunidade mediada por células é realizada por linfócitos T e macrófagos, requerendo células intactas que realizem sua função imunológica por contato direto célula-célula, assim como pela produção de fatores solúveis para funções imunológicas específicas. A heterogenicidade dos linfócitos T é a responsável direta pela imunidade mediada por células, respondendo pelas reações de hipersensibilidade retardada, sensibilidade de contato, imunidade a organismos intracelulares e a antígenos fúngicos e virais, eliminação de enxertos de tecido estranho e, também, pela formação de granulomas crônicos. As citocinas compreendem um grupo de mediadores solúveis da reação imunológica e também inflamatória liberadas por uma célula e, em geral, exercendo efeito sobre essa mesma célula ou sobre uma célula próxima. Algumas destas citocinas podem circular sobre a corrente sanguínea e ter efeitos longe do sítio de produção. Citocinas individuais podem ser sintetizadas e agir sobre muitas células diferentes. As interleucinas, por exemplo, são citocinas produzidas pelos linfócitos. Elas possuem ação em diferentes órgãos, tecidos e células, exercendo importante papel na ligação entre nutrição e reação imunológica. Podem estimular a ativação de macrófagos e interagir com células B para ativá-las e produzir anticorpos. Citocinas e células T podem também ativar outras células (células NK, citotóxicas e granulócitos), aumentando, assim, a reação imunológica. As citocinas possuem distintas funções em hematopoiese e desenvolvimento, ativação de linfócitos T e B, células NK e leucócitos auxiliares, quimiotaxia de leucócitos, na segregação/supressão de linfócitos T e B e no processo inflamatório (Mayr & Guerreiro, 1981). O sistema complemento é uma série com aproximadamente trinta proteínas que, quando ativadas, interagem em seqüência formando uma cascata enzimática, que tem um raio de efeitos finais importantes em reações imunológicas e inflamatórias. Possui um importante papel na amplificação da defesa específica e não-específica do hospedeiro, ajudando na mediação de funções como, por exemplo, aderência imunológica, fagócitos, quimiotaxia e citólise. Em geral, um número de proteínas de controle está presente para inibir uma possível ativação descontrolada do sistema complemento. (Janeway et al., 2001). As proteínas do complemento podem ser agrupadas em quatro divisões funcionais: a) via clássica 7 de ativação, podendo ser ativada na ausência de imunidade específica; b) ativação pela presença de bactérias ou leveduras; c) ativação por amplificação; e d) ativação por mecanismos efetores. A reação imunológica a um antígeno engloba ação sincrônica de células inflamatórias e imunológicas, mediadores reguladores solúveis (citocinas), anticorpos (imunoglobulinas) e moléculas do complemento. A reação imunológica tem início no tecido regional linfóide após a translocação de um antígeno em linfa, havendo recirculação de células ativadas no local de infecção através de vasos sanguíneos (Mayr & Guerreiro, 1981). O fator nutricional também possui um papel de suma importância como sendo um dos componentes que fortalecem o sistema imunológico felino, conseguindo, assim, um desempenho satisfatório. Proteínas, aminoácidos, ácidos graxos essenciais, nutrientes antioxidantes (vitamina E, vitamina C, beta-caroteno e selênio), microminerais (inclusive ferro, cobre e zinco) e as vitaminas do complexo B, possuem funções importantes no apoio à manutenção de um sistema protetor imunológico competente (Mayr & Guerreiro, 1981). 2.2 - Generalidades sobre os Vírus Dadas as suas características estruturais e por serem metabolicamente inertes, com replicação por montagem de partes pré-formadas ao invés de se multiplicarem por fissão binária, os vírus não se ajustam a nenhum dos sistemas de classificação biológica (Mayr & Guerreiro, 1981). Atualmente, os critérios para a classificação dos vírus abrangem o tipo e a estrutura do ácido nucléico, a seqüência de nucleotídeos, o modo de replicação, morfologia, presença ou ausência de envelope, gama de hospedeiros e relações filogenéticas (Mayr & Guerreiro, 1981). O Comitê Internacional para Taxonomia dos Vírus, órgão oficial que se reúne a cada quatro anos, propôs um sistema de classificação viral que é reconhecido cientificamente. Nesse sistema, os vírus conhecidos estão classificados e distribuídos em 71 famílias, 11 subfamílias e 175 gêneros. Embora muitos dos vírus conhecidos tenham sido classificados em gêneros, um número significativo ainda não foi alocado em um gênero reconhecido; outros nem foram distinguidos suficientemente dos gêneros reconhecidos, de modo a formarem novos gêneros. Desses vírus faltam dados de biologia molecular e informação sobre seus modos de replicação. Dentre os cerca de 30 mil vírus em estudo, apenas cerca de três mil vírus estão classificados (Mayr & Guerreiro, 1981). Os vírus são um dos menores agentes produtores de moléstias até agora encontrados nos homens, animais e plantas. Os vírus são muito pequenos, menores do que o comprimento de onda da luz visível por isso não são vistos em microscópios ópticos. O que determina a forma e o tamanho (entre 20 e 250 nanômetros) são as quantidades e arranjos de proteínas e ácidos nucléicos (Mayr & Guerreiro, 1981). Biologicamente se caracterizam pelo fato de não se reproduzirem por meio próprios. Somente quando chegam a uma célula viva e fazem uso do metabolismo necessário à manutenção da vida dessa 8 célula, é que os vírus se reproduzem. A reprodução não se processa por divisão, como ocorre com as bactérias, mas sim por uma série de processos separados (Mayr & Guerreiro, 1981). Os vírus são parasitas, dependendo da célula hospedeira para todas as suas funções biológicas. Ao contrário de verdadeiros seres vivos, eles não podem sintetizar proteínas, pois não possuem ribossomos (organela celular responsável pela transcodificação RNA-proteína); para isso, utilizam os ribossomos das células hospedeiras. Eles tão pouco podem gerar ou armazenar energia na forma de trifosfato de adenosina. Como não possuem mitocôndrias, toda a energia consumida pelos vírus vem das células hospedeiras. Os vírus também utilizam os nucleotídeos e aminoácidos da célula parasitada para sintetizar seus próprios ácidos nucléicos e proteínas, respectivamente. Alguns vírus, mais qualificados, utilizam também lipídeos e açúcares da célula hospedeira para formar suas membranas e glicoproteínas (Mayr & Guerreiro, 1981). Na grande maioria das viroses, apenas o material genético, sem o capsídio, já é capaz de causar infecção, embora menos eficientemente do que o vírus completo. O capsídio tem várias funções, como proteger os ácidos nucléicos virais da digestão feita por certas enzimas (nucleases), acoplar a certos sítios receptores na superfície da célula hospedeira e penetrar na sua membrana ou, em alguns casos, injetar o ácido nucléico infeccioso no interior da célula. Muitos vírus possuem, ainda, uma membrana lipoprotéica envolvendo o capsídio, chamada de envelope. O envelope facilita a interação do vírus com a membrana citoplasmática e aumenta a proteção do vírus contra o sistema de defesa do organismo (Mayr & Guerreiro, 1981). Todo vírus é essencialmente patogênico, uma vez que, para continuar existindo, tem que invadir uma célula viva e, a expensas do seu metabolismo, ser replicado. Toda infecção viral, em maior ou menor extensão, provoca danos à célula hospedeira. A patogênese viral está diretamente relacionada aos ciclos infecciosos dos vírus (Mayr & Guerreiro, 1981). A infecção viral é o fenômeno da invasão de uma célula por um vírion ou por seu ácido nucléico, seguido de domínio do metabolismo celular, replicação e montagem de componentes virais e liberação de novos vírions. Uma infecção viral que produza reações adversas em um hospedeiro susceptível é denominada de doença viral ou virose (Mayr & Guerreiro, 1981). A virulência de um vírus está diretamente relacionada à capacidade do vírus causar doença a despeito dos mecanismos de defesa do hospedeiro. Há vírus mais virulentos, como o vírus da varíola, e menos virulentos, como o vírus do resfriado comum. A virulência é afetada por diversas variáveis como a quantidade de unidades infectantes, a rota de entrada no corpo e as defesas inatas e adaptativas do hospedeiro. A virulência não depende só do vírus. Um vírus pouco virulento em adultos sadios pode ser muito virulento em crianças, em idosos e em indivíduos imunossuprimidos por deficiências imunológicas inatas, adquiridas por infecção com o vírus da imunodeficiência humana ou resultante de terapias imunossupressivas (quimioterapia anticâncer ou pós-transplantes), queimaduras extensas, desnutrição grave ou depressão (Mayr & Guerreiro, 1981). 9 Uma infecção viral não implica obrigatoriamente em doença. Se as defesas do corpo funcionarem eficazmente, o vírus pode não provocar uma doença. O hospedeiro pode destruir o patógeno ou permanecer como portador assintomático por um longo período (Mayr & Guerreiro, 1981). Uma vez ocorrida a contaminação, a possibilidade de ocorrer uma infecção é diretamente proporcional ao número de vírus infectantes multiplicado por sua virulência, e inversamente proporcional à resistência local, celular e humoral do hospedeiro. Portanto, para que uma infecção ocorra é necessário que haja uma fonte de vírus de determinada virulência e em determinado número, contagiando um hospedeiro com maior ou menor resistência. A doença viral ocorre somente se o vírus se replica em número suficiente para danificar ou destruir diretamente células essenciais, causar a liberação de toxinas pelos tecidos infectados, danificar genes celulares ou comprometer funções orgânicas como resultado indireto da resposta imune do hospedeiro à presença de antígenos virais (Mayr & Guerreiro, 1981). Durante o ciclo de reprodução há um estágio em que o vírus se encontra em uma forma nãoinfecciosa, conservando sua capacidade de reprodução ao chegar a uma célula apropriada; sua viabilidade pode durar por tempo muito variado, dependendo do tipo de vírus em questão. Por isso, os vírus são considerados altamente infecciosos e contagiosos. Em sua estrutura, esses agentes se assemelham a moléculas que compõem uma célula, por sua vez possuidoras de capacidade de auto-reprodução. Todos os vírus possuem o fato comum de constituírem-se de, ao menos, dois componentes macromoleculares: o ácido nucléico (RNA ou DNA) e proteínas (Mayr & Guerreiro, 1981). O ácido nucléico ou os componentes ricos em ácido nucléico são os portadores das informações genéticas e da infecciosidade. Eles se encontram no interior das partículas víricas, representando sua parte principal. A infecciosidade do ácido nucléico do vírus, mesmo isolado, foi constatada em várias espécies de pequenos vírus. O núcleo, com seu conteúdo de ácido nucléico, é cercado por uma camada periférica que, em vírus menores, é constituída apenas por proteínas macromoleculares, compostas de várias subunidades idênticas. Já no caso de vírus maiores, essas subunidades são de caráter variado. Além de servir para a estabilização do vírus no exterior da célula e à proteção do material genético, a estrutura protéica parece também ter função importante quando na penetração na célula. A proteína superficial é determinante das propriedades físico-químicas, especificidade sorológica e espectro infeccioso (Mayr & Guerreiro, 1981). A infecciosidade de uma partícula viral é possibilitada por ser a síntese do ácido nucléico do vírus e da proteína, em sua cinética, tão harmoniosamente conduzida, que os componentes do vírus se unem para formarem uma nova unidade funcional, de forma que o ácido nucléico é envolto por um envelope (cepa). O vírus, assim equipado, pode deixar o sítio de sua síntese e ação para infectar outras células. Quando o vírus ataca uma célula, as modificações decorrentes de sua síntese agem sobre o metabolismo da célula que o hospedou. Imediatamente após a infecção de uma célula, segue-se uma quase completa inibição da síntese do RNA no núcleo. Uma vez no citoplasma, sintetizam RNA cujas funções ainda não estão totalmente elucidadas. Paralelamente à inibição da síntese do RNA do núcleo, tem-se início um significativo retrocesso da síntese de todas as proteínas e do DNA. Lentamente modifica- 10 se o metabolismo das células infectadas pelo vírus, Somente quando quase todos os componentes do vírus sintetizam-se, é que todo o RNA e o metabolismo protéico da célula são alterados. É compreensível que as perturbações e destruições do metabolismo geral da célula, que se dá por ocasião da síntese viral, sejam uma causa para o desenvolvimento de uma virose. Assim, é de se esperar que cada ácido nucléico estranho que seja ao menos portador de uma informação genética significativa, tenha a capacidade de produzir um distúrbio na célula que o hospeda (Mayr & Guerreiro, 1981). A primeira característica biológica significativa comum a todos os vírus é a total inatividade biológica (faculdade de reprodução, ausência de metabolismo), quando fora de um corpo celular. As atividades enzimáticas somente são comprovadas nos chamados “vírus maiores”, altamente organizados e mais complexos, embora essas atividades não possuam nenhuma função no metabolismo e tenham significado somente no que diz respeito à adsorção do vírus na célula ou para sua penetração nessa mesma célula. A segunda característica é que os vírus se comportam, em muitos aspectos, como genes, o que pode ser explicado em razão da semelhança entre essas duas estruturas (Mayr & Guerreiro, 1981). Os vírus são, em parte, de formação realmente complexa. Em geral não apresentam apenas uma espécie de proteína; alguns possuem estruturas auxiliares acessórias que contêm, ao lado de proteínas, ainda hidratos de carbono e lipídios. O ácido nucléico do vírus possui, por isso, uma maior ação que um gene isolado, que apresenta apenas uma parte da informação que age na formação de uma determinada característica. Assim pode-se concluir que o ácido nucléico do vírus compõe-se de uma significativa série de diferentes genes, correspondendo, assim, a um genoma. Os genes do vírus-genoma estão dispostos em seqüência regular, cuja situação pode ser cartograficamente registrada de forma similar como já conhecida nos mapas genéticos dos cromossomos. Por isso, não é surpresa de que os vírus possam sofrer mudanças arbitrárias da informação que possuem, podendo, em alguns casos mais simples, ser notada pela troca de um nucleotídeo. (Mayr & Guerreiro, 1981). O terceiro e último fenômeno biológico em relação aos vírus é que, como portadores de propriedades genéticas ao lado do DNA, encontra-se também o RNA. Muitos dos vírus contêm, ao invés de DNA como mediador das informações genéticas completas, o RNA, que somente se apresenta em cadeia única. Estudos comparativos demonstram que um maior número de vírus possui RNA como componente integrante de sua infecciosidade, ao invés do DNA. É, assim, de vital importância para a genética, que a ordem normal do mecanismo de crescimento da célula DNA-RNA-proteína não ocorra na reprodução dos vírus que contêm RNA, que podem armazenar e transmitir informações genéticas (Janeway et al., 2001). 2.2.1 - Morfologia e Estrutura Viral Sob o ponto de vista morfológico e estrutural, compreendem-se sob a denominação de vírus, formações estáticas submicroscópicas, de ínfimas dimensões, menores que as menores estruturas celulares comprovadas (Mayr & Guerreiro, 1981). 11 Apesar dos vírus serem pequenos, as proporções de tamanhos entre os mesmos são tão variadas como em nenhuma outra esfera de microrganismos. Quanto à forma, como ocorre também com a estrutura, os vírus são muito diversos. Existem vírus com formato quadrangular, oval, arredondado (Figura 2) e em bastão. Figura 2. Estrutura clássica de um herpesvírus (fonte: http://users.wfu.edu/butlrs4/images/Virusdrawing.jpg) Seria falso conceber uma partícula de vírus como uma estrutura uniforme. Sabe-se hoje que tais partículas representam sempre um complexo constituído de vários componentes, conhecido como vírion, e que corresponde à forma infectiva do vírus. (Mayr & Guerreiro, 1981). Cada vírus contêm, como participante genético, o ácido nucléico. Esse ácido (DNA ou RNA) encontra-se no centro do vírion. Em torno do ácido nucléico se concentra a proteína, servindo como substância de proteção e apoio e disposta em forma de uma cápsula fechada. Essa cápsula é denominada de capsídeo, um cristal de superfície, formado por muitas subunidades protéicas, conhecidas como unidades estruturais. As unidades estruturais são as menores partes que constituem o capsídeo e parecem estar ordenadas de tal forma que cada uma fique praticamente na mesma zona. O capsômero é um grupo de subunidades protéicas, que pode ser considerado o menor componente vírico visualizado à microscopia eletrônica (Mayr & Guerreiro, 1981). O ácido nucléico e o capsídeo formam, juntos, o núcleo-capsídeo. O capsídeo pode conter mais componentes distintos, especialmente polianina ou outras proteínas (Mayr & Guerreiro, 1981). O núcleocapsídeo se apresenta sob duas formas: ou está “nu” ou possui um envelope externo que envolve o capsídeo, constituído principalmente do material da célula hospedeira, mas também pode ser formado por material de origem vírus-específica (Janeway et al., 2001). De acordo com a disposição das subunidades de proteínas no capsídeo, resultam diferentes padrões estruturais. Daí têm-se estruturas diferenciadas, como cúbica, helicoidal (em forma de caracol), estruturas complexas e estruturas combinadas. 12 2.2.2 - Mecanismos de Penetração A penetração nas células animais pelo vírus envolve processos diferentes, principalmente devido ao fato das células do hospedeiro serem protegidas por uma camada de fosfolipídios e lipoproteínas. A maioria dos vírus penetra nesta membrana por um processo chamado de endocitose, em que se forma uma invaginação da membrana que "engole" o vírus; isso ocorre, geralmente, em uma área da membrana que contém uma proteína conhecida como clatrina (Janeway et al., 2001). A membrana, então, injeta o vírus envelopado por um pedaço da membrana plasmática, resultando em uma vesícula, que funde com os endossomas citoplasmáticos (outro tipo de vesículas) e, então, com os lisossomos, uma das organelas celulares ricas em enzimas. A membrana que envolve o agente infeccioso se funde com os lisossomos e libera o vírus no citoplasma. Para aquelas viroses em que o genoma é um RNA-mensageiro, o terceiro passo é a tradução desse ácido nucléico para formar proteínas virais; algumas dessas proteínas são enzimas que sintetizam novos ácidos nucléicos (polimerases). Após um tempo, a célula já produz proteínas e genoma virais para formar outras unidades do vírus. As etapas da infecção viral seguem, basicamente, os seguintes passos: I. Adsorção Denomina-se adsorção o fenômeno da aderência de um vírion à superfície de uma célula hospedeira viva mediante interação de suas proteínas de ligação ou ligantes com receptores celulares específicos. A adsorção é um processo independente de energia e é o primeiro passo para a penetração do vírion no interior da célula hospedeira para o estabelecimento de uma infecção (Janeway et al., 2001). A adsorção acontece após a colisão casual de um vírion com a superfície de uma célula e dependerá da disponibilidade de receptores específicos em sua superfície. Estima-se que ocorra apenas uma adsorção em cada mil colisões (Mayr & Guerreiro, 1981). A adsorção é, na maioria dos casos, reversível. Se a penetração não prossegue, o vírion pode se desassociar da superfície celular. Mas, a dissociação pode acarretar alterações no vírion que diminuam ou eliminem a possibilidade deste se adsorver em outra célula. II. Penetração A penetração de um vírion no citoplasma da célula hospedeira através da membrana plasmática ocorre quase que instantaneamente após a adsorção. Trata-se de um processo dependente de energia e, por isso, ocorre somente em células metabolicamente ativas. Portanto, a infecção viral requer um hospedeiro vivo (Mayr & Guerreiro, 1981). 13 Nem todas as partículas virais que penetram em uma célula são infectantes; a proporção de partículas não-infectantes para infectantes é de cem para um. Os mecanismos envolvidos na penetração são: a) translocação simples do vírion inteiro através da membrana da célula hospedeira, acontecendo em vírus envelopados ou não; b) invaginação da membrana celular em torno da partícula viral, com endocitose do vírion em vacúolos intracelulares, ocorrendo em vírus envelopados ou não; e, finalmente, c) fusão do envelope viral com a membrana plasmática, requerendo a presença de uma proteína de fusão viral no envelope do vírion. Esse último processo só ocorre em vírus da família Retroviridae. III. Desnudamento O desnudamento ou decapsidação é a desintegração do capsídio com exposição do genoma viral, só ocorrendo quando o vírion penetra inteiro na célula. O fenômeno acontece nos primeiros minutos após a infecção. A desagregação das subunidades protéicas do capsídio pode ocorrer espontaneamente ou pela ação de enzimas digestivas dos lisossomos celulares. Após o desnudamento, o vírion deixa de existir como entidade infecciosa (Janeway et al., 2001). O ácido nucléico viral é usualmente liberado na forma de um complexo nucleoprotéico (Janeway et al., 2001). Essa associação é importante porque muitas proteínas são requeridas para a síntese do ácido nucléico viral ou permitem a ligação do RNAm viral aos ribossomos. Nos Picornaviridae o complexo nucleoprotéico é simples, com um pequeno peptídeo de 23 aminoácidos covalentemente ligado à extremidade 5' do RNA viral. Os núcleos dos Retroviridae contêm, em adição ao seu genoma de RNA de cadeia simples diplóide, a enzima transcriptase reversa, que é responsável pela conversão do RNA viral no provírus de DNA, processo que ocorre no centro da partícula viral (Mayr & Guerreiro, 1981). Para os vírus que se replicam no citoplasma, o genoma é simplesmente liberado na célula; para os que se replicam no núcleo, o genoma, freqüentemente associado com nucleoproteínas, é transportado através da membrana nuclear. O processo é feito por interações das nucleoproteínas (ou do capsídio) com o citoesqueleto. O capsídio é removido nos poros nucleares e o genoma viral penetra no núcleo (Janeway et al., 2001). IV. Replicação do Genoma Viral A replicação viral é um fenômeno altamente complexo e seus detalhes variam grandemente conforme o vírus envolvido. Há vírus que se replicam no citoplasma, como os membros da família Picornaviridae (por exemplo, o vírus da poliomielite), e os que se replicam no núcleo, como os da família Herpesviridae (por exemplo, o vírus do herpes). A estratégia de replicação do genoma viral depende do tipo de ácido nucléico do vírion infectante (Janeway et al., 2001). 14 Os membros da família Retroviridae, ou retrovírus, compõem um grupo especial de vírus no que concerne ao modo de replicação de seu genoma. Sua constituição genômica é única entre os vírus por ser diplóide e não servir como RNAm, mas como molde para a síntese de uma molécula de DNA de cadeia dupla em um processo denominado transcrição reversa. Esse processo é mediado pela enzima transcriptase reversa, uma DNA polimerase RNA-dependente que transcreve seqüências de RNA em DNA. Essa enzima é parte integrante dos vírions dos retrovírus. A molécula de DNA de cadeia dupla resultante é integrada ao genoma do hospedeiro e, nessa forma, é denominada provírus. A incorporação do provírus no genoma da célula hospedeira, fenômeno denominado virogenia, pode acarretar a transformação tumoral das células infectadas, resultando no desenvolvimento de câncer (Mayr & Guerreiro, 1981). Após a integração do provírus no genoma da célula infectada, enzimas celulares transcrevem o DNA do provírus em RNA genômico (para ser incorporado nos novos capsídios) e em RNAm (para a tradução das proteínas estruturais do capsídio e da transcriptase reversa). V. Expressão dos Genes Virais Nessa etapa, o metabolismo da célula é subvertido pelo genoma viral e sua maquinaria biossintética passa a trabalhar muito mais em função de produzir componentes virais ao invés dos elementos normais da célula. O ácido nucléico viral é transcrito e traduzido nas diversas proteínas virais – enzimas e proteínas estruturais – além de ser replicado para empacotamento no interior dos capsídios (Janeway et al., 2001). VI. Síntese dos Componentes Virais Os vários componentes do vírion são sintetizados separadamente pela célula hospedeira e então montados para formar novas partículas. A replicação por montagem de componentes pré-formados é exclusiva dos vírus e os distingue de todas as outras formas de parasitos intracelulares obrigatórios (Mayr & Guerreiro, 1981). A biossíntese dos componentes virais segue os seguintes passos: a) síntese de enzimas para a replicação do genoma viral, b) replicação do genoma viral e c) síntese das proteínas dos capsômeros. Para replicar seu genoma, o vírus deve apresentar seu RNAm à célula hospedeira de forma que possa ser reconhecido e traduzido em proteínas virais, o que pode acontecer de diversos modos. Um exemplo desse processo ocorre quando o vírus de DNA de cadeia simples ou dupla libera seu genoma no núcleo da célula e a maquinaria celular realiza a transcrição. Os genomas dos vírus de RNA de cadeia simples positiva servem diretamente como RNAm (Janeway et al., 2001). O controle da replicação viral está sob regulação gênica. Os mecanismos envolvidos dependem da estratégia de replicação do genoma viral. 15 Os genomas monocatenários são normalmente transcritos em RNAm policistrônicos, que por sua vez são traduzidos para formar uma poliproteína que será clivada para formar os diferentes produtos gênicos maduros. Já os genomas segmentados são normalmente transcritos para produzir RNAm monocistrônicos; uma vantagem dos genomas segmentados é que as diversas proteínas virais podem ser produzidas em quantidades diferentes, ao invés de taxas constantes para todas elas (Janeway et al., 2001). Para utilizar a maquinaria biossintética celular, os RNAm virais devem conter sinais de controle que são reconhecidos pela célula, como sítios de ligação a ribossomos, sinais de processamento do RNA e sinais de poliadenilação. Alguns vírus de DNA (como os Papovaviridae) codificam uma proteína que se liga à origem de replicação, estimulando a DNA polimerase celular a replicar o genoma viral. Outros vírus codificam sua própria DNA polimerase, como os Adenoviridae, mas são ainda dependentes de outros fatores celulares para a sua replicação. Vírus mais complexos, como os Herpesviridae, codificam um grande número de proteínas envolvidas na síntese de DNA e são grandemente independentes da maquinaria biossintética celular (Mayr & Guerreiro, 1981). VII. Montagem e Maturação A montagem das subunidades protéicas (e dos componentes da membrana no caso dos vírus envelopados) e o posterior empacotamento do ácido nucléico viral, com formação de novas partículas virais completas, ocorrerem em um determinado sítio da célula. Os sítios de montagem variam para diferentes vírus, ocorrendo no citoplasma (Picornaviridae, Poxviridae, Reoviridae), no núcleo (Adenoviridae, Papovaviridae, Parvoviridae) ou na superfície interna da membrana plasmática (Retroviridae). (Janeway et al., 2001). A maturação é a finalização do processo de formação de vírions completos e infecciosos. O processo começa quando as moléculas de ácido nucléico viral são empacotadas no interior dos capsídios. A maturação geralmente envolve alterações estruturais na partícula viral resultante da clivagem específica de proteínas do capsídio para formar produtos maduros, o que leva a mudanças de conformação no capsídio ou a associação de nucleoproteínas ao genoma. Para alguns vírus a montagem e a maturação são eventos inseparáveis, enquanto que, para outros a maturação pode ocorrer após o vírion ter deixado a célula (Mayr & Guerreiro, 1981). VIII. Liberação No final da montagem ou na maturação, partículas virais completas são liberadas por lise da célula ou por exocitose (brotamento). Para vírus líticos (a maioria dos vírus não-envelopados) a liberação ocorre por lise simples da célula. Os vírus envelopados carregam consigo uma porção da membrana plasmática 16 da célula hospedeira que envolve o vírion quando este emerge da célula pelo processo do brotamento. As proteínas do envelope viral são colhidas à medida que o vírion é liberado (Janeway et al., 2001). A interação física das proteínas do capsídio com a superfície interna da membrana plasmática força a partícula viral a atravessar a membrana. Este processo pode ou não ser letal para a célula. Em outras situações, como por exemplo, no caso do vírus do herpes simples, que é montado no núcleo da célula hospedeira, o envelope viral origina-se do envoltório nuclear e não da membrana plasmática. 2.3 - Herpervírus Felino tipo 1 2.3.1 - Biologia do Vírus O herpervírus tipo 1 (HVF -1) é o agente da rinotraqueíte viral felina, uma doença com distribuição mundial. O vírus pertence à família Herpesviridae, subfamília Alphavirinae, gênero Varicellovirus. É um DNA vírus. (Mayr & Guerreiro, 1981). Apesar de apenas um sorotipo ser descrito, a virulência pode diferir entre as diferentes cepas virais (Gaskell et al., 2007). Algumas diferenças também podem ser observadas em análise restrita da endonuclease do DNA viral (Hamano et al. 2005). O HFV-1 é um típico herpesvirus; o DNA genoma de cadeia dupla é empacotado no interior de um capsídio icosaédrico envolto em tegumento proteináceo e envelope fosfolipídico. Aos menos dez diferentes glicoproteínas estão presentes no envelope. (Mayr & Guerreiro, 1981). Os vírus se replicam tanto nas células epiteliais da conjuntiva e do trato respiratório superior como também em neurônios. A infecção neural permite ao vírus estabelecer longo estado de latência após a infecção primária. O HVF-1 é relacionado antigenicamente ao herpesvirus canino, entretanto não se sabe ainda de infecção cruzada entre as espécies (Gaskell et al., 2007). O vírus é inativado em período de três horas à temperatura de 37ºC e é susceptível à maioria dos desinfetantes comumente utilizados e facilmente encontrados no comércio. Segundo relatos de Pedersen (1987), o vírus se mostra infectante por cerca de cinco meses em baixas temperaturas (154 dias a 4ºC), mas sua sobrevivência é menor em temperaturas elevadas (33 dias a 25ºC; 4 a 5 minutos a 56ºC). 2.3.2 - Epidemiologia Os gatos domésticos são os principais hospedeiros do HVF-1, mas o vírus já foi previamente isolado de outros felinos, incluindo guepardos (Acinonyx jubatus) e leões (Panthera leo); anticorpos anti-HVF-1 já foram detectados em pumas (Felis concolor) (Binns et al, 2000). Não há sinal evidente ainda de infecção humana. A infecção crônica latente é a manifestação típica deste vírus. Infecções agudas e reativações intermitentes provocam um aumento da carga viral em secreções oronasal e conjuntival. Com exceção de gatis e abrigos de animais, a contaminação ambiental não é a fonte primária de transmissão (Gaskell & Povey, 1997). 17 Na prática não se comprovou sinais de infecção transplacentária. Animais com infecções latentes podem transmitir o HVF-1 para suas crias, devido ao fato de que o parto e a fase de lactação são considerados fatores tipicamente indutores de estresse, ocasionando uma reativação viral. Gatinhos podem, portanto, adquirir infecção pelo herpervírus em idade muito nova, antes de serem vacinados. Tudo dependerá muito do nível de anticorpos maternos presentes. Quando altos níveis se fazem presentes, os filhotes estarão protegidos da doença, porém desenvolvem infecção subclínica, levando ao estado de latência em que, se houver uma falta/baixo número de anticorpos maternos, a doença clínica poderá se manifestar (Gaskell & Povey, 1997) Em pequenas populações sadias, a prevalência de disseminação viral para o ambiente será menor que 1%, enquanto que em grandes populações, especialmente quando há doença clínica presente, a prevalência poderá ser maior do que 10 a 20% (Coutts et al., 1994; Binns et al., 2000; Helps et al., 2005). Em abrigos e gatis, o risco de contaminação será bem maior. Com apenas 4% de gatos eliminando o vírus no mesmo ambiente, 50% ou mais dos animais presentes já poderão estar secretando o vírus uma semana após a infecção (Pedersen et al., 2004). Esta prevalência está refletindo a natureza intermitente da eliminação durante a fase de latência. 2.3.3 - Patogênese O vírus penetra por via nasal, oral ou conjuntival, causando infecção primária do epitélio nasal com subseqüente proliferação para o saco conjuntival, faringe, traquéia, brônquio e bronquíolos. As lesões são caracterizadas por necrose multifocal do epitélio, com infiltração neutrofílica e inflamação (Binns et al, 2000). Uma viremia transitória associada com células sanguíneas mononucleares pode, raramente, ser observada após a infecção natural. Este fato excepcionalmente é detectado em neonatos, ou também em indivíduos com hipotermia, em que a replicação viral usualmente rasteia para tecidos com baixas temperaturas (Gaskell et al., 2007). As excreções virais têm início 24 horas após a infecção e, geralmente, duram cerca de uma a três semanas. Os quadros agudos são resolvidos em 10 a 14 dias. Alguns animais podem desenvolver lesões crônicas no trato respiratório superior e tecidos oculares. Durante a infecção, o vírus se espalha ao longo dos nervos sensoriais e alcança os neurônios, particularmente o gânglio trigêmio, ao qual é o principal sítio de latência. Quase todos os gatos que experimentaram uma infecção primária se tornarão portadores assintomáticos para o resto da vida. Não há métodos diagnósticos diretos para identificação do estado de latência porque o vírus persiste com o DNA no núcleo dos neurônios infectados, sem sinal de replicação viral. (Binns et al, 2000). A reativação do quadro de eliminação viral pode ser induzida experimentalmente por tratamentos longos com uso de glicocorticóides em cerca de 70% dos gatos. Outros fatores estressantes que podem levar à reativação incluem lactação (40%) e mudança de ambiente e/ou 18 proprietários (18%), segundo apontamentos de Ellis (1981), Gaskell & Povey (1997) e Pedersen et al., (2004). Alguns gatos adultos poderão demonstrar lesões agudas no momento da reativação viral. A conjuntivite pode estar associada com úlceras de córnea, com posterior desenvolvimento de uveíte crônica. A ceratite é uma reação secundária imunomediada que poderá ocorrer devido à presença do vírus no epitélio ou estroma. Em alguns casos, danos na cavidade nasal também ocorrem, podendo os animais desenvolver um quadro de rinite crônica (Gaskell & Povey, 1997). 2.3.4 - Imunidade A imunidade passiva é adquirida pela ingestão de colostro materno. Os filhotes são protegidos contra doenças na presença de anticorpos maternos durante as primeiras semanas de vida; Todavia, níveis de anticorpos maternos para infecção por HFV-1 são baixos (Coutts et al., 1994). Já se demonstrou que anticorpos maternos podem persistir por duas a dez semanas (Johnson & Povey, 1985), porém, em estudos mais recentes, níveis de anticorpos maternos se mostraram baixos, com aproximadamente 25% dos filhotes sendo negativos para esses anticorpos quando com seis semanas de idade (Dawson et al., 2001) Ao se considerar a resposta imune ativa contra o HVF-1, sabe-se que as glicoproteínas embebidas na membrana dos herpervírus são de fundamental importância na indução de imunidade; infecções posteriores à detecção de anticorpos neutralizadores de vírus estão correlacionadas com o reconhecimento de glicoproteínas HVF-1 (Burgener & Maes, 1988). A imunização de coelhos com o vírus leva à produção de altos títulos de anticorpos neutralizadores do vírus, indicando um papel dessas proteínas na indução desse tipo especial de anticorpos (Spatz et al., 1994). Uma imunidade sólida não será induzida após infecção natural; no geral, a resposta imunológica protege contra doenças e aparecimento de sinais clínicos, mas não quanto à manifestação do quadro infeccioso em fases de reativação viral. Sinais clínicos brandos foram observados seguidos de reinfecção, cerca de 150 dias após a infecção primária (Binns et al, 2000). Os títulos de anticorpos neutralizadores de vírus induzidos após infecção natural são freqüentemente baixos e aumentam vagarosamente com o tempo. De fato, esses anticorpos podem estar ausentes cerca de 40 dias após a infecção. Esses anticorpos, na maioria das vezes, contribuem para proteção contra infecções agudas. Outros mecanismos mediadores de anticorpos, como a celularidade citotóxica mediada por anticorpos e lise do complemento indutor de anticorpos, já foram demonstrados (Burgener & Maes, 1988). Entretanto, como ocorre em outros alfa-herpesvírus, a imunidade mediada por células desempenha um importante papel, desde que a ausência de níveis de anticorpos séricos detectáveis em gatos vacinados não indica necessariamente que esses animais estão susceptíveis à doença. Por outro lado, a soroconversão é correlacionada com a proteção após desafio por HVF-1 (Lappin et al., 2002). 19 È importante se levar em consideração que a presença de anticorpos contra qualquer agente infeccioso poderá prover uma indicação indireta de resposta imunológica celular, já que os linfócitos T são requeridos para a manutenção da função citolítica. Embora exista correlação geral entre a presença de anticorpos para o HVF-1 e proteção contra sinais clínicos, não há teste confiável que demonstre o grau de proteção em gatos individualmente. Desde que o HVF-1 é um patógeno do trato respiratório superior, ambas as respostas imunológicas, celular e humoral, são importantes. Vários estudos com vacinas intranasais mostram benefícios clínicos após 26 dias de vacinação (Lappin et al., 2006, Burgener & Maes, 1988). 2.3.5 - Sinais Clínicos A doença aguda clássica (doença citolítica) apresenta sinais como rinite, conjuntivite, úlceras de córnea (superficiais ou profundas), secreção nasal, hiperemia conjuntival e corrimento seroso. Na doença atípica aguda, poderão aparecer distúrbios dermatológicos, viremia e pneumonia. Também são relatadas úlceras e crostas nasofaciais, tosse, sinais multi-sistêmicos e, finalmente, o óbito (morte súbita em gatinhos muito jovens e neonatos). Na doença crônica (doença imunomediada), observa-se ceratite estromal, sinusite crônica, edema de córnea, cegueira, lise vascular, corrimento nasal crônico e uveíte. A infecção por HVF-1 causa tipicamente doença aguda do trato superior, assim como doenças oculares, que podem ser particularmente graves em animais jovens. A replicação viral leva a lesões ulcerativas e erosivas das mucosas superficiais, produzindo rinite, conjuntivite e, ocasionalmente, úlceras de córnea. De acordo com Gaskell (2001), outros sinais clínicos que ocorrem na doença são anorexia, depressão, descarga serosa nasocular (por vezes sero-sanguinolenta), hiperemia conjuntival e, com menos freqüência, sialorréia e tosse (Figura 3). O aparecimento de infecções bacterianas secundárias é comum e, nesse caso, as secreções purulentas se tornam achados freqüentes. 20 Figura 3. Felino com HVF-1. Observar sinais oftalmológicos e corrimento nasal seroso (fonte: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Katzenschnupfen_Her pes.jpg). Em alguns filhotes mais susceptíveis, a doença poderá ser mais grave. Nesses casos, a infecção por HVF-1 freqüentemente está associada com pneumonia primária e estado de viremia, que por sua vez produzirão sinais generalizados e, eventualmente, morte (Binns et al, 2000). Sinais clínicos menos freqüentes são os quadros de ulceração da cavidade oral, dermatites e úlceras de pele (Hargis et al., 1999) e sinais neurológicos (Gaskell, 2001). Abortamentos poderão ocorrer como sinais clínicos secundários, embora, em contraste com outros tipos de herpesvírus, não é uma conseqüência direta à replicação viral. Após reativação viral e reaparecimento da doença, alguns gatos podem demonstrar quadro de doença citolítica aguda, enquanto outros podem aparentar doença ocular crônica imunomediada em resposta à presença do vírus nestes locais. Fortes evidências experimentais sugerem ceratite estromal associada com edema de córnea, infiltrados de células inflamatórias e lises vasculares e, eventualmente, cegueira (Nasisse & Weigler,1998; Maggs & Clarke, 2005). O edema de córnea e a ceratite eosinofílica em gatos têm sido associados à presença do HVF-1 na córnea ou no sangue de alguns animais acometidos. Entretanto, a associação definitiva não pode ser feita desde que alguns gatos afetados são negativos para presença de DNA de HVF-1 (Nasisse & Weigler, 1998; Cullen et al., 2005). O vírus também foi detectado no humor aquoso em grande proporção nos animais que sofrem de uveíte quando comparados com gatos saudáveis, sugerindo assim que o vírus pode levar à inflamação da córnea (Maggs et al., 1999). A sinusite crônica, uma conseqüência freqüente do corrimento nasal crônico em gatos, tem sido associada também com a presença do DNA viral em alguns gatos afetados, mas também é encontrada em grupos sem quaisquer sinais clínicos (Henderson et al., 2004). Estudos recentes demonstram que o vírus não é ativamente replicante em tais gatos, sugerindo que a sinusite crônica pode ser iniciada pelo vírus, 21 mas é perpetuada por mecanismos imunomediados produzidos pela inflamação e fenômeno de remodelamento, levando a permanente destruição e deformidade dos seios paranasais, e se agravando devido a infecções bacterianas secundárias (Johnson et al., 2005). Muito freqüentemente, a infecção por HVF-1 ocorre em combinação com calicivírus, Chlamydia felis, Bordetella bronchiseptica e Mycoplasma spp., dentre outros microrganismos, incluindo Staphylococcus spp. e Escherichi coli, que podem, freqüentemente, ocasionar infecções secundárias do trato respiratório, causando uma síndrome conhecida como doença respiratória infecciosa dos felinos (Gaskell, 2001). 2.3.6 - Diagnóstico O método de PCR (Polymerase Chain Reaction, ou reação em cadeia da polimerase) encontra sua principal aplicação em situações em que a quantidade de DNA disponível é reduzida. O método é rotineiramente utilizado para identificação de patógenos que estão presentes em amostras clínicas diversas, em especial para vírus (Helps et al., 2003; Marsilo et al., 2004). O PCR é um método muito sensível de análise e por isso é realizado com muito cuidado para evitar contaminações que possam inviabilizar ou tornar errôneo o resultado. Em primeiro lugar, deve-se extrair o material genético da célula sem danificá-lo. Normalmente o material extraído é o DNA, mas pode-se trabalhar com o RNA em uma TR–PCR (reação de PCR em que se utiliza a transcriptase reversa), que é um desdobramento do PCR e possui outras aplicações (Maggs & Clarke, 2005). Depois de extraído o DNA, a este é adicionada uma mistura (também conhecida como premix) que contém os DNTPs (desoxirribonucleotídeos trifosfatos - bases nitrogenadas ligadas com três fosfatos), os primers (também chamados de oligonucleotídeos) e a enzima DNA-polimerase em uma solução tampão. Essa mistura é colocada na máquina de PCR - o termociclador - que faz ciclos de temperatura préestabelecidos em tempos exatos. (Binns et al, 2000). Na primeira etapa do ciclo a temperatura é elevada de 94 a 96ºC por pouco tempo para que haja a separação da dupla cadeia de DNA (fase de desnaturação). Na segunda etapa a temperatura é reduzida entre 50 a 60ºC, dependendo da quantidade de bases citosina e guanina encontradas no primer, para que os mesmos se anelem com o DNA (fase de anelamento). Na terceira e última etapa do ciclo a temperatura é elevada a 72ºC para que a enzima possa funcionar sintetizando a nova molécula (fase de extensão), em seguida um novo ciclo é iniciado. Normalmente são realizados de 25 a 40 ciclos para cada reação na qual a taxa de replicação é exponencial (2ciclos). O resultado é analisado por meio de eletroforese em gel de agarose ou de poliacrilamida (Vogtlin et al., 2002) Um método alternativo para o diagnóstico da infecção por HVF-1 é o isolamento viral. A identificação de vírus por meio de seu isolamento em um sistema biológico (cultivo celular, ovo embrionado) permanece como o método diagnóstico clássico. Como os vírus freqüentemente estão em pequenas quantidades no material clínico, a sua inoculação em células susceptíveis permite a sua multiplicação e posterior identificação. Adicionalmente, o isolamento do vírus a partir de material clínico permite que se obtenha o 22 agente viável para ser utilizado em estudos posteriores. A maior restrição quanto à utilização do isolamento para diagnóstico virológico é o tempo necessário para se obter o diagnóstico, que pode ser bastante demorado (Gaskell & Povey, 1997; Maggs et al., 1999). O isolamento é uma técnica boa, mas com uma sensibilidade menor do que o PCR. O material suspeito é inoculado em células animais cultivadas “in vitro” e a replicação do vírus é evidenciada pela produção de efeito citopático ou pela detecção de proteínas ou ácidos nucléicos virais nas células infectadas. O material enviado ao laboratório deve ser acompanhado de histórico clínico que permita a formulação de hipóteses sobre os possíveis vírus suspeitos (dentre eles, o HVF-1); esse procedimento facilita a tomada de decisão com relação ao tipo de célula e da técnica utilizada para a identificação. A escolha do tipo celular e o monitoramento do efeito citopático (ou detecção de produtos virais) são críticos para o sucesso da identificação do agente (Brooks et al., 1994). Dentre as vantagens do isolamento destacam-se a universalidade (aplicável a quase todos os vírus), a boa sensibilidade e a simplicidade (Brooks et al., 1994). O custo também não é tão alto quando comparado com outras técnicas de diagnóstico laboratorial. Além disso, permite a obtenção e manutenção do vírus para estudos posteriores. As principais restrições referem-se ao longo tempo necessário para a obtenção dos resultados (em alguns casos), contaminação e toxicidade do material clínico, e a incapacidade de detectar vírus que estejam inviáveis (devido à colheita e conservação inadequadas). (Binns et al, 2000). Os materiais mais freqüentemente enviados para a detecção do HVF-1 são tecidos (especialmente aqueles oriundos dos pulmões e colhidos em necropsias), swabs conjuntival, (Brooks et al., 1994), nasal ou faríngeo, além de secreções nasais (Nasisse & Weigler, 1998). Os tecidos são inicialmente desintegrados (macerados com areia estéril) para romper as células e liberar as partículas víricas; em seguida são re-suspendidos em meio de cultivo. Fluidos e secreções são centrifugados para a remoção de sujidades, bactérias e restos celulares. O sangue integral pode ser inoculado diretamente ou centrifugado para a separação dos leucócitos. Esses são aspirados e inoculados, não requerendo qualquer tratamento prévio para essa inoculação. Após a preparação apropriada, o material estará pronto para ser inoculado. O isolamento pode ser realizado em células cultivadas em frascos de cultivo, tubos ou em placas de poliestireno. A escolha do sistema depende fundamentalmente do número de amostras a serem examinadas. As células a serem inoculadas devem estar em fase exponencial de multiplicação. Para isso, devem ter sido subcultivadas 24 horas antes e apresentarem-se semi-confluentes (70% de confluência). Os tapetes celulares confluentes apresentam o metabolismo celular reduzido, o que pode dificultar a replicação do vírus, já que este depende do metabolismo celular para reproduzir-se (Brooks et al., 1994). O meio de cultivo é removido e a suspensão do material suspeito é adicionada ao cultivo e incubada em estufa de CO2 a 37ºC por uma a duas horas. Essa fase é denominada de adsorção. O volume do inóculo deve ser o menor possível, o suficiente para cobrir o tapete, para permitir um contato maior entre o inóculo e a superfície das células. Após completada a adsorção, o inóculo deve ser aspirado e o tapete celular deve ser lavado, contendo 23 cinco vezes a concentração normal de antibióticos e antifúngicos, pois o material clínico freqüentemente está contaminado com fungos ou bactérias (Gaskell, 2001). Após a lavagem, o meio de cultivo é adicionado e os frascos incubados em estufa de CO2 a 37 ºC. Os cultivos devem então ser monitorados diariamente ao microscópio invertido (Gaskell, 2001). A presença de vírus no material suspeito pode ser evidenciada pela produção de efeito citopático ou por meio da detecção de produtos da replicação viral (proteínas ou ácidos nucléicos). A replicação do herpesvírus em cultivo altera a fisiologia das células, ocasionando patologias que resultam em alterações na morfologia celular. Essas alterações podem ser identificadas pela observação ao microscópio óptico convencional. As alterações morfológicas resultantes da replicação viral são chamadas genericamente de efeito citopático (ECP) ou citopatogênico. Os vírus que causam citopatologias são chamados de citopáticos (ou citopatogênicos); os que causam morte celular são chamados de citolíticos (Brooks et al., 1994). Os efeitos citopáticos mais freqüentes associados à replicação de vírus em cultivo são: arredondamento celular, vacuolização, fusão celular, formação de sincícios (células gigantes multinucleadas), corpúsculos de inclusão, agrupamento de células e desprendimento do tapete. Como a velocidade de replicação é variável, a progressão do efeito citopático segue o mesmo padrão. Em resumo, o efeito citopático pode aparecer dentro de poucas horas quando há grande quantidade de vírus no inoculo. O HVF-1 replica bem em cultivo (com ciclo de replicação curto) e produz ECP facilmente identificável. Por outro lado, o aparecimento de ECP pode levar dias ou até semanas para ser evidenciado quando há pouco vírus viável no inoculo. Nesses casos, o vírus é pouco adaptado e replica lentamente no cultivo, produzindo ECP discreto e de difícil identificação. Como regra, observa-se diariamente o cultivo inoculado durante cinco a sete dias. Se ao final desse período não for evidenciada citopatologia deve-se proceder a uma nova inoculação a partir do cultivo atual. Para isso, colhe-se o sobrenadante do cultivo (ao final de cinco a sete dias) e inocula-se em um tapete celular fresco, fazendo-se a adsorção, repondo o meio de cultivo e incubando-o por mais cinco a sete dias, com monitoramento diário. Se ao final do segundo período de cinco a sete dias ainda não houver o aparecimento de ECP, procede-se a uma terceira inoculação e monitoramento por mais cinco a sete dias adicionais. Em geral, só considera-se o material negativo para vírus após três passagens em cultivo com ausência de ECP. Essas três inoculações (ou passagens) são realizadas para dar oportunidade aos vírus que estão em pequenas quantidades no inóculo, ou que replicam lentamente no cultivo, de multiplicar-se e produzir patologias celulares em um número considerável de células de modo a serem reconhecidas. A produção de ECP após a inoculação do material suspeito é indicativo da presença do HVF-1 no material. Por razões de logística, e apesar de sua boa sensibilidade em quadros agudos, a técnica de isolamento viral não é usada rotineiramente para diagnóstico de HVF-1 (Binns et al, 2000). A técnica de imunofluorescência (IF) utiliza anticorpos marcados com uma substância fluorescente (fluoresceína) para a detecção de antígenos (proteínas) de agentes infecciosos, como é o caso do HVF-1. Portanto, é essencialmente uma técnica de detecção de antígenos. Essa técnica consiste em usar anticorpos (policlonais ou monoclonais) produzidos especificamente contra o HVF-1, conjugado a uma 24 substância fluorescente (isotiocianato de fluoresceína - FITC). Esse anticorpo conjugado, quando incubado com o antígeno, liga-se especificamente a este último. Ao ser exposta à luz ultravioleta, a FITC emite luz fluorescente (amarelo-esverdeada) que pode ser observada ao microscópio. Logo, quando há presença de proteínas virais no material examinado, há emissão de fluorescência. A IF pode ser executada em uma variedade de materiais clínicos, sempre que houver a presença de células que potencialmente possam estar infectadas com o vírus de interesse. Os materiais mais comumente utilizados são células de cultivo (após a inoculação com o material suspeito), tecidos de necropsia ou biopsia (impressão direta de tecido na lâmina), tecidos congelados e cortados no criostato, tecidos fixados em formol e incluídos em parafina, células sangüíneas (leucócitos) e células presentes em secreções (leite, secreções nasais, prepuciais, vaginais). Essas técnicas geralmente são realizadas no material distendido em lâminas de microscopia ou em placas de poliestireno onde as células são cultivadas. Na IF indireta (IFI) incuba-se inicialmente o material suspeito com o anticorpo específico contra as proteínas do HVF-1. Esse anticorpo é chamado de anticorpo primário e, geralmente, é produzido em camundongos, coelhos, cabras ou na espécie de interesse. Após incubação de uma hora, lava-se para remover o anticorpo que não se ligou ao antígeno. Em seguida, incuba-se o material por hora adicional com um anticorpo produzido contra o anticorpo primário, que é chamado de anticorpo secundário. Se foram utilizados anticorpos de camundongo como anticorpo primário, utilizam-se anticorpos de outra espécie (como de cabra) contra IgG de camundongo. O anticorpo secundário (anti-espécie) é conjugado com FITC. Após a incubação, lava-se para remover o anticorpo secundário que não se ligou e monta-se a lâmina para observação no microscópio. O anticorpo primário não é marcado. O anticorpo secundário, marcado, vai ligar-se especificamente no anticorpo primário, emitindo fluorescência quando exposto à luz UV. Primeiro, faz-se o preparo da lâmina (esfregaço, cultivo ou corte histológico). Deve-se fixar em acetona (gelada) por cinco a dez minutos, secar em temperatura ambiente e adicionar o anticorpo primário (produzido contra o vírus suspeito). O anticorpo primário deve ser mantido na lâmina por uma hora a 37ºC. Em seguida, lava-se com PBS e água destilada, deixando secar. Acrescenta-se o anticorpo secundário (anti-IgG da espécie do anticorpo primário) conjugado com FITC, pelo período de uma hora a 37º C. Lava-se novamente com PBS e água destilada. Uma opção de coloração da lâmina pode ser feita com azul de Evans, deixando o corante agir por um minuto, lavando em seguida e deixando secar o conjunto. Finalmente, a lâmina é submetida a uma solução mista de glicerol e PBS (em partes iguais, v/v) e examinada ao microscópio. A reação positiva é caracterizada por uma coloração esverdeada/azulada (presença de antígenos virais – Figura 4). Já a reação negativa aponta uma coloração avermelhada (ausência de antígenos virais). A IF indireta, embora mais demorada que a IF direta, tem as vantagens de maior especificidade e sensibilidade. Pode utilizar tanto anticorpos policlonais (soro hiperimune) ou monoclonais, como anticorpo primário. Ambas as técnicas são relativamente baratas e simples de ser executadas. É uma das técnicas 25 mais utilizadas em virologia, utilizada não somente em diagnóstico, mas também em pesquisa e estudos de patogenia. Figura 4. Detecção de anticorpos específicos através de Imunofluorescência (Fonte: http://www.cosmobio.co.jp/export_e/products/kits/produ cts_SML_20061120/SML_ROIK01EX_3.jpg) A detecção da infecção pelo teste de ELISA (enzime-linked immunosorbant assay – teste de imunossorbância ligado a enzimas) por meio de soro, humor aquoso ou líquido cerebroespinhal possui um valor limitado no diagnóstico do HVF-1 devido ao fato que a detecção de anticorpos específicos não está diretamente correlacionada com a presença da doença e infecção ativa. A soroprevalência costuma ser elevada em gatos devido à infecção natural e vacinação O teste de ELISA utilizam anticorpos secundários marcados com uma enzima para detectar anticorpos contra um antígeno específico. Esses testes são realizados em placas de poliestireno, nos quais o antígeno é imobilizado. A presença de anticorpos no material testado é revelada pela ação da enzima no substrato, ocasionando mudança de cor do líquido sobrenadante. O teste possui muitas variações e pode ser também utilizado para detectar antígenos. Basicamente, o ELISA consiste na sensibilização da placa de poliestireno com o antígeno em questão. Posteriormente, adiciona-se o soro suspeito, buscando-se a presença de anticorpos contra o antígeno fixado na placa. Pode-se utilizar como antígenos somente proteínas virais ou bacterianas, como também partículas virais íntegras. Os anticorpos presentes no soro-teste irão se ligar ao antígeno imobilizado na placa e não serão removidos pela lavagem. Em seguida, adiciona-se o anticorpo secundário 26 antiespécie do primário, conjugado com a peroxidase. Incuba-se e lava-se novamente. Adiciona-se o substrato. Na presença de anticorpos no soro suspeito, esses se ligam no antígeno, os secundários se ligam no primário e a enzima age no substrato, resultando em mudança de coloração (reação positiva). Na ausência de anticorpos específicos, os anticorpos secundários com a enzima serão removidos pela lavagem e não haverá mudança de coloração no substrato (reação negativa). 2.3.7 - Controle e Tratamento da Doença A reposição de fluidos, eletrólitos e manutenção do equilíbrio ácido-básico (reposição de perdas de potássio e carbonatos devido à sialorréia e inapetência), preferencialmente por administração endovenosa, é requerida em gatos com sinais clínicos graves (Binns et al, 2000). A administração de alimentos também é de extrema importância. Muitos gatos infectados por HVF-1 não se alimentam corretamente devido à diminuição ou até mesmo ausência de sensação olfativa (congestão nasal presente). Na presença de quadros ulcerativos na cavidade oral (o que leva à dor quando há alimento na boca), ocorre inibição da ingestão de alimentos (Figura 5). Figura 5. Lesões ulcerativas na cavidade oral de um gato acometido pelo HVF-1 (fonte: http://www.odontoveterinaria.com.br/imagens/gato2.jpg) O uso de antiinflamatórios não-esteroidais, além de ajudar no controle do quadro febril, pode também auxiliar reduzindo a sensação de dor na cavidade oral (Binns et al, 2000). A comida poderá ser oferecida liquefeita, facilitando na mastigação. O alimento oferecido deverá ser altamente palatável, e de preferência levemente aquecido, aumentando assim o odor exaurido. Caso o gato não se alimente por si só dentro de, no máximo, três dias, o uso de uma sonda nasogástrica para alimentação forçada deverá ser considerado. 27 Antibióticos também deverão ser administrados para o tratamento de todos os quadros agudos da doença do trato respiratório superior dos felinos, visando a prevenção de infecções bacterianas secundárias. Os antibióticos de amplo espectro e boa penetração no trato respiratório e cavidade oral deverão ser preferidos, como a amoxicilina associada ao clavulanato de potássio. Gatos gravemente acometidos pelo HVF-1 necessitam de intensos cuidados de enfermagem e terapia de suporte adequada. Se há descarga nasal, esta deverá ser freqüentemente limpa com solução salina a 0,9%, várias vezes ao dia, conforme a gravidade do quadro, e tratada com medicação local para evitar ulceração extensa. Além de antibióticos, também é preconizado o tratamento com fármacos antivirais. A maioria destas substâncias antivirais apenas inibe a replicação do DNA viral. In vitro, a ribavirina foi um dos poucos agentes antivirais capazes de inibir a replicação do HVF-1 (além do interferon felino). Mas em termos de resultados práticos, muito pouco sucesso se obteve com esses agentes. Fármacos de efeito mucolítico, como a bromexina, poderão também ser úteis. Os colírios para a limpeza oftálmica também são recomendáveis. A nebulização com solução salina pode ser usada para combater o ressecamento das vias aéreas superiores. Por vezes, suplementos vitamínicos e minerais ajudaram na melhora da resposta imunológica. 2.3.8 - Protocolo Vacinal A infecção por HVF-1 é relativamente comum e pode predispor a várias outras doenças. É recomendado, portanto, que todos os gatos sejam ser vacinados contra a doença. As vacinas oferecem proteção por indução tanto da imunidade humoral, associada à resposta sorológica, como imunidade celular. As vacinas provêm boa proteção contra doenças clínicas, mas não atingem 100% de eficácia (aproximadamente 90% de redução de casos clínicos foram observados em desafios experimentais logo após a vacinação), como afirmam Gaskell & Povey (1997). Uma proteção menos efetiva poderá ser observada em alguns indivíduos vacinados sob circunstâncias particulares, como imunodeprimidos ou submetidos a desafio intenso. A vacinação protege contra o desenvolvimento dos sinais clínicos, mas não necessariamente da infecção. Entretanto, há alguma evidência que a prática vacinal diminui a eliminação do vírus para o ambiente (Gaskell et al., 2007). Atualmente, existem no mercado vacinas HVF-1 combinadas com outros agentes (panleucopenia, calicivirose felina, leucose). Ambas os tipos de vacinas, inativadas e vivo-modificadas, estão comercialmente disponíveis, tendo, cada uma, suas vantagens e desvantagens. Geralmente, há poucas razões para se dar preferência a qualquer uma dessas vacinas no esquema de vacinação rotineiro, especialmente pelo fato delas serem baseadas em um único sorotipo. Vacinas vivas-modificadas retêm algum potencial patogênico e podem, muito raramente, induzir ao aparecimento de doenças se erroneamente aplicadas ou as condições do hospedeiro assim o permitirem (imunossupressão). O valor dos testes sorológicos em prever o grau de proteção é controverso. Questões metodológicas podem complicar a comparação de títulos, e alguns autores sugerem que titulações não são bons 28 indicadores de proteção. Em outros estudos, gatos sem qualquer sinal de soroconversão parecem demonstrar certo grau de proteção (Lappin et al., 2002; Mouzin et al 2004). Os felinos que foram vacinados usualmente desenvolveram uma resposta deletéria seguida da exposição. I. Vacinação Primária Todos os gatinhos devem ser vacinados contra HVF-1. A imunidade passiva derivada da mãe poderá interferir com a resposta da primeira vacinação e a primeira dose é geralmente aplicada com nove semanas de idade (53 dias), embora algumas vacinas sejam licenciadas para o uso em idade mais precoces. Os filhotes deverão receber uma segunda dose da vacina em duas a quatro semanas após a primeira dose ter sido aplicada. Este protocolo foi desenvolvido para propiciar uma proteção máxima. Para intervalos maiores, não há informações seguras disponíveis quanto ao nível de proteção, devendo ser considerada pelo médico veterinário uma nova série de vacinação caso o intervalo entre as doses tenha sido maior que o recomendado. Em contraste com outros tipos de vacinas, em que uma única dose é aceitável para gatos com status vacinal incerto, recomenda-se no caso do HVF-1 que se apliquem ao menos duas doses da vacina, com intervalo médio de 21 dias entre as duas doses, independente do tipo da vacina (viva-modificada ou inativada). II. Reforços Vacinais A vacinação contra o HVF-1 previne a doença, diminui a eliminação do vírus para o ambiente e o reaparecimento da doença. Embora os protocolos quanto ao intervalo entre os reforços seja controverso, à vista das evidências científicas disponíveis atualmente, a recomendação das doses de reforço é que sejam aplicadas anualmente para a proteção dos gatos contra HVF-1. A exceção é feita àqueles animais com situações de baixo risco, como gatos que vivem isolados, em apartamentos, sem contato com o exterior das residências e que não tenham contato com outros gatos. Nesses casos, um intervalo de três anos seria o mais recomendado. Cada caso deverá ser analisado individualmente, considerando os fatores de risco e custo-benefício, mas no geral, o reforço anual é recomendado para gatos com acesso ao meio exterior e que tenham contato direto com outros gatos. Estudos sorológicos e experimentais em situações de campo indicam que a imunidade contra HVF-1 dura menos do que um ano na maioria dos gatos vacinados (Lappin et al., 2002; Mouzin et al, 2004). Contudo há uma proporção significante de gatos em que essa situação não se aplica. Estudos de campo demonstram que praticamente 100% dos gatos possuem títulos sorológicos contra calicivírus felino e parvovirus felino ou demonstram uma resposta deletéria em seguida à administração da dose de reforço vacinal, mas cerca de 30% da população felina aparente não possui títulos detectáveis de anticorpos contra HVF-1 e aproximadamente 20% falharam em demonstrar uma resposta deletéria logo após a vacina ter sido aplicada (Lappin et al., 2002; Mouzin et al, 2004). 29 A duração de proteção vacinal não é bem conhecida devido à falha da vacina em prover 100% de proteção clínica em um curto período após a administração do produto, mas em estudos experimentais a eficácia da proteção conferida pela vacinação claramente decai com o passar do tempo. Caso o reforço vacinal tenha sido esquecido, uma única injeção é considerada adequada se o intervalo desde a última dose for inferior a três anos; caso esse período seja superior a três anos, então a aplicação de duas doses deverá ser considerada. Reforços utilizando vacinas de diferentes fabricantes são aceitáveis. Gatos que se recuperaram da doença por HVF-1 podem não possuir proteção vitalícia contra novos episódios da doença. Além do mais, na maioria dos casos, a identificação definitiva do agente infeccioso pelos testes diagnósticos designados não é realizada adequadamente, podendo o gato ser susceptível à infecção por outros patógenos que atacam o sistema respiratório. Assim, a vacinação é recomendada mesmo em gatos que se recuperaram da doença provocada pelo HVF-1. 2.3.9 - Controle da Doença por HVF-1 em Casos Específicos I. Abrigos/Gatis O HVF-1 pode representar um problema em ambientes como gatis e abrigos de animais. O manejo para prevenir e limitar o potencial de transferência da infecção é tão importante quanto à vacinação no que diz respeito ao controle (Binns et al, 2000). Em locais onde a chegada de novos animais não é controlada, e naqueles casos em que animais recém-chegados são colocados juntamente com o restante dos animais, altos níveis de infecção por HVF-1 são encontrados. Novos animais deverão ser colocados em quarentena pelo período mínimo de duas semanas, sendo mantidos isolados até mesmo de outros animais recémchegados, a menos que os animais já se encontrassem juntos anteriormente. A estrutura e manejo do abrigo deverão ser direcionados para se evitar infecção cruzada dos gatos (Burgener & Maes, 1988). Novos gatos devem ser vacinados o mais rapidamente possível, desde que estejam seguramente livres de doenças e nenhum fator contra a vacinação tenha sido identificado. Se houver risco elevado, como infecção recente por HVF-1 no local, uma vacina com vírus vivo-modificado será preferível, por prover proteção mais cedo. Caso a infecção respiratória aguda ocorra num abrigo, o diagnóstico do agente envolvido com base na diferenciação entre HVF-1 e calicivirose felina poderá ser útil ao que se refere a medidas preventivas a serem tomadas. II. Filhotes em Amamentação O vírus é um problema considerável em casos de fêmeas na fase de amamentação e sua prole. A infecção dos gatinhos ocorre tipicamente em quatro a oito semanas de idade, quando a proteção por anticorpos maternos entra em declínio. A fonte de infecção, em geral, é a mãe, que é portadora e 30 apresenta reativação da infecção latente devido a fatores estressantes durante a gestação, parto e fase de amamentação. A infecção em gatinhos tão jovens pode ser muito grave, e não raro, envolve todos os animais da mesma prole. A mortalidade poderá ocorrer como conseqüência desse quadro, e aqueles que se recuperarem da fase aguda da enfermidade, com freqüência ficam com sinais de complicações crônicas, mais notadamente, rinite crônica. A vacinação da mãe não impedirá o problema, já que não previne o quadro de portador da mesma. Contudo, se a progenitora possui um alto título de anticorpos, poderá assegurar aos filhotes uma boa imunidade passiva (alto número de anticorpos presentes) por meio da adequada ingestão de colostro, provendo boa proteção, principalmente durante o primeiro mês ou até mesmo pelo resto da vida. Doses de reforço na fêmea são, portanto, recomendadas para se assegurar boa transferência de imunidade aos filhotes. A aplicação da vacina durante a gravidez pode ser considerada, mas com cautela, uma vez que vacinas específicas para HVF-1 não são licenciadas para situações como estas; nestes casos, recomendase primariamente o uso de vacinas inativadas. O manejo adequado durante a fase de aleitamento da prole é fundamental no controle da infecção por HVF-1. A gata e sua ninhada deverão ser mantidas em ambiente isolado do restante dos animais; os filhotes não deverão entrar em contato com outros gatos até que o esquema de vacinação esteja completo, evitando, assim, o risco de entrarem em contato com algum animal que seja portador e esteja em fase de disseminação do vírus. A idade mais nova para se vacinar os gatinhos é de aproximadamente seis semanas, mas os filhotes podem se tornar susceptíveis antes disso, quando a queda do nível de anticorpos maternos se dá mais cedo que o normal devido à falha de transferência de imunidade passiva (Lappin et al., 2006; Mouzin et al, 2004). Nesses casos, a vacinação a partir de quatro semanas deverá ser considerada. Usualmente se repete a dose após duas semanas até o curso de vacinação normal seja retomado. Não existem testes confiáveis que demonstrem quais gatas são portadoras e potenciais transmissoras do HVF-1 para sua prole. III. Vacinação de Gatos Imunocomprometidos A vacinação poderá não estimular a imunidade em animais imunocomprometidos. Tais situações incluem a presença de doenças sistêmicas concomitantes, imunodeficiência induzida por vírus, deficiências nutricionais, imunodeficiências genéticas, administração de substâncias imunossupressivas e estresse grave por longos períodos. Esses pacientes deverão ser protegidos de exposições a agentes infecciosos, quando possível, mas poderá ser necessário considerar a vacinação para assegurar proteção. Sugere-se que uma vacina inativada seja utilizada nesses casos, baseado em considerações sobre segurança, embora não haja evidências para comprovar tal recomendação. Vacinações de reforço devem ser mantidas em gatos sob condições médias estabilizadas e que possuam doenças crônicas (como hipertireodismo e doença renal). Nos pacientes idosos, a conseqüência de uma infecção poderá ser particularmente grave. 31 Animais recebendo corticosteróides ou outras substâncias imunossupressivas deverão ter o seu programa vacinal cuidadosamente avaliado. Dependendo da dose e duração do tratamento, corticosteróides poderão induzir uma supressão da resposta imunológica. O efeito de tais medicamentos na eficácia vacinal não é precisamente conhecido em gatos, contudo o uso de corticosteróides no período de vacinação deverá ser evitado (Binns et al, 2000). 3. CONCLUSÃO A maioria das infecções virais são subclínicas, sugerindo que as defesas do hospedeiro as detêm antes da manifestação dos sintomas da doença. O reconhecimento de infecções subclínicas decorre de estudos sorológicos, demonstrando que uma significante parte da população tem anticorpos específicos contra um vírus, mesmo que o indivíduo não tenha histórico da doença. Tais infecções não aparentes têm grande importância epidemiológica por constituírem as maiores fontes de disseminação viral através da população e por conferir imunidade. Muitos fatores afetam os mecanismos da patogênese viral e determinam se ocorrerá infecção ou doença. Os fatores de virulência capacitam o vírus a iniciar uma infecção, disseminar-se pelo corpo e replicar-se em quantidades suficientes para danificar o órgão-alvo. Um determinante inicial é o grau de acessibilidade do vírus a tecidos e órgãos, a qual é afetado por barreiras físicas (muco, principalmente), pela distância a ser coberta no interior do corpo, pelas diferentes suscetibilidades celulares à infecção e capacidade de replicação sob os efeitos inibitórios dos mecanismos de defesa do hospedeiro, em situações como inflamação, febre e na presença de inibidores naturais como macrófagos, anticorpos específicos e interferon. Para causar doença, o vírus deve ser capaz de sobrepujar todas as barreiras de defesa. Mesmo que um vírus inicie a infecção de um tecido ou órgão susceptível, a replicação de vírions em quantidades suficientes para produzir doença pode ser evitada pelas defesas do hospedeiro. Como os efeitos inibitórios do hospedeiro são geneticamente controlados, estes podem variar entre indivíduos e grupos étnicos. Em uma população de um determinado vírus, freqüentemente ocorrem linhagens extremamente virulentas. Ocasionalmente, essas linhagens tornam-se dominantes, como resultado de pressões seletivas incomuns. Providencialmente, para a sobrevivência dos hospedeiros e até mesmo para os próprios vírus, a maioria das pressões seletivas naturais favorece a dominância de linhagens virais menos virulentas. Uma vez que tais linhagens não provocam quadros clínicos graves ou morte, sua replicação e transmissão não são prejudicadas por um hospedeiro debilitado. Infecções brandas ou assintomáticas podem resultar da ausência de um ou mais fatores de virulência. Vacinas desenvolvidas com vírus vivos são compostas por linhagens virais deficientes em um ou mais fatores de virulência, causando somente infecções subclínicas e se replicando apenas o suficiente para induzir imunidade. 32 A ocorrência de mutações espontâneas ou induzidas no genoma viral pode alterar a patogênese de uma doença. Essas mutações podem ser de particular importância pelo emergência de linhagens resistentes a medicamentos antivirais. 4. REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS BINNS, S.H.; SPEAKMAN, A.J.; HART, C.A. A study of feline upper respiratory tract disease with reference to prevalence and risk factors for infection with feline calicivirus and feline herpesvirus. Journal of Feline Medicine and Surgery, v.2, n.3, p.123-133, 2000. BROOKS, S.E.; KAZA, V.;. TROUSDALE, M.D. Photoinactivation of herpes simplex virus by rose bengal and fluorescein. In vitro and in vivo studies, Investigative Ophthalmology and Visual Science, n.13, p. 4350, 1994. BURGENER, D.C.; MAES, R.K. Glycoprotein-specific immune responses in cats after exposure to feline herpesvirus-1. American Journal of Veterinary Residence, v.49, n.16, p.1673-1676, 1988. COUTTS, A.J.; DAWSON, S.; WILLOUGHBY, K.; GASKELL, R.M. Isolation of feline respiratory viruses from clinically healthy cats at UK, Veterinary Records, v.135, n.23, p: 555 – 556, 1994. CULLEN, C.L.; WADOWSKA, D.W.; SINGH, A.; MELEKHOVETS, Y. Ultrastructural findings in feline corneal sequestra, Veterinary Ophthalmology, v.8, n.5, p.295-303, 2005. DAWSON, D.A.; LAPPIN, M.R. Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of feline herpesvirus -1 IgG in serum, aqueous humour and cerebrospinal fluid. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, v.10, n.4; p.315-319, 1998. DAWSON, S.; WILLOUGHBY, K.; GASKELL, R.M. A field trial to assess the effect of vaccination against feline herpesvirus, feline calicivirus and felinepanleukopenia virus in six-week-old kittens, Journal of Feline Medicine and Surgery, v.3, n.16, p.17-22, 2001. ELLIS, T.M., Feline respiratory virus carriers in clinically healthy cats. Journal of the American Veterinary Medical Association, v.57, n.3, p.115-118, 1981. GASKELL, R. A study of feline upper respiratory tract disease with reference to prevalence and risk factors for infection with feline calicivirus and feline herpesvirus. Journal of Feline Medicine and Surgery, v.2, n.3, p.123-133, 2001. GASKELL, R.M.; POVEY, R.C. Experimental induction of feline viral rhinotracheitis (FVR) virus re-excretion in FVR-recovered cats. The Veterinary Record, v.100, n.7, p.128-133, 1997. GASKELL, R.M.; DAWSON, S.; RADFORD, A., THIRY, E. Feline herpesvirus, Veterinary Research, v.38, n.2, p.337-354, 2007. 33 HAMANO, M.; MAEDA, K.; KAI, K.; MOCHIZUKI, M., A novel genetic marker to differentiate feline herpesvirus type 1 field isolates, Veterinary Microbiology, n.106, n.3-4, p.195-200, 2005. HARGIS, A.M; GINN, P.E. Ulcerative facial and nasal dermatitis and stomatitis in cats associated with Feline herpesvirus-1, Veterinary Dermatology, v.10, n.4, p.267-274, 1999. HELPS, C.N.; REEVES, K.; EGAN, P.; HOWARD, P.; HARBOUR, D., Detection of Chlamydophila felis and feline herpesvirus by multiplex real-time PCR analysis. Journal of Clinical Microbiology, v.41, n.6, p.27342736, 2003. HELPS, C.R.; LAIT, P.; DAMHUIS, A. et al., Factors associated with upper respiratory tract disease caused by feline herpesvirus, feline calicivirus, Chlamydophila felis and Bordetella bronchiseptica in cats: experience from 218 European catteries. Veterinary Record, v.159, n.21, p.669-673, 2005. HENDERSON, S.M.; BRADLEY, K.; DAY, S. et al. Investigation of nasal disease in the cat – a retrospective study of 77 cases. Journal of Feline Medicine and Surgery, v.6, n.4, p.245-257, 2004. JANEWAY, C.A.; TRAVERS, P.; WALPORT Immunobiology. New York: Garland, 2001, p.129-196. JOHNSON, R.P; POVEY, R.C. Vaccination against feline viral rhinotracheitis in kittens with maternally derived feline viral rhinotracheitis antibodies. Journal of American Veterinary Medical Association, v.186, n.2, p.149-152, 1985. JOHNSON, L.R.; FOLEY, J.E.; CLARKE. H.E. et al, Assessment of infectious organisms associated with chronic rhinosinusitis in cats, Journal of American Veterinary Medical Association; v.227, n.4, p.579-585, 2005. LAPPIN, M.R.; ANDREWS, J.; SIMPSON, D. et al. Use of serologic tests to predict resistance to feline herpesvirus 1, feline calicivirus, and feline parvovirus infection in cats, Journal of American Veterinary Medical Association, v.220, n.1, p.38-42, 2002. LAPPIN, M.R.; SEBRING, R.W.; PORTER, M. et al, Effects of a single dose of an intranasal feline herpesvirus 1, calicivirus, and panleukopenia vaccine on clinical signs and virus shedding after challenge with virulent feline herpesvirus 1, Journal of Feline Medicine and Surgery, v.8, n.3, p.15863, 2006. MAGGS, D.J., CLARKE, H.E., Relative sensitivity of polymerase chain reaction assays used for detection of feline herpesvirus type 1 DNA in clinical samples and commercial vaccines, American Journal of Veterinary Residence, v.66, n.9, p.1550-1555, 2005. MAGGS, D.J.; LAPPIN, M.R.;NASISSE, M.P., Detection of feline herpesvirus-specific antibodies and DNA in aqueous humor from cats with and without uveitis, American Journal of Veterinary Research, n.60, v.8, p.932-936,1999. MAYR, A.; GUERREIRO, M.G. Virologia veterinária. 2ª. ed. Porto Alegre/RS: Ed. Sulina, 1981. p.11-54. MARSILIO, F.; MARTINO B, AGUZZI, I. et al, Duplex polymerase chain reaction assay to screen for Feline Herpesvirus-1 and Chlamydophila spp in mucosal swabs from cats, Veterinary Research Communications, v.28, n.1, p.295-298, 2004. 34 MOUZIN, D.E.; LORENZEN, M.J., HAWORT, J.D., Duration of serologic response to three viral antigens in cats, Journal of American Veterinary Medical Association, v.224, n.1, p.61-66, 2004. NASISSE, M.P.; WEIGLER, B.J. The diagnosis of ocular herpes virus infection. Journal of Veterinary Ophthalmology, v.7, n.5 p.4-51, 1998. PEDERSEN, N.C.; SATOP, R.; FOLEY, J.E. et al., Common virus infections in cats, before and after being placed in shelters, with emphasis on Feline enteric coronavirus, Journal of Feline Medicine and Surgery, v.6, n.2, p.83-88, 2004. SPATZ, S.J.; ROTA, P.A.; MAES, R.K., Identification of the feline herpesvirus type 1 (FHV-1) genes encoding glycoproteins G, D, I and E: expression of FHV-1 glycoprotein D in vaccinia and raccoon poxviruses, Journal of General Virology, v.75, n.6, p.1235-1244, 1994. VOGTLIN, A, C.; FRAEFEL, S.; ALBINI, C.M. et al, Quantification of feline herpesvirus 1 DNA in ocular fluid samples of clinically diseased cats by real-time TaqMan PCR, Journal of Clinical Microbiology, v.40, n.2, p.519-523, 2002. 35
Download