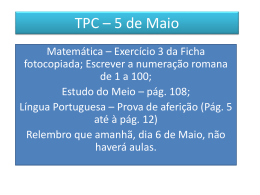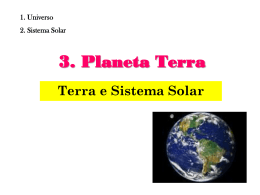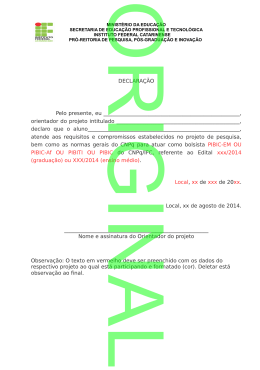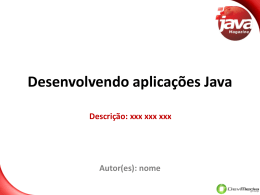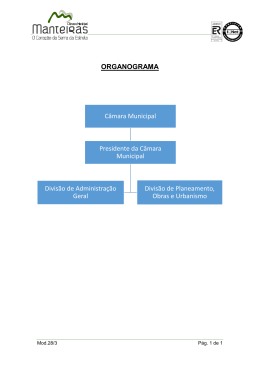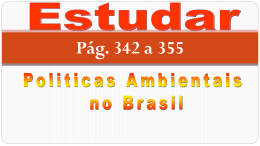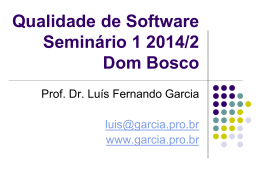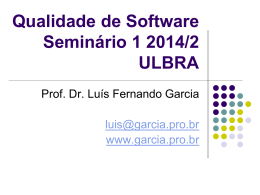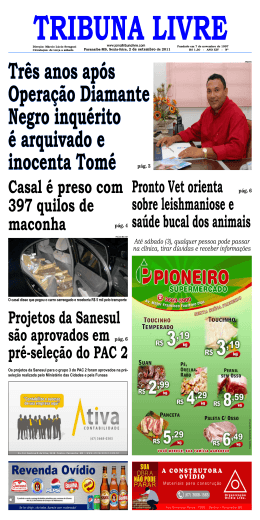ANA LÚCIA NISHIDA TSUTSUI REVISTA CULT CANAL DE EXPRESSÃO PÚBLICA DA PRODUÇÃO INTELECTUAL Dissertação apresentada em cumprimento parcial às exigências do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, para obtenção do grau de Mestre. Orientador: Prof. Dr. José Salvador Faro Universidade Metodista de São Paulo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social São Bernardo do Campo, 2006 2 A dissertação Revista Cult: canal de expressão pública da produção intelectual, elaborada por Ana Lúcia Nishida Tsutsui, foi defendida no dia 11 de abril de 2006, tendo sido: ( ) Reprovada ( ) Aprovada, mas deve incorporar nos exemplares definitivos modificações sugeridas pela banca examinadora, até 60 (sessenta) dias a contar da data da defesa. ( X ) Aprovada com nota 10 (dez) ( ) Aprovada com louvor Banca examinadora: __________________________________________________ Prof. Dr. José Salvador Faro (PRESIDENTE) __________________________________________________ Prof. Dr. Herom Vargas (TITULAR – UMESP) __________________________________________________ Profª. Drª. Cristiane Costa (TITULAR – UERJ) Área de concentração: Processos comunicacionais Linha de pesquisa: Comunicação especializada Projeto temático: Jornalismo cultural – espaço público da produção intelectual 3 Para Franthiesco, por fazer parte da minha história, por partilhar angústias e expectativas, por dividir sonhos e planos de futuro, por ser essencial. 4 AGRADECIMENTOS Que me desculpem os manuais. Ao menos neste espaço, deixarei de lado as formalidades para que as emoções venham à tona. Mais de dois anos se passaram desde o dia em que decidi escrever meu projeto de mestrado. Neste momento, um filme passa pela minha cabeça. Seleção, projeto, aulas... a pausa para o café... amigos, conversas de corredor... qualificação, congressos, pressão de prazos, notas, bibliotecas, infinidade de leituras... momentos de alegria e de desespero. Ao recordar tudo isso, as lágrimas são inevitáveis... misto de desabafo, alívio e satisfação. Mais de dois anos... de muita pesquisa, muito estudo, muito trabalho, muito esforço. Semanas em claro, muitas renúncias. Telefonemas não retornados, e-mails não respondidos, encontros adiados, planos que ficaram para depois. Ao final, a dissertação impressa! É... o caminho não foi fácil. E teria sido ainda mais difícil se eu não pudesse contar com o apoio de pessoas tão especiais que me estenderam as mãos ao longo dessa jornada. Sem elas, talvez eu não conseguisse chegar até aqui. A elas, agradeço de todo meu coração. Hoje, recolho num grande abraço: Meu orientador, Faro, querido mestre, por ter me recebido de braços abertos, por acreditar no meu trabalho e, acima de tudo, pela paciência e dedicação; Os convidados da banca de defesa, Herom Vargas e Cristiane Costa, por aceitarem o convite e pelo cuidado na avaliação deste trabalho; Meus entrevistados, Manuel da Costa Pinto e Marcelo Rezende, pela atenção e disposição em partilhar comigo o universo da revista Cult; especialmente o primeiro, profissional que muito admiro, e que gentilmente me cedeu as edições que faltavam para a análise; Minhas professoras, Elizabeth Gonçalves e Cicília Peruzzo, eternas tutoras, por todo carinho e por terem me aberto as portas do mundo acadêmico; Meus professores do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da UMESP, pela convivência rica e estimulante; 5 Meus professores, Herom Vargas e Graça Caldas, convidados da banca de qualificação, pelas contribuições tão oportunas; Meus amigos da pós, José Augusto, Lis, Grego, Lílian e Taís, fonte de alegria e eternas lembranças no coração, por terem sempre uma mão estendida para os momentos de crise; Minha família, por ter agüentado meu mau-humor, minhas crises de estresse, minha impaciência; Meu namorado, futuro marido, Franthiesco, por estar ao meu lado, sempre. Por fim, incluo neste abraço todos aqueles que contribuíram de alguma forma para que esse sonho se tornasse realidade, fazendo especial distinção ao CNPq pela bolsa de estudos concedida. A todos, meus sinceros agradecimentos. 6 SUMÁRIO pág. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 I. IMPRENSA E INTELECTUALIDADE ................................................ 16 1. Quem são os intelectuais? ....................................................................... 17 2. A origem e a função dos intelectuais na sociedade .......................... 18 3. Intelligentsia brasileira ............................................................................ 25 4. Onde estão nossos intelectuais? ............................................................ 33 II. JORNALISMO CULTURAL .................................................................... 38 1. O conceito de cultura para o jornalismo ............................................. 39 2. História do jornalismo cultural .............................................................. 42 3. Particularidades do jornalismo cultural ............................................... 54 III. REVISTAS CULTURAIS ......................................................................... 64 1. Suporte revista: algumas considerações .............................................. 64 2. Histórico do mercado de revistas brasileiras ...................................... 67 2.1 A trajetória das revistas culturais e literárias ......................... 80 IV. CULT: REVISTA BRASILEIRA DE CULTURA ....................... 90 1. Os primeiros anos de Cult ...................................................................... 90 2. A venda da publicação ............................................................................. 95 3. Perfil dos leitores ...................................................................................... 103 4. Como Cult sobrevive? ............................................................................. 104 7 V. CULT: CANAL DE EXPRESSÃO PÚBLICA DA PRODUÇÃO INTELECTUAL ....................................................................... 1. Cult: jornalismo cultural de qualidade ................................................ 107 107 1.1 Abordagem plural ......................................................................... 108 1.2 Cânone e novos autores ............................................................... 110 1.3 O sentido da “notícia” em Cult .................................................. 113 1.4 Erudição, didatismo e informação ............................................ 116 1.5 Criatividade das pautas ................................................................ 119 1.6 O lugar da crítica ........................................................................... 120 2. Cult: jornalismo de referência ............................................................... 124 2.1 Jornalismo autoral ......................................................................... 124 2.2 Perfil acadêmico da revista ......................................................... 125 CONCLUSÕES ....................................................................................................... 128 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................... 135 ANEXOS .................................................................................................................... 143 8 RESUMO O objetivo deste estudo é analisar, numa perspectiva histórico-sociológica, o papel desempenhado pela imprensa especializada, no caso pela revista Cult, na promoção e divulgação de conteúdos relacionados à cultura com o intuito de investigar se a mesma pode ser entendida como canal de expressão pública da produção intelectual. A intenção é contribuir com as discussões em torno do jornalismo cultural, entendendo-o como uma das variáveis do trabalho jornalístico com especificidades que lhe são determinantes. Ainda hoje essa especialidade tem sofrido generalizações como se uma única característica servisse de base para o que representa. Entretanto, a partir da revisão bibliográfica sobre o tema e de uma análise qualitativa do conteúdo da revista, confirmou-se a hipótese inicial de que o universo denominado “jornalismo cultural” corresponde a uma dinâmica mais ampla e complexa da que lhe é atualmente conferida. Rompeu-se, desta forma, com a visão simplificadora da cobertura da área, comprovando a existência de uma mídia que atua como espaço de reflexão, sendo responsável pela difusão e propagação de bens simbólicoculturais. Palavras-chave: comunicação, cultura, jornalismo cultural, intelectuais, revista Cult. 9 ABSTRACT This paper objects to analyze, in a sociohistorical perspective, the role played by the specialized press, in this case by Cult magazine, in the promotion and broadcasting of the contents regarding culture. It aims to identify if this magazine can be seen as a public expression media of the intellectual production. The intention is to contribute with the debate over cultural journalism, one of the variables of the journalistic work, with specific characteristics that are determining. Nowadays, this area of the journalism practice has suffered with some generalizations, as if only one aspect were the base of what cultural journalism represents. However, based on a bibliographical review of the issue and in a qualitative analysis of the magazine, the initial hypothesis was confirmed, that the universe called “cultural journalism” actually corresponds to a broader and more complex dynamics than it is given today. The simplified view of the journalistic coverage in this area was broken, proving the existence of a media that acts as an area of reflection, being responsible to the diffusion and broadcasting of cultural-symbolic goods. Key words: communication, culture, cultural journalism, intellectuals, Cult magazine. 10 RESUMEN El objetivo del estudio es analizar, desde una perspectiva histórico-sociológica, la función de la prensa especializada, en el caso de la revista Cult, en la promoción y divulgación de contenidos relacionados a la cultura con la intención de investigar si la misma puede ser entendida como una vía de expresión pública de la producción intelectual. La intención es contribuir con el debate acerca del periodismo cultural, entendiéndolo como una de las variables del trabajo periodístico con especificidades que le son determinantes. Hoy en día esta especialidad sufre generalizaciones como se una única característica sirviera como base para lo que representa. Sin embargo, a partir de la revisión bibliográfica sobre el tema y del uso de análisis cualitativo del contenido de la revista, la hipótesis inicial se confirmó, de que el universo llamado “periodismo cultural” corresponde a una dinámica más amplia y compleja de la que le es actualmente conferida. Se rompió, de esta manera, con la visión simplista de la cobertura periodística del área, comprobándose la existencia de una prensa que actúa como un espacio de reflexión, siendo responsable por la difusión y propagación de bienes simbólico-culturales. Palabras-clave: comunicación, cultura, periodismo cultural, intelectuales, revista Cult. 11 INTRODUÇÃO Nas sociedades contemporâneas, onde a oferta cultural é muito heterogênea, coexistem vários estilos de produção e recepção, formados por relacionamentos distintos com bens procedentes de tradições eruditas, populares e massivas que se integram sincrônica e diacronicamente originando múltiplos sistemas de práticas simbólicas. É dentro deste universo plural que se insere a Cult: Revista Brasileira de Cultura, uma publicação que, ao mesmo tempo, pertence ao campo midiático – identificado pelos teóricos da Escola de Frankfurt como indústria cultural 1 – e ao campo erudito/literário para utilizar uma expressão cunhada por Pierre Bourdieu (1996). Trata-se de um espaço de tensão onde tanto explicações que encaram os meios de comunicação como veículos de poder e de dominação suspeitos de violência simbólica quanto interpretações que acreditam que produções culturais sejam incólumes a dinâmicas mercadológicas tornam-se insatisfatórias. A intenção, portanto, não é negar o fato de que Cult funcione como mercadoria cultural, mas ampliar o foco de análise com o intuito de entendê-la também como um território de tensionamento de forças sociais por onde transitam produções simbólicas de natureza diversa. Assim, o objetivo desta pesquisa é contribuir com as discussões em torno do jornalismo cultural enquanto prática diferenciada dentro da imprensa, colaborando para o aclaramento de noções que ainda hoje se encontram esparsas e confusas tanto no meio acadêmico quanto nas redações, gerando uma imprecisão de conceitos sobre o tema. Na opinião de diversos autores, o jornalismo cultural já ocupou lugar de destaque no cenário nacional, sendo este o espaço ideal para a realização de uma série de debates que acabaram por promover e enriquecer nossa cultura. Estude os “ismos” todos lançados nas três primeiras décadas do século e você terá de estudar as revistas em que eles foram formulados e debatidos. Assim foi com o surrealismo francês, o futurismo russo, o imagismo americano: a expansão das vanguardas estava diretamente ligada à expansão da imprensa, dos recursos gráficos, do público urbano ávido por novidades. No Brasil, por exemplo, o modernismo paulista teve na linha de frente a revista Klaxon, título que significa “buzina”; e o buzinaço promovido por Oswald de Andrade, Mário 1 Theodor Adorno e Max Horkheimer, em Dialética do esclarecimento (1985), definem por indústria cultural a conversão da cultura em mercadoria, isto é, o processo de subordinação da consciência à racionalidade capitalista, ocorrido nas primeiras décadas do século XX, cujas características gerais seriam a padronização, a repetição e a pseudopersonalização. 12 de Andrade, Victor Brecheret e outros no Teatro Municipal, a Semana de 22, deixa ecos até hoje (PIZA, 2003, p.19). Atualmente, no entanto, fala-se de uma “crise” na cobertura das editorias de cultura – especialmente em relação aos jornais diários e revistas semanais de informação – acusadas de estarem cada dia mais dependentes e submissas à lógica do mercado de produtos culturais industrializados. Pretende-se, contudo, comprovar que este tipo de avaliação não dá conta de uma análise mais global da situação. Em outras palavras, há um outro lado da questão, o caso das revistas especializadas, ainda muito pouco explorado. A escolha de Cult enquanto objeto de estudo caminha nessa direção. Além de sua importância enquanto veículo de divulgação de temas artísticos e culturais, de seu tempo de permanência e de uma certa predileção pessoal pelo periódico, parte-se do pressuposto de que se trata de uma publicação de tendência qualificadora, que participa do processo hegemônicocultural, atuando como ambiente de reflexão, propagador de valores e bens simbólicos. Da mesma maneira, acredita-se que nela operam profissionais, agentes da produção cultural, que não se limitam ao acompanhamento e difusão dos produtos da indústria cultural, mas que, antes, se preocupam em transmitir valores por meio de referências pessoais. Desta forma, o desafio é enxergar a mídia não apenas como ambiente que conserva as marcas da exploração social, mas também como espaço de prática política e produção cultural. A linha de investigação deste estudo baseia-se na idéia de que a experiência tecnológica, formal, organizacional e profissional dos meios de comunicação já atingiu um grau de amadurecimento que leva suas produções a assumirem funções e não apenas reproduções de padrões e significados. Isso limita sensivelmente o alcance teórico de abordagens que visam estabelecer uma provável unidade ideológica como fator explicativo da natureza e dinâmica dessas instituições. Deste modo, vale uma releitura das proposições de Habermas em relação à constituição de uma “esfera pública”, lembrando que, já na superação do absolutismo, a imprensa jogou papel decisivo na articulação da opinião pública. Um território que, mesmo tendo sua origem na formação da sociedade burguesa, ultrapassou o poder patrimonial dessa classe para se abrir a debates mais amplos, oferecendo a seus agentes a condição de “intelectuais orgânicos”, no sentido que Gramsci dá à palavra. Assim, a questão intelectual é vista aqui, conforme Faro (1999, p.15), como “uma categoria social específica, cuja obra transcende seu lugar de classe e, no caso dos intelectuais-jornalistas, os limites da indústria cultural”. Encontra-se, desta forma, um ponto 13 de contato com a concepção francesa de intelectual: um ator que deve, ao mesmo tempo, pertencer a um “campo”, ser especialista, e sair dele para participar das questões da “esfera pública” 2. Na intersecção dessas duas visões, há uma forte tendência em refletir sobre a ação dos meios de comunicação na constituição de identidades, em perceber os intelectuais como um grupo profissional com interesses específicos e em investigar o papel que a intelligentsia desempenha no ambiente social, avaliando seu lugar na imprensa. Com base nessas orientações, o projeto é guiado pela seguinte questão: a revista Cult pode ser caracterizada como canal de expressão pública da produção intelectual? Do ponto de vista metodológico e conceitual, trabalhou-se com a formulação de que a análise dos sistemas simbólicos não é uma ciência experimental em busca de leis, mas uma ciência interpretativa em busca de significações. Partindo desse princípio, a pesquisa fundamentou-se na revisão bibliográfica sobre o assunto e foi realizada por meio de uma análise qualitativa do conteúdo da revista. Conforme Lindzey (1968, p.317), “ a análise de conteúdo é qualquer pesquisa técnica cuja finalidade consiste em fazer inferências através da identificação sistemática e objetiva de características especificadas no interior do texto”. Em sua vertente qualitativa, este tipo de procedimento metodológico não demanda obrigatoriamente a coleta de dados numéricos para mensurar o objeto, mas sim a obtenção de dados descritivos sobre situações, pessoas ou processos por meio do contato do pesquisador com o material estudado. A partir dessa aproximação, formula-se inferências acerca do receptor e/ou do emissor da comunicação, em termos de preferências, intenções, valores sociais envolvidos etc. Trabalha-se com o produto final (COHN, 1977, p.333). Neste aspecto, há um ponto de encontro com a fenomenologia 3, não na acepção exata empregada por Hegel ou Husserl, mas apenas no sentido de perceber os fenômenos do jornalismo como objetos de estudo que podem ser isolados e analisados cientificamente. A técnica deste método de pesquisa baseia-se em estudo descritivo e interpretativo de determinado fenômeno tal qual ele se manifesta no tempo e no espaço. Dentro dessa perspectiva, buscou-se verificar no tratamento editorial da revista Cult aspectos que permitiram avaliar em que medida seus textos contribuíram para a divulgação de 2 Os conceitos de “campo” e “esfera pública” são tomados aqui a partir das formulações de Bourdieu e Habermas, respectivamente. 3 É interessante a análise de Edgar Morin (1986, p.26) quando diz que a fenomenologia não deve ser empregada “para invocar Hegel ou Husserl, mas conduz: a) ao fenômeno concebido como dado relativamente isolável, não a partir de uma disciplina, mas de uma emergência empírica [...]; b) ao logos, isto é, à teoria concebida [...]. O fenômeno adere, pois, à realidade empírica e ao mesmo tempo invoca o pensamento teórico”. 14 temas culturais, projetando modelos, idéias e valores defendidos pela intelectualidade brasileira. O corpus da pesquisa pretendeu abranger todo o período de existência do periódico, desde seu surgimento, em julho de 1997, até a edição comemorativa de seu oitavo aniversário, em julho de 2005 (considerando-se os limites impostos pela obrigatoriedade de finalização deste trabalho). Como se trata de uma publicação mensal, a amostra compreendeu, ao todo, 93 edições. Uma vez definido, por meio da revisão bibliográfica, o arcabouço teórico-conceitual em que se sustenta esta dissertação, a etapa de investigação compreendeu três fases: coleta de dados sobre a publicação, indexação do material de análise e reconhecimento de indicadores para a fundamentação da interpretação final. Num primeiro período de familiarização com o objeto, foram reunidas informações como corpo editorial, tiragem, periodicidade, número de páginas e de matérias por edição, material publicitário, perfil dos leitores e organização estrutural das seções da revista. Num segundo momento foi elaborado um mapeamento do conteúdo de Cult através da confecção de um quadro descritivo, onde se fez uma espécie de resumo do que foi publicado, mantendo-se a organização apresentada no índice de cada uma das edições consideradas. Dentro desse universo, procurou-se identificar nas escolhas temáticas, nos gêneros das seções e nos editoriais as propostas perseguidas por Cult e verificar se os traços do projeto original se mantiveram ao longo de sua trajetória. Para o aprofundamento de algumas questões e para o esclarecimento de dúvidas em relação à história da revista, entrevistas com editores (tanto da fase Lemos Editorial quanto da fase Editora Bregantini) foram realizadas. Com o intuito de confirmar ou refutar as hipóteses iniciais e atingir os objetivos propostos, na última etapa, investigaram-se as matérias de capa; os temas abordados; os autores mais citados; o perfil do grupo de editores, colunistas e colaboradores da revista; e, finalmente, as vertentes teóricas que permearam e se cristalizaram, construindo as narrativas que circularam nas páginas de Cult. Para dar a devida importância ao tema e garantir uma análise bem fundamentada, a dissertação foi dividida em cinco capítulos, seguidos da conclusão, da bibliografia e dos anexos. O primeiro capítulo – que tem os intelectuais como foco – busca localizar as diferentes abordagens sobre o assunto, procurando conceituar o termo, percorrer a história de uma 15 possível tradição intelectual brasileira e, a partir de então, identificar os vínculos estabelecidos entre intelectualidade e imprensa. Já o segundo capítulo, mais voltado ao jornalismo, tem como objetivo central investigar o amplo debate que se configurou em torno da cobertura cultural realizada pelos veículos de comunicação. As particularidades do suporte revista são estudadas no terceiro capítulo, que traça um panorama do mercado de revistas brasileiras, sublinhando a trajetória das revistas culturais e literárias. No quarto capítulo, são feitos a apresentação e o resgate da história da revista Cult, desde o seu surgimento, em 1997, até os dias de hoje. Esta parte do trabalho traz, além das transformações mais significativas do veículo, informações sobre suas principais seções, uma síntese com o perfil de seus leitores e uma reflexão sobre as condições para sua permanência no mercado editorial. O quinto capítulo apresenta os resultados da análise propriamente dita e recorre a duas vertentes de investigação. A primeira procura verificar se as críticas impingidas ao jornalismo cultural se sustentam quando aplicadas à Cult; já a segunda, busca comprovar e analisar a relação da revista com o universo intelectual. As conclusões da pesquisa aparecem em seguida, destacando os principais pontos da análise e ponderando as informações recolhidas, pretendendo contribuir com a bibliografia existente e fomentar o debate acerca da qualidade da cobertura jornalística na área cultural e o papel que os intelectuais desempenham neste contexto específico. 16 CAPÍTULO I – IMPRENSA E INTELECTUALIDADE “O intelectual é um homem público: nada é sem aqueles que o escutam” Louis Boudin Sobre imprensa e intelectualidade é possível abordar quase uma infinidade de aspectos. Suas relações são múltiplas e extraordinariamente variadas. Não apenas porque seu instrumento fundamental – a palavra e suas estratégias discursivas verbais – seja comum, mas porque no processo de desenvolvimento histórico e institucional do campo jornalístico encontram-se intelectuais intimamente ligados à consolidação do mesmo, o que revela interações mútuas entre ambos os universos que, por vezes, chegam a se confundir. A história do jornalismo (SODRE, 1966; BAHIA, 1990) mostra que, assim como em outros países, o periodismo brasileiro nasceu ligado à literatura e à política. A presença de intelectuais, portanto, remonta à fase inicial da imprensa. Eles freqüentaram as páginas de nossos veículos, atuando, muitas vezes, como agentes dos processos de revolução social. No contexto da sociedade moderna, a intelectualidade se constituiu em esfera social difundida e incorporada ao cotidiano através da descoberta da imprensa, no século XVI, e de seu aperfeiçoamento, no século XVIII. A adequação da tecnologia à produção e distribuição, em escala industrial, de livros, revistas, jornais e veículos similares converteu estes suportes em portadores legítimos dos textos de intelectuais que vislumbraram no jornalismo a conquista de um espaço que teria a competência de ampliar seu público e o reconhecimento coletivo de sua atividade. Assim, compreender o que se entende por “intelectuais” torna-se ponto de partida para este estudo, uma vez que é a análise de sua participação em publicações especializadas em assuntos culturais o principal objetivo deste projeto. Neste capítulo, buscamos investigar as diferentes abordagens sobre o assunto, procurando conceituar o termo e, a partir de então, identificar os vínculos estabelecidos entre intelectualidade e imprensa. Em outras palavras: “Quem são os intelectuais?”, “Qual a sua origem?”, “O que eles representam para a sociedade?”, “Quais seus mecanismos de inserção e legitimação no sistema coletivo?”, “Qual a sua função?”, “Que papel desempenham no espaço midiático brasileiro?” – essas e outras são as perguntas às quais procuraremos responder por meio de idéias que serão apresentadas e discutidas ao longo do texto. 17 1. Quem são os intelectuais? Conforme Boudin (1971, p.150), “são intelectuais os sofistas pelo que respeita a Platão, os enciclopedistas pelo que respeita a Rousseau, os ideólogos pelo que respeita a Marx, os professores pelo que respeita a Nietzsche etc”. Mas, afinal, o que há em comum entre essas figuras? Boudin (1971, p.142) acredita que, independentemente do local de origem, em todas as épocas, o intelectual distinguiu-se dos outros homens pelo seu modo de vida: “o gosto pelos livros começa por singularizá-lo e torná-lo uma espécie à parte na sociedade econômica. A natureza do seu trabalho isola-o igualmente: o pensamento, a escrita, exigem sempre recolhimento, por vezes até solidão”. Ao caracterizá-los, Sirinelli (1996, p.214) diz que a história política dos intelectuais passa inevitavelmente pela pesquisa, longa e ingrata, e pela gênese, circulação, transmissão e interpretação de textos, especialmente os textos impressos, primeiro suporte dos fatos de opinião. Em seu clássico estudo Os intelectuais e a organização da cultura, Gramsci (1978, p.346) vai mais longe ao afirmar que “todos os homens são intelectuais [...], mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais”. Para ilustrar sua idéia, o filósofo italiano sugere: “assim também não se pode dizer que, pelo fato que cada um, em certas alturas, frite dois ovos ou cosa um rasgão do casaco, todos são cozinheiros ou alfaiates”. Eis a chave do problema. Segundo ele, “se se pode falar de intelectuais, não se pode falar de não-intelectuais, porque não existem não-intelectuais”. [...] a relação entre esforço de elaboração intelectual-cerebral e esforço muscular-nervoso nem sempre é igual; têm-se portanto diversos graus de atividade específica intelectual. Não há atividade humana da qual se possa excluir qualquer intervenção intelectual, não se pode separar o “homo faber” do “homo sapiens” (GRAMSCI, 1978, p.346). Na realidade, quando se distingue entre intelectuais e não-intelectuais, tem-se em conta a direção em que se apóia o peso maior da atividade profissional específica – se na elaboração intelectual ou no esforço muscular-nervoso. A questão, no entanto, é um pouco mais complexa, sendo difícil determinar com precisão as linhas divisórias desse grupo. As acepções dadas ao termo são as mais diversas possíveis. Elas variam desde a mais ampla, que abarca todos os que se dedicam a ocupações não-manuais; passam por uma 18 definição um pouco mais seletiva, que engloba apenas os criadores e os mediadores culturais, ou seja, aqueles que contribuem diretamente para a criação, transmissão e crítica de idéias (escritores, jornalistas, artistas, cientistas, filósofos, professores, pensadores religiosos, teóricos sociais etc.); e culminam na significação mais estrita de todas, que toma por intelectuais somente os indivíduos compreendidos num grupo muito menor daqueles, baseada na noção de engajamento. 2. A origem e a função dos intelectuais na sociedade Historicamente, para alguns pesquisadores (BOTTOMORE, 1974, p.64), os primeiros intelectuais têm sua origem associada à noção de “classe instruída” ou “elite governante”. Assim, na China, os literati formaram, durante longos períodos, um estrato dirigente desse tipo, que, de acordo com Max Weber, surgiu da educação de leigos de boas maneiras. Não se tratava de um grupo hereditário ou exclusivista, pois o acesso a eles se dava através de competição em um exame público. Porém, na prática, este grupo era em grande parte recrutado dentre importantes famílias feudais, e, mais tarde, dos estratos sociais mais altos (inclusive de uma grande proporção de famílias de altos funcionários). Na Índia existia uma situação semelhante, no sentido de os brâmanes constituírem-se num estrato dominante da sociedade; mas existem importantes diferenças em relação ao caso da China, pois os brâmanes formavam uma casta hereditária, e seu treinamento era religioso, não literário. Por outro lado, nas sociedades feudais européias, os sacerdotes ocupavam uma posição de menor domínio; só com o colapso do feudalismo é que eles começaram a assumir um papel social mais significativo. Boudin (1971, p.29) acredita que o intelectual nasce com as universidades, pois “foram elas que deram ao espírito humano um modo duradouramente organizado de formação, de expressão e de propagação”. No século XVII, portanto, ao se falar de cultura, já não se pensava em erudição, mas sim em educação. De acordo com Jacoby (2001, p.137), contudo, “a questão pode estar menos em saber desde quando existem eruditos e escribas e mais em quando começaram a se unir e a adquirir consciência de si próprios como grupo – e fama”, e isso aconteceu mais recentemente, na Europa e na Rússia do fim do século XIX. 19 A experiência russa é reveladora, porque legou não apenas uma palavra, intelligentsia 4, como debates densos e instrutivos. Críticos, romancistas e revolucionários que compunham essa intelligentsia desempenharam um papel decisivo ao longo de todo o século XIX e o início do século XX. [...] Para Struve, a intelligentsia russa distinguia-se mais por sua “força ideológica e política” e “sua alienação e sua hostilidade em relação ao Estado”, assim como sua “irreligiosidade” [...] (JACOBY, 2001, p.138). [...] na França, onde a palavra “intelectuais” surgiu durante o Caso Dreyfus, os intelectuais efetivamente revelavam-se críticos do Estado e da sociedade, quase sempre como socialistas e marxistas. A história do surgimento dos intelectuais durante o caso Dreyfus tem sido contada com freqüência. Deu lugar a esse locus classicus dos intelectuais, a carta aberta de Émile Zola, “J’accuse”, que clamava por verdade e justiça, e terminava com uma série de acusações ao Estado e seus representantes (JACOBY, 2001, p.138). “O Caso Dreyfus assistiu, assim, ao nascimento da moderna concepção do intelectual comprometido como membro de um grupo, formado por escritores, artistas e os que viviam do próprio intelecto” (CAHM apud JACOBY, 2001, p.139). O crescimento das universidades, associado à difusão do conhecimento humanístico, tornou possível a formação de uma classe intelectual que não constituía uma casta sacerdotal, que até certo ponto estava desligada das doutrinas dominantes da sociedade feudal. Essa classe produziu os pensadores do Iluminismo. Particularmente na França, os intelectuais estabeleceram-se como críticos da sociedade opondo-se à classe dominante e à Igreja do ancien régime. É nesse papel, de críticos da sociedade, que os intelectuais passam a ser considerados. Alguns estudiosos, no entanto, situam o aparecimento dos intelectuais em períodos anteriores. Sartre (1994, p.21), por exemplo, diz que os intelectuais modernos são os netos dos philosophes, os grandes pensadores. Aos philosophes ele reserva, pois, a condição de precursores. Os filósofos aparecem assim como “intelectuais orgânicos” 5, no sentido que Gramsci dá à palavra: “nascidos de classe burguesa, encarregam-se de exprimir o espírito objetivo dessa classe”. 4 O termo intelligentsia apareceu nos anos 1800 (introduzido, segundo parece, por um romancista de importância secundária, Boborykin) para designar um grupo de indivíduos que viviam, desde 1830-1840, à margem da élite oficial. Professores sem cátedra, escritores e artistas sem meios, nobres sem posição, eclesiásticos sem benefícios etc., esses “vagabundos da terra russa”, marcados pela influência do romantismo e do idealismo alemães, sentem vivamente a condição de “humilhados e de ofendidos”, conforme o título de Dostoiévsky, dado aos seus compatriotas (BOUDIN, 1971, p.80). 5 O “intelectual orgânico” é o máximo grau de consciência de um intelectual sobre a sua própria situação na sociedade (GONZALEZ, 1982, p.94). 20 Homens da lei como Montesquieu, homens das letras como Voltaire e Rousseau, matemáticos como D’Alembert, eles foram, como todos os intelectuais depois deles, “especialistas do saber prático”. Não foram guardiões de uma ideologia, como os clérigos em relação ao cristianismo, até o século XV os verdadeiros donos do saber em uma sociedade agrária em que barões e camponeses eram iletrados. Os “filósofos” foram os “especialistas do saber prático” em um mundo que se caracterizava pela dessacralização em todos os setores. Foram, portanto, os primeiros a cometer esse “excesso” que constitui os intelectuais, aplicando a razão e as regras do método científico para a crítica da sociedade do seu tempo, ou seja, para outros fins que não os do seu próprio campo de atividade (SARTRE, 1994, p.7). Ele considera os filósofos como intelectuais de uma época de ouro; uma condição impossível para os que vieram depois. Para Sartre, diferentemente dos precursores, o intelectual moderno é um homem-contradição. [...] o intelectual é o homem que toma consciência da oposição, nele e na sociedade, entre a pesquisa da verdade prática (com todas as normas que ela implica) e a ideologia dominante (com seu sistema de valores tradicionais). Essa tomada de consciência – ainda que, para ser real, deva se fazer, no intelectual, desde o início, no próprio nível de suas atividades profissionais e de sua função – nada mais é que o desvelamento das contradições fundamentais da sociedade, quer dizer, dos conflitos de classe e, no seio da própria classe dominante, de um conflito orgânico entre a verdade que ela reivindica para seu empreendimento e os mitos, valores e tradições que ela mantém e que quer transmitir às outras classes para garantir sua hegemonia (SARTRE, 1994, p.30-31). Não se pode perder de vista que os intelectuais modernos vivem no contexto da sociedade capitalista. Quer dizer, todos vendem suas forças de trabalho – mesmo tendo em conta que sua força de trabalho produz basicamente idéias – e, em função disso, encontram-se na condição de trabalhadores assalariados, produtores, portanto, de maisvalia. Eles têm, então, uma situação profundamente contraditória, uma vez que, por um lado, pertencem à superestrutura ideológica da sociedade na medida em que trabalham com idéias, com valores, com teoria do conhecimento, com ideologias; por outro lado, fazem parte da infra-estrutura econômica do modo de produção capitalista-monopolista, isto é, eles são uma força produtiva. Desta forma, por ser intelectual e por ser de classe média, o intelectual moderno tem uma grande tarefa histórica. Tem que se colocar contra o humanismo burguês; tem que reconhecer que a universalidade não está pronta, está por se fazer. Mas, assim como não pode, por força de sua situação de classe, tornar-se um “intelectual orgânico”, também não pode assumir nenhum mandato. Trata-se de um ser dividido: um pesquisador e um servidor da 21 hegemonia. Alguém dilacerado entre as exigências da universalidade presentes na prática da pesquisa e os particularismos sociais, econômicos e culturais que condicionam a sua atividade e a sua própria vida. Sua contradição maior, portanto, está no universalismo de sua profissão e no particularismo da classe a qual pertence: [...] suspeito às classes trabalhadoras, traidor para as classes dominantes, recusando sua classe sem jamais poder se livrar totalmente dela, até nos partidos populares ele reencontra, modificadas e aprofundadas, suas contradições; até nesses partidos, se neles entrar, ele se sente ao mesmo tempo solidário e excluído, já que ali continua em conflito latente com o poder político; inassimilável em todos os lugares. Sua própria classe não o quer, assim como ele não a quer, mas nenhuma outra classe se abre para acolhê-lo (SARTRE, 1994, p.51). Não se pode dizer, porém, que Sartre apresenta uma visão pessimista do intelectual. Ao final, percebe-se que o intelectual que ele nos apresenta pode ter alguma esperança se assumir de modo pleno a contradição que o constitui. Na verdade, a sua contradição é a sua função. E a sua função é, no fim das contas, o conhecimento. Ao tomar consciência de si, de sua contradição, o intelectual é levado a um caminho que todos podem, depois dele, refazer. Sartre reserva para os intelectuais uma missão de grandeza, talvez a mais nobre das missões, a de exprimir a sociedade para si própria. Nem todos os autores, todavia, têm essa visão romântica sobre a atuação social dos intelectuais. Barros (1977, p.7), por exemplo, acredita que “a tarefa básica da camada intelectual numa sociedade de classes é soldar a hegemonia ético-política da classe dominante”. Quando se afirma que a função intelectual – neste período e após ele – é soldar a hegemonia da classe dominante, se afirma exatamente isso: que mesmo antes de a classe dominante tornar-se dominante politicamente, uma camada intelectual, cujos interesses objetivos eram idênticos aos interesses desta nova camada social que estava surgindo, tornou as idéias que interessavam a esta camada social emergente (no caso a burguesia comercial e posteriormente a burguesia industrial) hegemônicas na sociedade (BARROS, 1977, p.9). Para justificar sua colocação, ele demonstra que foi a produção intelectual – no campo da ciência do conhecimento, da natureza e do Estado – quem tornou hegemônica na sociedade a classe burguesa, que através desta mesma hegemonia ético-política e do controle dos meios de produção acabou, num prazo histórico relativamente curto, assenhorando-se do poder estatal, estabelecendo aquilo que se pode chamar a sua “ditadura de classe”, no caso, a 22 democracia liberal. Este fato, na opinião de Barros (1977, p.16), “permite perceber qual é a função do intelectual numa sociedade, quando ele se alinha à classe ascendente, à classe que disputa a hegemonia e a dominância estatal com as velhas classes dominantes”. Tal colocação leva-nos a refletir sobre uma questão que Gramsci (1978, p.343) apresenta: “os intelectuais são um grupo social autônomo e independente ou cada grupo social tem uma categoria própria especializada de intelectuais?”. O problema, como ele mesmo expõe, é complexo pelas várias formas que o processo histórico real de formação das diversas categorias intelectuais assume. Mesmo assim, ao expor uma possível resposta para seus questionamentos, o filósofo tende a aceitar a segunda resposta. Isto porque ele defende a idéia de que, historicamente, categorias especializadas são formadas para o exercício da função intelectual em conexão com todos os grupos sociais, mas especialmente em conexão com os grupos sociais dominantes, sendo que uma das características mais relevantes de cada grupo que se desenvolve para o domínio é a sua luta pela assimilação e pela conquista “ideológica” dos intelectuais tradicionais, assimilação e conquista que é tanto mais rápida e eficaz quanto mais esse grupo elabora simultaneamente os próprios intelectuais orgânicos (GRAMSCI, 1978, p.347). Na civilização moderna, todas as formas de trabalho se tornaram tão complexas e as ciências se mesclaram de tal modo à vida, que toda atividade prática tende a criar uma escola para os próprios dirigentes e especialistas e, conseqüentemente, tende a criar um grupo de intelectuais especialistas de nível mais elevado, que ensinam nestas escolas. A escola passa a ser, portanto, o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos graus. A complexidade da função intelectual nos diversos Estados pode medir-se, objetivamente, pela quantidade de escolas especializadas e pela sua hierarquização: quanto mais extensa é a “área” escolástica e quanto mais numerosos os “graus verticais” da escola, tanto mais complexo é o mundo cultural, a civilização de um determinado Estado (GRAMSCI, 1978, p.347). Deste modo, a atividade intelectual se torna importante sobretudo na produção (surgimento de novas especialidades) e na reprodução (expansão horizontal de especialidades já conhecidas) da mão-de-obra. De tal maneira que se pode dizer que a escola e a universidade existem para qualificar mão-de-obra. Isto é, para que a mão-de-obra qualificada venha a se transformar em força produtiva mais eficaz. Este sistema educacional, como denuncia Bottomore (1974, p.112), na maioria das sociedades ocidentais, funciona como instrumento de distinção. Ele não só consolida a separação entre dirigentes e dirigidos como também mantém viva toda a ideologia de 23 domínio 6 na medida em que destaca a seleção de indivíduos excepcionais para posições de elite 7, bem como as recompensas em rendimentos e status para os êxitos escolares, em vez da elevação do nível geral de educação para toda a comunidade. Neste processo, como se pode ver, a elaboração dos grupos intelectuais não se dá sobre um terreno democrático abstrato, mas segundo processos históricos tradicionais muito concretos. É exatamente isso que defende Bourdieu (2002) quando apresenta sua teoria sobre a sociologia dos campos 8. Suas análises das atitudes e das práticas culturais se baseiam na noção de habitus, termo que designa um sistema estável de disposições a perceber e agir, que contribui para reproduzir uma ordem social estabelecida em suas desigualdades. A sociedade ou a “formação social” é definida como um sistema de relações de força e sentido entre grupos e classes onde o poder simbólico é um poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. Esse poder, como afirma Bourdieu (2002, p.9-14), não está nos sistemas simbólicos em si, mas nas mãos dos agentes, como “coisa em jogo” nas suas relações de domínio e subordinação. É uma “propriedade do agente”, e quanto maior o volume e a qualidade do seu capital simbólico, maior o seu prestígio, legitimidade e distinção social. Na concepção de Bourdieu (1970, p.99-104), o campo cultural constitui-se em diferentes sistemas simbólicos e abrange dois campos básicos: o intelectual (científico, filosófico, político-jurídico, educacional) e o artístico, os quais compreendem o campo erudito propriamente dito. A história social desses campos – intelectual e artístico – e das suas autonomizações resulta da ação histórica de seus agentes na luta pela circunscrição de uma área distinta de 6 Mosca (apud BOTTOMORE, 1974, p.10) explica o domínio da minoria sobre a maioria pelo fato daquela ser organizada: “[...] o domínio de uma minoria organizada, obedecendo ao mesmo impulso, sobre a maioria desorganizada, é inevitável. O poder de qualquer minoria é irresistível ao se dirigir contra cada um dos membros da maioria tomado isoladamente, o qual se vê sozinho face à totalidade da minoria organizada. Ao mesmo tempo, a minoria é organizada exatamente por ser uma minoria” – e também pelo fato da minoria ser geralmente composta de indivíduos superiores – “[...] os membros de uma minoria dominante sempre possuem um atributo, real ou aparente, que é altamente valorizado e de muita influência na sociedade em que vivem”. 7 A palavra “élite” era empregada no século XVII para designar produtos de qualidade excepcional. Seu emprego foi posteriormente estendido para abranger grupos sociais superiores, tais como unidades militares de primeira ordem ou os postos mais altos da nobreza. Na língua inglesa o primeiro uso conhecido de “elite”, de acordo com o Oxford English Dictionary, data de 1823, quando já era aplicado para referir-se a grupos sociais (BOTTOMORE, 1974, p.7-8). Atualmente o termo é usado para referir-se a grupos funcionais, sobretudo ocupacionais, que possuem status elevado (por uma razão qualquer) em uma sociedade (idem, ibidem, p.15). 8 A teoria de Bourdieu trabalha com uma noção fundamental do pensamento marxista – a de que as instituições existentes nas diferentes esferas da sociedade não apenas coexistem, mas estão interligadas umas com as outras por relações de concordância ou contradição e afetam-se mutuamente. Ao mesmo tempo, rejeita o conceito marxista de “classe dominante” propondo a idéia de “campo” para substituí-lo. Trata-se de uma definição mais flexível que nega a existência de uma classe dominante estável e fechada, ao demonstrar que a maioria das sociedades, e especialmente as sociedades industriais contemporâneas, caracteriza-se pela contínua circulação de suas elites. 24 atividades daquelas econômica, política e religiosa: libertação do jugo do Estado e da Igreja; formação de um público próprio; profissionalização dos seus agentes; especialização de suas práticas e obras; formação de instâncias legitimadoras particulares; criação de uma tradição de conhecimento própria; delimitação de uma área de jurisdição formal e estética exclusiva; afirmação, por oposição ao crescimento de um mercado de bens culturais industrializados, de uma irredutibilidade de suas práticas e obras à condição de mera mercadoria; singularização da condição de intelectual e artista na sociedade, baseada na “ideologia” da “arte pela arte” ou da criação desinteressada e “inata”. Para o sociólogo, o campo erudito é relativamente bem-sucedido, na medida em que possui sua própria estrutura, hierarquia, lógica, normas, instâncias de consagração, agentes especializados, público restrito próprio e um grau significativo de autonomia. Na condição de estrutura, o autor o define como um “sistema baseado nas relações entre produção, reprodução e difusão de bens simbólicos” (BOURDIEU, 1970, p.105). É um campo relativamente fechado, cujas obras destinam-se basicamente a um público de produtores. Por ter seus exclusivos critérios e instâncias legitimadoras, ele produz distinções propriamente culturais, relativas a uma dada etapa da busca de temas, técnicas e estilos que são dotados de valor na economia específica do campo. Deste modo, é a própria lei do campo que envolve os intelectuais e os artistas na dialética da distinção cultural. O campo cultural erudito não está imune ao exercício de uma função social políticoideológica, qual seja, a de distinção social. O fato de conter critérios e instâncias próprias de legitimação e consagração de natureza particularmente cultural, de abranger um círculo restrito de produtores e consumidores, de requisitar o domínio de um código sofisticado de deciframento das suas obras, de limitá-las em termos de circulação e acesso, tornando-as “raras”, de exigir um habitus a priori cultivado em certas condições familiares, escolares e profissionais, exclui um público considerável do seu âmbito. A existência deste campo se deve, portanto, à existência de agentes socialmente aptos a ocuparem seus postos, os quais, segundo Bourdieu, são originários das classes dominantes. A prática realizada no seu interior só é possível devido à internalização de um habitus compatível com as propriedades e exigências internas do campo. Isso explica a “harmonia quase miraculosa” entre a competência dos agentes que o integram (socialmente adquirida) e as posições que vêm ocupar dentro do campo (BOURDIEU, 1970, p.109). Aplicando esses conceitos ao contexto da intelectualidade brasileira, temos como modelo uma excelente apresentação de Antonio Candido no prefácio da obra de Sérgio Miceli, Intelectuais e Classe dirigente no Brasil. Neste texto, Candido – também ele um 25 intelectual brasileiro da maior grandeza – revela de forma precisa as articulações que ocorrem dentro do nosso universo intelectual: Este estudo se filia à arriscada tendência contemporânea para a desmistificação e as explicações por meio daquilo que está por baixo, escondido da consciência e da observação imediata. Autodesmistificação, no caso, porque tenta mostrar como os intelectuais (isto é, ele e nós) correspondem a expectativas ditadas pelos interesses do poder e das classes dirigentes. Em geral, filhos dos grupos dominantes nos vários níveis, ou da classe média pobre e abastada, eles recebem na maioria uma vantagem de berço que lhes facilita singularmente a vida e que eles procuram manter, ampliar ou recuperar. Por outro lado, como são objeto de uma certa sacralização, reivindicam para si critérios especiais de avaliação, que são aceitos tacitamente como uma espécie de pacto ideológico (que Miceli procura denunciar). Segundo esse pacto, são tratados como representantes do “espírito” e por isso até certo ponto imunes de julgamentos que comprometam a “nobreza” da sua ação. Eles próprios não querem ser apenas desfrutadores, porque quase sempre acreditam com sinceridade no seu estatuto peculiar; e assim se plasmam personalidades e categorias extremamente curiosas. O intelectual parece servir sem servir, fugir mas ficando, obedecer negando, ser fiel traindo. Um panorama deveras complicado (CANDIDO apud MICELI, 2001, p.72). Para aprofundar algumas das questões apontadas pelo pesquisador e compreender o significado que a noção de intelectual assume e qual o seu espaço de ação política e simbólica num país como o Brasil – em que as discrepâncias sociais chegam a níveis estratosféricos –, no próximo tópico, desenharemos um esboço do percurso da tradição intelectual brasileira. 3. Intelligentsia brasileira A formação de uma “inteligência brasileira”, a exemplo dos demais países, só podia estar associada à sistematização do conhecimento. Segundo Santiago (1982, p.15), historiadores contemporâneos julgam que sua origem se dá quando colégios são criados no século XVI. Em seu estudo sobre a constituição do campo intelectual e a formação das classes dirigentes no Brasil, Miceli (2001, p.79) nos mostra que, num primeiro momento (que ele nomeia de Primeira República), o recrutamento dos intelectuais “se realizava em função da rede de relações sociais que eles estavam em condições de mobilizar e as diversas tarefas de que se incumbiam estavam quase por completo a reboque das demandas privadas ou das instituições e organizações da classe dominante”; já numa segunda fase, “a cooptação das 26 novas categorias de intelectuais continua dependente do capital de relações sociais, mas passa cada vez mais a sofrer a mediação de trunfos escolares e culturais, cujo peso é tanto maior quanto mais se acentua a concorrência no interior do campo intelectual”. Destas asserções, conclui-se que a composição de uma “intelectualidade”, também em nosso país, esteve sujeita às suas elites políticas e, da mesma forma, o sistema educacional desempenhou um papel determinante como instrumento de distinção sócio-cultural. A visibilidade do trabalho intelectual, entretanto, e as condições estruturais que permitiram a sua profissionalização no Brasil desenvolveram-se paralelamente à massificação dos meios de comunicação. Foi na imprensa que os intelectuais descobriram o meio privilegiado para a sua ação. [...] toda a vida intelectual era dominada pela grande imprensa, que constituía a principal instância de produção cultural da época e que fornecia a maioria das gratificações e posições intelectuais. Os escritores profissionais viam-se forçados a ajustar-se aos gêneros havia pouco importados da imprensa francesa: a reportagem, a entrevista, o inquérito literário e, em especial, a crônica. [...] o êxito que alcançavam por meio de sua pena poderia lhes trazer salários melhores, sinecuras burocráticas e favores diversos (MICELI, 2001, p.252). [...] Fosse pela colaboração nos prestigiosos O Estado de S. Paulo, Correio Paulistano e Diário Popular – e/ou criando, dirigindo e colaborando num órgão de veiculação, em especial uma revista – a práxis de trabalhos do intelectual se revelava, conferindo-lhe visibilidade, situando-o na sociedade já competitiva daquela virada de século (MARTINS, 2001, p.437). Como observa Costa (2005, p.96), “num momento em que as universidades ainda não concentravam a produção cultural do país, a maioria dos intelectuais era autodidata, formada na vida e em centros de convergência, como a imprensa”. É neste período que surgiu e se desenvolveu um tipo especial de intelectual: o jornalista-escritor 9, figura que resiste até hoje em nosso panorama cultural. Aliando jornalismo e literatura, os intelectuais encontraram no periodismo a representação possível para suas carreiras híbridas. Além da imprensa, o magistério superior era a única atividade que não constituía empecilho ao desempenho legal de outras funções públicas remuneradas, privilégio de que se valeram diversos intelectuais (MICELI, 2001, p.214). 9 Nos dias de hoje, basta citar João Ubaldo Ribeiro, Luís Fernando Veríssimo, Zuenir Ventura, Carlos Heitor Cony, Murilo Melo Filho, Bernardo Carvalho etc., que seguem uma tradição deixada por Machado de Assis, José de Alencar, Euclides da Cunha, Almeida Garret, João do Rio, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Mário Quintana, entre os muitos outros que poderiam ser citados. 27 Em entrevista publicada na coletânea Desorganizando o consenso (HADDAD, 1998, p.164), Conceição Tavares sugere que, “a partir de 1930 os intelectuais passaram a ser respeitados como professores, como assessores ou até como críticos. Era preciso tê-los. Os governos precisavam do saber e o intelectual comparece com ele”. Sobre essa relação da intelectualidade com o poder institucional, Mota (1990, p.289-290) expõe o seguinte: Que os intelectuais sempre estiveram integrados nos aparelhos de Estado – participando portanto do estamento burocrático, conforme a crítica de R. Faoro, no bloqueio às manifestações da “autêntica” cultura brasileira – não padece dúvida. [...] Os “grandes intelectuais”, para usar a expressão de Gramsci, estiveram nos cargos nobres, às vezes ainda com um pé na grande propriedade paterna. Os representantes radicais provinham da classe média, às vezes chegando a assessores de governadores e ministros, nos anos quarenta, ou a ministros nos anos 50 e 60. Ou, quando menos, a professores. Tomando como exemplo a experiência da capital paulista, segundo ele, a Revolução de 32 foi o sinal de alerta para a falta de quadros. E para formar tais quadros é que se criou a Escola Livre de Sociologia, com inspiração teórico-metodológica norte-americana e com a presença de figuras representativas da burguesia industrial no corpo docente (MOTA, 1990, p.99). No mesmo período, em 25 de janeiro de 1934, fundou-se a Universidade de São Paulo, que reunia a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e as outras escolas de nível superior já existentes. Tratava-se da concretização de um sonho antigo do jornalista Júlio de Mesquita Filho, proprietário de O Estado de S. Paulo. Como mostra Antonio Candido (1995, p.309), a redação do jornal, já nos anos 20, era um centro literário e intelectual da cidade. Lá se reuniam semanalmente cientistas e intelectuais e lá se configurou a idéia da criação de uma universidade. No centro dessas conversas, estavam o diretor do jornal, Júlio de Mesquita Filho, e Fernando de Azevedo, professor da Escola Normal, crítico e articulista do jornal. Conforme Antonio Candido (1995, p.309), Mesquita e Azevedo decidiram, sob protestos e resistências, que seria preciso buscar na Europa os professores. “Os criadores da universidade eram homens ligados à elite social e intelectual, mas infensos ao totalitarismo”, acentua o professor. Isso porque estabeleceram um critério importante para a seleção: para as ciências humanas e filosofia, que envolvem questões de ideologia, deveriam ser indicados professores franceses, já que a França era uma democracia e a Itália e Alemanha estavam sob regimes totalitários. Da Alemanha foram contratados professores de Química e Ciências Naturais. Da Itália, professores de Matemática, Física, Mineralogia, Geologia, Grego e Literatura, mas apenas cientistas incompatibilizados com o regime. 28 Para Mota (1990, p.38), nos quadros acadêmicos a escola mais inspirada do pensamento sociológico e histórico está surgindo, com a colaboração de investigadores estrangeiros como Charles Wagley e Roger Bastide, em torno de Florestan Fernandes 10 e Antonio Candido. Vistos em perspectiva, pode-se dizer, aliás, que Florestan Fernandes e Antonio Candido, ambos da Faculdade de Filosofia de São Paulo e exassistentes de Fernando de Azevedo, catedrático de Sociologia e autor de A Cultura Brasileira, representam em áreas distintas (Sociologia, Antropologia e História, Florestan; Sociologia, Antropologia e Teoria Literária, Antonio Candido) os dois principais pesquisadores que dão o elo intelectual entre a geração dos antigos catedráticos (Fernando de Azevedo, Cruz Costa, Sérgio Buarque de Hollanda) e a nova, representada por Octávio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, Roberto Schwarz, Maria Sylvia C. Franco, Juarez Lopes, L. A. Costa Pinto, Emília Viotti da Costa, J. A. Gianotti. As duas instituições – a Universidade de São Paulo e a Escola Livre de Sociologia –, juntamente com o jornal O Estado de S. Paulo, formavam um tripé de sólido enraizamento cultural e político: uma, com preocupação acentuadamente técnica, voltada para os EUA; outra, com vocação vincadamente teórico-metodológica, mais vinculada à França. Mas ambas no bojo de um processo de renovação e formação de quadros culturais e políticos (MOTA, 1990, p.99). Ao investigar a raiz social dessa intelligentsia em formação, estudos como os de Carlos Guilherme Mota (1990) e Sérgio Miceli (2001) levam-nos a esbarrar com os mesmíssimos “filhos da aristocracia do café”, comprovando que o elitismo marca as linhas de arregimentação dos quadros universitários desde seu surgimento. No entanto, apesar dos intelectuais estarem intimamente ligados com os grupos políticos e econômicos hegemônicos, como vimos anteriormente, eles são chamados a desempenhar um papel social que extrapola sua condição de classe. Ou seja, sua obra tem a possibilidade de assumir uma função “esclarecedora”, até mesmo “libertadora”. Trata-se da “situação contraditória” revelada por Gramsci que faz com que uma parcela da intelectualidade tome para si uma missão transformadora da realidade social a partir da proposta de engajamento. 10 De acordo com Carlos Guilherme Mota (1990, p.186), “observada a produção cultural dos anos 50 e 60, a obra de Florestan surge como espécie de fio condutor, por trazer sempre ativa – dado essencial de sua postura – a preocupação com o papel do intelectual numa sociedade em mudança. Através de seus escritos sobre o tema, pode-se perceber traços da curva de um processo de tomada de consciência: numa era de reformismo desenvolvimentista (a cujas seduções não cedeu), em que luta não só na campanha pela Escola Pública, mas – sobretudo – pela implantação de novos padrões de trabalho científico (data-base: 1958); em que analisa as opções do cientista social numa era de revolução social (data-base: 1960); em que diagnostica a “revolução brasileira” e os dilemas dos intelectuais (data-base: 1965)”. 29 Isso talvez justifique o interesse de nossa intelligentsia pelos movimentos culturais populares 11 e sua atração pela ideologia dos sistemas políticos revolucionários. Depois de 1930 uma larga camada da pequena burguesia intelectualizada começou a se interessar pela Rússia, e na classe operária as atividades sindicais, então em pleno florescimento, levavam naturalmente a um interesse pelos problemas da política operária mundial, e também aqui, em primeiro lugar, pela Rússia. [...] De maneira que lá por 33-34, qualquer sentimento renovador mais enérgico levava logo à idéia de Rússia. Os jovens intelectuais que desejavam alguma coisa a mais do que simplesmente ter simpatia, passavam da idéia de Rússia à de Terceira Internacional e daí à Juventude e ao Partido Comunista ilegal, ou como membro militante ou então, o caso mais freqüente, agindo com uma maior liberdade dentro da esfera de influência da seção brasileira (MOTA, 1990, p.122). Não se pode esquecer que a primeira metade do século XIX foi caracterizada como uma “era de catástrofes” – conforme classificação de Hobsbawm (1995) –, “marcada pelas duas grandes guerras, pelas ondas de revolução global em que o sistema político e econômico da URSS surgia como alternativa histórica para o capitalismo e pela virulência da crise econômica de 1929”. Assim, o momento que o país vive no pós-guerra consolida o envolvimento do intelectual com a realidade e, segundo Faro (1982, p.85), “essa tomada de consciência teria como marco o I Congresso Brasileiro de Escritores realizado em São Paulo, em 1945”. De acordo com o pesquisador, a partir dessa conjuntura política, criou-se com nitidez um divisor de águas na história da cultura contemporânea no Brasil, em que a perspectivação política passa a estar presente nos diagnósticos sobre a vida cultural. O I Congresso Brasileiro de Escritores marca, a rigor, uma nova etapa no comportamento deste setor da intelectualidade brasileira. Novo momento, na medida em que toma forma orgânica uma questão latente em nossas letras, a questão da eficácia transformadora da palavra. O engajamento do escritor será assim a tônica do período que se inicia. E se levarmos em conta a questão nacional colocada na pauta da política brasileira nos anos 50, o divisor de tendências em que ela se torna, fica mais fácil compreender porque o pósguerra apenas intensifica as linhas até agora indicadas (FARO, 1982, p.87). O manifesto do Congresso é nítido: à cultura – e conseqüentemente às pessoas envolvidas nos seus processos de produção e difusão, isto é, aos intelectuais – caberia o 11 Aqui, é importante destacar que o termo popular não está sendo empregado meramente no sentido em que é usado de forma mais freqüente quando articulado à indústria cultural, referindo-se a processos de manipulação e cooptação das culturas populares. Antes, busca-se incorporar ao termo as perspectivas de Stuart Hall sobre a complexidade desse campo social delimitado pelo popular, sobre as ambigüidades teóricas do termo, bem como suas advertências de que uma visão estanque e instrumental da cultura possa nos conduzir à falsa noção de povo como uma força meramente passiva. Sobre a discussão dos problemas teóricos e relações históricas articuladas no conceito de “cultura popular”, foram consultados os trabalhos de Stuart Hall (1984), Peter Burke (1984), Alfredo Bosi (1992), Dominic Strinati (1999) e Joseph Luyten (2003). 30 estudo, debate e solução dos grandes problemas do país e a defesa e amparo das classes que até então haviam sido privadas de seus benefícios. Além disso, dissemina a idéia de que o problema da democratização da cultura estava intimamente ligado ao da criação de uma ordem social mais justa e mais humana. Como solução, apela à luta pela liberdade, ao voto contra a censura, pela democracia e pela reforma educacional (FARO, 1982, p.86). Nos anos 50, portanto, a tônica geral foi dada pela temática do nacionaldesenvolvimentismo, sendo que este período, na opinião de Mota (1990, p.154), fornece ao analista da história das ideologias no Brasil “um campo de observação de extrema complexidade e riqueza, uma vez que no seu transcorrer forjaram-se novas concepções do trabalho intelectual, definiram-se novas opções em relação ao processo cultural, assim como novas e radicais interpretações no tocante à ideologia da Cultura Brasileira”. Uma década em que intelectuais ingressaram acadêmicos e metamorfosearam-se em políticos: Darcy Ribeiro, Celso Furtado, disso seriam bons exemplos, sobretudo este, intelectual “calvinista” (diria G. Freyre) que entraria nos anos 60 refletindo sobre a pré-revolução brasileira (MOTA, 1990, p.154). Para Mota (1990, p.170), antes desse período de efervescência político-intelectual, o que se percebe é que a intelectualidade brasileira não operava a partir de um “projeto próprio e original”, mas “utilizava, sem transformá-los, os produtos acabados da indústria estrangeira”, assim como “pensava, sem transformá-las, com as idéias prontas que lhe vinham de fora”. “Sua cultura se reduzia à erudição, quer dizer, ao conhecimento livresco das culturas alheias”. Nos anos sessenta, prossegue o historiador, mais uma vez, a postura não poderia deixar de ser definida como radical: [...] o colapso do populismo, o fim da era getuliana, a instalação de uma ditadura militar, a abertura para a América Latina, a emergência de novas constelações de intelectuais radicais abririam um novo quadro que possibilitaria a avaliação da trajetória dessa tendência radical em se pensar a produção cultural não dissociada da política, e penetrada por elementos retirados da Antropologia, da História, da Sociologia, da Lingüística. E uma profunda atenção para a dimensão ideológica de toda e qualquer produção cultural (MOTA, 1990, p.132). Essa situação, contudo, foi modificada. Ao fazer um balanço da situação do intelectual contemporâneo, Conceição Tavares (1998, p.164) afirma que o papel dos intelectuais críticos começou a se “desfazer” na década de 60, sendo que, no Brasil, tivemos uma sobrevida por causa da luta contra a ditadura. 31 No início dos anos 1970, a cultura brasileira realmente vivia um momento delicado. Ao menos quatro tendências básicas configuravam uma cena cultural complexa e paradoxal, após o silêncio imposto ao rico debate político e cultural de 1968, pelo AI-5; o exílio e a censura impingidos aos principais artistas e intelectuais; o crescimento notável dos meios de comunicação de massa 12; a propaganda ufanista do regime militar; e a busca de novos espaços e estilos de expressão cultural e comportamental. Apesar do regime militar controlar a situação social e política do país, a perspectiva de abertura e a cultura de oposição cada vez mais forte no seio da classe média, e mesmo das classes populares, estimulavam o debate político na sociedade brasileira. É bom lembrar que, ao longo dos anos 1970, a população universitária cresceria mais de dez vezes 13 e, na sua maioria, era constituída por jovens egressos de famílias de classe média, com um poder aquisitivo significativo. “O crescimento do número de universitários alicerçou-se basicamente nas instituições privadas de ensino de terceiro grau. O estado autoritário transferiu ao mercado e ao capital privado a tarefa da expansão do ensino superior e também parte do ensino de primeiro e segundos graus” (REIMÃO, 1996, p.61). Também neste período é importante sublinhar a expansão do setor editorial como um dos requisitos institucionais que moldaram o perfil do campo intelectual. Com o avanço e o enraizamento definitivo da indústria cultural na nossa sociedade, paralelamente ao sucesso e ao reconhecimento de uma produção cultural considerada mais sofisticada, da qual a MPB era o maior exemplo, os anos 1970 presenciaram a consolidação de uma cultura de massa considerada popularesca 14, tida pela opinião pública mais intelectualizada e pela crítica jornalística como próximas ao mau gosto. É claro que essas classificações são passíveis de questionamento e devem ser tomadas com cuidado. Mas, de uma forma ou de outra, traduzem a hierarquia cultural vigente na sociedade brasileira a partir do final dos anos 1960. Não se trata da dicotomia tradicional entre “cultura erudita” e “cultura popular”, mas da dicotomia entre “cultura de massa valorizada” e “cultura de massa 12 Como observa Reimão (1996, p.64), é curioso notar que foi só no pós-69, depois do início da implantação das redes nacionais de televisão, que os intelectuais brasileiros abandonaram uma atitude laudatória em relação a esse meio de comunicação de massa, passando a ser mais céticos. Resgatando Bosi (1992, p.321), a pesquisadora destaca a seguinte passagem: “a atitude adesiva e até mesmo entusiástica, na década de 60, época áurea das leituras sobre mass communication, passou a ser crítica a partir de 70”. 13 Consultar NAPOLITANO, Marcos. Cultura brasileira: utopia e massificação (1950-1980). São Paulo: Contexto, 2004. 14 Para citar alguns exemplos, fazem sucesso nessa época os programas de auditório (Sílvio Santos, Chacrinha, Bolinha, entre outros) e também o cinema popular hegemonizado pelas pornochanchadas e pelas comédias de tipo circense. 32 desvalorizada” (ou, respectivamente, midcult e masscult, conforme a classificação da sociologia norte-americana que estudou o fenômeno 15). Mesmo assim, não se pode considerar que o público era uma coisa só e que todos os membros das classes urbanas tinham as mesmas preferências culturais ou que poderiam ser classificados em categorias rígidas. Essas considerações são importantes para demonstrar que o problema do gosto e do nível de consumo cultural é muito complexo e que a divisão no seio da cultura brasileira deve ser analisada com cautela. O fato é que, por diversos fatores e variáveis, constituiu-se neste período um território complexo de uma indústria cultural, que já não era mais a cultura popular tradicional, folclórica, nem uma cultura de massa com aspirações a ser uma cultura de elite. A tentativa de compreender esse novo sistema cultural dividiu os intelectuais em correntes distintas. Apocalípticos e integrados (1976), título da obra de Umberto Eco, bem resume a clivagem que separou detratores e partidários da cultura de massa. Apocalípticos, os que viram nesse novo fenômeno uma ameaça de crise para a cultura e para a democracia. Integrados, os que se rejubilaram com a democratização do acesso dos “milhões” a essa cultura do lazer. A polarização desse debate caminhou para um outro. Da discussão sobre a cultura de massa partiu-se à questão da sociedade de massa, que, na perspectiva dos intelectuais integrados, é assimilada ao fim da sociedade de classes e das lutas de classe. Do debate sobre a natureza da sociedade de massa, encarnado pela democracia industrial ocidental, seu bemestar e seu crescimento, o cientista político Shils evoluiu, nos anos 70, para um debate sobre o fim das ideologias e o crepúsculo dos intelectuais engajados. O sociólogo que se revelou mais constante nessa linha de pensamento sobre o fim das ideologias foi Daniel Bell, um dos primeiros a atacar os críticos radicais da época, como Mac Donald, cujas convicções trotskistas em sua juventude partilhou, apontando a inelutável contradição que os ameaça: estarem condenados a se exaltar contra as manifestações da cultura e da sociedade de massa, ao mesmo tempo em que estão obrigados, pela própria estrutura do sistema em que vivem, a trabalhar para essa indústria da cultura. Desde 1962, Daniel Bell acerta suas contas com a ideologia numa obra de título explícito, The End of Ideology. 15 Nos anos 50 e início dos 60, alguns autores norte-americanos marcaram a discussão sobre o tríptico: indústria cultural, cultura de massa e sociedade de massa. Entre eles, destacam-se Dwight Mac Donald, Edward Shils e Daniel Bell. Ex-trotskista, Mac Donald forja, com base na abreviação Proletkult, os novos termos Masscult e Midcult, para criticar a cultura de massa e a vulgaridade intelectual de seus consumidores, vendo como única maneira de escapar a isso a elevação do gosto literário. Edward Shils, ao contrário, vê no advento dessa nova cultura uma garantia de progresso. Dessa polêmica resulta uma concepção tripartite de cultura que os diversos autores partilham, não obstante identificarem os termos de maneira diferente. 33 4. Onde estão nossos intelectuais? São diversos os estudos que têm avaliado a trajetória dos intelectuais nas sociedades contemporâneas. Muitos deles, como a obra do sociólogo Frank Furedi, autor de Where Have All the Intellectuals Gone?, constituem-se em afiadas críticas ao modo como a vida intelectual se degradou nos últimos tempos, dentro e fora do mundo acadêmico. Furedi não é o único. Segundo Jacoby (2001, p.139), ao longo do século XX, os intelectuais migraram para instituições, tornando-se especialistas e professores. Em sua obra O fim da utopia, o autor fala em “eclipse do utopismo entre os intelectuais”. O destino de toda visão utópica está vinculado ao destino dos intelectuais, pois se em algum momento a utopia pode sentir-se em casa, é entre os pensadores independentes e nos cafés por eles freqüentados. Na medida em que estes já não existem, a visão utópica esmorece. [...] Haveria uma afinidade entre a utopia e os intelectuais independentes? E se os intelectuais se transferiram dos antigos antros para as salas de conferências e seminários, o que terão ganhado ou perdido com isto? (JACOBY, 2001, p.139-140). A antiga visão dos intelectuais como seres independentes e desenraizados cede lugar a uma visão dos intelectuais como dependentes e vinculados ou institucionalizados. Simplificando, poderíamos dizer que antes os intelectuais eram marginais que queriam se integrar. Hoje são integrados que se fingem de marginais – uma alegação que só pode ser sustentada transformando a marginalidade numa pose. Não é tudo, mas resume boa parte da situação. A outra parte está no reconhecimento e mesmo na celebração de sua nova posição de integrados, como profissionais de carreira. São duas reações ao mesmo processo. Ambas significam o eclipse de uma antiga realidade – que na verdade sempre foi em parte mitológica – do intelectual independente (JACOBY, 2001, p.153). Apesar de se tratar de um estudo sobre a intelectualidade norte-americana, ao transportar tais idéias para a situação brasileira, veremos que as conclusões a que ele chegou condizem com a nossa realidade. De acordo com ele, criados nas ruas e cafés da cidade antes da era das enormes universidades, os intelectuais da “última” geração escreviam para o leitor educado. “Foram suplantados pelos intelectuais high-tech, por consultores e professores – almas anônimas, que podem ser competentes e até mais que competentes, mas que não contribuem para a vida pública”. Os intelectuais mais jovens, cujas vidas se desenvolveram quase inteiramente nos campi, se dirigem aos colegas de profissão, mas são inacessíveis e desconhecidos para as 34 outras pessoas. Este é o perigo e a ameaça. A cultura pública depende de um grupo cada vez menor de intelectuais mais velhos que dominam o vernáculo. Aqui é importante destacar que, quando Jacoby julga a situação dos intelectuais da nova geração, ele não deixa de fazer uma mea culpa: Quando digo “eles” ou “os intelectuais mais jovens”, quero dizer “nós”. Quando me refiro à geração “ausente”, estou discutindo a minha própria geração. Quando questiono as contribuições acadêmicas, estou examinando os escritos de meus amigos e os meus próprios. Tenho artigos publicados em revistas acadêmicas e um livro editado por uma editora universitária. Leio monografias e periódicos acadêmicos. Adoro bibliotecas universitárias, estantes sem fim, imensas salas de periódicos. Lecionei em várias faculdades. Nem por um momento pretendo ser feito de uma substância diferente e melhor. Minha crítica dos intelectuais ausentes é também autocrítica (JACOBY, 1990, p.12). O historiador questiona o impacto das universidades na vida cultural, buscando comprovar que o ambiente, os hábitos e a linguagem dos intelectuais sofreram transformações nos últimos cinqüenta anos. Sob o seu ponto de vista, os intelectuais mais jovens, quase todos professores, não necessitam ou desejam um público mais amplo. Os campi são seus lares; os colegas, sua audiência; as monografias e os periódicos especializados, seu meio de comunicação. Ao contrário dos intelectuais do passado, eles se situam dentro de especialidades e disciplinas. Seus empregos, carreiras e salários dependem da avaliação de especialistas. Eles trocaram uma existência precária por carreiras estáveis. Os grandes pensadores, de Galileu a Freud, não se contentaram com as descobertas solitárias; eles buscaram, e encontraram, um público. Se eles parecem muito distantes, um padrão muito elevado, o meu parâmetro é a última geração dos intelectuais americanos. Eles também dirigiram-se a um público; o mesmo não ocorreu com a geração seguinte (JACOBY, 1990, p.18-19). Para Jacoby (1990, p.19), o público interessado em produções de qualidade não sumiu. Tanto que os escritos clássicos de intelectuais mais velhos continuam a suscitar interesse e discussão. O que ele enfatiza, portanto, não é o desaparecimento de um público, mas o “eclipse dos intelectuais públicos”. De outro modo, a questão não é o valor de suas contribuições, mas o relacionamento que mantêm, enquanto intelectuais, com um público mais amplo. Ele procura revelar que os intelectuais não-acadêmicos são uma espécie ameaçada e que os novos acadêmicos, apesar de se apresentarem em número muito maior (em conseqüência da “explosão” da educação superior após a Segunda Guerra Mundial), 35 representam sociedades insulares, sendo que aqueles que não pertencem à sua esfera raramente chegam a conhecê-los. A geração nascida em torno e após 1940 emergiu em uma sociedade em que a identidade entre as universidades e a vida intelectual era quase completa. Ser um intelectual implicava ser um professor. [...] Independentemente da quantidade deles, para o grande público eles são invisíveis. Os intelectuais ausentes estão perdidos nas universidades (JACOBY, 1990, p.29). O pesquisador mostra que, antes de 1940, as universidades não desempenharam o mesmo papel. As escolas de nível superior eram pequenas e freqüentemente fechadas aos radicais, aos judeus e às mulheres. Somente a geração nascida após 1940 é que sentiria o peso total do academicismo. Nos anos 60, as universidades praticamente monopolizaram o trabalho intelectual; uma vida intelectual fora do campus parecia quixotesca. Quando a poeira baixou, muitos intelectuais jovens jamais haviam deixado a escola; outros descobriram que não havia nenhum outro lugar para ir. Tornaram-se sociólogos radicais, historiadores marxistas, teóricos feministas, mas não exatamente intelectuais públicos (JACOBY, 1990, p.21). A realidade cotidiana da burocratização e do emprego tomou conta deles. A nova esquerda que permaneceu na universidade revelou-se trabalhadora e bem comportada. Numa transição quase sempre indolor, eles passaram da condição de estudantes aos postos iniciais na carreira docente, e, em seguida, às nomeações estáveis. Atualmente, denuncia Jacoby (1990, p.193), “os marxistas americanos têm escritórios no campus e vagas privativas”. Evidentemente, a maior parte dos teóricos de esquerda não reconhecerá que a finalidade de sua vida profissional, ou da obra de outros, seja a obtenção de poder institucional; antes, dirão que buscam estabelecer um corpo de “contra” cultura ou de cultura marxista que nunca chegou a existir nos Estados Unidos. Com referências freqüentes a Gramsci e as suas idéias de hegemonia ideológica, os teóricos de esquerda encaram seu ensino e seus escritos como o estabelecimento das bases culturais para um renascimento político; eles buscam desenvolver uma “nova” sociologia, uma “nova” ciência política e uma “nova” história que sejam convincentes (JACOBY, 1990, p.198). O mesmo se aplica aos nossos intelectuais. Hoje em dia, eles viajam com currículos e cartões de visita; sobrevivem graças à retaguarda institucional. “A primeira ou segunda pergunta padronizada entre os acadêmicos não é ‘quem?’ mas ‘onde?’, querendo significar a instituição a que um indivíduo está filiado; isso faz a diferença” (JACOBY, 1990, p.121). 36 Jacoby (1990, p.194) vai além. Na sua opinião, “os intelectuais de esquerda sucumbiram aos imperativos que os agruparam nas universidades, mas eles não são vítimas inocentes [...] não aceitaram ingenuamente ou de má vontade o regime acadêmico; eles próprios adotaram a universidade”. Seja como for, não foi o caso de uma “traição”. Em seu trabalho, Jacoby demonstra que, antes de tudo, os intelectuais radicais não eram opositores irredutíveis do poder institucional. Quando surgiu a possibilidade de entrarem nessas instituições e talvez se utilizarem delas, eles o fizeram. No entanto, “embora sempre prontos a denunciar as violações às liberdades acadêmicas e, por vezes raciais e sexuais, eles, caracteristicamente, esqueceram os custos da institucionalização” (JACOBY, 1990, p.194). Em suas considerações finais, após defender a existência de uma “geração ausente” de intelectuais, Jacoby admite que sua tese pode ser contestada pela afirmação de que os novos intelectuais prosperam no jornalismo. Concordo que o “novo” jornalismo, assim como aquele não tão novo (reportagem pessoal, denúncia, crítica de rock) testemunha – ou outrora testemunhou – o vigor de uma nova geração mais jovem. Além do mais, em virtude de uma omissão generalizada, os jornalistas adquiriram uma crescente importância crítica. No entanto, as limitações de quem vive apenas da imprensa – prazos, espaço, dinheiro – acabam por diluir, ao invés de estimular, o trabalho intelectual (JACOBY, 1990, p.26). Não é verdade, entretanto, que se possa enquadrar o trabalho jornalístico numa única prática. Como veremos no próximo capítulo, existem contextos específicos dentro desse rico universo definido pelos veículos de comunicação que ultrapassa, ou ao menos ameniza, os ditames impostos pela produção em escala industrial. Neste sentido, a imprensa – parte que nos interessa neste estudo – passa a se constituir em lugar ideal para a concretização de uma das funções fundamentais do intelectual: escrever para um público. Hoje, vive-se sob o poder dos meios de comunicação de massa e os intelectuais, como outras categorias, têm consciência da importância da divulgação de suas obras nestes espaços. A influência da mídia passa a ser determinante na produção, seleção e divulgação cultural. O público virtual do escritor é seu júri de honra. E o intelectual é o ser humano que passa a vida sendo julgado, e que a cada palavra, artigo ou livro encontra-se sujeito ao veredicto do auditório, entre a vida e a morte, a sagração e o esquecimento. [...] Ele está na essência e a existência sob a 37 dependência dos outros. A quantidade desses “outros” fixará o valor desse “eu” (DEBRAY, 1979, p.120). Também para Antonio Candido (2000, p.75), a posição do intelectual depende do conceito social que os grupos elaboram em relação a ele, e não corresponde necessariamente ao seu próprio. Esse fator exprime o reconhecimento coletivo da sua atividade, que deste modo se justifica socialmente. O fato é que, assim como a sociedade, a vida intelectual passou por transformações. No decorrer do século XX, a intelligentsia nativa continuou desempenhando esse papel, em revoluções e reformas, na oposição a golpes militares e ditaduras, na cultura e nos meios de comunicação. [...] Quando afinal apareceram os meios de comunicação de massa, os intelectuais ocuparam suas salas de redação e escreveram seus editoriais (CASTAÑEDA apud FARO, 1999, p.17). A vida cultural letrada se faz, atualmente, mais do que nunca, em sintonia com a universidade e a mídia. Abram-se as revistas e os suplementos dos jornais mais informados: as suas seções de cultura alimentam-se de artigos, entrevistas, resenhas e reportagens escritas pelos intelectuais, ou sobre os intelectuais, das maiores universidades do país. [...] a cidade já não mais promove aquele tipo de vida cultural e literária tangível até os anos 40, quando a Universidade apenas começava a se implantar e não tinha ainda absorvido profissionalmente os intelectuais (BOSI, 1992, p.319). É verdade que isso ainda não é o suficiente. O desafio maior está em fazer chegar essas produções a parcelas mais significativas da população. De qualquer forma, acreditamos que o que é silencioso e profissional hoje pode ser aberto e público amanhã. Com inspiração em Lajolo (1995, p.64), confiamos que produções intelectuais: [...] embora nascendo da elite e sendo a ela dirigidas, não costumam confinar-se às rodas que detêm o poder. Transbordam daí e, como pedra lançada às águas, seus últimos círculos vão atingir as margens, ou quase. Seus efeitos, a inquietação que provocam, podem repercutir em camadas mais marginalizadas, mais distantes dos círculos oficiais da cultura. Por fim, vale destacar um último alerta feito por Jacoby (2001, p.160): não existe qualquer vínculo entre o sucesso institucional e a contribuição intelectual. Bons salários, posições seguras e convites lucrativos para falar não impedem que se seja original e subversivo; nem podem as remunerações ralas ou os empregos inseguros garantir o pensamento crítico revolucionário. 38 CAPÍTULO II - JORNALISMO CULTURAL As discussões em torno do jornalismo cultural ganham adeptos a cada dia. O tema tornou-se, para muitos, uma área de interesse e, para alguns, uma fonte de preocupação. O volume de seminários, artigos, ensaios, trabalhos acadêmicos, entre outros, é significativo e indica que o interesse pelo jornalismo cultural passa por uma fase de crescimento. Silva (1997, p.24), em sua dissertação de mestrado, mostra que o assunto começou a chamar a atenção dos jornalistas e pesquisadores no final da década de 70, momento no qual pequenos artigos de jornais e revistas acadêmicas foram publicados 16. A sistematização do jornalismo cultural enquanto “campo de estudos”, entretanto, é mais recente. Disciplinas nos cursos de graduação, grupos de pesquisa, programas de pósgraduação lato sensu começaram a aparecer na última década. Conseqüentemente, TCCs, dissertações, teses e livros surgiram como desdobramento natural dessas manifestações. Para citar dois exemplos que comprovam a atualidade da área, o livro de Daniel Piza, Jornalismo Cultural, uma das poucas obras específicas sobre o tema, é de 2003; e o I Seminário Nacional de Jornalismo Cultural foi realizado em agosto de 2005, na Universidade de Passo Fundo (RS). O imenso e complexo debate que se configurou em torno do assunto e a profusão de veículos voltados para a cobertura de eventos culturais, se por um lado impulsionaram a tentativa de compreendê-lo como uma das variáveis do trabalho jornalístico – com as especificidades que lhe são determinantes; por outro, geraram uma imprecisão de conceitos sobre o jornalismo cultural que ora é o espaço de lazer, ora do erudito, ora não é sequer jornalismo. Prova disso é que os principais trabalhos sobre técnicas de jornalismo 17 deixa as editorias de cultura de fora das abordagens sobre captação e redação das informações. 16 A título de referência, vale a reprodução do texto da pesquisadora: “Entre os principais artigos da época estão os publicados na revista Opinião que em 14 de janeiro de 1977, com o texto de Ronaldo Brito “Jornalismo Cultural: entre os spots e as academias” (p. 20-21), convidou o leitor a discutir sobre os rumos do jornalismo cultural brasileiro. Desta proposta surgiram textos como de Luiz Costa Lima, “Jornalismo cultural e imprensa nanica”, nº 229 (março de 1977); Gregório Álvares, “Jornalismo cultural: acadêmico e mundano, embora crítico”, nº 222 (fevereiro de 1977); Jean-Claude Bernardet, “Jornalismo cultural: de Bourdieu a Cid Moreira”, nº 223 (fevereiro de 1977); e Uriano Mota de Santana, “Jornalismo cultural: cada coisa em seu lugar”, nº 224 (fevereiro de 1977). Artigos mais recentes, temos ainda o de Matinas Suzuki Jr., “Anotações sobre o jornalismo cultural”, In: Seminário de Jornalismo, Folha de S. Paulo, 1986, p.79-83; e Cremilda Medina, “Jornalismo e a Epistemologia da complexidade”, In: Novo Pacto da Ciência: a crise de paradigmas”, São Paulo, ECA-USP, 1991, p.193-205”. 17 Ver Luiz Beltrão, A imprensa informativa (São Paulo, 1969); Luiz Amaral, Técnica de jornal e periódico (Rio de Janeiro, 1969); Mário Erbolato, Técnicas de codificação em jornalismo (Petrópolis, 1984) e Jornalismo especializado: emissão de textos no jornalismo impresso (São Paulo, 1981). 39 Seja como for, antes de partir para a avaliação das discussões atuais sobre o tema, é importante resgatar as noções empregadas nas redações dos jornais para determinar os assuntos cobertos pelas editorias de cultura. Enfim, “o que significa cultura para o jornalismo” e como este conceito vai interferir no tipo de cobertura realizada pelos veículos de comunicação. 1. O conceito de cultura para o jornalismo A palavra cultura origina-se do latim, mais precisamente do verbo colere, com o significado de cultivar, habitar, tomar conta, criar e preservar; termos essencialmente relacionados ao trato do homem com a natureza. Passa a ter também uma conotação de culto aos deuses, já que a natureza, além de oferecer os frutos da terra, era identificada como um bem divino (ARENDT, 1972, p.265). Aos poucos, o sentido da palavra cultura se amplia, sempre acompanhada por outras palavras que lhe dão novo significado. Da terra, passa-se para o cultivo do espírito através da educação, do refinamento humano ligado à formação de um gosto e de uma sensibilidade à beleza. De acordo com Hannah Arendt (1972, p.265), o filósofo Cícero foi o primeiro a utilizar o termo cultura no sentido de cultivo do espírito ou, como ele a chamou, de cultura animi. A expressão contrapõe-se diretamente ao sentido original de cultura ligado à agricultura. Cícero vai fazer a analogia da mente humana a um terreno, argumentando que ela só poderia ser produtiva com o seu cultivo adequado que, por sua vez, viria através da educação filosófica. A partir do século XIX, a idéia de cultura vai articular-se, como antítese ou sinônimo, ao termo civilização. Thompson (1995, p.168) lembra que, por trás desse sentido emergente de cultura, “estava o espírito do Iluminismo europeu e a sua confiante crença no caráter progressista da Era Moderna”. É importante ressaltar que as questões envolvendo a discussão de cultura na modernidade ocorrem no período de intensificação do poderio das nações européias sobre os demais povos do mundo. Podemos dizer que as preocupações em compreender a cultura neste período estão intimamente ligadas à legitimação da dominação colonial, além de ser uma forma de incutir uma visão de que tudo que fosse ocidental era considerado superior. 40 Chega-se, assim, ao conceito clássico de cultura, presente ainda hoje nas sociedades (entre elas a brasileira), que se baseia no sentido positivo do termo como o aperfeiçoamento das faculdades humanas, da capacidade de se desenvolver e se enobrecer através do cultivo do saber das Artes e das Letras. Esta, no entanto, não é a única definição do termo. Segundo Warnier (2003, p.23): [...] a cultura é uma totalidade complexa feita de normas, de hábitos, de repertórios de ação e de representação, adquirida pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Toda cultura é singular, geograficamente ou socialmente localizada, objeto de expressão discursiva em uma língua dada, fator de identificação dos grupos e dos indivíduos e de diferenciação diante dos outros, bem como fator de orientação dos atores, uns em relação aos outros e em relação ao seu meio. Toda cultura é transmitida por tradições reformuladas em função do contexto histórico. Numa primeira avaliação, trata-se de duas acepções da palavra cultura: uma que é restritiva, ao reduzir a cultura ao patrimônio e à criação artística e literária; outra que engloba o conjunto do que cada ser humano apreende enquanto membro de uma dada sociedade. O primeiro conceito alinha-se às proposições de Pierre Bourdieu (1970, p.17). Para o teórico, a função da cultura é político-ideológica: assegurar os mecanismos de “distinção” entre as classes sociais. Nesse sentido, ela é coercitiva, arbitrária, particular e histórica. De acordo com Bourdieu (1970, p.17), toda cultura funciona como instrumento simbolizador da “posição diferencial dos agentes na estrutura social”. É distintiva porque a distribuição das diferentes espécies de capital é desigual, ou seja, os bens materiais e culturais não são acessíveis a todos e nem são produzidos igualmente para todos. Há, nesse sentido, uma inevitável hierarquia dos bens simbólicos, homóloga à hierarquia entre as classes sociais. Em outras palavras, o caráter distintivo dos bens simbólicos expressa-se nos diferentes estilos de vida correlatos às diferentes posições dos agentes no espaço social, sendo que o “gosto” e a estética respectivos a estes estilos de vida são socialmente dados. A segunda vertente, rediscutindo e distinguindo-se da tradição estruturalista francesa, baseia-se principalmente nas proposições dos Estudos Culturais britânicos. Os culturalistas entendem a cultura de forma mais abrangente, ultrapassando as clivagens entre os diferentes níveis de cultura. Autores como Raymond Williams, E. P. Thompson, Richard Hoggart e Stuart Hall buscam analisar a produção cultural – e os meios de comunicação – inserida no contexto das práticas sociais cotidianas. Nesse sentido, o termo cultura é avaliado segundo uma visão antropológica, correspondendo a toda a produção de sentidos com os quais o homem identifica suas 41 experiências, trabalhos e ações, individuais ou coletivos, por meio dos quais se coloca na sociedade e interage com outros homens. Não é essa, no entanto, a noção usada nos cadernos de cultura. No jornalismo cultural contemporâneo, o significado empregado de arte e entretenimento decorre de uma visão muito peculiar do termo, que está associado ao enobrecimento do espírito por meio da educação formal e da fruição artística. Assim, a palavra cultura vai relacionar-se a estudo, educação, formação escolar e, da mesma forma, será utilizada para se referir às manifestações artísticas como a literatura, o teatro, a música, o cinema etc. O conceito aplicado pelo jornalismo está, portanto, muito mais próximo das considerações expostas por Bourdieu, uma vez que, neste conceito clássico, opõem-se aqueles que são cultos, ou seja, que tiveram acesso à educação e fruem da arte, e aqueles que não são. Segundo esta definição, as seções culturais tornam-se espaços privilegiados para o debate de idéias, para o “caminho da luz” – para utilizar uma expressão muito empregada no projeto civilizatório da Ilustração no século XVIII (ROUANET, 1990, p.16). É deste movimento que herdamos a idéia de que os homens são iguais independentemente de sua posição social ou de seu lugar de nascimento, com uma ética centrada no direito à felicidade e à auto-realização. Desse ideal universalista de emancipação do indivíduo – legado da Revolução Francesa que ecoa até hoje –, adquirimos a noção de que o acesso à informação faz do homem comum um cidadão, a crença de que o confronto entre as idéias permite o brilho da verdade, da luz. Cabe notar que, nesse processo, o domínio dos códigos da cultura erudita é uma condição necessária para a conquista de um papel ativo no espaço público. É preciso observar que, nesse pensamento, instaura-se uma divisão entre os já iniciados na arte de pensar sozinhos (no século XVIII eram os filósofos) e aqueles ainda presos aos valores da tradição, aos preconceitos. Os setores populares são considerados em estado de minoridade, tendo um déficit de instrução, o que explicaria suas atitudes conservadoras e certo gosto rude. Essa matriz originou uma diferenciação entre os produtos e gostos ao longo do século XX: haveria uma alta cultura, acessível àqueles que dominam os códigos da cultura letrada, e uma cultura popular, de qualidade inferior, própria para o gosto popular. A crítica ao elitismo dessas idéias foi elaborada principalmente por pesquisadores que trabalham com a cultura popular. Mas, sem dúvida, a corrente que defende a cultura como um “ideal a ser atingido” acompanha muitas análises, que abordam a produção dos veículos e/ ou 42 a recepção de seus produtos pelo público, e ainda pode ser percebida em grande parte das linhas editoriais de nossos produtos culturais. Percebe-se, desta forma, que, ao longo da história do jornalismo, o conceito clássico de cultura ainda vai permanecer dentro dos jornais, apesar de coexistir com as discussões sobre a emergência da cultura de consumo, conflito que vai se acentuar ainda mais depois da década de 70. Os jornais, frutos imediatos desta indústria cultural, vão ter de conviver com esta dupla noção de cultura. Se antes a questão girava em torno de uma cobertura que entende a cultura de modo lato ou stricto – com consagração da última – a discussão agora volta-se para o confronto de um jornalismo cultural comprometido com o aprimoramento do gosto estético-artístico de seus leitores e de outro subordinado à racionalidade capitalista-mercadológica. A discussão sobre o tema, na maioria das vezes, limita-se a críticas entre o que se faz hoje em oposição ao que se fazia no passado. Para compreender as raízes desse dilema, é preciso resgatar um pouco da história dessas páginas de cultura. É isso que faremos agora. 2. História do jornalismo cultural O jornalismo dedicado à avaliação de idéias, valores e artes é produto de uma era que se inicia depois do Renascimento. De acordo com Martins (2001, p.38), a bibliografia é unânime em apontar a experiência francesa como pioneira no periodismo literário, a partir do lançamento do Journal des Sçavans, mais tarde Journal des Savants, semanário que, sob direção de Denys de Sallo, circulou em Paris, de 1665 a 1795. O exemplar francês, considerado pai da moderna literatura periódica, trazia abrangência temática e o caráter seriado e panorâmico que tipificou as publicações do gênero. Já segundo Piza (2003, p.11), “um marco dos princípios do jornalismo cultural, não uma data inicial, é 1711”. O jornalista faz referência à revista diária The Spectator, fundada pelos ensaístas ingleses Richard Steele (1672-1729) e Joseph Addison (1672-1719), que se propunha a “tirar a filosofia dos gabinetes e bibliotecas, escolas e faculdades, e levar para clubes e assembléias, casas de chá e cafés”. A revista falava de tudo – livros, óperas, costumes, festivais de música e teatro, política – num tom de conversação espirituosa, culta sem ser formal, 43 reflexiva sem ser inacessível, apostando num fraseado charmoso e irônico que faria o futuro grão-mestre da crítica, Samuel Johnson, sentenciar: “Quem quiser atingir um estilo inglês deve dedicar seus dias e suas noites a ler esses volumes”. Podia tratar dos novos hábitos vistos numa casa de café, como temas em discussão e roupas na moda, ou então criticar o culto às óperas italianas e o casamento em idade precoce. Podia citar Xenofonte para satirizar a falta de modéstia dos ingleses e Dom Quixote para atacar a mania de ridicularizar o outro por meio de risadas (PIZA, 2003, p.12). O surgimento dessa imprensa tem lugar no que Habermas (1984, p.39) denomina a primeira formulação objetiva da esfera pública burguesa como “esfera pública literária”. Pertencem a ela somente aqueles indivíduos com um certo nível de poder econômico e de formação cultural – condição esta imprescindível à leitura e à argumentação pública nas instituições dessa esfera. Essa imprensa, do ponto de vista instrumental de Habermas, é o meio por intermédio do qual um “público esclarecido” difunde suas idéias e concepções da realidade social e assim se auto-esclarece e emancipa. A finalidade de autoconhecimento sobrepõe-se àquela do lucro comercial. Habermas (1984, p.92) descreve os integrantes dessa esfera como a camada esclarecida da sociedade burguesa que, desde o início, é um público acostumado à leitura, ao julgamento e à formulação de opiniões, as quais, como tais, são “opiniões públicas” e têm o caráter de “publicidade”. Essa esfera inclui, como fontes incentivadoras de suas normas e atitudes de seu público, um conjunto de práticas, movimentos e instituições culturais que se desenvolvem no duplo sentido de se autodelimitarem como uma área de conhecimento especializado e de criar um mercado cultural livre do mecenato aristocrata e religioso. Teatro, literatura, música, escultura e pintura buscam conceitos novos que os identifiquem como prática e conhecimento singulares em si próprios. O mesmo ocorre no campo da filosofia e das ciências naturais. Essas novas áreas de conhecimento buscam legitimidade na esfera pública da argumentação racional, e os jornais são um espaço privilegiado para a promoção de seus fins de reconhecimento, assim como aqueles desenvolvidos por elas, como os teatros, as revistas, os livros etc. Assim, num momento em que as máquinas começaram a transformar a economia e a imprensa já havia sido inventada por Gutenberg (1450), surge o jornalismo cultural inglês, filho do ensaísmo humanista, que também ajudou a dar luz ao movimento iluminista que marcaria o século XVIII. Conforme Piza (2003, p.15), no período iluminista, Denis Diderot (1713-1784), o editor-chefe da Enciclopédia, foi um grande crítico de arte. Cobrindo os salões e as 44 exposições anuais para os periódicos nos anos 1760, Diderot abriu caminho para o reconhecimento de artistas como Delacroix; e as coletâneas de seus ensaios e resenhas, quando publicadas no final do século XVIII, o fizeram ainda mais famoso. Seu seguidor, no gênero, foi o gênio da poesia Charles Baudelaire (1821-1867), que também resenhou salões de pintura nos anos 1840. Se num primeiro momento a cobertura do jornalismo cultural esteve ligada ao acompanhamento de eventos culturais, a inserção da literatura nos jornais se consolida definitivamente com o aparecimento dos folhetins. O romance-folhetim, criado pelo jornalista Émile Girardin no jornal La Presse, surgiu no século XIX, logo após a revolução burguesa. Em 1836, ele concebeu um jornal mais barato, com a inserção da novidade inglesa dos reclames e, principalmente, a utilização de um tradicional espaço do jornal reservado ao entretenimento desde o século XVIII: o rodapé, também chamado de variétés. Uma espécie de “almanaque integrado ao jornal, dedicado às variedades, miscelânea, ou às resenhas literárias, dramáticas ou artísticas, genericamente denominado folhetim” (MEYER; DIAS, 1984, p.35). Aproveitando um então compulsivo gosto pela prosa de ficção (atestado pelas circulating libraries na Inglaterra e pelos 300 a 400 gabinetes de leitura existentes em Paris, que eram espécies de lojas de aluguel de livros do mais variado padrão cultural), Girardin pediu a alguns romancistas que escrevessem histórias para serem publicadas em capítulos. Vai assim se constituir nova modalidade de folhetim: o que se chamou, a princípio, folhetimromance, depois romance-folhetim e, finalmente, folhetim (MEYER; DIAS, 1984, p.35). Ao lançar, em verdadeira revolução jornalística, esse modo de produção romanesca, o qual haveria, evidentemente, de repercutir na estética e na história do mais importante gênero literário do século XIX, Girardin não fez senão canalizar num novo veículo de divulgação, cuja potencialidade avaliou bem: o velho e universal gosto por ficção, que as conquistas sociais e técnicas da Revolução Industrial permitiram satisfazer num ritmo até então impossível. O folhetim nasce, portanto, atrelado à imprensa de grande tiragem, ao germe da indústria cultural. No Brasil, os folhetins surgiram no início do Segundo Reinado e misturavam crítica literária, divulgação de eventos e publicação de romances em capítulos. Os assuntos culturais, entretanto, também tomavam espaço em outras seções, dedicadas, em geral às letras e às artes. Sobre a introdução desta nova forma de cultura na nossa sociedade, descrevem Lajolo e Zilberman (1991, p.89): 45 Só com a relativa modernização resultante da vinda de D. João VI em 1808 e, principalmente, com o amadurecimento do projeto de independência estabeleceram-se condições objetivas para favorecer um novo modo de produção cultural. Apenas, portanto, no século XIX, engendram-se no Brasil as primeiras e novas formas de público que, inicialmente ralo e inconsistente, aos poucos ganha personalidade e contorno diferenciado. Entre os anônimos leitores de folhetim e os assíduos freqüentadores de teatros, circulam intelectuais, homens de Letras, estudantes, jornalistas, algumas sinhás-moças e até velhotas capazes de leitura. A maior parte de nossos folhetins foi composta por traduções. Os brasileiros acompanhavam as distantes aventuras de um Ivanhoé (de Walter Scott) ou de um D'Artagnan (de Alexandre Dumas). Na década de 1840, começam a aparecer alguns folhetins de autores nacionais. Antônio Gonçalves Teixeira e Souza (1812-1861), considerado por muitos o nosso primeiro romancista, estréia em 1843 com O Filho do Pescador. No ano seguinte, o estudante de medicina Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882) surge com A Moreninha. Outros autores que usaram os recursos folhetinescos foram Manuel Antônio de Almeida (Memórias de um Sargento de Milícias), José de Alencar (A Viuvinha e O Guarani) e Machado de Assis (1839-1908), nosso maior escritor nacional, que começou a carreira como crítico de teatro e polemista literário, escrevendo ensaios seminais como Instinto de nacionalidade e resenhando controversamente os romances de Eça de Queiroz. Numa sociedade onde o regime monárquico se estabilizava, os liberais tinham sua primeira oportunidade de partilhar o poder. A literatura parecia ter engrenado pela estrada que, nos países que tomávamos como modelo, viabilizava os elementos essenciais e insubstituíveis para o pleno funcionamento do sistema literário: a imprensa enquanto técnica; as tipografias, editoras e livrarias enquanto atividade econômica; o jornal enquanto mídia; bibliotecas, gabinetes de leitura, sociedades literárias enquanto espaços culturais. Os jornais experimentavam uma franca expansão, abrindo caminho para os anatolianos – o primeiro tipo de intelectual profissional do país –, que ganharam esse apelido pelo excesso de vezes em que repetiam o nome do escritor francês Anatole France, símbolo de uma otimista era das letras. Em 1907, um ano antes da morte de Machado de Assis, “o príncipe dos poetas” Olavo Bilac definiria a contribuição de sua geração às letras nacionais: a profissionalização (COSTA, 2005, p.46-47). Mas no final do século XIX o jornalismo começou a mudar. O período da imprensa abolicionista e republicana e o subseqüente às lutas políticas na República serviram para dar uma nova configuração ao jornalismo, que gradativamente se afastou da influência literária 46 para entrar na fase da informação. Por volta de 1910, a situação encontra-se definida nos seguintes termos: [...] a tendência ao declínio do folhetim, substituído pelo colunismo e, pouco a pouco, pela reportagem; a tendência para a entrevista, substituindo o simples artigo político; [...] o aparecimento de temas antes tratados como secundários, avultando agora, e ocupando espaço cada vez maior, os policiais com destaque, mas também os esportivos e até os mundanos. Aos homens de letras, a imprensa impõe, agora, que escrevam menos colaborações assinadas sobre assuntos de interesse restrito do que o esforço para se colocarem em condições de redigir objetivamente reportagens, entrevistas, notícias [...]. As colaborações literárias, aliás, começam a ser separadas, na paginação dos jornais: constituem matéria à parte, pois o jornal não pretende mais ser, todo ele, literário. Aparecem seções de crítica em rodapé, e o esboço do que mais tarde serão os suplementos literários. Divisão da matéria, sem dúvida, mas intimamente ligada à [...] divisão do trabalho, que começa a impor suas inexoráveis normas (SODRÉ, 1966, p.340). É preciso lembrar que a imprensa do Estado Novo foi marcada por uma rígida censura, que impulsionou ainda mais a passagem de um jornalismo opinativo e doutrinário para um jornalismo mais informativo, inclusive com a instituição de reportagens e entrevistas como linguagem específica do jornalismo. Neste contexto, o jornalismo cultural entra na grande fase da crítica que começaria nos anos 40 e se estenderia até o final dos anos 60. No período distinguem-se dois nomes: Álvaro Lins (1912-1970) e Otto Maria Carpeaux (1900-1978). A década de 40 marca também o auge do aparecimento dos suplementos literários separados das demais editorias, existindo no período onze suplementos em circulação. Segundo Abreu (1996, p.16), havia uma relação direta entre a estruturação da “indústria de massa” e a grande quantidade de suplementos. Em seu estudo Os Suplementos Literários: os intelectuais e a imprensa nos anos 50, a pesquisadora considera o suplemento como um local de reconhecimento social e demonstração de prestígio: “a colaboração nos suplementos serviu para alguns de instrumento de reconhecimento social e legitimidade da função de intelectual, e muitas vezes permitiu a seus colaboradores acesso à universidade, a cargos públicos, a editoras e à política” (ABREU, 1996, p.27). A partir dos anos 50, a grande meta a ser atingida no país era o desenvolvimento econômico. As palavras de ordem eram industrialização, urbanização e tecnologia. Entre o fim da década de 40 e o ano de 1964 deram-se os momentos decisivos do processo de industrialização, com a instalação de setores tecnologicamente mais avançados, que exigiam 47 investimentos de grande porte, com a conseqüente entrada da grande empresa multinacional e da grande empresa estatal. O plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, com o tema “50 anos em 5”, cumpria o objetivo de implantar no Brasil os setores industriais mais avançados, das indústrias química pesada e farmacêutica à automobilística e naval, além do aço, petróleo e energia elétrica. Entre os anos 50 e o fim da década de 70, o Brasil já havia construído uma economia moderna, mas absolutamente desigual. A nova classe média, entretanto, desfrutava das novas benesses do consumo. O golpe de 64 produzira uma sociedade regida pelos detentores da riqueza. No jornalismo, a década de 50 seria marcada por transformações profundas. Desde equipamentos mais complexos, para atender às exigências das comunicações instantâneas, até a introdução de novas técnicas, trazidas dos Estados Unidos, como o lead e os cinco W (what, who, when, where, how e why). Medina (1982, p.27) nos fala sobre esse período industrial da urbanização: Os modelos, que os Estados Unidos especializam, são exportados junto com as máquinas e, a partir de então, se estabelece mais um vínculo de dependência das matrizes internacionais: além do equipamento e royalties da dívida tecnológica, a imitação grosseira de esquemas de organização jornalística, sempre defasadas em no mínimo 20 anos. De um corpo de escritores-jornalistas que faziam os folhetos e folhetins, a tribuna de revoluções liberais, os discursos de libertação dos escravos e proclamação da República, defesas da alfabetização e do acesso das massas à escola pública – as redações evoluem, ainda que muito lentamente, para um modelo industrial de divisão do trabalho, no início bastante centralizado no paternalismo vigente. Conforme Abreu (2002, p.12), logo o jornalismo de combate, de crítica, de doutrina e de opinião que convivia com o jornal popular, que tinha como característica o grande espaço para o fait divers – a notícia menor, relativa aos fatos do cotidiano, a crimes, acidentes etc. –, para a crônica e para o folhetim, acabaria sendo substituído por um jornalismo que privilegiava a informação e a notícia, e que separava o comentário pessoal da transmissão objetiva e impessoal da informação. O jornalismo de influência francesa cedia, desta forma, ao modelo norte-americano. Aos poucos a literatura vai diminuindo seu espaço e sua importância nos jornais. Com o século XX, a imprensa passa por inúmeras transformações, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, como salienta Alberto Dines (1986, p.26): “nossos jornais, banhando-se na experiência da objetividade e dependendo diretamente do noticiário telegráfico, aprenderam um 48 novo estilo, seco e forte, que já não tinha qualquer ponto de contato com o beletrismo”. A partir de então, a literatura passa a ter menos espaço na imprensa, ficando restrita aos suplementos literários publicados pelos grandes jornais. Para Lorenzotti (2002, p.41), as transformações na imprensa acompanhavam as mudanças no país. Em 1949 é fundada a Tribuna da Imprensa e, em 1951, a Última Hora, com a introdução de novas técnicas de cobertura, novos padrões gráficos e novas práticas de produção. Um exemplo de reforma foi a de O Estado de S. Paulo, conduzida por seu secretário de redação, Cláudio Abramo, entre os anos de 1952 e 1961. O jornal foi completamente transformado – desde a mudança de sede até o controle da produção, do horário de fechamento e da publicidade. Ao lado das reformas, o perfil profissional também começava a se transformar com o recrutamento de jornalistas vindos das universidades, basicamente com formação em ciências humanas. No final dos anos 50, publicações como o Jornal do Brasil, Última Hora e Diário Carioca já tinham estabelecido um novo padrão gráfico e editorial. De acordo com Costa (2005, p.120), boa parte dessas inovações foi trazida por jornalistas que viveram nos Estados Unidos na década anterior e depois trabalharam para esses jornais. Foi no JB – que iniciou sua modernização em 1956 – que se fixou um marco na história desse período: o lendário Caderno B, precursor do moderno jornalismo cultural brasileiro, com crônicas de Clarice Lispector, edição de Reynaldo Jardim e diagramação de Amílcar de Castro. O caderno tratava a cultura em um sentido amplo, com características bem jornalísticas e estreitamente ligado ao mercado editorial. Devido ao sucesso alcançado na década de 60, foi amplamente copiado por outros grupos de mídia. Mesmo destino não teve seu Suplemento Dominical (SDJB), que existiu de 1956 a 1958, com participação de Ferreira Gullar, Mário Faustino, Grunewald e dos concretistas Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari. À frente do concretismo carioca, Gullar arriscaria projetos como o livropoema e o poema espacial. Algumas dessas criações ousadas foram publicadas no SDJB, e a reação do público levou o jornalista a perceber a falta de comunicabilidade dessas experiências poéticas. Enveredando por uma discussão cada vez mais de vanguarda, intelectual e antiacadêmica, o SDJB angariou antipatia, afastando-se do leitor comum, dos medalhões da ABL e dos interesses do mercado editorial (COSTA, 2005, p.122). 49 No início dos anos 60, outro marco histórico é criado, agora em São Paulo: o Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo 18, idealizado por Antonio Candido e dirigido durante dez anos por Décio de Almeida Prado (1956 a 1966). O Suplemento Literário tornou-se espaço de reflexão intelectual e de divulgação de autores novos e consagrados e lançou um modelo que seria mais tarde seguido por todos os suplementos culturais que o sucederam (como Idéias, do JB; os extintos Folhetim e Letras, da Folha de S. Paulo; e muitos outros). Reunindo intelectuais que já haviam feito a revista Clima nos anos 50 – Antonio Candido (literatura), Paulo Emilio Salles Gomes (cinema), Décio de Almeida Prado (teatro), Lourival Gomes Machado (artes plásticas) – e acrescentando jovens valores, como Sábato Magaldi, o Suplemento foi criado para ser um “jornal de vanguarda e não de medalhões” (ABREU, 1996, p.54). É importante lembrar que o jornal O Estado de S. Paulo estava ligado à Universidade de São Paulo, uma vez que o idealizador desta havia sido Júlio Mesquita Filho, proprietário do jornal. Por conta disso, é grande a participação dos intelectuais vindos da universidade para colaborar no Suplemento que, embora sendo literário, vai refletir um pouco o tom da intelligentsia paulistana. Os suplementos culturais ou literários, neste período, procuravam se aproximar mais das revistas do que dos jornais. Pretendiam levar temas mais acadêmicos para um público menos restrito que o das universidades que então surgiam. Era o momento em que os intelectuais advindos das universidades buscavam a imprensa para sair do círculo acadêmico e discutir a realidade brasileira. O jornalismo cultural saía da fase meramente de entretenimento para ganhar um sentido mais antropológico, de participação na vida cultural do país. Os antigos suplementos, portanto, surgem na tentativa de suprir a falta de revistas especializadas e, seguindo a tradição de intervenção dos intelectuais na sociedade, de utilizar a imprensa como principal canal de divulgação de suas idéias. Novas mudanças, entretanto, surgem a partir dos anos 70, interrompendo a época dos suplementos como espaço privilegiado da crítica cultural. Segundo Lorenzotti (2002, p.88), novas concepções de produção industrial começam a ser impostas aos jornais, com novos prazos de fechamento e aspectos quantitativos sobrepostos aos qualitativos, do setor industrial à redação. 18 Sobre a história do Suplemento Literário ver a dissertação de mestrado (2002) de Elizabeth Lorenzotti, Do artístico ao jornalístico: vida e morte de um suplemento – Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo. 50 A implantação da informatização nas redações data da década de 80. A máquina de escrever, que preenchia inumeráveis laudas, copiadas em papel carbono, foi substituída, num processo doloroso, pelos computadores. O ritmo é cada vez mais veloz, as relações de trabalho são profundamente modificadas, a produção sofre intervenções marcantes. Em uma grande redação de São Paulo, no fim da década de 80, um apito marcava o fechamento inexorável. Agora, os prazos industriais prevalecem sobre a redação (LORENZOTTI, 2002, p.88). Após todas essas transformações, diversos autores (MARCONDES FILHO, 1989; SANTIAGO, 1993; SÜSSEKIND, 1993; TRAVANCAS, 2001; ABREU, 2002; LORENZOTTI, 2002; PIZA, 2003) consideram que a época dos suplementos como espaço privilegiado da crítica acabou. Não há quase mais críticos literários escrevendo nos jornais, o que reforça a idéia de Silviano Santiago sobre a “desliteraturização” da imprensa: [...] a história da imprensa escrita na sociedade ocidental é a história da sua desliteraturização. Ou seja, isso a que se chama tradicionalmente de literatura vem perdendo no correr dos séculos e de maneira sistemática o seu lugar, poder e prestígio na imprensa diária (jornal matutino e vespertino) e na semanal (revistas) (SANTIAGO, 1993, p.12). Para Travancas (2001, p.43), essa “desliteraturização” é conseqüência de inúmeros fatores: o cosmopolitismo modernizante na imprensa reduz o impacto da literatura no jornal; com o avanço tecnológico (telégrafo, telefone), o jornal se tornou menos opinativo e mais informativo, gerando um empobrecimento do lugar da literatura; o surgimento de diferentes formas artísticas, como a novela que vem ocupar o lugar das histórias de folhetim, por exemplo; e por último, mas fundamental, o fato de o livro ter se transformado em mercadoria de fácil acesso ao público, fazendo com que o escritor não precise mais publicar seus textos na imprensa para ser conhecido. Os anos 70, portanto, vão se caracterizar pela perda de espaço crítico literário que não merece mais tanta atenção da imprensa, assim como não consegue “escoar” a produção acadêmica para o mercado editorial. Conforme Süssekind (1993, p.27), este período é, para os estudos literários, ‘anos universitários’. E isto num duplo sentido: de um lado, pela redução do espaço jornalístico e pela dificuldade de circulação, mesmo via livro, de grande parte da produção acadêmica; de outro, por uma espécie de autoconfinamento (às vezes com bons resultados intelectuais, outras não) ao campus universitário. Não se pode esquecer que os anos 60 marcaram transformações vertiginosas na política e nos costumes no mundo ocidental e, na América Latina, o início dos períodos 51 ditatoriais que se prolongariam por, no mínimo, vinte anos. Nesse contexto, as modificações que afetaram os meios de comunicação estiveram diretamente relacionadas ao projeto modernizador do capital introduzido pela ditadura militar no país. No início dos anos 70, as redações intensificaram os processos tecno-econômicos de realização de seus produtos. O mundo fragmentado do jornalismo tornou-se cada vez mais veloz. Cristiane Costa (2005, p.176) é quem nos oferece uma interpretação desse momento de mudanças no plano político-ideológico: Se até os anos 70 o mercado jornalístico contava com um número maior de órgãos de imprensa, com claras orientações ideológicas, hoje “todos disputam o mesmo leitor: o leitor de centro”. Com isso, o profissionalismo suplantou o tradicional envolvimento partidário do jornalista. Paralelamente, verificou-se um enorme desgaste das utopias políticas que mobilizaram os anos 60 e 70, quando a opção por trabalhar numa redação estava particularmente vinculada ao engajamento de quem queria mudar o mundo e, portanto, precisava exibir todas as suas mazelas. No que concerne especificamente ao campo cultural, conforme Hobsbawn (1995, p.483), no breve século XX, as fronteiras entre o que pode ou não ser classificado como “arte”, “criação” ou artifício tornaram-se cada vez mais difusas, ou desapareceram completamente. A tecnologia revolucionou as artes, tornou-as onipresentes e transformou a maneira como eram percebidas. Para ele, o fator decisivo da cultura neste período foi o surgimento da indústria de diversão popular voltada para o mercado de massa. Da década de 60 em diante, as até a morte os seres humanos urbanizado Terceiro Mundo – consumo ou as dedicadas (HOBSBAWN, 1995, p.495). imagens que acompanhavam do nascimento no mundo ocidental – e cada vez mais no eram as que anunciavam ou encarnavam o ao entretenimento comercial de massa A sociedade de massas não precisa de cultura, mas de diversão, acentua Arendt (1997, p.257): O problema relativamente novo na sociedade de massas talvez seja ainda mais grave, não devido às massas mesmas, mas porque tal sociedade é essencialmente uma sociedade de consumo em que as horas de lazer não são mais empregadas para o próprio aprimoramento ou para a aquisição de maior status social, porém para consumir cada vez mais e para entreter cada vez mais. 52 No século XX, a novidade é que a tecnologia encharcou de arte a vida diária, privada e pública, na era da “reprodutibilidade técnica” – diz Hobsbawn citando Walter Benjamin –, que transformou não apenas a maneira como se dava a criação, mas também a maneira como os seres humanos percebiam a realidade e sentiam as obras de criação. “A obra de arte se perdera na enxurrada das palavras, sons, imagens, no ambiente universal do que um dia se teria chamado arte” (HOBSBAWN, 1995, p.502). Como mostra Piza (2003, p.43-44), o jornalismo cultural é parte integrante dessa mesma história. As revistas culturais se multiplicaram a partir dos anos 20 e as seções culturais da grande imprensa diária ou semanal se tornaram obrigatórias a partir dos anos 50; pode-se dizer, portanto, que acompanharam os momentos-chave da ampliação da tal “indústria cultural”, numa escala que hoje converteu o setor de entretenimento num dos mais ativos e ainda promissores da economia global. Como personagem desse processo, a produção cultural enquanto território de tensionamento de forças sociais, passou a refletir as contradições no interior do campo cultural. Trata-se, na realidade, de uma antiga discussão dentro do jornalismo, que da fase amadorística para a empresarial não conseguiu estabelecer uma identidade para os cadernos de cultura, a exemplo das demais editorias. O que transparece, mesmo que a discussão já esteja desgastada, é a velha disputa entre a cultura humanística e a indústria cultural. Para solucionar este impasse e conciliar debate e lazer, os jornais passaram a criar os cadernos de cultura diários, voltados para a produção da indústria cultural, e os semanais, ligados a uma produção mais acadêmica, seguindo o caminho das revistas literárias, mais próximas dos antigos suplementos (SILVA, 1997, p.79). Foi assim que, nos anos 80, os dois principais jornais paulistas, a Folha de S. Paulo – que entrou em ascensão depois do movimento das Diretas-Já, em 1984 – e o centenário O Estado de S. Paulo, conciliaram suplementos de cultura semanais a seus cadernos culturais diários, a Ilustrada (1958) e o Caderno 2 (1988). Os dois cadernos (que existem até hoje) fizeram história, sintonizados com a efervescência cultural que a cidade vinha ganhando e com o espírito de abertura democrática do país (PIZA, 2003, p.40). Enquanto a Ilustrada dava mais atenção ao cinema americano e à música pop, o Caderno 2 fazia uma dosagem maior com literatura, arte e teatro – distinção que permanece mais ou menos até hoje, segundo Piza (2003, p.41), “sem a mesma qualidade de texto e a mesma força de opinião”. Com o incremento da produção editorial no país, temos a volta dos cadernos literários. O jornalismo cultural, assim, vai acompanhando o contexto histórico-cultural em que se 53 encontra. Em 23 de janeiro de 1977 circulou a primeira edição do suplemento semanal Folhetim do jornal Folha de S. Paulo, criado por Tarso de Castro, que transportava para a grande imprensa características de humor e irreverência dos órgãos alternativos, como O Pasquim, do qual Castro também participara. Num primeiro momento, o suplemento funcionou como uma espécie de revista da semana, sendo feito sobretudo por jornalistas e cartunistas. Antes da chegada dos anos 80, o Folhetim inicia uma aproximação com a Universidade e acadêmicos passam a discutir temas sociais e políticos na publicação. O Folhetim deixa de circular em 1989 e em seu lugar é criado o caderno Letras, acompanhando a produção do mercado editorial. O suplemento, que saía aos sábados, “incluía reportagens e resenhas, e possuía um perfil mais restrito ao campo literário e não ao artístico e acadêmico” (TRAVANCAS, 2001, p.31). Em 1992 é lançado o caderno Mais!, com o objetivo de promover uma fusão entre o jornalismo do Folhetim e da Ilustrada. Em 1995 surgiu o Jornal de Resenhas, feito em parceria com universidades, veiculado no segundo sábado de cada mês. Na virada do século, a Folha chega a ter, com a publicação do caderno diário Ilustrada, do semanal Mais! e do mensal Jornal de Resenhas, cerca de cem páginas de jornal voltadas para a cultura em uma semana, o que demonstra a força e importância da análise cultural para os jornais. Já o Estado, um ano após o fim do Suplemento Literário (1956-1974), lançou o Suplemento Cultural, que teve seu primeiro número editado num domingo, 17 de outubro de 1976. Com novos logotipo e projeto gráfico, tinha como manchete a literatura de Lima Barreto e duas chamadas: uma sobre prevenção de terremotos e outra sobre problemas de energia. Ciências Naturais e Ciências Exatas e Tecnologia eram as novas seções do suplemento inaugurado. No número 187, em 1º de junho de 1980, chegou ao fim o Suplemento Cultural. Quatorze dias depois era lançado o Suplemento Cultura, um tablóide editado por Fernão Lara Mesquita, jovem filho do então diretor do Jornal da Tarde, Ruy Mesquita, que se iniciava na redação. E foi assim até o fim da década de 80, quando Nilo Scalzo, editor intermitente dos suplementos culturais do Estado, se aposentou e o Cultura encerrou sua carreira em 31 de agosto de 1991, no número 577. Hoje, ele é apenas um encarte publicado aos domingos no jornal. De forma geral, a década de 90 marca a tentativa de conciliar uma cobertura mais factual, voltada para a atualidade, à outra que possui uma relação mais crítica com a cultura. 54 Segundo Silva (1997, p.79), “em nenhum dos casos há a exclusão, mas a complementação do chamado jornalismo cultural”. Como se observa, os espaços ora se ampliam, ora se reduzem. Retornamos, neste momento, à discussão inicial: que tipo de cobertura cultural vem sendo realizada pelos veículos de comunicação? E qual o debate que se configura no momento acerca do tema? 3. Particularidades do jornalismo cultural Atualmente, a cobertura sobre jornalismo cultural baseia-se na produção noticiosa e analítica referente à vida cultural no sentido mais estrito que a expressão nos remete: o de manifestações artísticas, científicas e filosóficas. Enquadram-se, nessa definição, os “segundos cadernos” dos jornais diários, os suplementos semanais dos mesmos jornais, as páginas de cultura das revistas semanais e também as publicações especializadas em assuntos culturais – música, cinema, vídeo, artes plásticas, literatura. Historicamente, como se mostrou, o jornalismo cultural começou apenas como o espaço reservado à produção literária, passando mais tarde a ser ampliado para a divulgação de exposições de artes plásticas, música, teatro, cinema e, muito mais tarde, televisão, moda, design e gastronomia. A presença de assuntos que não fazem parte das chamadas “sete artes” (literatura, teatro, pintura, escultura, música, arquitetura e cinema) passou a ser cada vez maior no jornalismo cultural contemporâneo. Por definição, e aliás como qualquer outro tipo de jornalismo, ele tem de atender a duas ordens de exigências, simultâneas e ambas igualmente legítimas: as exigências da produção jornalística (prazos, normas de redação etc.) e as exigências de seu assunto (no caso, a cultura em geral). Conseqüência dessa dicotomia – servo de “dois senhores” antagônicos, conforme Ajzenberg (2002, p.53) – o jornalismo cultural passou a ser sentido como algo diferente, um “corpo estranho” dentro do jornalismo. Ele passou a ser visto como elemento secundário (daí a expressão “segundos cadernos”), uma concessão dentro dos jornais de um material considerado de amenidades e “frio” em relação à urgência das publicações noticiosas. 55 Em debate realizado no I Seminário Nacional de Jornalismo Cultural (Passo Fundo – RS), o jornalista Marco Pólo 19, apoiado pelos demais editores culturais presentes no evento 20, ressaltou a imagem de “seção de perfumarias”, “coisa sem importância” que as demais editorias têm das seções de cultura. Em função da hierarquia das informações jornalísticas, onde as notícias sobre política, economia e esportes ganham maior destaque, os jornalistas da área cultural sentem-se como se estivessem no “quintal dos jornais”. Por freqüentarem restaurantes, peças de teatro, exposições, estréias de filmes, lançamentos de livros etc., são vistos como bons vivants pelos seus colegas de redação. São discriminados pelo exercício de seu próprio trabalho. Para justificar sua colocação de que a área cultural é vista como assunto de segundo e até de terceiro plano, Marco Pólo cita dois exemplos. Primeiro: a notícia cultural raramente ganha as primeiras páginas do jornal. Segundo: em tempos de crise, os cadernos de cultura são os primeiros a ter o número de páginas e de repórteres cortados. A informação é confirmada por Piza (2003, p.65): “poucas vezes os cadernos culturais têm ganhado chamadas na primeira página. E, como vivem de quociente maior de colaboradores de fora da redação, têm sofrido também com os cortes de verba, que naturalmente começam pelos terceiros”. Em busca de uma identidade, na tentativa de “esquentar” seu noticiário e de acompanhar a tendência de uma cobertura em que a novidade e a imediatez da notícia tornamse imperativos, o jornalismo cultural buscou a aproximação com a informação da atualidade. Nesta busca, os cadernos de cultura procuraram ganhar um novo espaço dentro da imprensa que segue as regras do jornalismo cada vez mais empresarial. De acordo com Piza (2003, p.65), algumas medidas foram tomadas na última década para igualar o jornalismo cultural aos outros. Decidiu-se, por exemplo, que os títulos deveriam ter verbos, sempre que possível; que a crítica seria sempre um item à parte, raramente apta a abrir a seção ou mesmo uma página interna; que a diagramação também não seria muito diferenciada; que os parágrafos deveriam ser curtos etc. 19 Marco Pólo: poeta, ex-editor cultural do Jornal do Commercio e editor da revista Continente Multicultural. Especificamente na mesa deste debate também estiveram presentes os jornalistas Sérgio Sá (apresentador do programa Sessão das Duas da TV Brasília e colaborador do Correio Braziliense) e Eduardo Veras (editor de cultura do jornal Zero Hora). Outros jornalistas presentes no Seminário: Alberto Dines (editor do Observatório da Imprensa), Regina Zappa (ex-editora cultural do Jornal do Brasil), Almir de Freitas (editor da revista Bravo), Juarez Fonseca (colaborador das revistas Aplauso e Sucesso), Cristiane Costa (editora da revista Nossa História e do Portal Literal), Artur Xexéo (editor do 2º Caderno de O Globo) e José Castello (atuou na Veja, IstoÉ, Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo e, atualmente, colabora com diversas revistas). 20 56 Com a implantação dessas transformações, acredita-se que o jornalismo cultural tenha passado por um processo de empobrecimento que acabou por contaminar a maior parte dos cadernos de cultura do país. Tal crítica, muito em voga e comumente encontrada, refere-se especialmente ao caso dos jornais diários e das revistas de informação semanal. É possível dizer, sem nenhuma hesitação, que o jornalismo cultural praticado nesses órgãos passa hoje por uma profunda crise. Ela está ligada, essencialmente, a dois fatores: a acelerada transformação do mercado de produtos culturais e a não menos rápida modernização dos grandes jornais brasileiros. No novo contexto criado a partir desse conjunto de mudanças, o jornalismo cultural ainda não encontrou o seu espaço e a sua voz (COUTO, 1996, p.129). Não há nada de nostalgia ou negativismo em observar que o jornalismo cultural brasileiro já não é como antes. Pequeno panorama histórico é suficiente para mostrar que grandes publicações e autores do passado têm hoje poucos equivalentes; mais que uma perda de espaço, trata-se de uma perda de consistência e ousadia e, como causa e efeito, uma perda de influência (PIZA, 2003, p.7). Como se pode ver, o conceito que se tem atualmente sobre jornalismo cultural é um tanto pessimista. Os males comumente apontados são: excessivo atrelamento à agenda cultural, superficialidade dos textos que pouco se diferenciam dos press-releases 21 e marginalização da crítica. Os cadernos diários estão mais e mais superficiais. Tendem a sobrevalorizar as celebridades, que são entrevistadas de forma que até elas consideram banal (“Como começou sua carreira?” etc.); a restringir a opinião fundamentada (críticas são postas em miniboxes nos cantos da página); a destacar o colunismo (praticado cada vez menos por jornalistas de carreira); e a reservar o maior espaço para as “reportagens”, que na verdade são apresentações de eventos (em que se abrem aspas para o artista ao longo de todo o texto, sem muita diferença em relação ao press-release). Os assuntos preferidos, por extensão, são o cinema americano, a TV brasileira e a música pop, que dominam as tabelas de consumo cultural (PIZA, 2003, p.53). Ao contrário do que freqüentemente se imagina, não se trata de falta de espaço para a cultura nos jornais. De acordo com Couto (1996, p.129), se considerarmos o que é ocupado pelos segundos cadernos e pelos suplementos culturais semanais, os grandes jornais brasileiros não se dedicam pouco à cultura em comparação com seus congêneres europeus e norte-americanos. A maioria desses últimos não edita cadernos diários de artes e espetáculos. 21 “Press-release, ou simplesmente release, é o material enviado ao jornal por produtores culturais, empresas ou assessorias de imprensa a título de divulgação” (STRECKER, 1989, p.99). 57 Em compensação, as grandes cidades européias e norte-americanas contam com um número razoável de publicações semanais dedicadas especificamente à programação de eventos culturais. A inexistência de algo desse tipo no Brasil levou os jornais diários a tentar suprir a lacuna, publicando uma extensa lista de eventos. É o chamado “serviço” ao leitor. Boa parte das páginas dos segundos cadernos é tomada por essa cobertura extensiva da programação. Com poucas linhas à disposição para abordar determinada obra – seja filme, disco, livro ou peça de teatro –, o resenhista limita-se, na maioria das vezes, a uma sinopse, seguida da emissão de um comentário. “Sacrifica-se, desse modo, a análise balizada da obra, de como ela utiliza a linguagem que lhe é própria para atingir determinados fins estéticos, éticos ou sociais” (COUTO, 1996, p.130). Um outro método que vem sendo aplicado dentro dos veículos de comunicação e que conquista cada vez mais adeptos pela sua facilidade é o uso dos releases. Com o aproveitamento cada vez mais freqüente deste tipo de material, é muito comum que as notícias culturais sejam redigidas em estilo publicitário e tornem-se cada vez mais parecidas. O problema, no entanto, não é a existência do release em si. O engano [...] é confundir um jornalismo superficial, preguiçoso e redundante, porque somente publica o que as assessorias divulgam, com outro mais sério e conseqüente que desenvolve a pauta “vendida”, pluraliza os pontos de vista e repercute com fontes de prestígio e de opiniões consistentes. A redundância nos cadernos de cultura é, assim, muito mais o exercício enganoso do jornalismo, e não simplesmente um possível efeito nocivo da ação das assessorias. O trabalho destas, quando bem executado e bem recebido nas redações, só tende a qualificar o jornalismo cultural (VARGAS, 2004, p.4). Da mesma forma, a divulgação de roteiros da agenda cultural não deve ser vista apenas de maneira negativa. A análise da relação entre consumo e consumidor no mundo contemporâneo já superou as teses apocalípticas que encaravam a indústria cultural apenas como algo a ser combatido. O próprio jornalismo é personagem importante dessa era da reprodutibilidade técnica. É importante perceber as relações de consumo no sentido de também destacar o desejo e o prazer, as satisfações emocionais e estéticas advindas dessas experiências. Featherstone (1995) chama atenção para esta relação, criticando a sociologia que deveria procurar ir além da avaliação negativa dos prazeres do consumo. Além disso, as críticas apontadas não se sustentam quando aplicadas ao jornalismo cultural praticado pelos suplementos semanais dos jornais diários ou pelas revistas mensais 58 especializadas no assunto. Este tipo de avaliação, portanto, apesar de fundamentada, não dá conta de uma análise mais global da situação. Assim, por um lado temos um jornalismo cultural que tem na informação de atualidade e na prestação de serviço a tônica de sua cobertura. Por esse prisma, conforme Vargas (2004, p.1), como toda mercadoria dentro do sistema capitalista, a notícia não escapa do valor de troca, do dever de ser interessante, atual e de fácil entendimento, do baixo custo de produção, da facilidade de acesso e, por fim, de sua função de gerar lucros à estrutura industrial que a produz, seja ela pequena, média ou grande. Trata-se de uma produção que está comprometida com as novas dinâmicas da cultura contemporânea: agilidade do texto, pressão do mercado, transformação dos assuntos, novas linguagens. Como contraponto, existem “manifestações jornalísticas especializadas nas pautas de eventos culturais, na sua avaliação e na reflexão em torno de tendências das várias manifestações da arte e do pensamento contemporâneo” (FARO, 2005, p.4). Trata-se de uma cobertura cultural mais perene, que se realiza “em torno da avaliação e da análise da produção simbólica representada pelos eventos de natureza artístico-interpretativa do mundo social” (FARO, 2005, p.8). Há, portanto, pelo menos duas formas distintas de jornalismo cultural sendo praticadas pelos veículos de comunicação. Uma vertente mais reflexiva, herdeira da tradição dos suplementos culturais presentes na imprensa brasileira desde seu surgimento, próxima a um esquema universitário; e outra mais objetiva, que começou a orientar a cobertura cultural a partir dos anos 50. A primeira forma vem sendo aplicada principalmente pelas revistas especializadas (majoritariamente quinzenais ou mensais) e suplementos semanais dos jornais diários (veiculados aos sábados ou domingos). Tais publicações caracterizam-se por apresentar textos mais longos e aprofundados que vão além do factual da notícia e, na maioria das vezes, são escritos por especialistas nos assuntos pautados. A permanência dessas publicações indica que há suporte empresarial e de público para este tipo de produção, contrariando paradigmas que afirmam que, em tempos hi-tech, “a tudo é incorporado o atributo da temporalidade, da provisoriedade, do descarte” (GENTILLI, 1993, p.14). Segundo Silva (1997, p.45), “os cadernos de cultura da grande imprensa brasileira são feitos para um tipo de leitor que deseja mais do que informações a respeito de produtos culturais, eles buscam uma opinião antes de consumirem os referidos produtos”. 59 E não é apenas o público que é diferenciado. A própria função do jornalismo cultural 22 e, conseqüentemente, o funcionamento de uma editoria de cultura não seguem rigorosamente os padrões das demais editorias. Uma das principais discussões dentro do jornalismo cultural, por exemplo, é justamente o fato dele se distanciar do jornalismo no que se refere à imediatez das notícias. Os cadernos de cultura trabalham com as informações a partir da noção de contemporaneidade 23 que, contraposta à idéia de atualidade, foge da afirmação de que o jornalismo é tudo o que amanhã interessará menos do que hoje. O jornalismo cultural, portanto, possui um caráter menos efêmero do que o próprio jornal no qual está inserido. A informação cultural deixa de ser considerada mera mercadoria para consumo imediato podendo assumir um valor mais duradouro. Uma outra característica que o difere das demais especialidades é a questão do gosto. O argumento estritamente jornalístico é que, para produzir um noticiário com o máximo de objetividade possível, o repórter não deve afetar ou “contaminar” o objeto de seu trabalho com suas preferências, que, afinal de contas, são pessoais. Entretanto, nas editorias de cultura, as afinidades do jornalista podem influenciar indistintamente o noticiário por meio da preferência deste ou daquele produto ou produtor. A preferência por pautas, considerada danosa ao noticiário em algumas editorias, é absolutamente permitida (se não estimulada) em cultura. Em nenhuma outra parte o gosto pessoal e a formação humanística dos jornalistas têm um papel tão importante. Se no caderno de política a preferência por um determinado político ou ideologia é condenável por romper o apartidarismo (caso o jornal tenha como objetivo a realização de uma cobertura isenta), no caderno de cultura a empatia por algum estilo ou artista em detrimento de outros não traz as mesmas implicações. Fica claro neste exemplo o quão peculiar é a área de cultura dentro do jornalismo. Assumindo que haja mais eventos culturais ocorrendo do que espaço para divulgá-los, os jornalistas das editorias de cultura vêem-se diante da tarefa de selecionar os produtos de acordo com alguma lógica. Uma hipótese provável sustentaria que eles, assim como os das demais áreas do jornal, levariam em primeiro lugar o interesse público por algum tema no 22 Para Brito, o que distingue o jornalismo cultural das demais editorias é sua função social: “estimula a curiosidade do leitor e busca a ampliação de seus conhecimentos” (apud SILVA, 1997, p.27). 23 A contemporaneidade “pode englobar a formação de uma tendência cultural que já dura meio século ou um fato que aconteceu ontem. Contudo, não é por ter acontecido ontem, e sim por estar relacionado com uma série de contextos”. Isto porque “não é o tempo que decide: a conformação cultural importa muito mais, como importam certas correspondências de situações” (BUITONI, 1986, p.29). 60 momento de definir as pautas. Assim, os produtos culturais sabidamente mais populares e de maior audiência ocupariam maiores parcelas do caderno. Apesar de pertinente e extremamente lógica, tal hipótese não condiz com a realidade. Como prova disso, Travancas (2001, p.138) relata em seu livro que as obras de auto-ajuda não têm nas editorias de cultura o destaque que deveriam ter se fosse levado em consideração o “enorme público leitor” que possuem. A professora sustenta estar na sensibilidade do jornalista a razão da escolha desta ou daquela pauta, e não no sucesso comercial do livro. Na maioria das vezes, escreve-se sobre um assunto do qual se gosta e sobre o qual se tem maior conhecimento. Logo é a subjetividade do repórter e do editor de cultura (assumida ou não) que dá o tom ao veículo; conseqüentemente, mesmo as publicações que focam sua cobertura na divulgação da programação cultural (ou seja, mais próximas da roteirização das informações) não são simplesmente informativas. Ainda que utilizem linguagem sintética, a própria seleção do que será veiculado indica “marcas” de seus produtores. A partir disso, conclui-se que o noticiário das editorias de cultura está comprometido pelo gosto artístico ou de entretenimento dos jornalistas que o produzem, o que nem sempre é visto com bons olhos. As políticas culturais que orientam o jornalismo cultural podem ser entendidas como políticas do gosto, em que um pequeno número de pessoas – os jornalistas culturais e os críticos universitários – definem os cânones do que é bom, em estreita ligação com o mercado editorial. Estas escolhas passam a ser vistas como “indiscutíveis” (COELHO apud PRIGOL, 1998, p.21). A idéia é reforçada por Machado da Silva (2000, p.64): “o jornalismo cultural no Brasil (e no mundo) é uma espécie de negócios entre amigos”. Da mesma forma, Travancas (2001, p.113), com base nas conclusões de sua tese, ressalta: “ficou claro como cada suplemento elege os seus prediletos, a partir de critérios próprios de seleção”. A respeito deste “círculo de influências”, Bourdieu (2002) nos oferece uma excelente reflexão por meio de uma análise crítica sobre o processo de criação, circulação e consagração dos bens culturais. Debruçando-se sobre a diversidade dos estilos artísticos e/ou as diferentes estratégias de comercialização editorial, ele explicita os conflitos internos de cada espaço social, a luta pela conquista de uma autoridade, as estratégias de legitimação das “verdades”, 61 afirmando que o princípio da eficácia de todos os atos de consagração e legitimação está na energia acumulada na história de cada campo 24. Segundo o autor, a base por excelência do poder não deriva apenas da riqueza material e cultural, mas da capacidade que estas têm em transformá-lo em capital social e simbólico. Ou seja, põe-se em evidência um poder sutil, uma forma desconhecida e oculta de outras formas de poder, responsável pela manutenção da ordem. Na forma de crédito, o capital simbólico é uma dádiva atribuída àqueles que possuem legitimidade para impor categorias do pensamento e, portanto, uma visão de mundo. Propriedade de poucos, o capital simbólico e o capital social são recursos conquistados à custa de muito investimento, tempo, dinheiro e disposição pessoal. Neste trabalho, Bourdieu oferece os instrumentos para estudar as maneiras como os sentidos são mobilizados; auxilia a investigar como as instâncias educativas – a família, a escola e a mídia – estruturam uma forma de percepção dos sujeitos e suas ideologias. Do mesmo modo, ele nos mostra que os campos da produção de bens culturais são universos de crença que só podem funcionar na medida em que conseguem produzir, inseparavelmente, produtos e a necessidade desses produtos. Trata-se, portanto, também do reconhecimento dos produtores culturais por parte do receptor desses bens (no caso do jornalismo, do leitor de seus textos): alguém geralmente muito próximo deles mesmos. Se por um lado essa relação entre produtor e consumidor é positiva em termos de identificação/ reconhecimento, por outro, ela apresenta dificuldades. Acompanhando até certo ponto a própria segmentação do mercado cultural, cada vez mais subdividido em gêneros, os veículos culturais parecem sucumbir ao que Piza (2003, p.56) chama de “tribalização” ou “guetização”. Desta forma, as publicações transformam-se em porta-vozes de determinados grupos, que exprimem interesses específicos. É o que Habermas (1984) denomina de “mudança estrutural da esfera pública”. Segundo o autor, com a institucionalização constitucional das estruturas da esfera pública no âmbito do Estado e, em particular, da imprensa, o que antes eram instituições privadas de um público – instituições oriundas e próprias das iniciativas e interesses de grupos e indivíduos 24 A sociedade, conforme Bourdieu, é regida por princípios de diferenciação social estratificada em partes constitutivas – classes e grupos sociais – que ocupam posições diferenciais no espaço social, de acordo com a distribuição das diferentes espécies de poder entre elas. A sociedade se estrutura em diferentes “campos” no interior dos quais se encontram as estruturas sociais objetivas, as distribuições desiguais de poder, as lutas de classe e as posições diferenciais dos integrantes dessas classes. O fundamento demarcador das diferenças sociais e das divisões da sociedade é a desigualdade no exercício do poder. Nas sociedades capitalistas, tais divisões são essencialmente de classe. As posições diferenciais entre as classes tornam o espaço social um campo permanente de luta, ou um “campo de forças”, caracterizado por relações de domínio e subordinação, cuja dinâmica é dada pelas flutuações de domínio das diferentes espécies de poder entre as classes sociais (BOURDIEU, 1989, p.134). 62 imersos no amplo setor privado da sociedade, mas voltadas para a promoção de valores e práticas de ambição pública, de interesse comum a toda a sociedade –, agora são instituições públicas de grupos privados – instituições formalmente comprometidas com o interesse público, mas objetivamente envolvidas na defesa de interesses privados dos grupos e indivíduos que têm a propriedade e o controle das suas estruturas de funcionamento. Seja como for, não se pode negar que, no campo jornalístico como um todo e no campo cultural especificamente, estes interesses e grupos são múltiplos e diversos. Deste modo, o jornalismo cultural passa a ser assumido como “um sub-campo midiático que reitera os signos da cultura de massa e, ao mesmo tempo e de forma contraditória, constitui-se num território de resistência contra-hegemônica” (FARO, 2005, p.7). O jornalismo cultural pode – e deve ser visto como um canal de expressão pública da produção intelectual. Para além de sua natureza propriamente jornalística, isto é, voltada para a cobertura noticiosa das atividades artísticas e editoriais, o seu espaço é um terreno de forte presença autoral, opinativa e analítico-conceitual que discorre sobre a identificação de movimentos norteadores de tendências presentes nos processos sociais, ampliando-se como espaço midiático de vozes que se situam fora do universo de trabalho dos profissionais da imprensa. Em revistas, suplementos e publicações especializadas em cultura, convivem, lado a lado, repórteres e intérpretes, o que dá a essa produção um feitio diferenciado do restante da produção jornalística convencional (FARO, 2005, p.4-5). Não há, portanto, como aceitar a visão simplificadora de que o espaço em que ele é produzido é o mesmo das relações de dominação. Além disso, é necessário encarar a realidade dos fatos de maneira menos preconceituosa. Afinal o problema não é a publicação de roteiros de cinema, teatro, restaurantes e da programação televisiva (informações que, aliás, se tornaram essenciais em nossas vidas). É preciso ampliar as fronteiras do debate e perceber que o papel das publicações culturais é anunciar e comentar as obras lançadas, e também refletir sobre o comportamento, os novos hábitos sociais, os contatos com a realidade político-econômica da qual a cultura é parte ao mesmo tempo integrante e autônoma (PIZA, 2003, p.57). Em outras palavras, urge compreender que a tão combatida “roteirização” do jornalismo cultural não é um empecilho em si desde que também haja espaço para a produção de matérias mais aprofundadas. São modos distintos de se realizar a cobertura cultural e ambas podem ter qualidade e serem conduzidas com seriedade. O objetivo é, antes de tudo, lutar por publicações de excelência, que funcionem como uma ponte esclarecida entre os produtos culturais e os consumidores. 63 Como vimos, o jornalismo sofre interferência de mudanças tecnológicas, políticas, econômicas e culturais da sociedade e, não seria diferente, o jornalismo cultural acompanha este processo. É um engano, portanto, exigir que as publicações atuais se pareçam com aquelas veiculadas nos primórdios da imprensa. Ao mesmo tempo, há que se respeitar os limites e o alcance de cada meio de comunicação (impresso, televisivo, radiofônico, virtual) e sua periodicidade (diário, semanal, quinzenal, mensal), respeitando suas peculiaridades de tratamento da informação, diversidade de enfoque e diferenças de linguagem. Para finalizar, ressalta-se que ainda hoje este jornalismo tem sofrido generalizações. No entanto, uma única característica não mais serve de base para o que a área representa atualmente. Como apropriadamente lembra Ferreira (2003, p.116), com facilidade nos esquecemos de um velho provérbio de Tomás de Aquino: “A vida transborda o conceito”, que também deveria transbordar os mitos que colonizam e bloqueiam, muitas vezes, nossa maneira de pensar com discernimento. 64 CAPÍTULO III - REVISTAS CULTURAIS “Les journaux font du journalisme, les revues font de la culture ; il ne faut pas se laisser aller à confondre les rôles” 25. A citação de Georges Sorel 26, retirada de um ensaio sobre revistas literárias, traça de maneira clara uma separação entre os jornais, de um lado, e os periódicos de vocação intelectual – aos quais é atribuído um valor mais elevado –, de outro. Nesta perspectiva, os jornais possuem finalidade informativa e são destinados a uma utilização quotidiana enquanto que as revistas se configuram a partir de ideologias claras, sendo determinadas por postulados estéticos: beleza e arte. Em outras palavras, a revista – de literatura, artes plásticas, música, história, filosofia etc. – tem como objeto aquilo que extrapola a atualidade crua, tornando-se parte de um plano atemporal. Os atos ou fatos são contemplados por um olhar crítico: “re-videre”. Mesmo não concordando totalmente com a classificação de Sorel por considerá-la demasiadamente radical, é preciso reconhecer que realmente se trata de suportes diferentes e que, portanto, apresentam particularidades que acabam refletidas no conteúdo que veiculam e no público que atingem. Como vimos no capítulo anterior, essas diferenças originam coberturas culturais distintas que precisam ser avaliadas e entendidas dentro de seus próprios contextos. 1. Suporte revista: algumas considerações Em linhas gerais, define-se revista como uma publicação periódica de formato e temática variados que se difere do jornal pelo tratamento visual (melhor qualidade de papel e de impressão, além de maior liberdade na diagramação e utilização de cores) e pelo tratamento textual: “com mais tempo para extrapolações analíticas do fato, as revistas podem produzir textos mais criativos, utilizando recursos estilísticos geralmente incompatíveis com a velocidade do jornalismo diário. A reportagem interpretativa é o forte” (BOAS, 1996, p.9). No caso das revistas, as características que usualmente identificam o discurso jornalístico são, muitas vezes, atenuadas em favor de uma narrativa mais flexível, como 25 Encyclopaedia Universalis. Paris: France S.A., 1990, p.1035. Georges Sorel (1847-1922) foi um destacado sindicalista, muito popular na França, na Itália e nos Estados Unidos. 26 65 alteração do lead, adjetivações e uso de advérbios – geralmente não recomendáveis pelos manuais de redação. Tais recursos não impedem, no entanto, que as matérias publicadas nessas revistas sejam reconhecidas como jornalismo. O dicionário Le Robert informa que, derivada da palavra inglesa review, data de 1705 o primeiro uso do termo revista, hoje mais divulgado no sentido de publicação, definindo-o como “publicação periódica mais ou menos especializada, geralmente mensal, que contém ensaios, contos, artigos científicos etc. apresentando como sinônimos seus correlatos magazines, hebdomadários, anais e boletins” (MARTINS, 2001, p.45). Nos dicionários de língua portuguesa, a gênese da palavra revista é situada no final do século XIX, quando, desgarrada do significado usual de “passar a tropa em revista”, assume o status de publicação, mencionada sob a seguinte definição: “título de certas publicações periódicas, em que são divulgados artigos originais de crítica ou análise de determinados assuntos” (MARTINS, 2001, p.45). De acordo com Scalzo (2003, p.11), uma revista é “um veículo de comunicação, um produto, um negócio, uma marca, um objeto, um conjunto de serviços, uma mistura de jornalismo e entretenimento”. Nenhuma destas definições está errada, mas também nenhuma delas abrange completamente o universo que envolve uma revista e seus leitores. A propósito: o editor espanhol Juan Caño (apud SCALZO, 2003, p.11) define revista como “uma história de amor com o leitor”. Deste modo, revista é também um encontro entre um editor e um leitor, um contato que se estabelece, um fio invisível que une um grupo de pessoas com interesses específicos e, nesse sentido, ajuda a construir uma identidade, ou seja, cria identificações, dá a sensação de pertencer a um determinado grupo e funciona muitas vezes como uma espécie de carteirinha de acesso a eles. Não é à toa que leitores gostam de andar abraçados às suas revistas – ou de andar com elas à mostra – para que todos vejam que eles pertencem a este ou àquele grupo. Por isso, não se pode nunca esquecer: quem define o que é uma revista, antes de tudo, é o seu leitor (SCALZO, 2003, p.12). Por outro lado, deve-se levar em conta que revistas são impressas. Na opinião de Lajolo (1995, p.29), “aos olhos da nossa tradição cultural, o domínio da escrita vale muitos pontos. É timbre de distinção, atestado de superioridade intelectual, marca de valor: tanto para indivíduos quanto para civilizações”. 66 Agora, um ponto que diferencia visivelmente a revista dos outros meios de comunicação impressa é o seu formato. Ela é fácil de carregar, de guardar, de colocar numa estante e colecionar. Não suja as mãos como os jornais, seu papel e impressão também garantem uma qualidade de leitura – do texto e da imagem. Ainda devido à qualidade do papel e da impressão, outro grande diferencial positivo das revistas, principalmente em relação aos jornais, é a sua durabilidade. A periodicidade das revistas também as distingue dos outros suportes – o que, conseqüentemente, interfere muito no trabalho dos jornalistas envolvidos na sua produção. Historicamente, enquanto o jornal, pelo seu propósito de informação imediata, caminhou para a veiculação diária, a revista, de elaboração mais cuidada, aprofundando temas, voltou-se à distribuição semanal, quinzenal, mensal, trimestral ou semestral, por vezes anual (MARTINS, 2001, p.40). Se por um lado a publicação de periodicidade mais larga se distancia do tempo real da notícia – gerando debates que a questionam enquanto jornalismo –, por outro, obriga-se a não perecer tão rapidamente, a durar mais nas mãos do leitor. É por isso que a notícia “nua e crua” nunca teve lugar de destaque em revistas (a não ser em lugares e períodos em que elas eram o único meio de comunicação de que se dispunha). Nesse sentido, as revistas já se anteciparam ao problema que, hoje, os jornais enfrentam com o surgimento da Internet. Elas cobrem funções culturais mais complexas que a simples transmissão de notícias. Entretêm, trazem análise, reflexão, concentração e experiência de leitura. Estudando sua história, o que se nota, em primeiro lugar, não é uma vocação noticiosa do meio, mas sim a afirmação de dois caminhos bem evidentes: o da educação e o do entretenimento. Sua missão: destinar-se a públicos específicos e aprofundar os assuntos – mais que os jornais, menos que os livros. Outra característica tida como marcante nas revistas é a segmentação. “A família, o homem e o adolescente, por exemplo, ganharam títulos específicos” (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.22). Considera-se, hoje, no Brasil, pelo menos vinte gêneros 27 na classificação dos principais títulos em circulação. A segmentação por assunto e tipo de público faz parte da própria essência do veículo. Toda revista cria uma audiência de legitimação. Conforme Scalzo (2003, p.14), “é na revista 27 São eles: interesse geral/ informação/ atualidades; interesse geral/ ciência; interesse geral/ leitura; interesse geral/ negócios; interesse geral/ turismo; feminina/ comportamento/ beleza; feminina/ jovem; feminina/ moda/ trabalhos manuais; feminina/ puericultura; feminina/ culinária; feminina/ saúde; masculina; esporte/ automobilismo; arquitetura; decoração; astrologia; cinema/ música/ TV; construção; infanto-juvenil/ games; informática; outros. Fonte: Anuário Brasileiro de Mídia, 2005. 67 segmentada, geralmente mensal, que de fato se conhece cada leitor, sabe-se exatamente com quem se está falando”. Segundo o jornalista Harold Hayes, “uma revista de sucesso tem de erigir um mito no qual seus leitores acreditem”. Para Scalzo, essa mesma regra vale para explicar o desaparecimento de algumas publicações: revistas representam épocas (e, por que não, erigem e sustentam mitos). Sendo assim, só funcionam em perfeita sintonia com seu tempo. Por isso, dá para compreender muito da história e da cultura de um país conhecendo suas revistas. Ali estão os hábitos, as modas, os personagens de cada período, os assuntos que mobilizaram grupos de pessoas. Elas representam individualidades, círculos, movimentos, clãs de intelectuais que consagram seu intelecto e sua invenção à gestão e à história desses periódicos. Funcionam como “laboratórios da cultura e da civilização” 28, como afirmou Paul Valéry. Ou, como propõe Raúl Antelo (1984), os limites do pacto num “tempo de homens partidos”. 2. Histórico do mercado de revistas brasileiras Com o intuito de delinear uma breve história do periodismo de revista no Brasil, dando ênfase à participação das revistas culturais neste conjunto de acontecimentos e tendo como pano de fundo o papel que elas desempenharam na formação da sociedade brasileira, a opção por uma estruturação cronológica do texto encaminha nosso olhar ao início do século XIX. São deste período as primeiras notícias sobre as revistas brasileiras. Muitas de vida efêmera, tais publicações, por vezes, eram definidas como “ensaios” ou “folhetos”. Assim ocorreu com aquela que ficou conhecida como a primeira revista do Brasil: As Variedades ou Ensaios de Literatura, de 1812: Quem chamaria aquilo de revista? Nem mesmo seu editor, o tipógrafo e livreiro português Manoel Antonio da Silva Serva: ao colocá-las à venda, em Salvador, no mês de janeiro de 1812, Silva Serva apresentou As Variedades ou Ensaios de Literatura como “folheto” – embora o termo “revista” já existisse desde 1704, quando Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, lançou em Londres A Weekly Review of the Affairs of France (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.16). 28 Encyclopaedia Universalis. Paris: France S.A., 1990, p.1036. 68 As Variedades teve apenas duas edições e, assim como outras revistas da época, não tinha caráter noticioso. Segundo Werneck Sodré (1966, p.35), a publicação “propunha-se a divulgar discursos, extratos de história antiga e moderna, viagens, trechos de autores clássicos, anedotas etc.”. Numa discussão sem fim, há quem atribua o pioneirismo ao Correio Braziliense, que o exilado gaúcho Hipólito José da Costa editou em Londres, de 1808 a 1822. Com o subtítulo “Armazém Literário”, cerca de cem páginas e o conteúdo mais opinativo e analítico do que noticioso ou informativo, o Correio Braziliense, marco inaugural da imprensa brasileira, bem poderia, para os padrões da época, ser chamado de revista tanto quanto As Variedades – mas é mais comumente tratado como jornal. As duas publicações, na verdade, não pareciam uma coisa nem outra, tinham cara de livro (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p. 18). [...] A primeira manifestação periódica impressa voltada para o Brasil editou-se em Londres, representada pelo jornal Correio Braziliense, Armazém Literário [1808-1822]. Ou seria uma revista? A julgar pelo seu aposto, Armazém, sinônimo de Magazine, conforme sugere sua etimologia, nosso primeiro jornal seria uma revista (MARTINS, 2001, p.47). O rótulo, entretanto, só seria adotado em 1828, ano em que surgiu no Rio a Revista Semanaria dos Trabalhos Legislativos da Camara dos Senhores Deputados. A exemplo desta, seguiram-se muitas outras: Revista da Sociedade Filomática (1833), Revista Mensal do Ensaio Filosófico Paulistano (1851), Revista Brasileira (1857), Revista da Sociedade de Ensaios Literários (1876), Revista da União Acadêmica (1899) etc. Todas elas, conforme Nascimento (2002, p.16), foram, em geral, publicações institucionais e eruditas, que pouco lembravam a configuração que temos do veículo hoje. No início do século XIX, jornais e revistas tornam-se espaços disputados, inclusive para a divulgação da literatura romântica, reunindo nomes consagrados da época. Com escopo diverso, e efetivamente uma revista, é lançada Nitheroy em 1836. Editada em Paris por um grupo de jovens liderado pelos poetas Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre, financiada pelo comerciante brasileiro Manuel Moreira Neves, a publicação pretendia-se uma revista de alta cultura e vinha com o objetivo de “ilustrar” o país e atrair a atenção “do brasileiro amigo da glória nacional”, trazendo a epígrafe Tudo pelo Brasil e para o Brasil. Não passou de dois números, mas nesse pouco tempo balizou o surgimento do Romantismo nas letras brasileiras, gênero que presidiu o seqüente conjunto de revistas literárias, fortemente influenciadas pelos cânones românticos. 69 Na mesma década, na linhagem das revistas literárias românticas – três anos após a “francesa” Nitheroy, em língua portuguesa e impressa em Paris – dava-se o inverso. Apresentava-se no Rio de Janeiro, em 1839, a Revue Brésilienne, periódico em língua francesa para o público brasileiro (MARTINS, 2001, p.59). É também dessa época a mais antiga revista brasileira em circulação, a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que, lançada em 1839, sobrevive até os dias atuais. Naqueles anos conturbados de construção do Estado nacional ao tempo da Regência, quando os jornais eram a única manifestação de imprensa local, segundo Martins (2001, p.57), “a criação de revistas solucionou a ausência do espaço literário, constituindo-se em veículo possível para os grupos letrados colocarem-se em letra impressa”. Nesse momento a revista pode ser percebida como lugar de afirmação coletiva. Cumpria papel específico, que também a situava em termos históricos, como espaço de representação, configuradora de identidades, locus da reflexão e, sobretudo, instrumento de construção e veiculação do modelo nacional. Estampando em suas páginas as tensões e articulações entre a cultura letrada, campo privilegiado de expressão das elites, os periódicos transformaram-se em objeto fundamental da formação das culturas urbanas e das relações de poder na cidade moderna. Para ilustrar essa relação entre vida social e periodismo, vale o exemplo de São Paulo, que, de acordo com Cruz (2000, p.50), é transformada em 1828 com a abertura da Academia de Direito do Largo de São Francisco, marco fundante da vida intelectual e letrada paulistana. A imprensa paulistana, produto mais avançado da cidade letrada, configurase no interior desse universo social restrito. Suas temáticas, suas funções e seu público definem-se no interior dos limites postos pela elite da Faculdade de Direito. Num meio social demarcado pelo autocentramento das elites letradas e pelas relações de exclusão do escravismo, dominado pelo analfabetismo e pelas práticas orais, o campo de luta e tensões das diversas instituições da cidade letrada, as academias, as escolas, assim como a imprensa, excluem totalmente as classes subalternas e até mesmo alguns importantes setores das classes dominantes. De pouquíssima penetração em círculos exteriores aos das elites masculinas letradas, a imprensa ainda não se constitui como campo de disputa e instrumento de construção da hegemonia de setores dominados. A cultura letrada ocupa espaços extremamente reduzidos do cotidiano da vida urbana (CRUZ, 2000, p.55). Folhas e revistas acadêmicas constituíram-se nos principais produtos das práticas letradas no período. Periódicos como A Crença (1873), O Tribuno (1873) ou o Labarum (1873) animaram as discussões políticas e científicas dos acadêmicos e abriram espaço para o exercício 70 da literatura. Assim como as arcadas do Largo de São Francisco, tais publicações permaneceram na memória como marcos fundantes das letras paulistanas (CRUZ, 2000, p.52). Mantidos por seus pequenos círculos de assinantes, esses veículos, de conteúdo sério e sisudo, realizavam entre si permanente diálogo, constituindo-se único público uns para os outros. Divididos nas correntes e tendências literárias, as elites oriundas da academia faziam da imprensa seu espaço de discussão (CRUZ, 2000, p.53). Como se nota, desde sua formação, a burguesia se preocupou com a transmissão do conhecimento aos seus pares, o que levou ao surgimento de instituições como universidades, academias e ordens profissionais, gerando uma cultura erudita ou superior que tendia a distanciar-se da cultura da maioria da população. Este cenário, no entanto, é modificado. Com a evolução sócio-cultural – os processos de urbanização, a educação e as inovações tecnológicas como o telégrafo e os cabos submarinos, a imprensa vai se diversificar e irão surgir periódicos especializados, além daqueles em língua estrangeira, e também começa a engatinhar a imprensa operária. O relacionamento público e coletivo passa a ter na imprensa um espaço privilegiado de articulação. No processo de redefinição da cultura letrada, a imprensa periódica assume papel fundamental. Funcionando como suporte aglutinador e veículo de construção da visibilidade pública de inúmeras práticas culturais, a imprensa cultural e de variedades, representada por pequenas folhas e revistas, seria adotada como veículo de parte significativa das associações culturais informais que proliferam no período (CRUZ, 2000, p. 81). Neste ponto, como sugere Cruz, é interessante traçar um paralelo com as análises propostas por Habermas (1984, p.13-41) sobre as transformações da esfera pública nas realidades das nações européias dos séculos XVIII e XIX. A imprensa torna-se um instrumento privilegiado de afirmação de uma esfera pública burguesa que se institui no interior da sociedade civil e que, progressivamente, se dissocia do poder público do Estado. Na cidade em expansão, ante os desafios da ocupação estrangeira trazidos pela imigração, os perigos representados pelos projetos socialistas e anarcolibertários e as ameaças de “caos” colocadas pela multidão anônima, pobre e liberta, as elites passam progressivamente a disputar o espaço urbano. Nesse novo espaço social da metrópole em formação, desafiados por outros projetos culturais, os modos de viver e de pensar das classes dominantes submetem-se a críticas e reelaborações. No processo de ocupação da cidade e na disputa pelo espaço público, o horizonte cultural burguês precisou ir além da burguesia. Produto e momento dessa nova conjuntura, a imprensa emerge como um campo dinâmico da disputa pela afirmação desse horizonte burguês (CRUZ, 2000, p.82). 71 As revistas, que variavam de 8 a 20 páginas (CRUZ, 2000, p.88), foram veículos fundamentais de difusão da cultura impressa neste período. Ao lado dos jornais diários, que começaram a aparecer em meados do século, em meio às publicações acadêmicas e jornais políticos de uma década animada pelas campanhas abolicionista e republicana, as pequenas folhas e revistas de cultura e variedades, tratando de conteúdos diferentes e ligados a uma gama diversificada de grupos sociais, começam lentamente a ganhar espaço na imprensa. [...] o jornalismo desprende-se progressivamente da academia e articula-se mais estreitamente à vida urbana. Para expandir seu público, as folhas e revistas, acolhendo os projetos, interesses e gostos das novas camadas urbanas, avançam sobre terrenos anteriormente alheios ao universo da imprensa. Nesse primeiro momento de desenvolvimento da imprensa cultural e de variedades, o movimento de expansão quantitativa do público leitor pode ser proposto muito mais pela publicação de uma grande diversidade de periódicos de pequenas tiragens que tinham como públicoalvo grupos sociais diferenciados do que pela indicação singular de um ou outro periódico de tiragem espetacular. A fragmentação e/ou diversidade dessa imprensa, imposta pelas próprias condições materiais e técnicas da imprensa paulistana no período, parece também responder a um processo em que espaços e grupos sociais diversos articulam-se e/ou são conquistados como leitores de periódicos (CRUZ, 2000, p.142). Sua produção, entretanto, em formato de jornal, trazendo as folhas soltas (in folio) foi prática freqüente no periodismo, dificultando singularizá-las a partir de sua configuração. O emprego ambíguo de sua nomenclatura, oscilando entre revista e jornal, gerou equívocos de concepção do que vinha a ser uma revista. Conforme Martins (2001, p.69), os próprios mentores da publicação – proprietários, editores, redatores, colaboradores – reforçavam as dúvidas de entendimento: “interessados em qualificar a sua publicação, assumia-se uma projeção idealizada da revista, conferindo-lhe superioridade frente ao jornal. Por vezes, um jornaleco era anunciado pelo seu fundador como revista, valorizando o empreendimento”. O que essa confusa nomenclatura do objeto revela é a precariedade de nosso estágio periodístico, às vésperas de transformar-se em grande empresa. O gênero não estava definido conforme a maturidade de uma imprensa com maior tradição, desconhecendo legislação específica e critérios normativos. Daí a facilidade em se criar uma revista (MARTINS, 2001, p.70). De acordo com a pesquisadora, a tradicional evolução do jornal para a revista, observada nos primórdios de todo o periodismo, reiterava o equívoco. Com freqüência, as 72 revistas surgiam originalmente em forma de jornal, de custo mais baixo, para, em seguida, transformarem-se em revista periódica, abandonando o formato tablóide, as folhas soltas, incorporando uma capa que facilitava o manuseio e conferindo-lhe a configuração de brochura, quase um livro (MARTINS, 2001, p.73). Referidas na literatura sobre a imprensa no período como “nossas revistas de cultura”, “revistas de variedades”, “revistas ilustradas”, essas publicações compreendem um amplo espectro de periódicos – publicados mais regularmente a partir dos anos 80 do século XIX. Abarcam desde as pequenas revistas literárias e culturais editadas por associações e grupos (muito próximas das revistas literárias confeccionadas por estudantes no início do século); passam pelas inúmeras revistas e folhas de artes, modas, costumes, humor, esportes, reclame (financiadas por clubes, grupos editores em formação, casas comerciais etc.); e chegam até as já bem estruturadas revistas ilustradas e de variedades do final dos anos 10. Ao longo do século XIX, a revista tornou-se moda. Literárias, noticiosas, recreativas, comerciais, humorísticas, mas também críticas, reivindicatórias, doutrinárias, elas transformaram-se no suporte impresso das mais variadas concepções e práticas culturais. Raras nos tempos da imprensa acadêmica, tais publicações passaram a responder por uma porcentagem cada vez mais significativa da imprensa periódica. Sem dúvida, essa tendência tinha uma explicação: o avanço técnico das gráficas, a emergência de novas camadas de leitores que a escola e a urbanização ajudaram a produzir e o alto custo do livro. Além disso, o mérito de condensar uma gama diversificada de informações, configuração leve, leitura entremeada de imagens, participação de literatos na redação, conferiu-lhes um texto mais elaborado, maior cuidado gráfico, eventualmente melhor fatura. Sem contar que os recursos técnicos de ilustração foram utilizados prioritariamente pelo impresso revista. Recorreu-se à fotografia bem como às demais técnicas (a litografia e a xilogravura). Empregaram-se a rodo charges e caricaturas, multiplicando-se com isso as ilustrações coloridas. A modalidade revista ilustrada passou a ser preferencial da população leitora, apresentando variações de propósitos e de periodicidade: o magazine29, revista ilustrada por excelência, representativa de uma demanda de caráter ligeiro e de teor fortemente publicitário, potencializando as características comerciais do gênero; e os hebdomadários30, publicações de periodicidade semanal precisa, de cunho informativo técnico e político (MARTINS, 2001, p.41). 29 Magazine, do árabe MAHAZIN, depósito de mercadorias a serem vendidas, bazar; a partir de 1776 a palavra foi retomada pelos ingleses, referindo-se à “publicação periódica, geralmente ilustrada, que trata de assuntos diversos” (MARTINS, 2001, p.43). 30 Hebdomadário, publicação que aparece regularmente a cada semana [hebdo]. Primeiro uso do termo, em 1758, por Voltaire (MARTINS, 2001, p.43). 73 Segundo Miceli (2001, p.56), essas folhas culturais e de variedades tinham como receita de base a mistura do mundanismo com todos os tipos de fórmulas literárias. Resultavam: [...] de uma dosagem de crônicas mundanas, seções de humor, crítica literária, promoção de figurões da política e das letras, publicação de contos, versos e romances de aventura, variedades, crítica teatral, crítica de arte, coluna de modas, entrevistas, reportagens, inquéritos, uma pitada de estudos e ensaios sociais. Elas emergiram como publicações típicas da “explosão jornalística” do final do século, propiciando o surgimento dos primeiros intelectuais profissionais: os anatolianos. Para Martins (2001, p.71) “estavam ali a profissionalização e a sobrevivência do escritor, que tinha diante de si a possibilidade de colocar-se, agremiar-se e, finalmente, existir”. Assim, os literatos mantêm estreitos vínculos com o periodismo, não só como jornalistas e produtores, mas também como leitores. A repercussão de revistas culturais européias, impresso qualificador, em que se colocavam escritores conceituados, também contribuiu para a valorização do gênero, que passou a ser opção preferencial do aspirante às letras, particularmente num país desprovido de casas editoras. De qualquer forma, neste recente espaço aberto pelo jornalismo, trabalharam de modo regular apenas os intelectuais mais distantes das vias de consagração dominantes como, por exemplo, Lima Barreto. Segundo Martins (2001, p.43), “a valorização do periódico revista no Brasil ainda era reticente por parte do homem de letras que já gozava de prestígio e aceitação pública”. Rui Barbosa, em parecer sobre a classificação do gênero periódico, opôs-se à inclusão de revistas e jornais na categoria obras, propondo inseri-los em publicação. Resistências à parte, a verdade é que a expansão da imprensa passaria a modificar a relação que os escritores mantinham com suas obras. Nesta nova era, a produção do livro perdeu o posto hegemônico na comunicação escrita, sendo ultrapassada por objetos tipográficos mais baratos, a começar pelo jornal. Diários, revistas e brochuras, cartas de jogar, cartões de visita, anúncios publicitários, e, na época do consumo em massa, todos os tipos de suportes e materiais passaram a receber texto impresso. O movimento e circulação dos materiais impressos, principalmente a imprensa periódica, só tenderia a crescer, acompanhando o ritmo de desenvolvimento da cidade. Em São Paulo, nas duas últimas décadas do século XIX, vieram a público mais de seiscentas publicações paulistanas, o quíntuplo das quatro décadas anteriores (CRUZ, 2000, p.77). Nas 74 palavras de Martins (2001, p.97) “o rastreamento das revistas entre bibliotecas públicas, particulares e colecionadores revelou a profusão de títulos, a variedade temática e o surto da modalidade periódica na virada do século”. Apesar da avalanche de veículos, pertencentes a um indivíduo ou a um grupo pequeno de pessoas, a imprensa na época era constituída quase que totalmente por publicações de vida efêmera. É verdade que o levantamento realizado durante a pesquisa revelou que parte significativa dessas pequenas folhas e revistas, principalmente aquelas ligadas a associações recreativas e culturais e pequenos grupos informais de cultura, vindo a público com toda pompa, com artigos de fundo que delineavam extensos programas, não conseguem passar dos primeiros números (CRUZ, 2000, p.146). O desaparecimento de grande parte desse tipo de publicações, tão comum na última década do século XIX e primeira do século XX, está relacionado ao processo de rearticulação da cultura impressa. Para Cruz (2000, p.147), tal processo tem seus sintomas mais visíveis na formação das empresas jornalísticas, no fortalecimento e profissionalização de alguns grupos e na instalação de editoras mais capitalizadas e organizadas, que passaram a editar a maioria dos materiais lidos pelos paulistanos na época. A passagem do século marca a transição da pequena à grande imprensa no Brasil. Nessa fase, as empresas passam a firmar uma estrutura complexa de organização e a adquirir modernos equipamentos gráficos. Na metade da primeira década, a importação das modernas “máquinas de compor”, as linotipos, transformam profundamente o trabalho de composição e a tipografia é projetada na era moderna. No campo da impressão, as grandes novidades são as máquinas rotativas Marinoni, que assumem o lugar dos velhos prelos das tipografias e que, agora, por elas mesmas, “imprimem, cortam e dobram os exemplares dos jornais aos milheiros” (BAHIA, 1990, p.124). No campo cultural, é nessa etapa que as revistas ganham definição e espaço diferenciado em relação aos jornais, que passam por mudanças estruturais, especialmente com a separação do material literário. Conforme Sodré (1966, p.340), “as colaborações literárias começam a ser separadas, na paginação dos jornais: constituem matéria a parte, pois o jornal não pretende mais ser, todo ele, literário”. Para o historiador, [...] é um pouco dessa transformação que decorre a proliferação das revistas ilustradas que ocorre a partir daí. Nelas é que irão se refugiar os homens de letras [...]; as revistas passarão, pelo menos nessa fase, por um período em 75 que são principalmente literárias, embora também um pouco mundanas e, algumas, críticas (SODRE, 1966, p.340). No processo de constituição da “grande imprensa”, o jornalismo emerge como uma via vigorosa de profissionalização para os escritores. De acordo com Cruz (2000, p.186), a colaboração fixa em diários e revistas configurou-se como um posto de trabalho almejado por importantes literatos no período e, para alguns intelectuais, passou mesmo a significar a diferença entre emprego e desemprego. Deste modo, impôs-se, paulatinamente, a dependência do literato da imprensa como exclusiva fonte de renda para o homem de letras que modificava seu ofício numa profissão remunerada. [...] uma transformação de vulto processava-se naquela virada de século, premida pelo progresso e pelas novas relações de mercado: a metamorfose do homem de letras, de postura boêmia, à conformação do novo intelectual do impresso, na maioria das vezes jornalista, profissionalizado, sujeito igualmente às regras do avanço do capital, dele dependente (MARTINS, 2001, p.133). A necessidade de estabelecer diálogos efetivos entre autor e público para garantir o sucesso econômico do impresso, determinou concessões de parte a parte; tanto do escritor, que se propunha a escrever em qualquer periódico que lhe desse espaço, quanto do editor, que reunia nomes vendáveis, independente de suas afinidades temáticas ou ideológicas, a fim de assegurar o consumo do produto. Daí a miscigenação literária e ideológica das revistas da época, que apresentavam estranhas parcerias no mesmo periódico: de Olavo Bilac com o regionalista Valdomiro Silveira; ou do monarquista Couto de Magalhães com o anarquista Ricardo Gonçalves. Heterogeneidade que reforçava o caráter pouco comprometido daquele periodismo, veiculador de textos ligeiros, de consumo imediato, permitindo e até privilegiando a coexistência de vários pontos de vista – alinhando-se ao espírito daquele tempo (MARTINS, 2001, p.142). Descaracterizando-se enquanto empreendimentos individuais, modernizando suas estruturas de financiamento, produção e circulação, articulando-se à também nascente indústria do reclame, o periodismo empresarial impõe-se e diferencia-se de vez do jornalismo artesanal do período anterior. Aos poucos, vai se delineando o que Pierre Bourdieu (1970, p.99) chamou de “mercado de bens simbólicos”. A autonomização das esferas de produção, circulação e consumo desses bens dá-se a partir de sua desvinculação de instâncias de legitimidade externa 76 – tais como o domínio econômico e estético da Igreja ou da aristocracia –, constituindo, para si, um público consumidor extenso e diversificado e um corpo profissionalizado de produtores e empresários. Em outros termos, este mercado torna-se viável no processo da constituição de um campo intelectual e artístico, o que, no Brasil, configura-se, segundo a análise de Sérgio Miceli (2001, p.14-68), com a profissionalização da atividade intelectual, garantida pelo aumento do número dos postos de trabalho no setor administrativo, político e cultural do Estado, que ocorre na década de 1920. As relações entre a publicidade e a imprensa tornam-se orgânicas. Através da propaganda, a cidade-mercado penetra a imprensa periódica, denotando a crescente fruição de bens e serviços no espaço urbano. Ela passa a conquistar cada vez mais espaço nas revistas e jornais, introduzindo na realidade nacional padrões ao estilo americano. Martins (2001, p.486) contextualiza tais influências da seguinte forma: A partir do momento em que os Estados Unidos tornaram-se nossos maiores compradores de café, a comparação com o espírito yankee tornou-se freqüente, embora os eflúvios da França marcassem a cidade, confirmados por ingerências várias daquele modelo da Capital: as importadoras de vinhos, o comércio elegante, as revistas ilustradas francesas e as nacionais de forte influência francesa, os colégios religiosos de moças – Sion, Sacre Coeur, Des Oiseaux –, os convescotes da Vila Kirial, do poeta Freitas Valle, de pseudônimo Jacques Devray. Acentuava esse pendor a ida constante da elite à França, embarcando por valores módicos nos vapores que demandavam Bordéus e Marselha, rotina que só seria interrompida durante a guerra. Neste momento, aumenta o distanciamento daquela fase inicial de experimentação e autonomia que caracterizava a imprensa tipográfica da virada do século. Com a formação das empresas jornalísticas, o espaço das folhas informais estreita-se. Entre os anos 10 e 20, tais publicações seriam progressivamente assimiladas por algumas poucas revistas de variedades. Como aponta Sodré (1966, p.315), caminha-se para um novo tempo, em que seria “muito mais fácil comprar um jornal do que fundar um jornal: e ainda mais prático comprar a opinião do jornal do que comprar o jornal”. Forte exemplo deste instante é a Revista do Brasil, fundada em 1916. Na opinião de Martins (2001, p.67), seu lançamento balizou um ponto de inflexão do gênero revista no país. De acordo com a pesquisadora, ao contrário do amadorismo que presidira as experiências anteriores, nascidas do entusiasmo e idealismo da boemia das confeitarias da inicial República 77 das Letras, a confecção da Revista do Brasil foi cuidadosamente planejada, com linha editorial e diretrizes bem pensadas. Afinal, o empreendimento tinha em vista um diagnóstico para a nação. Ao contratar inúmeros escritores consagrados e outros jovens promissores (que teriam destacada participação no estado-maior intelectual dos grupos dirigentes paulistas), a intenção da família Mesquita – também proprietária de O Estado de S. Paulo, órgão de relevo na grande imprensa da época – era fazer da Revista do Brasil um “mensário de alta cultura”. A publicação propunha-se a suscitar uma tomada de consciência por parte da nova geração de intelectuais e políticos da oligarquia. Pouco tempo após seu lançamento, “tornarase mesmo o mais lido, o mais importante veículo cultural do país [...] possuía intensa penetração nos meios intelectuais, e aparecer em suas páginas constituiu, por muitos anos, o sonho de todo estreante, de todo candidato à glória no país das letras” (MICELI, 2001, p.90). O cosmopolitismo intelectual, a coexistência de autores provenientes de conjunturas intelectuais distintas, a diversidade de áreas e gêneros, o empenho em dar cobertura aos principais tópicos em torno dos quais se articulava o debate político e intelectual da época, evidenciam os alvos comerciais que permeavam a política editorial seguida pela revista. Assim, os responsáveis pela linha editorial buscaram em outras e novas formas de produção erudita um contrapeso às matérias literárias e mundanas até então predominantes, e puderam comprovar a existência de um público disposto a consumir algo distinto das revistas ilustradas que então floresciam. Para Miceli (2001, p.91), “a Revista do Brasil tornou-se o empreendimento editorial de maior prestígio antes de 1930 e constitui um marco na história da hegemonia paulista no campo intelectual”. Nem todas as revistas, no entanto, interessavam-se pelo debate político. Segundo Martins (2001, p.127), as pautas das publicações comprometeram-se com o sucesso de público e de mercado, visando tão-só a maior rentabilidade de seus negócios. Na sua maioria, tais veículos consolidaram representações propagadoras dos valores do novo regime, quando o espetáculo republicano ocupou as páginas higienizadas daquele periodismo. No decorrer da terceira década, este periodismo “cultural” de entretenimento já se apresenta bastante segmentado. A diversidade de títulos aumenta, as publicações diferenciamse e especializam-se. Agora é possível distinguir um conjunto importante de revistas de variedades e de cultura onde se pode, entre outras, destacar publicações como A Cigarra, Novíssima e Revista de Antropofagia, e algumas revistas especializadas como Automobilismo e Modearte (CRUZ, 1997, p.27). O progressivo enraizamento das revistas na vida nacional acabaria por criar a necessidade de atender públicos cada vez mais diversificados. 78 Em muitos casos assistiu-se a um desdobramento à maneira de boneca russa, com revistas a gerar revistas, dando ainda mais capilaridade ao formidável universo da revista brasileira – fruto maduro e sumarento de As Variedades, aquele maço de folhas de papel impresso que o pioneiro Silva Serva pusera à venda quase dois séculos antes (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.22). O desenvolvimento das artes gráficas no Brasil contribuiu com esta proliferação. A possibilidade de portar gravuras e fotografias, combinadas ao texto, ampliou as formas de mostrar e registrar a vida cotidiana, divulgando, principalmente, a cultura e o estilo de vida da classe média então emergente. O jeito de comunicar usando a ilustração firmou-se na passagem para o século XX. Desenhos enfeitavam a capa das revistas da belle époque, entre elas A Illustração Brazileira, Fon-Fon! e A Cigarra. Predominavam as pinturas de salão, de estilo acadêmico, às vezes temperadas com referências art nouveau. Falava-se de temas históricos ou festejava-se um acontecimento importante. Mas um dos temas preferidos era a mulher, em pose contemplativa, como um espelho da leitora da época (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p. 67). O marco do jornalismo visual em revistas daria-se, entretanto, apenas em 1928, com a criação de O Cruzeiro, por Carlos Malheiros Dias. Na opinião de Sodré (1978, p.40), “foi a revista O Cruzeiro a grande lançadora, no Brasil, da reportagem ilustrada, dinâmica”. A publicação, que circulou até 1975, revolucionou o segmento ao incorporar definitivamente a fotografia à estrutura editorial. “Fixou-se ali uma fronteira: enquanto a fotografia acompanhava as reportagens, a ilustração contracenava com os textos literários ou humorísticos” (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.71). Juntamente com A Cigarra, o periódico integrava os Diários Associados, grupo de Assis Chateaubriand, que dava os primeiros passos para tornar-se um imperador do mercado editorial. A revista consagrou-se no gênero reportagem com Jean Manzon e David Nasser, nos anos 40: “a dupla peregrinava por um Brasil desconhecido e retornava com fotos e histórias sensacionais” (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.47). A partir desse momento, as revistas ingressaram numa era em que a reportagem teria peso cada vez maior. A partir de 1960, com o desenvolvimento das agências noticiosas e o aprimoramento da notícia, do serviço fotográfico e do segundo caderno dos jornais, com a multiplicação das revistas especializadas, com o grande boom da televisão, em suma, com o bombardeio do público pelos veículos de massa, o jornalismo de revista mudou. A revista Manchete – boa 79 impressão, fotografias trabalhadas, ideologia publicitária definida – afirmou-se como o veículo que reuniria, no Brasil, as características modernas da revista (SODRE, 1978, p.42). Os semanários de Bloch (Manchete) e Chateaubriand (O Cruzeiro) dominavam as bancas quando, em 1966, a Editora Abril lançou Realidade. Revista mensal “dos homens e das mulheres inteligentes que querem saber mais a respeito de tudo”, como anunciou seu fundador, Victor Civita, Realidade somou ousadia dos temas, investigação aprofundada, texto elaborado e ensaios fotográficos antológicos. Ofereceu ao leitor um padrão de reportagem até então desconhecido no país (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.57). Inspirada nos modelos francês (Réalités) e norte-americano (New Yorker, Esquire), matrizes preferenciais da nossa imprensa cultural, a revista refletia a inquietação cultural e de costumes dos anos 60, repercutindo novos padrões de comportamento. Suas reportagens eram refinadas, envolventes, e os textos, elaborados com esmero literário – características que a aproximavam da vertente do new journalism 31. Outras publicações que apostaram no jornalismo literário 32, destacadas por Piza (2003, p.33 e 38) em seu livro, merecem ser lembradas. São elas: Diretrizes, dirigida por Samuel Wainer nos anos 40; Senhor 33 e Diners 34, estas últimas, revistas mensais da década de 60. Sucesso de bancas, Realidade alcançou tiragens de até 500 mil exemplares. Apesar disso, foi se tornando comercialmente inviável. Não bastava vender muito, se os anunciantes passaram a preferir a televisão, que aos poucos substituiu esse tipo de revista como veículo de interesse geral. O mesmo ocorreu, aliás, com a americana Life, que ao desaparecer vendia mais de 6 milhões de exemplares por edição (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.59). 31 “Ao longo do tempo, o rótulo new journalism patenteou várias tentativas de usar técnicas literárias na reportagem. Ele foi aplicado pela primeira vez por volta de 1830, nos Estados Unidos [...]. Cerca de cinqüenta anos depois, o termo ‘novo jornalismo’ voltou a ser usado [...]. No Brasil, essa tradição também era antiga e teve como marco principal a cobertura de Euclides da Cunha, destacado em 1897 pelo jornal O Estado de S. Paulo para cobrir a Guerra de Canudos [...]” (COSTA, 2005, p.268). “Mas o principal foco de influência do new journalism no Brasil foi Realidade [...]” (idem, p.269). 32 Jornalismo literário, na acepção que damos ao termo, não se refere à imprensa especializada em literatura, que foi um fenômeno que nasceu com o jornalismo e perdura até hoje. Não se trata de jornalismo sobre literatura, mas com recursos da literatura (descrições detalhadas, diálogos etc.). 33 “Foi ali que autores como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarisse Lispector e Jorge Amado publicaram algumas de suas melhores novelas; e traduções caprichadas colocaram em circulação no Brasil autores americanos como J. D. Salinger” (PIZA, 2003, p.38). 34 “ [...] a Diners, espécie de segunda vinda daquela Senhor, é um culto secreto: tendo durado pouco mais de um ano (1968-69), é pouco conhecida mas muito admirada; jovens jornalistas como Telmo Martino, Flavio Macedo Soares e Alfredo Grieco brilharam ali” (idem, ibidem). 80 A revista fechou dez anos depois de seu surgimento, suplantada pelo prestígio alcançado pelo modelo de publicações como Veja (1968) e IstoÉ (1976). Essas revistas semanais de informação, mesmo com variações entre períodos de evolução e recessão em suas trajetórias, exerceriam notável influência na vida do cidadão do final do século XX, conservando-se como referências no mercado editorial até hoje. Neste começo de século, permanece a tendência de segmentação que surgiu nos anos 70 com o crescimento do mercado e sua solidificação. Voltadas para o público feminino, masculino, jovem, infantil etc. – as revistas especializam-se cada vez mais. O esoterismo, a ciência, a educação, a arquitetura, o artesanato, os cuidados com o corpo, o mercado imobiliário – os assuntos são variados e todos possuem público garantido. O objetivo é identificar ao máximo a publicação ao seu leitor, levando em conta suas necessidades, interesses e preferências. Em poucas palavras, na tentativa de definir o panorama do atual jornalismo de revistas no Brasil, vale mencionar a definição de Reimão (1996, p.73): “um mosaico complexo de temáticas e níveis de complexidade textual que impede que se possa identificar um padrão único no mercado editorial brasileiro”. 2.1. A trajetória das revistas culturais e literárias Até aqui se aventou sobre o mercado de revistas brasileiro, destacando principalmente as publicações que, de alguma forma, deixaram marcas nessa história, seja pelo pioneirismo de suas páginas, seja pela influência que exerceram em seu tempo. Na maioria dos casos, tratou-se de periódicos de interesse geral, nos quais a literatura era apenas um dos itens abordados. Entretanto, como dito anteriormente, o interesse é, também, enfatizar a participação das revistas culturais, de alcance mais restrito, neste conjunto de acontecimentos. Antes de apresentá-las, vale destacar algumas características dessas publicações: Freqüentemente com o aspecto de livro, vendidas em livrarias e destinadas a um público especializado, elas vêm cumprindo, desde sempre, o papel de expor, agitar e difundir idéias. [...] Quase todas enfrentaram aperturas financeiras, responsáveis por um altíssimo índice de mortalidade editorial. As revistas padeciam daquilo que o poeta Olavo Bilac, revisteiro contumaz, chamou de “o mal dos sete números”. Parece ser próprio dessas publicações 81 ter vida breve, suficiente apenas para plantar novidades, deflagrar debates e, sobretudo, revelar talentos (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p. 111-112). Apesar de nossas primeiras revistas se auto-intitularem “literárias”, de literatura tinham muito pouco. É o que afirma Costa (2005, p.215) ao citar o exemplo do Correio Braziliense (ou Armazém Literário) e de As Variedades ou Ensaios de Literatura. Este tipo de subtítulo encontrava-se na maioria delas, como apelo conotativo ao interesse do leitor. Assim, as revistas literárias indiscriminaram-se e confundiram-se cobrindo assuntos os mais diversos, impossibilitando o recorte específico daquelas que voltaram-se primordialmente à divulgação das artes e das letras. [...] a literatura se colocou em todo o periodismo da época, dado o vezo daquela geração, às voltas com poesia, prosa e muita paixão. Na sua maioria anunciavam propósitos literários, mas em seu interior apresentavam, sobretudo, ilustrações, notas sociais, crítica ou exaltação política, a infalível crônica e algum soneto (MARTINS, 2001, p.277). Grande parte das folhas domingueiras vem a público como periódicos literários. [...] Colocar um soneto ao lado de um artigo de fundo, usar versos como epígrafes, quadrinhas populares, fazer reclames em poesia, inserir sonetos entre seções mais pesadas são estratégias largamente usadas por essas publicações (CRUZ, 2000, p. 109). Segundo Antonio Candido (2000, p.106), O Patriota, fundado em 1813, no Rio de Janeiro, pelo matemático Araújo Guimarães, foi a primeira revista de cultura a funcionar regularmente entre nós, estabelecendo inclusive o padrão que regeria as outras pelo século afora: “trabalhos de ciência pura e aplicada ao lado de memórias literárias e históricas, traduções, poemas, notícias. Como diretriz, o empenho em difundir a cultura a bem do progresso nacional”. A sobrevivência de uma revista literária stricto sensu, entretanto, revelou-se inviável, como se inferiu da Revista Literária, de 1895, dirigida por Amadeu Amaral e Maximo Pinheiro Lima. [...] desapareceu já no primeiro ano de vida, vítima de todos os males que acometiam empreendimentos extemporâneos em relação às demandas e/ou mercados: falta de público, improviso da iniciativa, precariedade de administração, irregularidade dos colaboradores, mais ainda por tratar-se de periódico semanal (MARTINS, 2001, p.277). Isso justifica a concepção de cultura que vigorou no início de nossa imprensa – a mais abrangente possível. Assim ocorreu com as revistas de variedades ou ilustradas que Raúl 82 Antelo (1997, web) caracteriza como detentoras de um “perfil mundano-artístico, em que a literatura funciona como ilustração da vida burguesa ou simples variedade letrada das infinitas possibilidades urbanas”, citando como exemplo, no Rio de Janeiro, a Revista Sul-americana (1889), a Kosmos (1904-1909) e a Renascença (1904-1906), que conciliavam em suas páginas “poetas parnasianos e simbolistas, ilustrações das reformas urbanísticas, a crônica da vida social ou charges políticas”. Houve ainda a já mencionada Revista do Brasil, lançada em 1916 por um grupo liderado por Júlio Mesquita, que depois passou para as mãos de Monteiro Lobato, até 1925, quando o escritor faliu. Nesta fase, fundia-se, segundo Antelo (1997, web), “o filão pedagógico com o lado irreverente da vanguarda”. A revista teve várias fases, a última em 1990. Outra tentativa de revista cultural foi a Panoplia (junho de 1917 a março de 1918), dirigida por Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo e Di Cavalvanti, e a Novela Semanal (1921), coletânea de contos e novelas de grandes autores nacionais. Todas malogradas, conforme constatou Paulo Duarte (apud LORENZOTTI, 2002, p.17), “seguindo o destino das coisas culturais no Brasil”. Os modernos da Semana de 22 tiveram a revista Klaxon, lançada por iniciativa de Mário de Andrade e de Guilherme de Almeida, que durou nove números a partir de maio de 1922. A Revista Nova (1931), de Paulo Prado e Antônio de Alcântara Machado, teve quatro números. Houve também a Arcádia, dos estudantes de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo (1936) e a Revista do Arquivo Municipal (1935), do Departamento de Cultura de São Paulo. A revista O Cruzeiro (da qual Mário de Andrade foi colaborador) também veio a público em 1928 como uma publicação cultural. De acordo com Piza (2003, p.32-33), o periódico lançou o conceito de reportagem investigativa e deu enormes contribuições à cultura brasileira ao publicar contos de José Lins do Rego e Marques Rebelo, artigos de Vinicius de Moraes e Manuel Bandeira, ilustrações de Anita Malfatti e Di Cavalcanti, colunas de José Candido de Carvalho e Rachel de Queiroz, além do humor de Péricles (O Amigo da Onça) e Vão Gogo (vulgo Millôr Fernandes). A efervescência dos anos 20 se espraiou por diversas publicações culturais nas décadas seguintes. As mais diversas correntes doutrinárias lançaram-se na imprensa. O pensamento católico liderado por Jackson de Figueiredo criou A Ordem (1921) no Rio de Janeiro. Os integralistas juntaram-se em torno de Anauê! (1935-1937) e dos Cadernos da Hora Presente (1939-1940). Os comunistas, por seu turno, editaram várias revistas, entre elas, 83 Problemas (1947-1956), dirigida no início por Carlos Marighella, e Literatura (1946-1948), comandada por Astrojildo Pereira (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.120). Nos anos 40, a revista Clima (1941-1943), lançada por um grupo de brilhantes alunos das primeiras turmas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, entrou para a história da produção intelectual do país e praticamente os mesmos colaboradores participaram do futuro Suplemento Literário (1946 a 1968) de O Estado de S. Paulo. Três deles, em especial, Antonio Candido, Paulo Emílio Salles Gomes e Décio de Almeida Prado, amadureceriam como pontos altíssimos da intelectualidade brasileira no campo dos estudos de literatura, cinema e teatro, respectivamente. Também em São Paulo, os anos 50 viram nascer Noigandres e Invenção, quartéis do concretismo, editadas pelos três poetas responsáveis pela efetivação do movimento no Brasil: Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos. Seu dogmatismo vanguardista seria reeditado vinte anos depois com Código, lançada por Erthos Albino de Souza, em Salvador 35. A década de 50 também acompanhou o surgimento da Revista Brasiliense, de Caio Prado Jr., que circulou de 1955 a 1964, quando foi fechada pelos militares. Seu espírito de resistência, todavia, sobreviveu no grupo de intelectuais de esquerda 36 que, entre outubro de 1973 e fevereiro de 1974, editou quatro números de Argumento 37, igualmente liquidada pela ditadura. Assim, o final dos anos 60 e início dos 70 assistiu ao nascimento e à morte de um grande número de periódicos culturais, mas também concentrou boa parte dos textos de uma cultura que se queria “de resistência”, constituindo-se num dos períodos mais férteis da nossa produção intelectual. Bom exemplo disso são os textos publicados pela Revista Civilização Brasileira, criada pelo editor Ênio Silveira em 1965, que gozou de relativa liberdade de ação e foi influente até que a decretação do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968, a inviabilizasse. Como mostra Lima (1986, p.190), os escritos de Everardo Dias foram reunidos num livro com o nome Histórias das Lutas Sociais. Os trabalhos de Caio Prado Jr. foram 35 Embora editada em Salvador, segundo informações levantadas por Marquardt (1997, web), Código é efetivamente controlada, em suas políticas de exclusão, por Augusto de Campos, diretamente de Perdizes, em São Paulo. 36 O grupo era formado por Barbosa Lima Sobrinho (diretor), Anatol Rosenfeld, Antonio Candido, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Corrêa Weffort, Luciano Martins e Paulo Emílio Salles Gomes. 37 Argumento abarcava não só artigos sobre economia, política e sociologia, como também os culturais, artísticos e literários. Sua principal característica era a forte tendência ao engajamento político (COTA, 2001, web). 84 publicados no livro A Questão Agrária no Brasil. Mais recentemente os editoriais de Elias Chaves Neto foram reunidos em O Sentido Dinâmico da Democracia. Por aí se vê que os artigos da Revista Brasiliense, por sua importância, já foram transformados em livros que se tornaram obras fundamentais do pensamento sociológico brasileiro. Nesse cenário de cortes e interdições, uma das poucas sobreviventes é a revista Tempo Brasileiro, que vem sendo publicada desde setembro de 1962, sempre sob a direção de Eduardo Portella. A publicação, que se auto-define como “revista de cultura”, silenciou durante o ano de 64, sendo retomada em 1965 com periodicidade trimestral, regularidade que se mantém. É também o caso da Revista de Cultura Vozes (inicialmente Vozes de Petrópolis: revista católica de cultura), que permanece ininterruptamente no mercado desde 1970, com seus dez números anuais. Foi neste espaço que se abrigaram os principais representantes da Teologia da Libertação, como Leonardo Boff, um dos líderes dessa facção. Através dessa vertente, espalhou-se no país, através das pastorais, um movimento de conscientização da população. Além dos teólogos da libertação, intelectuais conhecidos publicaram suas idéias na publicação. No período da ditadura, a revista constituiu-se num dos poucos lugares em que se encontrava respaldo para textos mais explícitos contra o regime. Ao contrário de outros periódicos que também se propuseram a exercer este papel, Vozes era uma revista vinculada a uma instituição que a protegia, a Igreja Católica. Mesma sorte não teve a investida do empresário Fernando Gasparian que, após a crise e o fechamento de seu jornal (Opinião 38), lançou, em junho 1975, a revista Cadernos de Opinião. Os dois primeiros números do periódico foram publicados pela Editora Inúbia. No mesmo ano foi veiculado o terceiro número, mas com o nome Ensaios de Opinião, seguindo assim até seu último número, em 1979, quando a revista, sem periodicidade fixa, deixou de circular. Trajetória semelhante tiveram diversas revistas literárias e culturais – campo de cunho acadêmico no qual se concentrou a parcela mais atuante do discurso crítico sobre a cultura – que surgiram na segunda metade da década, respaldadas pelo “boom editorial de 75” 39, mas 38 O jornal Opinião surgiu nas bancas no dia 23 de outubro de 1972 (apogeu da ditadura militar, no final do governo do general Emílio Garrastazu Médici), com um pretensioso manifesto sobre a revolução que o tablóide representaria para a história da imprensa no país, ilustrando na primeira página uma caricatura da figura decadente de Plínio Salgado (MARQUARDT, 1999, web). 39 Menos dependente do investimento estatal e gozando de relativa autonomia diante da censura, a literatura experimenta o chamado “boom de 75”, período de proliferação de revistas e suplementos literários que se alimentam da boa maré que a literatura experimenta nesse momento. 85 que não resistiram aos anos 80, dentre outros fatores, em função das novas leis do mercado. São elas: Escrita 40, Ficção, Inéditos, Almanaque 41, Através 42, Arte em Revista 43 e as sofisticadas José 44 e Anima. Vários de seus colaboradores, entretanto, reapareceram em outras publicações, principalmente nos anos 90. A gaúcha Oitenta 45, da L&PM Editores, na década que lhe deu nome, também sucumbiu às agruras do mercado. Assim também sucedeu com a Leia Livros da Editora Brasiliense – título mais tarde abreviado para Leia nas mãos de outros donos. Ao contrário de Novos Estudos, editada a partir de 1981 pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP – onde o sociólogo Fernando Henrique Cardoso ostentou, pela primeira vez, o título de presidente (A REVISTA NO BRASIL, 2000, p.121). Escrita − revista mensal de literatura, surgiu em 1975 e saiu de circulação em 1988, depois de algumas quebras no curso de sua existência. Criada em São Paulo pelo poeta Wladyr Nader, reunindo nomes como Hamilton Trevisan e Antonio Hohlfeldt, autodenominava-se alternativa e tinha como proposta inicial veicular a produção literária realizada nos quatro cantos do Brasil. Nesse sentido, na opinião de Camargo (1997, web), “talvez Escrita seja uma das menos provincianas ao dar notícias das províncias”. De acordo com a pesquisadora, a revista buscou efetivamente cobrir o que acontecia em todo o país e relacionar-se, especialmente, com outros países sul-americanos. 41 A Editora Brasiliense, de São Paulo, publicou Almanaque - cadernos de literatura e ensaio durante sete anos (1976-1982), num total de quatorze números, sem periodicidade fixa. A revista teve como editores dois professores da USP (Bento Prado Jr. e Walnice Nogueira Galvão) e em suas páginas circularam predominantemente professores da mesma instituição, como Roberto Schwarz, Marilena Chauí, Paulo E. Arantes, Rubens Rodrigues Torres Filho e Lígia Chiappini Moraes Leite. 42 Entre os anos 1978 e 1979, a Livraria Duas Cidades publicou três números da revista Através sob a coordenação de Décio Pignatari, Boris Schnaiderman, Leyla Perrone-Moisés e Lucrécia Ferrara. Quatro anos mais tarde, em janeiro de 1983, reapareceu um único número do periódico, dessa vez uma publicação da Livraria Martins Fontes, com uma diagramação bastante diferenciada, novamente com número um e sob a mesma coordenação anterior. Segundo Boris Schnaiderman, esse número publicado em 83 é considerado como o n.4 da revista e, conseqüentemente, o último. Semiótica era um tema recorrente e era explícita a vinculação de seus membros ao concretismo. 43 Arte em Revista foi uma revista cultural, publicada no período de 1979 a 1984 pelo Centro de Arte Contemporânea - CEAC, São Paulo, sob a coordenação de Otília Arantes, Celso Favaretto e Matinas Suzuki Jr., com colaborações de Ferreira Gullar, Sérgio Ferro, Helio Oiticica e João Adolfo Hansen. A revista foi editada até o número sete pela Editora Kairós, sendo que o oitavo número foi publicado pelo CEAC com colaboração parcial da FAPESP. Tratou-se de uma revista monográfica, que dedicava cada número a uma determinada temática. 44 José - Literatura, Crítica & Arte, lançada no Rio de Janeiro em julho de 1976, com a pretensão não atingida de periodicidade mensal, encerrou-se no 10° número, em julho de 1978. O periódico, dirigido pelo poeta Gastão de Holanda, com colaborações de Sebastião Uchôa Leite, Jorge Wanderley, Benedito Nunes, Luiz Costa Lima, Silviano Santiago e Augusto de Campos, pode ser lido como um dos últimos suspiros do modernismo brasileiro. Antonio Dimas sugere que José seria a publicação de um grupo pernambucano, nascido nos anos 30, que foi forçado a deixar o estado na ocasião do golpe de 64 e que pela identidade regional, a afinidade com a esquerda e a literatura se uniu para fazer a revista. 45 A revista cultural Oitenta foi lançada em nov./dez. de 1979, em Porto Alegre. Seus editores foram José Antônio Pinheiro Machado, José Onofre, Jó Saldanha, Jorge Polydoro, Suely Bastos, Xico Marques da Rocha, Antônio Aliardi, Ivan Gomes Pinheiro Machado e Paulo de Almeida Lima. A revista surgiu como uma publicação de caráter trimestral, condição mantida nos nove primeiros meses, diminuindo a periodicidade nos anos subseqüentes. Além de estar voltada para os acontecimentos mundiais, também abriu espaço à participação de nomes significativos da intelectualidade sulina. Nas suas páginas compareceram textos de Luis Fernando Veríssimo, Cyro Martins, Tabajara Ruas, José Onofre, Josué Guimarães, Tarso Fernando Genro, Antônio Hohlfeldt, Tânia Franco Carvalhal, Sérgio Caparelli e Moacyr Scliar. 40 86 Em janeiro de 1980, no contexto das discussões sobre o ensino de literatura e língua portuguesa no Brasil, surgiu o primeiro número da revista Linha d’Água. Publicada pela APLL – Associação de Professores de Língua e Literatura do DLCV/FFLCH/USP (Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo), a primeira edição da revista veio a público como boletim do 2º Encontro de Professores de Língua e Literatura, ocorrido no período de 23 a 26 de agosto de 1979. Apesar dos esforços dos colaboradores da revista (em grande parte, professores da própria USP, além de professores de diversas instituições dos três graus do ensino), a publicação da mesma não se fez em intervalos regulares, principalmente, devido à falta de recursos financeiros. A princípio, a revista deveria ser editada de seis em seis meses, todavia, devido às dificuldades, tornou-se uma publicação anual. Na mesma série de revistas ligadas a instituições, um grupo de estudantes da PUC-RJ organizou a 34 Letras em setembro de 1988. Com o apoio cultural e financeiro de várias instituições e empresas (Instituto de Artes Moreira Salles, Fundação Vitae, Cia. Suzano, Banco Itamarati e Metal Leve), amparadas pelos benefícios da Lei Sarney 46, sete números da revista com cerca de 200 páginas circularam trimestralmente. A parceria com o capital privado resultou numa revista elaborada esteticamente e que deixou explícito no requinte gráfico: dinheiro não faltou. Em suas páginas, houve a mescla de temas, linhagens, línguas, gerações. Houve espaço para os críticos que publicavam em José, para o concretismo, para os estreantes acadêmicos e para o pensamento francês pósestruturalista. O sétimo (e último) número da revista dá sinais da crise que impossibilitaria a sua subsistência. Segundo Dias (1998, web), a razão da crise, que faz com que o periódico divulgue uma campanha de arrecadação de fundos, visando assegurar a periodicidade durante o ano de 1990, é a indefinição da política econômica e fiscal do governo Collor, que apenas iniciava seu breve mandato. Com a extinção da Lei Sarney, a revista também deixou de circular. Percebe-se, então, que a publicação não se sustentava mercadologicamente e que a execução do projeto só foi possível devido o apoio público-privado que financeiramente a viabilizou. Poucos meses após o surgimento de 34 Letras, em março de 1989, era lançada outra revista de cunho acadêmico: a Revista USP, uma publicação trimestral da Coordenadoria de 46 Decreto datado de 07 de outubro de 1986 que regulamentava a Lei nº 7505, que dispunha sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda, concedidos a empresas que participassem de operações culturais. 87 Comunicação Social da Universidade de São Paulo. Munida do capital simbólico que a vinculação a esta instituição lhe proporciona, o periódico é produzido até hoje com tiragem de três mil exemplares. O Dossiê é apontado como principal inovação trazida pela revista por possibilitar a reunião do “talento que existe na USP, disperso nos seus centros, departamentos e institutos” em torno de temas centrais. Chega-se aos anos 90 em clima de liberdade de imprensa e internacionalização de mercados. Nesse contexto, há uma certa efervescência, especialmente a partir de 1995, na área de periódicos literários e culturais, com o lançamento e a sobrevivência de várias e novas revistas, algumas com tiragens bastante altas para os padrões brasileiros. Apenas para citar alguns exemplos: Cult, Bravo!, Palavra, Continente Multicultural, Inimigo Rumor, Exu, Cigarra, O Carioca, Revista USP, Nanico, Poesia Sempre, Continente Sul/Sur, Azougue. Como há vinte anos, muitas revistas literárias e culturais entram em circulação com distintos projetos gráficos e editoriais. Para destacar algumas, nas livrarias de São Paulo podemos encontrar Azougue, com seu ar “pop”, diagramação que se pretende próxima de um “fanzine” e inspirações dos grafites, das histórias em quadrinhos e do rock. Trata-se de uma revista sem financiamento, portanto, sem periodicidade definida, que existe há doze anos. O periódico, criado em 1994, publica novos poetas e homenageia alguns daqueles “velhos” poetas dos anos 70. No Rio de Janeiro se pode comprar O Carioca (1996), com seu belo projeto gráfico, tão marcada pela cidade que lhe dá o título e pela hibridação cultural: a poesia surge mesclada a outras artes, como a fotografia, a outros projetos culturais, a coisas da cidade. Entre seus poetas temos também os novos e os velhos: os dos anos 90 e os dos 70. Também no Rio, em janeiro de 1997, é lançada a instigante Inimigo Rumor. A revista não tem como objetivo altas tiragens, lucros imediatos. Dirigida nos sete primeiros números pelos poetas Carlito Azevedo e Júlio Castañon e, a partir do oitavo número, editada por Carlito e pelo também poeta Augusto Massi, Inimigo Rumor é uma homenagem à poesia, seja ela brasileira ou não. A partir do número 11, ela passa a ser uma publicação luso-brasileira, em regime de co-edição: do lado brasileiro, a Editora 7 Letras; do lado português, as editoras Angelus Novos e Livros Cotovia. Nas bancas de jornais e em algumas livrarias de todo o país encontramos ainda duas revistas mensais, de pauta variada, alta tiragem, circulação nacional, cuidadíssimo projeto gráfico, coloridas, bom papel e bela capa. A revista Cult (1997), comprada da Lemos Editorial pela Editora Bregantini em fevereiro de 2002, e a revista Bravo! (1997) que, antes produzida pela Editora D’Ávila, passou para o portifólio da Editora Abril em janeiro de 2004. 88 Apesar do assunto em comum, não se trata de produtos concorrentes. A proposta editorial das duas revistas é bastante diferente. Enquanto a Bravo! foca sua cobertura nos eventos da indústria cultural, caracterizando-se como uma publicação mais voltada para o serviço, a Cult procura trabalhar os temas em profundidade, oferecendo a seus leitores um conteúdo mais analítico, de maior densidade. Além dessas duas publicações, uma outra na área de cultura é a Possível, revista bimestral lançada pela Leitura e Arte em maio de 2003. O primeiro número auditado pelo IVC, de agosto/setembro, apresentou circulação de 1,5 mil (venda avulsa) e tiragem de 10 mil exemplares. Assim como a Bravo! e a Cult, a Possível também desfruta da Lei Rouanet. Diferentemente da mineira Palavra, de 1999, fundada por Ziraldo e editada em Belo Horizonte pela Editora Gaia. Com distribuição nacional, a revista – que sempre teve boa aceitação de público e crítica, mas nunca recebeu verba de publicidade ou pública, através de leis de incentivo – chegou ao fim em agosto de 2000, na 16ª edição, por motivos fundamentalmente financeiros. Entre as publicações que permanecem no mercado, a novata é a EntreLivros, da Duetto Editorial. Lançada em abril de 2005, é a primeira revista brasileira focada exclusivamente em livros. O periódico publica com exclusividade textos do Book Review, o prestigioso suplemento literário do jornal The New York Times, e conta com o conteúdo do The New York Review of Books. Com circulação mensal e tiragem de 60 mil exemplares, EntreLivros possui na equipe de colunistas dois nomes de peso: o do escritor e ensaísta italiano Umberto Eco e do escritor brasileiro Milton Hatoum. Antes de finalizar este capítulo, são válidas algumas considerações sobre a atuação histórica das revistas em nosso contexto social. Como se mostrou, essas publicações têm sido indispensáveis na busca de uma identidade nacional, emergindo como o veículo ideal de um processo civilizatório que se iniciou antes mesmo da Independência do Brasil. As transformações no campo da cultura foram construídas nas páginas destes periódicos. Nelas, os impasses produzidos pela lei de mercado, pela convivência com a supressão de liberdades seguida dos processos de democratização, a revisão ou a perda de valores, os novos paradigmas, ou a falta deles, tudo isso aí circulou e tomou forma. As revistas culturais – apesar do público restrito, tiragem reduzida e vida efêmera – mostraram-se configuradoras do ritmo de seu tempo, expressando as idéias de grupos 89 específicos, atuando ora como manifesto, ora como elemento de propaganda de seus projetos, de suas utopias. Com seus ensaios, resenhas, críticas, reportagens, perfis, entrevistas, publicação de contos e poemas, elas enfrentaram dificuldades financeiras, crises políticas, mudanças no público leitor, sucumbindo algumas vezes e resistindo em outras, mas, antes de tudo, se consolidando e escrevendo capítulo à parte na história do jornalismo cultural brasileiro. 90 CAPÍTULO IV – CULT: REVISTA BRASILEIRA DE CULTURA Criada em 1997, a revista Cult se firmou no mercado nacional como uma das mais importantes publicações do segmento cultural. Seu conteúdo é composto por temas relacionados à cultura em geral distribuídos em seções fixas e em matérias que variam a cada edição (o que dificulta o seu mapeamento). Cinema, música, filosofia e artes plásticas são algumas das pautas exploradas pela revista. A literatura ocupa um lugar de destaque tanto na forma de textos ficcionais ou poemas quanto por meio de textos teórico-analíticos. Reportagens, entrevistas, ensaios e resenhas fazem parte de seu conceito editorial e em sua equipe figuram jornalistas e intelectuais renomados. Historicamente, de acordo com informações da redação, cerca de 80% do conteúdo do periódico é redigido por colaboradores externos, o que significa que Cult é primordialmente feita por especialistas, que são procurados conforme a exigência da pauta. Ao longo de oito anos, Cult manteve suas principais características: periodicidade mensal, distribuição nacional (com representantes nos principais Estados do país), tiragem entre 25 e 30 mil exemplares, tratamento gráfico de qualidade e utilização insistente de obras de artistas contemporâneos como ilustração para suas páginas. 1. Os primeiros anos de Cult Para conhecer e entender a história da revista é preciso, antes, falar um pouco sobre a trajetória intelectual e profissional de seu fundador: o jornalista Manuel da Costa Pinto, responsável pela concepção e realização do projeto. Formado em jornalismo pela PUC de São Paulo, Costa Pinto tem mestrado em Teoria Literária e faz doutorado, também em Teoria Literária, na Universidade de São Paulo. Foi editor-assistente da Edusp, editor-executivo do Jornal da USP, redator do Mais!, editorassistente da revista Guia das Artes e colaborador da revista República. Em 1990, o jornalista trabalhava como editor do Caderno de Leitura da Edusp – publicação bimestral e gratuita, que durou apenas seis números, mas que, segundo ele, pode ser considerado o embrião da revista Cult – e, entre 1994 e 1995, escrevia no jornal Folha de S. Paulo. Neste mesmo período, estava desenvolvendo sua dissertação de mestrado e atuando 91 como editor-executivo do Jornal da USP (canal pelo qual conheceu Paulo Lemos, proprietário da Lemos Editorial). No final de 1996, Costa Pinto foi convidado para desenvolver um projeto cultural no Memorial da América Latina. O trabalho foi interrompido, pois, logo no início de 97, o jornalista foi chamado por Paulo Lemos para criar a Cult, da qual se tornou editor. Na sua opinião, foram três os motivos que levaram o empresário a financiar a publicação. O primeiro teria sido o aspecto institucional, ou seja, a Lemos Editorial (especializada em publicações da área farmacêutica e médica) seria prestigiada por meio de uma revista de cultura. A segunda causa teria sido a oportunidade mercadológica. Através de uma pesquisa, foi detectada a ausência de produtos com o perfil pretendido. A Bravo!, por exemplo, só surgiria em outubro de 1997, enfocando o setor de artes e espetáculos, e as recém-inauguradas Azougue, Inimigo Rumor e Livro Aberto caracterizavam-se como veículos mais específicos, voltados à poesia e aos livros. De acordo com Costa Pinto, na ocasião, havia ainda outras publicações restritas, mas nenhuma com periodicidade mensal e circulação nacional. Por último, com o lançamento de Cult, Paulo Lemos concretizava um antigo sonho pessoal. Para Costa Pinto, este talvez tenha sido o principal dos três fatores, intimamente ligado ao perfil do empresário descrito por ele como “um psicólogo, um humanista, uma pessoa ilustrada”. A proposta surgiu em março. Além de Manuel da Costa Pinto e Paulo Lemos, também participou da elaboração do projeto o editor de arte Maurício Domingues (que dirigiria o planejamento gráfico da revista até o número 26). Segundo Costa Pinto, foram necessários dois meses de concepção e mais dois de preparação da primeira edição (inspirada no modelo da francesa Magazine Littéraire). Nas palavras do jornalista, o objetivo era “entender a literatura no sentido lato do termo”, ou seja, a idéia era centrar o conteúdo da revista em “tudo aquilo que se referisse à cultura por meio da palavra”. Assim, em 21 de julho de 1997, a Cult – Revista Brasileira de Literatura veio às bancas com o slogan: “o mundo das palavras, da cultura e da literatura”. Em sua abertura, o texto assinado por Paulo Lemos e Manuel da Costa Pinto trazia como epígrafe um trecho do ensaio O livro, do escritor argentino Jorge Luis Borges. Segundo o editorial, ideal para uma publicação que nascia como “um espaço para a literatura, a cultura e a reflexão”. 92 Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é sem dúvida o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio são extensões de sua visão; o telefone é a extensão de sua voz; em seguida, temos o arado e a espada, extensões de seu braço. O livro, porém, é outra coisa: o livro é uma extensão da memória e da imaginação (BORGES, Jorge Luis. “Ao Leitor”. In: CULT. São Paulo: n.1, p.2, jul.1997). Também neste primeiro editorial, os autores justificavam a escolha do nome da publicação: Partindo do mundo dos livros e seus autores, a CULT quer dar um retrato multifacetado do panorama cultural, um retrato necessariamente pluralista (embora seletivo) de uma realidade fragmentária como a nossa – e talvez por isso seja oportuno explicar, aqui, a idéia do nome CULT, fragmento da palavra “cultura” que procura traduzir a instantaneidade e a rapidez caleidoscópica da comunicação contemporânea (LEMOS, Paulo; PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.1, p.2, jul.1997). Conforme nos conta Costa Pinto 47, a primeira edição do periódico teve distribuição de oito mil exemplares em banca mais os pacotes fechados destinados aos patrocinadores (laboratórios farmacêuticos). Já na segunda edição, a tiragem subiu para 15 mil. E, depois de mais ou menos seis meses (mais precisamente no número 14), dobrou para 30 mil exemplares, desta vez por exigência da Fernando Chinaglia, distribuidora contratada. Estes números refletem a aceitação imediata do público, festejada pelo diretor Paulo Lemos no segundo editorial: O lançamento da revista CULT e a pronta resposta que tivemos da parte de editores, professores, estudantes e, principalmente, de um número enorme de pessoas que buscam o prazer da leitura em todo o Brasil desmentiram um mito há muito tempo arraigado em nosso país: a idéia preconceituosa de que os brasileiros não se interessam pela literatura, de que nosso precário sistema educacional criou uma população de “videotas” que só respondem aos apelos fáceis da cultura de massa – transformando irremediavelmente a alta cultura num “produto” para consumo somente das elites. [...] Hoje, felizmente, algumas empresas clarividentes descobriram que a cultura é, a curto prazo, um bom negócio (pois efetivamente atrai o interesse do público) e, a longo prazo, um instrumento de qualificação humana que nenhum país pode menosprezar. [...] Afinal, a cultura talvez seja a única matéria-prima cujas fontes são inesgotáveis e que, ao ser consumida, se reproduz (LEMOS, Paulo. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.2, p.2, ago.1997). 47 Entrevista concedida em 15 de maio de 2004. 93 O projeto inicial de Cult era composto por três seções principais: “Entrevista” (com intelectuais renomados das mais diversas áreas), seção de resenhas (de nome variável – mais voltada ao acompanhamento do mercado editorial) e “Dossiê” (parte de maior consistência que a cada mês abordava um assunto cultural com a colaboração de especialistas). Além dessas, vale a pena destacar as seções: “Notas” (informes sobre eventos, lançamentos de livros e revistas, seminários, prêmios e concursos literários etc.), “Turismo literário” (ensaio sobre alguma cidade ou lugar relacionado com a vida ou a obra de algum escritor consagrado), “Na ponta da língua” (coluna do professor Pasquale Cipro Neto que discorria sobre questões da língua portuguesa) e “Memória em revista” (seção assinada por Cláudio Giordano, que fazia uma viagem ao passado, resgatando revistas, jornais, livros culturais etc. que marcaram época). Um outro espaço de significativa importância seria lançado somente na edição n.8: a seção “Do Leitor”, primeira inovação em cima do projeto original: A partir deste número, a CULT passa a ter uma seção para as cartas e emails dos leitores. Desde o lançamento da revista, inúmeras correspondências chegaram até a Lemos Editorial. Como é normal em publicações novas, foram cartas e telegramas de incentivo, mensagens estimulantes para os profissionais que fazem a CULT e que pouco a pouco afastaram nossas dúvidas sobre a acolhida que teríamos do público. Por seu tom elogioso, essas mensagens se dirigiam exclusivamente aos editores e colaboradores da revista – não sendo polido, portanto, divulgá-las, utilizando-as como promoção do próprio veículo. Passada essa primeira fase, porém, as cartas e e-mails mudaram de tom. Tornaram-se um termômetro dos acertos e erros da CULT, com sugestões e críticas, com correções (todas elas transcritas na seção “Notas”, em diferentes edições) e pedidos de matérias sobre determinado tema, de entrevistas com determinado autor. Essas cartas são preciosas. Ajudam-nos a preencher lacunas, corrigem omissões e indicam o interesse dos leitores. Ao introduzirmos a página “Do leitor” (contrapartida necessária desta seção “Ao leitor”), nossa intenção é estimular o diálogo entre pessoas que mantêm uma cumplicidade apaixonada em relação aos livros e à literatura. O convite, portanto, está feito: esperamos que cada leitor da CULT seja um editor virtual da revista, enviando-nos suas sugestões e críticas (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.8, p.2, mar.1998). Como veremos, esta seção vai aglutinar os debates e polêmicas entre redatores, colaboradores e leitores da revista, consagrando-se como espaço refletor, por excelência, da multiplicidade ideológica e cultural de Cult. 94 Na edição seguinte (a de número 9), novo acréscimo: o crítico literário e professor João Alexandre Barbosa passou a assinar a coluna “Biblioteca Imaginária” 48, espaço destinado à análise de grandes obras literárias, seja na forma de ensaio ou resenha. Com sua contratação, somada à dupla Cláudio Giordano e Pasquale Cipro Neto, o time de colunistas estava completo, sendo que o perfil da fase inicial de Cult muito deve ao teor e ao tom das colaborações deste trio de especialistas. Em comemoração ao aniversário de um ano, outras novidades surgiriam. Inovações gráficas e editoriais foram realizadas, com destaque para a seção “Criação”, cujo objetivo era levar para as páginas da publicação textos (poesias, contos etc.) inéditos. Ao criá-la, entretanto, os profissionais envolvidos no processo não previram um problema que veio a ocorrer: a grande oferta de textos, estreitamente ligada ao critério de seleção. Em outras palavras, entre tantos originais, como eleger um e excluir os demais? Como ignorar a produção de um autor renomado? Ao mesmo tempo, sendo o objetivo “abrir as portas para novos talentos”, como publicar o renomado e descartar o anônimo? A solução, posta em prática às vésperas do segundo ano de Cult (edição 22, maio de 1999), foi desdobrar o espaço em dois: “Criação” e “Gaveta de guardados” 49. O primeiro continuou com a missão de destinar-se à promoção de autores desconhecidos e à caça de novos talentos literários; o segundo, buscou solucionar o problema inicial, publicando textos inéditos de autores conhecidos, estreando com oito poemas de Nelson Ascher. Esta configuração foi mantida até o terceiro ano. Especificamente no número 36, foi criado o “Radar Cult” – um caderno interno que abrangia a seção “Criação” e a “Gaveta de guardados”. Tratava-se de uma “revista dentro da revista”, isto porque tanto a diagramação e o layout quanto o papel eram distintos. O caderno possuía, inclusive, uma capa e um sumário próprios. A exemplo do que aconteceu nos anos anteriores, quando novas seções e alterações gráficas foram introduzidas para marcar o aniversário da revista, uma série de inovações foram incorporadas em julho de 2000: [...] Dentre elas certamente a mais significativa é a criação do “Radar CULT”, [...] um caderno inteiramente dedicado ao mapeamento dos itinerários da criação literária e que tem ainda como destaques um espaço denominado “Ficção CULT” (que vai trazer com exclusividade a produção recente de escritores brasileiros) e as seções “Radar da Prosa” e “Radar da Poesia” (em que são avaliados os lançamentos de novos autores no cada vez mais dinâmico 48 O nome da seção foi inspirado no título do seu então recente livro, A biblioteca imaginária (Ateliê Editorial). Em setembro de 1999 (CULT 26), a coluna passou a se chamar “EntreLivros”, também título de uma coletânea de ensaios do autor. 49 O nome da seção foi uma homenagem explícita ao livro de inéditos do pintor Iberê Camargo, de mesmo título. 95 mercado editorial do país). Além desse caderno especial [...], a CULT 36 traz duas outras inovações: “a Biografia CULT” (página dedicada à trajetória de escritores de todos os tempos, começando pelo poeta francês Jacques Prévert) e a seção “CULT Movies” (sobre as melhores adaptações cinematográficas de grandes clássicos da literatura universal) (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.36, p.2, jul.2000). Muitas dessas seções, entretanto, ou desapareceriam completamente, ou seriam remodeladas na fase seguinte da publicação, quando ela passou para as mãos de Daysi Bregantini. 2. A venda da publicação Como relata Manuel da Costa Pinto 50, em função das decisões econômicas tomadas pelo governo entre 2001 e 2002 na área da saúde, a Lemos Editorial enfrentou momentos difíceis neste período 51. Com a série de medidas aprovadas pelo então ministro José Serra (a principal delas a campanha dos genéricos), o mercado farmacêutico sofreu significativa retração. A Lemos Editorial, fortemente atrelada aos laboratórios, também foi atingida pelo impacto das mudanças. A conseqüência imediata foi a redução de sua receita. Com isso, a revista Cult, sustentada pelas demais publicações da editora, passou a ser um empecilho. No mesmo período, a proprietária da Attaché de Presse, Daysi Bregantini, entrou em contato com Manuel da Costa Pinto à procura de uma assessoria para a montagem de uma publicação cultural. Conhecendo as dificuldades por que passava a Lemos, o jornalista atuou como intermediário do processo de negociação, sugerindo a venda da revista Cult à empresária, que prontamente se interessou pelo empreendimento. A compra da publicação pela Editora 17 (atualmente Editora Bregantini) deu-se em fevereiro de 2002. Transferiu-se a sede da Rua Rui Barbosa, no bairro da Bela Vista, para a Rua Joaquim Floriano, no Itaim. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos agentes culturais do país. 50 Entrevista concedida em 15 de maio de 2004. A crise não se deu apenas na área da saúde, mas atingiu vários setores da sociedade. Segundo Costa (2005, p.191 e 343), entre 2000 e 2002, a circulação de revistas caiu de 17,1 milhões para 16,2 milhões de exemplares por ano, e o total de jornais vendidos por dia baixou de 7,9 milhões de exemplares para 7 milhões. As dificuldades financeiras provocaram um enxugamento das redações, sendo que, só em 2001, foram demitidos 6877 jornalistas em todo o Brasil, segundo dados divulgados pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). 51 96 Abaixo, dois exemplos de sua repercussão. O primeiro deles, publicado na coluna de César Giobbi 52 (Caderno2, O Estado de S. Paulo), em 24 de fevereiro de 2002; e o segundo, no site Digestivo de Júlio Daio Borges 53, em 12 de junho do mesmo ano: Daysi Bregantini, proprietária do Attaché de Presse, resolveu ampliar seu campo de atuação. Na segunda-feira, comprou a revista Cult, especializada em cultura e filosofia, a mesma que Washington Olivetto elogiou muito depois de sair do cativeiro. A idéia é ampliar o universo editorial da revista, com um foco maior na área de artes e espetáculos. Além disso, será o primeiro passo da Editora 17, que surge no mercado para lançar livros de reportagens, serviços e biografias. A Cult, antes a publicação onde os acadêmicos da USP divulgavam o resumo de suas teses, depois da aquisição pela Editora 17 (gestão Daysi Bregantini), vem conquistando seu lugar ao sol das bancas de revista. Manuel da Costa Pinto, o heróico fundador, permanece na direção do periódico, mas o agente catalisador dessa “renovação” tem sido, fica claro, Luís Antonio Giron, um dos pais do legendário Caderno Fim de Semana, da Gazeta Mercantil. Durante o período de transição, a idéia – segundo expressão utilizada pelos profissionais da redação – era a de “manter o DNA da revista”, ampliando, ao mesmo tempo, sua pauta. Assim, de “revista brasileira de literatura”, Cult passa a ser designada “revista brasileira de cultura”. Na tentativa de dar mais “leveza” ao conteúdo do periódico, vários arranjos foram feitos. A estréia de três novas colunas aconteceram: “Estante Cult” (sobre lançamentos de livros), “Fonotipia” (seleção de música/ lista de CDs) e “Instantâneos” (cobertura fotográfica dos eventos culturais mais importantes). Como se pode perceber, é nítida a intenção de aproximar a revista da indústria de produtos culturais. Além dessas mudanças, o editorial tradicionalmente escrito por Manuel da Costa Pinto passou a ser assinado por Daysi Bregantini, substituindo um texto mais teórico e analítico por mensagens mais chamativas, até propagandistas. A própria rubrica foi simplificada: de “Ao Leitor” para simplesmente “Editorial”. A título de comparação, vale reproduzir dois trechos: [...] A biografia de um escritor pode muitas vezes distorcer a recepção de sua obra. No caso de Nelson Rodrigues, os acontecimentos trágicos que cercaram sua vida parecem manter uma relação de causa e efeito com os dramas familiares e com o ambiente de degradação e violência que ocupam o cerne de suas peças e romances.[...] Tudo parece indicar uma continuidade quase mecânica entre dramas reais e ficcionais. [...] Há o Nelson Rodrigues da mitologia carioca, frasista de botequim e reacionário de opereta. E há o 52 53 Arquivo pessoal. Fonte: http://www.digestivocultural.com/arquivo/digestivo.asp?codigo=85. Acesso em: 20 jun. 2004. 97 Nelson Rodrigues da devastação existencial, do “riso-cirrose” [...]. É esse Nelson Rodrigues que, passados vinte anos de sua morte, permanece como um vírus incubado em nosso álbum de família e que procuramos homenagear nesse número da CULT (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.41, p.2, dez.2000). Carandiru, o filme brasileiro mais esperado do ano, é também uma das produções nacionais mais fortes e sinceras dos últimos tempos. Adaptado do extraordinário livro de Drauzio Varella, Estação Carandiru, relata o cotidiano dos encarcerados e o histórico massacre de 1992, no qual 111 presos foram mortos por policiais da tropa de choque. [...] Babenco concedeu entrevista exclusiva à CULT em que fala de sua trajetória profissional e de suas aspirações. Acesse nosso site www.revistacult.com.br ou nos escreva para conhecer nossas mais recentes promoções. Participe. Você tem muito a ganhar (BREGANTINI, Daysi. “Editorial”. In: CULT. São Paulo: n.68, p.4, abr.2003). Nesta nova fase, a proposta editorial era a de “abordar temas culturais com uma visão jornalística contemporânea”. Deste modo, a principal modificação foi a aposta em grandes reportagens culturais. Para comandar a empreitada, foi contratado o jornalista Luís Antonio Giron, com vasta experiência na cobertura da área. Desta forma, Cult passou a ter dois grandes pilares de sustentação: Manuel da Costa Pinto, que prosseguia como seu editor, e Giron, responsável pela “grande reportagem” de cada mês. O projeto, entretanto, perdurou apenas por três edições (57 a 59), mostrando-se inviável devido ao seu alto custo. Nas palavras de Costa Pinto, “reportagem custa caro, pois demanda todo um trabalho de apuração, de deslocamento, enfim, de investimento” 54. Além disso, de acordo com ele, com a entrada de Giron, era muito dispendioso para a editora arcar com dois salários de chefia. Após este primeiro teste mal-sucedido, Giron deixa a revista e a Cult volta ao formato ensaístico anterior. Não foi apenas o fator financeiro, contudo, que fez seus editores voltarem atrás. Muitos leitores manifestaram-se contra as alterações. Vale destacar algumas opiniões publicadas na seção de cartas da edição 60, de agosto de 2002: Só mesmo a distância virtual e meu carinho por uma revista que coleciono desde o número 1 poderiam abrir as comportas pudicas da minha reclusa voz. [...] Quem reclama é um leitor acostumado a passear com prazer os olhos por capas bonitas e criativas destacando Che Guevara, o futebol brasileiro, a Bienal de São Paulo, Fernando Pessoa... Quando vi a última Cult [n.58, julho/2002], lembrei-me logo das capas da Veja ou da IstoÉ, 54 A declaração é confirmada pela pesquisadora Cristiane Costa que, em seu livro, ao falar sobre a realidade de uma época de “velocidade, corretores ortográficos, informação em tempo real, e-mails”, conclui: “o jornal já não quer mais pagar pela reportagem, subsidiando os gastos, viagens e salário de um profissional caro, que pode levar semanas para pesquisar, apurar, estruturar, escrever e reescrever um texto” (COSTA, 2005, p.304). 98 quando se propõem uma “capa com idéia” usando fotos pobres. Claro está que há boas matérias. “Crepúsculo dos gramáticos” é um ótimo exemplo de jornalismo cultural provocador, transformando um assunto para lá de enfadonho – desavenças entre delegados da língua – em um artigo até divertido. O ensaio com Sérgio Buarque de Hollanda, para guardar (especialmente os saborosos artigos de Cláudio Renato e Antonio Arnoni Prado). Entendo que, como leitor tenaz, minha opinião deve ser importante para que se mantenha nos bons trilhos a tradição iluminista da publicação. Paulo Austero – Ouro Preto, MG Talvez a nova “visão jornalística contemporânea” da Cult queira reafirmar e alinhar-se de vez com os valores pasteurizados da indústria cultural. Jadir Feliciano dos Santos – Vitória, ES Sou leitor e assinante da Cult desde o número 1, por isso me sinto com autoridade para falar sobre as mudanças recentes que aconteceram na revista. Antes de mais nada, quero dizer que não sou um purista – apesar de entender quando amigos meus vociferam contra essas mudanças. É que nós, amantes da literatura, temos tão poucos espaços editoriais que nos agarramos a eles como se combatêssemos numa trincheira. Nos dois últimos meses, de repente, nos sentimos de certa forma, expulsos dessa trincheira, num campo aberto de mãos para o alto, alvo de uma artilharia alheia, quase chula, quase anti-poesia. Mesmo assim, procuro entender a necessidade de mudança e dar o meu voto de confiança. Vida longa à Cult, mas sem perder o seu compromisso inicial. Celso Borges, por e-mail Mesmo retomando a linha editorial, as experiências não pararam por aí. Ainda na edição de agosto, os leitores de Cult receberam uma publicação graficamente reformulada, anunciada no editorial da seguinte maneira: O leitor perceberá que a capa desta edição sofreu mudanças visuais importantes. Desde que adquirimos o título, fizemos várias mudanças gráficas, com a intenção de apresentar uma revista de leitura mais fácil, além de bonita e moderna. Com a nova capa e o novo logotipo, concluímos a reformulação formal que tínhamos em mente (BREGANTINI, Daysi. “Editorial”. In: CULT. São Paulo: n.60, p.4, ago.2002). No número seguinte, novas críticas na seção de cartas: Eu não via sinais de desgaste do antigo projeto gráfico que justificassem as transformações que foram feitas. De qualquer forma, a capa da edição 60 (Wittgenstein) ficou linda. Parabéns. No entanto, dentro da revista, muitos embaraços apareceram: o harmonioso jogo que havia com o espaço em branco foi perdido (um exemplo disso está nas páginas da entrevista); a colocação de textos na vertical, tal como foi utilizado, tornou-se um efeito primário que não levou a lugar nenhum, não rompeu nada, não facilitou leitura alguma, não dialogou. A revista tropeçou nos projetos editorial e gráfico. Espero que não sejam definitivos. Carlos de Brito e Mello Belo Horizonte, MG 99 Apesar dos protestos, houve um paradoxo: o aumento do número de assinaturas e vendas em bancas (comemorado na edição 66, de fevereiro de 2003) 55, talvez justificado pelas estratégias de marketing adotadas (distribuição de brindes como livros, camisetas etc.) e pelas promoções feitas em parceria com as editoras 34 e Record/ Civilização Brasileira (que, após um ano e meio, se estenderiam às editoras Martins Fontes, Paulus, Loyola, Senac Rio, Objetiva, Cosac & Naify, Globo, Bertrand Brasil e Zouk). Também é preciso esclarecer que nem todas as investidas da nova fase da revista foram fracassadas. A idéia de transformar a primeira página do “Radar” em um espaço de criação visual, aberto à publicação de obras inéditas de artistas plásticos e fotógrafos que quisessem divulgar seus trabalhos, lançada no número 57, foi bem-sucedida. Da mesma forma, a organização de fóruns de discussão e testes no site 56 da revista mostrou-se uma iniciativa de sucesso, atingindo a marca de 50 mil acessos 57 em outubro de 2004 e colocando o endereço entre os mais visitados da área de cultura. Seja como for, ainda que alardeando um clima de otimismo e boas perspectivas em seus editoriais, a verdade é que, ao longo de 2002, nos bastidores de Cult diversas negociações entre diretoria e redação eram tentadas e, segundo Manuel da Costa Pinto, “eram bastante conflituosos estes encontros”. A jornada durou aproximadamente um ano e, mesmo assim, não se chegou a um consenso sobre qual rumo deveria tomar a revista. Deste modo, por vontade própria, o jornalista abandonou a publicação no número 72 – que trazia na capa um dossiê de Adorno, último que editou – e voltou a trabalhar no jornal Folha de S. Paulo, assinando a seção “Rodapé” a partir do dia 19 de fevereiro de 2003. Seu afastamento de Cult, no entanto, não ocorreu de súbito. O ex-editor passou a produzir a coluna “Lector in Fabula” já na edição 73. Na abertura de seu texto de estréia, ele justifica seu desligamento do departamento editorial: A partir desta edição, devido a outros compromissos profissionais e acadêmicos, deixo de ser diretor de redação da CULT. Manterei, porém, um vínculo com a revista e com seus leitores por meio desta nova seção sobre crítica literária (cujo título, diga-se de passagem, é uma homenagem ao livro 55 O acompanhamento dos editoriais da revista indica que, sob a direção da Editora Bregantini, houve um aumento crescente da circulação de Cult. Para citar um exemplo, no editorial de dezembro de 2003 (edição 75), Daysi Bregantini agradece o apoio recebido e diz que a publicação “encerra o ano com o dobro de assinantes e de circulação em bancas”. A tiragem do periódico, entretanto, permaneceu inalterada. Infelizmente, não foi possível verificar se o aumento de fato ocorreu ou se se tratou apenas de uma “estratégia de marketing” para atrair leitores. 56 A CULT on line foi lançada em novembro de 1999. 57 Dado registrado no editorial da CULT86 (novembro de 2004). 100 de Umberto Eco que destaca o papel ativo que todo leitor desempenha no interior do texto literário). De certo modo, essa é uma forma de manter vivo aquilo que esteve presente na gênese da CULT. O fato de, mais recentemente, a revista ter ampliado sua abrangência temática (deixando de ser uma “revista brasileira de literatura” e tornando-se uma “revista brasileira de cultura”) [...] (PINTO, Manuel da Costa. “Lector in Fabula”. In: CULT. São Paulo: n.73, p.40, [s.d.]). A hipótese é que a coluna tenha sido apenas uma forma de “preparar” o espírito de seus leitores para a sua saída, pois o espaço durou apenas quatro edições. Costa Pinto abandonou de vez a revista em janeiro de 2004. Na ausência de um substituto interno, foi chamado, de última hora para preencher o cargo de diretor de redação, o jornalista Marcelo Rezende. Formado pela PUC de São Paulo, também estudou filosofia na USP e realizou cursos de artes plásticas e literatura na França. Profissionalmente, trabalhou na Folha de S. Paulo durante cinco anos, atuando como editorassistente dos cadernos Mais! e Ilustrada. Além disso, morou de 1998 a 2002 em Paris, trabalhando como correspondente do jornal Gazeta Mercantil. Na edição número 73, Rezende aparece como editor convidado de Cult. A partir do número 74, é apresentado oficialmente como seu editor, sendo que, nesta mesma edição, reformulações no conteúdo da revista já podem ser percebidas. Há uma rearticulação das seções, porém importantes espaços como “Dossiê”, “Entrevista”, “Radar” 58 (que se torna uma única seção, eliminando a divisão “Gaveta de guardados” e “Criação”) e “Agenda” (antiga seção “Notas”) são conservados, havendo acréscimo de seções como “Seleção Cult/Livros”, “Seleção Cult/Música, “Ética e Política”, “Cinema” e outras. Neste período, a revista finalmente atinge um equilíbrio editorial e consolida seu projeto gráfico, que passou por inúmeras tentativas frustradas desde a mudança da Lemos Editorial para a Editora Bregantini. Ainda nesta época, a publicação muda sua sede, deixando o bairro do Itaim e sendo transferida para o Paraíso, na Praça Santo Agostinho. O novo endereço é divulgado a partir do número 75. Na nova fase de Cult, os colunistas também mudaram. Dos pioneiros: Cláudio Giordano deixa a publicação assim que ela é comprada por Daysi Bregantini (número 57), João Alexandre Barbosa assina sua última coluna no número 64 e Pasquale Cipro Neto no número 70. Luís Oliva é contratado para a coluna “Filosofia” a partir do número 58, onde fica até o número 67. No número 69, são apresentados Renato Janine Ribeiro e Roberto Romano. Alexandre Agabiti Fernandez, que atuou como editor-assistente do número 62 ao 70, passa a 58 Na edição 78, de março de 2004, a seção “Radar” passa a se chamar “Oficina Literária”, sendo transferida do miolo da revista para o final da publicação. 101 escrever uma seção de “Cinema” a partir número 71. O último deles, Cláudio Willer, antigo colaborador da revista, assume a seção “Oficina Literária” no número 78. Após tantas reestruturações, o corpo redacional fixo de Cult distribuiu-se da seguinte forma: “Ética e Política”, escrita pelos intelectuais Roberto Romano e Renato Janine Ribeiro, alternadamente; “Agenda” e “Seleção Cult/Música”, trabalhadas internamente (normalmente por estagiários); “Seleção Cult/Livros”, feita pelo diretor de redação Marcelo Rezende; “Oficina Literária”, sob coordenação do poeta Cláudio Willer; “Cinema”, escrita por Alexandre Agabiti Fernandez; e “Dossiê”, a cargo de colaboradores externos (na maioria das vezes especialistas). Antes de finalizar, é importante fazer algumas observações comparativas entre as duas fases da Cult: a fase Lemos Editorial e a fase Editora Bregantini. No primeiro momento, percebe-se uma proposta iluminista por trás do projeto editorial da revista que pretendia: [...] ser ao mesmo tempo informativa para quem tem lacunas em sua formação cultural (lacunas inevitáveis num contexto cultural tão precário) e instigante para aquela parcela de leitores que, habituados com os prazerosos labirintos da leitura, desejam ter uma visão renovada de seus temas e autores preferidos (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.12, p.2, jul.1998). Inicialmente uma publicação sobre crítica de literatura e livros, Cult foi progressivamente abrindo espaço para textos inéditos de prosa e poesia, passou a promover concursos literários com o objetivo de estimular a produção literária nacional e culminou com um ato de incentivo efetivo: a edição das obras que ajudou a descobrir e selecionar. Houve, portanto, a construção de um ciclo. Em seus primeiros anos de vida, o periódico legitimou-se no mercado e construiu uma identidade própria, a princípio como espaço de reflexão e depois como um espaço de exercício criativo, de produção cultural. No segundo momento, com a compra do título por Daysi Bregantini, o investimento neste “espaço de produção” foi reduzido, com a extinção dos concursos literários e a diminuição das páginas destinadas à publicação de inéditos. Em contrapartida, percebeu-se uma ampliação dos espaços destinados ao acompanhamento do mercado editorial, fonográfico e audiovisual que passaram a ser explorados por meio de novas editorias, com foco em lançamentos. As próprias pautas refletiram esta aproximação com a indústria cultural, ou seja, a seleção de assuntos passou a 102 ter como fonte de inspiração ou justificativa os produtos recém-lançados: por exemplo, a nova edição de um livro, a reestréia de uma peça ou o filme em cartaz. A substituição da palavra “literatura” por “cultura” no subtítulo da publicação revelou a clara intenção de atingir um maior número de leitores. As tentativas de “popularização” da revista com a formulação de textos mais simples e diagramação semelhante a das revistas de informação semanal caminharam neste sentido. A preocupação com a vendagem de Cult é evidente neste período. Talvez justificada pelo que parece ter se tornado seu objetivo principal: manter-se no mercado. Também na fase Bregantini, foi possível verificar um incremento no plano de marketing da revista. Deu-se início a um processo de construção da “marca Cult”. Para ilustrar a idéia, podem ser citados dois fatos: a alteração da frase do logotipo na edição de dezembro de 2004 (antes, simplesmente “revista brasileira de cultura”; depois, “a mais inteligente revista brasileira de cultura”) e a inauguração da seção “A Cult mostra quem são os leitores que, como você, debatem e pensam a cultura” no número 74. Neste espaço, a cada edição, foi estampada a foto de uma personalidade cultural, em pose de leitura (sempre com a Cult nas mãos), seguida de uma frase em que ele ou ela explicava o porquê é leitor da revista (ver anexo 2). No período analisado, profissionais das mais diversas áreas culturais, reconhecidamente destacados nas suas respectivas especialidades foram elencados: o professor Sérgio Cardoso (CULT 74); o músico e compositor Jair Oliveira (CULT 75); o publicitário Washington Olivetto (CULT 76); o músico Chico César (CULT 77); a cineasta Tata Amaral (CULT 78); os atores Graziella Moretto (CULT 79), Alice Braga (CULT 83) e Matheus Nachtergaele (CULT 90); o arquiteto Rui Ohtake (CULT 80); o jornalista Carlos Nascimento (CULT 81); os artistas plásticos Marina Saleme (CULT 82), Rodrigo Matheus (CULT 86) e Guto Lacaz (CULT 89); o poeta e membro da Academia Brasileira de Letras Antonio Carlos Secchin (CULT 84); a crítica literária Letícia Malard (CULT 85); o maestro Júlio Medaglia (CULT 87); o fotógrafo Cristiano Mascaro (CULT 88); a cantora Luciana Mello (CULT 91); o diretor e dramaturgo Zé Celso (CULT 92) e o cineasta Sérgio Bianchi (CULT 93). O intuito, óbvio, foi o de promover e qualificar o periódico. Nos depoimentos, conceitos como “sofisticação”, “densidade”, “incentivo à cultura”, “abordagens competentes”, “teor universalista”, “revista acessível”, “passe para o vôo livre”, “publicação multicultural”, 103 entre outros, foram associados à publicação. A revista transforma-se, assim, num espaço que consagra e é consagrado 59. Numa avaliação final, o fato é que, de uma para outra fase, independentemente das estratégias utilizadas, com algumas mudanças bem-sucedidas e outras não, entre erros e acertos, o espírito de Cult foi mantido. A essência e a qualidade do conteúdo felizmente permaneceram. 3. Perfil dos leitores De acordo com informações da redação 60, “o público da revista Cult é formado por pessoas que têm compromisso com a cultura, circulam nos melhores ambientes do país e consomem o que há de melhor”. Abaixo, gráficos que detalham o perfil desses leitores. Sexo 44% Feminino Masculino 56% Faixa etária 10% 14% 21 a 30 anos 41% 31 a 40 anos 41 a 50 anos 28% 59 Mais de 50 anos Confirma-se, desta forma, a tese de Miceli (2001, p.56) que acredita que, com a expansão da imprensa, os empreendimentos intelectuais coletivos (jornais, revistas etc.) tendem a se tornar as principais instâncias de consagração e, ao consagrar os escritores que a elas se dedicam, essas instâncias se autoconsagram. 60 Entrevista realizada com o diretor de redação Marcelo Rezende em 13 de agosto de 2004. 104 Classe sócio-econômica 42% Classe A Classe B 58% Distribuição geográfica por regiões 1% 3% Sudeste 8% Nordeste 15% Sul 50% 23% Centro-Oeste Norte Exterior Outras informações: ¾ Estado civil: aproximadamente 60% são solteiros; ¾ Escolaridade: os leitores possuem alto grau de escolaridade, sendo que 56% têm superior completo e 1/3 do restante está cursando alguma universidade; ¾ Importante: 82% dos leitores colecionam a revista e utilizam-na regularmente para pesquisas; o conteúdo da Cult é utilizado para a confecção de provas em vestibulares e em universidades. 4. Como Cult sobrevive? Ao longo de sua história, as revistas literárias e culturais apresentaram algumas características comuns como: existência efêmera, tiragens reduzidas e escassez de recursos financeiros. 105 A partir disso, a pergunta que fica é a seguinte: como Cult tem conseguido se manter no mercado por tanto tempo, com tiragens relativamente elevadas para o segmento? De onde provêm seus recursos? É inegável que a revista triunfou – mantendo a qualidade de seu conteúdo – neste momento em que o mercado está saturado de produtos de consumo descartável, leitura fácil e rápida. Então, qual terá sido a receita para sua permanência? Sabe-se que sem o auxílio do governo e de instituições, uma produção cultural, geralmente, está fadada ao fracasso. Ao mesmo tempo, em tempos como estes, a presença hegemônica de uma política neoliberal transfere para a iniciativa privada o investimento na produção cultural, operando já de início – porque os projetos precisam veicular as marcas das empresas patrocinadoras – um programa de obras que devem ser criadas para ganhar circulação. Mandaji (2003, p.22) é quem nos mostra o percurso histórico que o financiamento da cultura percorreu até assumir as características atuais: A produção cultural ainda hoje, guardadas as devidas proporções, sofre influência do antigo sistema aristocrático, onde a arte produzida era escolhida e financiada pelos monarcas. A arte aparecia como signo determinante das relações de poder. No decorrer da história do Brasil, essa relação foi produzida com base no fato da produção cultural ser financiada e incentivada por governos, que se utilizavam da arte e da cultura para expandir suas ideologias, financiando apenas os trabalhos que atendiam aos seus objetivos. Mudanças vão ocorrer com o fim da ditadura militar, quando são criadas as leis de incentivo à cultura, que visavam fomentar na iniciativa privada o desejo e a relevância de ligar a sua marca a projetos culturais. Em um primeiro momento, portanto, o patrocínio cultural baseado no mecenato vai estar intimamente ligado às questões de aceitação política e social, passando, em um segundo momento, a atuar como o elo de legitimação entre Estado e sociedade e, em um terceiro momento, transforma-se em um negócio empresarial, pois irá compor o “mix” de ferramentas que dão sustentação à aplicação do marketing cultural pelas empresas. A década de 90 é caracterizada como uma nova fase do desenvolvimento de atividades culturais com a promulgação da Lei nº 8313/91 (a Lei Rouanet)61, que permitia aos projetos, aprovados por uma Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), receber patrocínios e doações de empresas e pessoas físicas, as quais se beneficiavam de isenções no Imposto de 61 A Lei Rouanet, proposta encaminhada ao Congresso Nacional pelo secretário de cultura do governo Collor (Sérgio Paulo Rouanet), foi uma substituição da antiga Lei Sarney, de 1986. Sua principal diferença estava na criação de mecanismos de fiscalização mais rígidos. 106 Renda devido. O problema, no entanto, estava ligado à burocracia do processo, gerada por inúmeras exigências jurídicas e contábeis. Com a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, a política cultural do Brasil vai tomar outro rumo, uma vez que vai ser pressionada por fatores externos como a conjuntura mundial, caracterizada pela globalização, pela internacionalização da economia e pelo predomínio do mercado. A idéia de que Estado e mercado devem caminhar juntos estava presente no desenvolvimento dessa política governamental. Em 1995 o presidente Fernando Henrique assina um primeiro pacote de reformas, onde implanta a Secretaria de Apoio à Cultura, criada com a intenção de tornar o acesso aos incentivos da Lei Rouanet mais rápido, superando assim a burocracia. Conforme Mandaji (2003, p.41), a agilidade que o governo FHC conferiu à captação de recursos via Lei Rouanet logo rendeu frutos. No primeiro ano, o número de empresas que investiam em cultura saltou de 72 para 235. Em 1996, foram 624 empresas e, em 1997, esse número saltou para 1133 empresas. Não podemos deixar de destacar aqui as recomendações expressas feitas pelo presidente às estatais para que passassem a investir em cultura. É neste cenário de leis de incentivo à cultura, ampliação do mercado de produtos culturais e transferência de seu patrocínio do Estado para o setor empresarial, que é possível entender a permanência de Cult. Neste caso, o aspecto econômico está diretamente ligado aos anúncios publicitários, posto que, muito mais que as assinaturas ou a venda avulsa de exemplares, são eles que possibilitaram sua existência. O perfil dos anunciantes da revista (ver anexo 3) – com predomínio de empresas estatais, editoriais e culturais, e também de instituições universitárias e organizações nãogovernamentais – só pode ser compreendido à luz desses acontecimentos. Trata-se de órgãos tradicionalmente ligados ao setor educacional e cultural (interessados, portanto, no fomento de produções intelectuais), que encontraram um motivo a mais para investir no marketing cultural através de incentivos fiscais. Além destes, foram encontradas empresas da indústria farmacêutica (em função da Lemos Editorial) e uma outra parcela de empreendimentos prestadores de serviço e/ou com perfil mais comercial (hotéis de luxo, bancos e escola de idiomas) – estes certamente atraídos pelo perfil dos leitores da revista. O número de páginas da publicação variou entre 48 e 60 do primeiro exemplar ao sexto, passando a 64 páginas a partir do sétimo número. Este acréscimo esteve associado ao aumento do espaço publicitário, uma vez que o número de matérias se manteve praticamente constante, variando entre 17 e 27 (numa média de 22 matérias por edição). 107 CAPÍTULO V – CULT: CANAL DE EXPRESSÃO PÚBLICA DA PRODUÇÃO INTELECTUAL Este capítulo tem por objetivo a verificação de duas hipóteses centrais. A primeira é a de que Cult é uma publicação de tendência qualificadora que, portanto, põe em xeque as avaliações generalistas e pessimistas a que tem sido submetido o jornalismo cultural contemporâneo; a segunda, é a de que a revista constitui-se como um lócus de produção de sentidos onde se dissemina o pensamento acadêmico-intelectual. Em outras palavras, o desafio é romper com a visão simplista que se tem dos meios de comunicação, entendendo-os também como um espaço plural e de tensão, e reafirmar a idéia de um jornalismo que não se limita ao acompanhamento e difusão dos produtos da indústria cultural, mas que, antes, atua como um ambiente de reflexão, propagador de valores e bens simbólicos e divulgador do que há de mais sofisticado em nossa produção intelectual. Buscando confirmar ou refutar tais hipóteses, recorreu-se a duas frentes de pesquisa. A primeira procurou verificar se as críticas impingidas à atual cobertura cultural da mídia se sustentam quando aplicadas à revista Cult; já a segunda linha de investigação caminhou no sentido de comprovar e analisar a relação da revista com o universo intelectual, ou melhor, com o universo acadêmico-intelectual, visto que, conforme apontado no primeiro capítulo, a vida intelectual está cada vez mais dependente das estruturas universitárias e institucionais. 1. Cult: jornalismo cultural de qualidade Como vimos no capítulo sobre jornalismo cultural, há pelo menos duas formas distintas de cobertura cultural sendo realizadas pelos veículos de comunicação: uma que tem na informação de atualidade e na prestação de serviço a tônica de sua cobertura e outra mais reflexiva, caracterizada por textos analíticos que vão além do factual da notícia e, na maioria das vezes, são escritos por especialistas. Cult se enquadra no segundo caso e, como pretendemos demonstrar, cumpre um jornalismo de qualidade em vários sentidos. 108 A revista conjuga erudição e didatismo, tradição e vanguarda, profundidade e linguagem envolvente, ensaísmo e fato jornalístico, crítica e prestação de serviço, autores novos e consagrados, trabalho intelectual e sobrevivência econômica. Além disso, cumpre com sua função social militando por políticas culturais mais democráticas e debatendo questões sobre o mercado editorial, cultural e artístico. 1.1. Abordagem plural Ao analisar os temas pautados pela revista, verificou-se que, pela própria proposta inicial da publicação, houve um maior investimento na área de literatura e filosofia, o que não quer dizer que Cult não tenha aberto espaço para outras especialidades culturais. Na primeira fase do periódico, esta abertura deu-se muitas vezes no próprio domínio da literatura – caso dos dossiês sobre Ficção Científica Brasileira (CULT 6), Futebol e literatura (CULT 11), Literatura de testemunho (CULT 23) ou Literatura e gastronomia (CULT 29) –, mas também esteve presente no diálogo estabelecido entre a linguagem escrita e outros códigos criativos e reflexivos – como no dossiê sobre a Bienal Antropofágica (CULT 15), na matéria de capa sobre Jim Morrison (CULT 48) e nas entrevistas com a roteirista de cinema Suso Cecchi d’Amico (CULT 19) e com os artistas plásticos Rosângela Rennó (CULT 6), Vik Muniz (CULT 16) e Cildo Meireles (CULT 31). Na segunda fase, com a mudança de nome da revista, essa mescla de assuntos culturais ficou ainda mais evidente. Para citar alguns exemplos: na área de cinema, o dossiê sobre Glauber Rocha (CULT 67) e a matéria de capa sobre o filme Carandiru (CULT 68); na área musical, o dossiê sobre os Beatles (CULT 65) e a reportagem sobre blues (CULT 71); na área teatral, o perfil de Plínio Marcos (CULT 27) e a matéria sobre Paulo Autran (CULT 61); na área de fotografia, o dossiê sobre Antonioni (CULT 93); na área de antropologia, a reportagem sobre Claude Lévi-Strauss; na área de sociologia, a matéria sobre Pierre Bourdieu (CULT 76); na área da pintura, o artigo de Harold Rosenberg (CULT 84); na área da comunicação, a matéria sobre jornalismo literário (CULT 93); na área de moda, o dossiê sobre a linguagem das roupas (CULT 82), e assim por diante, numa lista que seria bastante extensa. A palavra que melhor define a abordagem de Cult é, portanto, pluralidade. A concepção de cultura empregada, mesmo que associada à idéia de cultivo e enobrecimento do espírito por meio das artes e das letras, é a mais abrangente possível. Assuntos como política, 109 educação, economia, comportamento e futebol apareceram em perfeita sintonia com as chamadas “sete artes”. Trata-se de uma concepção de cultura arraigada ao que Renato Ortiz (1995) define como “moderna tradição brasileira”, ou seja, a consolidação de um mercado de bens simbólicos que começou a se estabelecer desde o final da década de 60. Grosso modo, ao escrever acerca da problemática da cultura no Brasil, Ortiz verifica os rumos tomados pelos projetos modernistas de construção da identidade nacional, busca avaliar o alargamento semântico que o conceito de cultura sofreu e, ainda, até que ponto é possível se ter em mente a idéia de nacionalidade. Descrevendo a mudança das taxas de consumo cultural no país ao longo do século XX, o sociólogo aponta para a consolidação de um mercado de bens simbólicos que, mesmo precário, já se configura como cultural e, concomitantemente, estabelece câmbios nessa cultura. Assim, ele mostra que “as contradições entre uma cultura artística e outra de mercado não se manifestam de forma antagônica”, pois “a literatura se difunde e se legitima através da imprensa” (ORTIZ, 1995, p.29). Essa ampliação da noção de cultura é, portanto, o que permite a convivência entre gêneros distintos. Nas páginas de Cult, foi possível identificar a utilização tanto de gêneros jornalísticos (editoriais, resenhas, ensaios, notas, entrevistas, reportagens, fotografias etc) quanto literários (poesia, romance, ficção, conto etc). Da mesma forma, percebeu-se um distanciamento daquela atitude predominante nas produções culturais de anos anteriores, que se faziam sobretudo em torno de “movimentos” 62, como foi o caso do modernismo, da bossa nova, do cinema novo, do tropicalismo, do concretismo e tantos outros. Cult manteve uma postura diferente das revistas literárias propriamente ditas, ou seja, não se apresentou como um veículo de exteriorização de princípios poéticos e estéticos de determinado grupo, nem de divulgação de determinado tipo de produção literária. A multiplicidade predominou em sua composição, isto é, a revista estabeleceu-se como um meio capaz de abrigar variadas produções artísticas, formando um quebra-cabeça de referências 63. É o que reforçou um de seus editoriais: 62 Como apontado no capítulo sobre revistas culturais, uma das funções exercidas pelas revistas literárias no início do século XX estava relacionada à divulgação dos trabalhos de artistas reunidos em torno de um valor estético comum. 63 É interessante pensar este resultado como indício da emergência de transformações na cena cultural contemporânea. A pluralidade, fragmentação, o fim das vanguardas trazem consigo um esfacelamento de valores e de conceitos, lido por alguns críticos como indícios de uma era pós-moderna. 110 [...] E se as seções “Criação” e “Gaveta de Guardados” são espaços de visibilidade para a produção literária que surgiram graças a sugestões ou mesmo cobranças dos leitores, eis mais uma prova de que é a pluralidade – e não credos estéticos excludentes – que talvez um dia possibilite fazer da literatura um bem compartilhado por uma grande comunidade de leitores, modificando empiricamente suas vidas como nenhuma vanguarda jamais conseguiu fazer (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.24, p.2, jul.1999). Além disso, apesar de ser identificada como uma produção da “alta cultura” e de haver preponderância do cânone na revista, ela não deixou de abrir espaços para novos temas. Ensaios eruditos como os de Dostoiévski (CULT 2), Clarice Lispector (CULT 5), Hilda Hilst (CULT 12), Machado de Assis (CULT 24), João Cabral de Melo Neto (CULT 29), Manuel Bandeira e Mário de Andrade (CULT 33), Kafka (CULT 36), Graciliano Ramos (CULT 42), Proust (CULT 52), Wittgenstein (CULT 60), Baudelaire (CULT 73) e García Márquez (CULT 87) conviveram com análises sobre futebol (CULT 11 e 85), poesia marginal (CULT 51), literatura de cordel (CULT 54), Lenine (CULT 57), telejornalismo (CULT 62), James Bond (CULT 63), Paulo Coelho (CULT 70), Jô Soares (CULT 81) e Harry Potter (CULT 92). Houve, assim, a inclusão tanto de áreas da tradição popular, quanto de assuntos de grande apelo popular, sempre por meio de um tratamento diferenciado e reflexivo. A respeito dessa “hibridização” 64 de universos culturais distintos, são válidas as considerações de Luyten (2003, p.3), que mostra como a partir de exigências próprias da indústria cultural (os fatores exigüidade do tempo e necessidade de boa recepção, por exemplo) pode-se perceber o grato uso que a mídia faz de elementos oriundos de outros extratos culturais e comunicativos, isto é, a utilização de elementos da cultura erudita e popular pelos meios de comunicação de massa. 1.2. Cânone e novos autores Um dado interessante se refere aos autores e obras que as matérias da revista exploraram. Observou-se uma preferência por trabalhar com autores ou já consagrados, ou que detém algum tipo de reconhecimento. As seções mais importantes da Cult são “Entrevista” e “Dossiê”. Além de possuírem um número maior de páginas em relação a outras seções da revista, elas geralmente recebem 64 A noção de hibridização, proposta por Canclini (1996, p.2), surge como “uma palavra mais versátil para dar conta das mesclas ‘clássicas’ como os entrelaçamentos entre o tradicional e o moderno, e entre o culto, o popular e o massivo”, uma vez que “uma característica de nosso século, que complica a busca de um conceito mais includente, é que todas essas classes de fusão multicultural se entremesclam e potencializam entre si”. Trata-se de um recurso explicativo, através do qual se tem procurado analisar as manifestações que brotam do cruzamento entre culturas, ou em suas margens – interações que significam também contradições e conflitos. 111 destaque na capa e no sumário. Pelos entrevistados e pelos temas dos dossiês, constatou-se uma tendência maior em afirmar e sacralizar o cânone literário e cultural do que em romper com suas regras. A seção de entrevistas cedeu lugar a personalidades culturais que já desfrutam de certo reconhecimento dentro de sua respectiva área de atuação. Foram os casos de: Décio de Almeida Prado, Boris Schnaiderman, Nadine Gordimer, Bárbara Heliodora, Nelson Ascher, Dias Gomes, Hilda Hilst, Ricardo Piglia, Manoel de Barros, Augusto de Campos, Lygia Fagundes Telles, Régis Bonvicino, José Arthur Giannotti, Marilena Chauí, Fernando Henrique Cardoso, Hermano Viana, Hector Babenco, Ruy Castro e muitos outros intelectuais que apareceram na seção. Da mesma forma, o “Dossiê” confirmou a tendência de afirmação dos nomes “piramidais”, pois a maioria dos escritores e intelectuais tratados nesta seção também já são consagrados pela crítica, como padre Antônio Vieira, Dostoiévski, Clarice Lispector, Cruz e Souza, Emilio Villa, Antonio Candido, Albert Camus, Stéphane Mallarmé, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Eça de Queirós, Oscar Wilde, Franz Kafka, Bertolt Brecht, Graciliano Ramos, Alcântara Machado, Monteiro Lobato, Érico Veríssimo, James Joyce etc. Outro espaço de destaque da estrutura de Cult é a sua capa (ver anexo 1). Um termômetro bastante eficaz para medir a importância dada a determinados temas. As capas sempre trazem uma imagem (que na maioria das vezes são fotos, mas também houve casos de caricaturas, reprodução de obras e ilustrações) relacionada ao tema cultural ou a um escritor consagrado. Elas funcionam como uma espécie de “chamariz”, o que talvez justifique, nas 93 capas analisadas, a predominância de imagens de escritores consagrados. Dentre as matérias de capa que se destacaram, notou-se a presença de personalidades, principalmente nacionais, mas também estrangeiras, da literatura, história e arte: Che Guevara, Ferreira Gullar, Nelson Rodrigues, João Cabral de Melo Neto, Luís Fernando Veríssimo, Arnaldo Antunes, Theodor Adorno, Baudelaire, Clarice Lispector, João Ubaldo Ribeiro, José Saramago, Fernando Pessoa, Umberto Eco, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Ignácio de Loyola Brandão, Gilberto Freyre, Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, Jim Morrison, Caetano Veloso, Jorge Amado, Cecília Meireles, Chico Buarque e muitos outros. Entretanto, não se pode deixar de considerar os dois lados da questão. Como se viu, Cult destaca os “velhos valores”; por outro lado, a publicação não descarta a nova geração de escritores, sendo esta uma preocupação constante da revista, expressa em vários de seus 112 editoriais. A seguir, três passagens que comprovam a intenção de Cult em ampliar a reflexão para além dos cânones tradicionais: [...] Na maioria das vezes (e das edições), isso significa dar espaço a autores consagrados ou tentar descobrir, em autores novos, aqueles elementos de permanência que nos permitem incluí-los nesse cânone sempre provisório com o qual lidamos cotidianamente. Entre clássicos como Dostoiévski, Fernando Pessoa ou Mallarmé, nomes obrigatórios das letras contemporâneas como José Saramago, Haroldo de Campos ou Ricardo Piglia, e “revelações” como João Inácio Padilha ou Nelson de Oliveira, pode-se dizer que a revista tem conseguido apresentar em suas páginas um grande número de autores que integram e integrarão nosso repertório fundamental de leituras (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.23, p.2, jun.1999). Ao longo desses mais de trinta números de CULT, temos procurado mesclar harmoniosamente esses dois ingredientes. Além de dedicarmos dossiês a autores por assim dizer “canônicos” (Machado de Assis, Dostoiévski, Mallarmé, Fernando Pessoa, James Joyce, Gilberto Freyre, Drummond, João Cabral de Melo Neto), tentamos também trazer para as páginas da revista alguns nomes e temas que ampliem a “biblioteca” pessoal de nossos leitores. Foi o caso dos dossiês sobre dois poetas contemporâneos – o italiano Emilio Villa (CULT 9) e o catalão João Brossa (CULT 19) – e do dossiê sobre “Literatura de Testemunho” (CULT 23). E é também o caso, na presente edição, do dossiê sobre o escritor argentino Roberto Arlt, que, no Brasil, foi injustamente obscurecido pelo prestígio de talentos literários como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Manuel Puig e Ernesto Sábato – mas que certamente é um dos grandes nomes da grande tradição literária argentina (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.33, p.2, abr.2000). [...] é importante notar a importância que publicações literárias como a CULT assumiram nos últimos anos. Reunindo críticos e jornalistas que na maior parte do tempo divulgam e analisam autores consagrados seja pela tradição literária, seja pelo próprio meio editorial, a CULT nunca deixou de oferecer espaço para autores inéditos (como demonstra o “Radar CULT”) (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.39, p.2, out.2000). Além dos eventuais dossiês e capas, as seções que mais abriram espaço para a divulgação de novos autores foram “Criação” e “Gaveta” (reunidos posteriormente no caderno “Radar Cult”), onde foram publicados textos literários inéditos de autores pouco reconhecidos, simplesmente desconhecidos ou estreantes na área de ficção e poesia. Dezenas e mais dezenas de nomes circularam pelas páginas de Cult no período analisado, numa média de cinqüenta colaborações ao ano, sendo um despropósito, portanto, listar aqui alguns nomes que em nada representariam a variedade de perfis e estilos dos autores que tiveram seus textos publicados pela revista. 113 Mais oportuno talvez seja dizer que poetas, ensaístas, ficcionistas, contistas de diversas cidades dos vários estados do país (Pará, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Bahia, Brasília, Goiás, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul etc.) e de diferentes áreas profissionais (estudantes, médicos, jornalistas, engenheiros, artistas, psicólogos, advogados, historiadores, professores, publicitários, funcionários públicos e muitos outros) encontraram neste espaço um lugar para partilhar suas produções. Deste modo, mesmo assumindo uma posição de conservação da tradição, ou seja, “consagrando os consagrados”, Cult não descuidou da produção recente e remanescente, estando também aberta às novas perspectivas. Coerentemente com o princípio da divulgação de novos autores e com o objetivo de formar e ampliar o público, a revista promoveu e apoiou vários eventos e concursos literários. Avaliando esses resultados a partir das idéias defendidas por Pierre Bourdieu (2002) a respeito das estratégias de produção de sentido das instâncias de consagração cultural, é possível afirmar que, na derrubada de fronteiras geográficas, temporais, disciplinares e hierárquicas, a mixórdia de nomes consagrados e desconhecidos fez com que a revista funcionasse como instância legitimadora de um posicionamento teórico, operando na garantia de determinado capital simbólico e visando a inserção de alguns nomes na esfera do campo intelectual ao lado de autores que já desfrutam de reconhecimento. 1.3. O sentido da “notícia” em Cult Como vimos num capítulo anterior, a cobertura cultural da imprensa apresenta particularidades que a distingue das demais especialidades do jornalismo. A definição de “notícia” empregada pelas editorias de cultura, conforme discutido, extrapola a idéia de atualidade, passando a trabalhar com as informações a partir da noção de contemporaneidade. É exatamente esse sentido de “notícia” – que guarda uma complexidade que vai além do mero acúmulo de informações – que pôde ser verificado em Cult. Logo abaixo, a transcrição integral de uma interessante discussão sobre a questão da pauta no jornalismo cultural, apresentada num dos editoriais da revista: O excesso de assunto pode ser tão incômodo para uma revista quanto sua escassez. No mês passado, tivemos por coincidência duas das mais importantes efemérides deste ano: os centenários de morte do filósofo alemão Friedrich Nietzsche e do escritor português Eça de Queirós. Uma 114 revista como a CULT não poderia deixar de destacar nenhum dos dois fatos. Ao mesmo tempo, seria uma pena dedicar a apenas um deles o dossiê (parte mais substanciosa da revista), destinando ao outro uma seção menos completa. Optamos por fazer um dossiê sobre Nietzsche na edição de agosto, deixando para o presente número o dossiê sobre Eça de Queirós. No entanto, quando a CULT 37 começou a circular em bancas e livrarias, vários leitores escreveram e telefonaram para a redação da revista, reclamando do fato de termos privilegiado um autor alemão em detrimento de um dos maiores nomes das letras lusófonas, um filósofo em detrimento de um escritor (o que seria condenável em se tratando de uma revista de literatura). Deixando de lado o nacionalismo lingüístico um pouco obsoleto dessas críticas e a recusa de ver em Nietzsche um dos epicentros da modernidade literária, o que me parece mais grave nesse caso é que boa parte do público tem uma expectativa em relação à imprensa cultural que vai claramente contra sua especificidade. A idéia de que uma notícia só tem valor se tiver sido dada em cima do acontecimento (e, de preferência, antes de outros veículos de comunicação) faz parte da essência do jornalismo e talvez seja válida para os noticiários político, econômico ou esportivo – em que os fatos, na maior parte das vezes, são rapidamente suplantados por novos acontecimentos e notícias. Entretanto, seria no mínimo absurdo acreditar que a resenha de um livro perderá seu “prazo de validade” se for publicada três ou quatro meses depois que a obra tiver sido lançada, ou que uma determinada publicação perderá sua consistência se a discussão da obra de um autor, motivada por seu aniversário de morte, for editada no mês imediatamente posterior ao da efeméride – como ocorre neste número da CULT. Obviamente, os leitores que se mostraram contrariados estavam manifestando um desejo legítimo de ver na revista um dos maiores nomes da literatura portuguesa. Mas o fato é que, habituados com a transformação dos fatos culturais, sociais e políticos em mercadoria perecível pela indústria jornalística, eles davam como certo que, passado o mês do centenário de Eça, a CULT não poderia mais tocar no assunto. Entretanto, se há algo que a literatura nos ensina, para além do prazer estético, é justamente que as palavras servem para evitar que nos transformemos em mercadorias, objetos, coisas (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.38, p.2, set.2000, grifos meus). Neste texto, além da confirmação de que o jornalismo praticado por Cult não se prende à temporalidade dos fatos, encontramos também uma pista sobre os critérios utilizados pela publicação na seleção de suas pautas. As matérias da revista abordaram, algumas vezes, uma tradição literária (literatura argentina, literatura portuguesa, literatura norte-americana, literatura japonesa) ou um tema específico (ficção científica brasileira, literatura e futebol, literatura e loucura, literatura e erotismo, literatura de testemunho, literatura e gastronomia, moda, cinema, música); em outros momentos, renderam tributos à centralidade da obra de alguns escritores (Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, García Márquez, José Saramago). De modo menos freqüente, concederam espaço para entrevistas (Marilena Chauí, Caetano Veloso) e, na maioria das vezes, tematizaram a trajetória de um escritor ou personalidade por ocasião de efemérides como datas de nascimento e morte (o tricentenário do falecimento do padre 115 Antônio Vieira, os trinta anos da morte de Jim Morrison, os vinte de Clarice Lispector e Nelson Rodrigues, os oitenta de Lima Barreto, os cem anos da morte de Cruz e Souza, Oscar Wilde e Friedrich Nietzsche, os cento e vinte anos do nascimento de Monteiro Lobato, o aniversário de Caetano Veloso, os oitenta anos de Antonio Candido, o centenário de nascimento de José Lins do Rego etc.). As datas também apareceram a partir de temas como: os 50 anos do Grupo 47 (literatura alemã do pós-guerra), os oitenta anos da Revolução Russa e da Semana de 22, os cem anos do fim da guerra de Canudos. Trata-se de um mecanismo, empregado por grande parte dos cadernos culturais, baseado no caráter “comemorativo” (conforme definição de Süssekind 65); algo que se pode chamar de uma “cultura da memória”, cujo objetivo é repor em circulação objetos culturais que acabam assumindo a condição de “passados presentes”. A crença por trás desse fenômeno baseia-se na convicção de que determinadas produções, por sua qualidade, ultrapassam os limites da época em que foram geradas, atingindo uma perenidade que as torna universais e, conseqüentemente, sempre atuais. Para citar um exemplo desse caráter atemporal explorado e/ou consagrado pela revista, vale destacar a matéria “Breve Encontro” do jornalista Robert H. Sherard (uma entrevista com Jules Verne), originalmente veiculada no periódico norte-americano T.P.’s Weekly em 9 de outubro de 1903 e republicado mais de cem anos depois no dossiê de Cult (março de 2005). Seja como for, se por um lado o esforço da revista de priorizar a qualidade da informação veiculada sem se prender a questões factuais pode ser visto de maneira positiva, por outro ela corre o risco de ser entendida como uma publicação “alienada de sua época”, isto é, voltada apenas para temas passados e produções culturais já consagradas pelo seu tempo de permanência. Não foi isso, entretanto, o que ocorreu no caso de Cult. A análise do conteúdo do periódico permitiu encontrar textos que também trataram de eventos recentes, fornecendo um panorama das preocupações de seu próprio momento histórico. Neste rol de temas atuais, podemos citar: “Caminhos do Islã” (CULT 53), dossiê sobre a cultura islâmica que coincidiu com os atentados de 11 de setembro ao World Trade Center e ao Pentágono; “Aonde vai a língua portuguesa?” (CULT 58), reportagem que discutiu a situação e o futuro do nosso idioma; “Telejornalismo: a informação em pedaços” (CULT 62), reportagem sobre a segmentação e o tratamento da notícia nos telejornais; “Cristianismo e modernidade” (CULT 64), edição especial que abordou os paradigmas do cristianismo, o 65 SÜSSEKIND, Flora. “Escalas e ventríloquos” Folha de S. Paulo, 23 jul. 2000. Mais!, p. 6. 116 indiferentismo e a irreligiosidade das novas gerações; “Teoria da independência” (CULT 80), entrevista na qual o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso avaliou o papel do intelectual na sociedade; “O que pensam os Estados Unidos” (CULT 83), série de artigos sobre a filosofia política norte-americana, publicado num período de intensa mobilização bélica e sucessivas crises políticas; “Marilena Chauí e os segredos de Estado” (CULT 85), entrevista na qual a filósofa analisou a situação e os conflitos nacionais durante o governo Lula. Como se pode ver, os debates contemporâneos não escaparam às páginas da revista, o que a legitima ainda mais como um produto jornalístico, característico de seu tempo. Produto este que não se limitou à mera descrição dos fatos, mas que, antes, vasculhou a “razão de ser”, as idéias que estavam escondidas por trás desses acontecimentos. 1.4. Erudição, didatismo e informação Uma crítica freqüente imposta à cobertura cultural é a falta de qualidade de seus textos. Piza (2003, p.56), por exemplo, distingue-os em dois grupos: de um lado, as matérias dos cadernos diários, cada vez mais superficiais; de outro, os veículos “presos ao esquema de resenhas encomendadas a professores universitários, que não raro pecam pela escrita burocrática e lenta, com excesso de jargões e falta de clareza”. Este, no entanto, não foi o caso de Cult. A afirmação de Piza merece uma atenção especial. Afinal, a dicotomia que ele identifica não é recente, mas levanta uma questão maior, que vem sendo discutida há pelo menos algumas décadas: a antiga disputa entre acadêmicos e jornalistas pelo tradicional espaço crítico-cultural da imprensa 66. Simplificadamente, neste embate, iniciado nas décadas de 40 e 50, confrontam-se aqueles que sustentam a tese de que a crítica deve ser exercida por pessoas com formação universitária, especialistas no assunto, e aqueles que defendem o autodidatismo, apostando na prática diária da profissão como a melhor forma de aprendizado e tecendo críticas à linguagem e à lógica do texto acadêmico. Sobre este debate, é interessante registrar um dos editoriais de Cult, onde Manuel da Costa Pinto, antigo editor da revista, expõe sua opinião sobre o assunto: 66 Sobre a questão, ver Süssekind (1993). 117 No final do ano passado, participei de um debate sobre jornalismo cultural na PUC de São Paulo. [...] Lá pelas tantas, a discussão se acirrou em torno de uma velha obsessão das redações: a oposição entre acadêmicos e jornalistas, entre o hermetismo da reflexão universitária e a clareza da linguagem jornalística (um ponto de vista dos jornalistas, obviamente), ou entre a profundidade do scholar e a superficialidade de redatores e repórteres obrigados a produzir vários artigos semanais (um ponto de vista acadêmico). [...] Pois bem, acho que essa dicotomia acadêmicos x jornalistas é obsoleta e repousa basicamente sobre uma espécie de nostalgia do intelectual humanista, de saber enciclopédico, do erudito independente de instituições ou empresas. [...] Não se trata de cair no erro simétrico, de ignorar algumas vacuidades produzidas pela linha de montagem de teses em que se transformou a universidade. Entretanto, há algo de significativo no fato de que hoje o pensamento acadêmico seja predominante na mídia cultural, de que os editores tenham que recorrer a professores e pós-graduandos para resenhar livros e escrever ensaios. Isso não significa uma ‘superioridade’ dos rigores da academia sobre o livre pensar. A complexidade da produção acadêmica é uma conseqüência da própria produção artística e do cenário cultural pósmodernos. Basta observar movimentos das últimas décadas como o nouveau roman ou a arte conceitual para entender que sua exegese por críticos como Roland Barthes ou Germano Celant (respectivamente) deverá acompanhar em complexidade do objeto sobre o qual meditam. A fragmentação dos discursos e as múltiplas referências cifradas de cada artista contemporâneo ‘pedem’ uma leitura crítica que explore essa complexidade, essa profundidade muitas vezes hermética. [...] É claro que, quando conseguimos unir a erudição (imprescindível na crítica) a uma escrita envolvente, ao mesmo tempo elegante, irônica e profunda, estamos diante de um ideal de ensaísmo que raros autores – sejam jornalistas, sejam acadêmicos – conseguem atingir. [...] Levanto essas questões em parte porque, sendo ao mesmo tempo jornalista e pós-graduando na USP, sempre me incomodou essa tola dicotomia [...] (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.9, p.2, abr.1998). A partir desta declaração, é possível entender a proposta editorial que estava por trás da revista. O segredo da fórmula seria, portanto, atingir um padrão de equilíbrio entre erudição e tom jornalístico, receita que pareceu ser perseguida pelos editores, colunistas e colaboradores da publicação. Para tentar solucionar este problema, na busca de uma produção distante tanto da aridez acadêmica quanto da frivolidade jornalística, algumas estratégias foram adotadas. Na estrutura geral da revista, detectou-se uma gradação entre seções de caráter informativo, didático e seções de perfil mais reflexivo e crítico. Das seções que estiveram mais ligadas a uma tendência jornalística, todas com a idéia de “prestação de serviço ao leitor”, destacaram-se: “Notas” ou “Agenda”, “Evento”, “Instantâneos”, “Estante Cult” e “Fonotipia” (mais tarde “Seleção Cult/Livros” e “Seleção Cult/CDs”), sem falar das matérias especiais sobre bienais de livros ou exposições de arte. 118 Daquelas que apresentaram uma vocação mais didática, encontraram-se: “Biografia”, “Na ponta da língua” 67 (de Pasquale Cipro Neto) e “Memória em revista” 68 (de Cláudio Giordano). Essas seções formaram um tipo de guia ou roteiro para aqueles que pretendiam mergulhar no mundo da literatura e da cultura. Nesta mesma linha, identificou-se a série “Fortuna Crítica”, assinada por Ivan Teixeira, um conjunto de artigos que traçou ao longo de seis edições (CULT 12 a 17) um histórico das principais correntes da crítica literária: a retórica de Aristóteles e Quintiliano, o formalismo russo, o new criticism, o estruturalismo, o desconstrucionismo e o new historicism. Já o lado mais voltado para as reflexões críticas e analíticas contou com seções como: “Turismo Literário” 69, “Biblioteca Imaginária” (de João Alexandre Barbosa), “Filosofia” (de Luís César Oliva), “Ética e Política” (de Renato Janine Ribeiro e Roberto Romano), “Cinema” (de Alexandre Agabiti Fernandez) e “Dossiê”; além dessas, a série de textos denominada “Joyceanas”, escrita por Renato Pompeu do número 5 ao 10, que discorreu sobre a tradução da obra Finnegans wake, de James Joyce. Nestes espaços, onde foram encontrados ensaios com propriedade teórica que abordavam temas culturais, sociais, políticos, filosóficos e éticos, caracterizados pela aridez de seu conteúdo, a solução encontrada para facilitar o acompanhamento dos textos foram as notas paratextuais, que apareceram complementando algumas matérias. Tais notas geralmente surgiram sob a forma de explicações sobre um livro resenhado, uma cronologia sobre a vida de um escritor, uma listagem de obras sobre algum tema ou determinado autor. Esses dados anexados em alguns momentos serviram de apoio para a leitura de um leitor mais desavisado sobre os assuntos culturais e outras vezes funcionaram como índices para futuras pesquisas. A análise dos colaboradores de Cult (ver anexo 4) também confirmou essa tendência dualista da revista. Na lista dos dez autores mais freqüentes – a saber: Heitor Ferraz (colaborou em 21 edições), Reynaldo Damazio (17), Cláudia Cavalcanti (17), Fabio 67 Uma das características da seção era exemplificar regras gramaticais e sintáticas a partir da música popular brasileira e de obras literárias clássicas. 68 Nesta seção, encontravam-se reproduzidos os fac-símiles de capas, crônicas, poesias, correspondências trocadas entre escritores e anúncios publicados em periódicos brasileiros antigos como Ilustração Brasileira, Fon-Fon, Frou-Frou, Atlântico, Vamos Ler, Sombra, Panorama, A Luva, O Malho, Phoenix, Esfera, Revista da Semana, Automóvel Club, Bric à Brac, e outras. 69 “Turismo Literário” consistia num ensaio sobre uma cidade ou lugar vinculado à vida e obra de algum escritor consagrado ou a determinado movimento cultural. Alguns de seus temas foram: o cenário kafkiano de Praga; a Lisboa de Fernando Pessoa e José Saramago; a Paris da geração beat; a Londres de Dickens; a Amsterdã que inspirou Albert Camus; as tavernas e moinhos da terra de Dom Quixote; o hotel Algoquin, reduto de intelectuais americanos nos anos 20; Shandy Hall, a casa medieval do irlandês Laurence Sterne; a Brasília utópica de Clarice Lispector e Mário Pedrosa; Isla Negra, refúgio do poeta chileno Pablo Neruda; a Buenos Aires de Piglia, Borges, Cortázar, Sábato e Arlt; a região da Provença, berço do trovadorismo francês; os cafés de Viena de Freud, Stefan Zweig e Wittgenstein; a Moscou de Walter Benjamin; a Florença de Leonardo Da Vinci e Maquiavel; a Turim de Ítalo Calvino; a paisagem cabralina de Pernambuco e Recife; um itinerário poético da Paulicéia. 119 Weintraub (15), Marcelo Rollemberg (14), Carlos Adriano (12), José Guilherme R. Ferreira (11), Aurora F. Bernardini (11), Carlos Eduardo Ortolan Miranda (10) e Cristóvão Tezza (10) –, apareceram tanto jornalistas quanto acadêmicos. Num universo de 428 colaboradores, figuraram profissionais associados ao jornalismo e à editoração, e também professores, pósgraduandos, pesquisadores, escritores, tradutores e críticos ligados à academia. 1.5. Criatividade das pautas Além da qualidade dos textos, uma outra crítica atribuída à prática do jornalismo cultural é a homogeneidade de suas pautas. Com o reaproveitamento cada vez mais freqüente de materiais produzidos pelas assessorias de imprensa, principalmente no caso dos jornais diários, tornou-se muito comum encontrar matérias semelhantes em veículos diferentes. Na revista Cult, entretanto, vários exemplos de matérias interessantes e inusitadas, fruto de pautas criativas e bem-apuradas, foram encontrados. Foi o caso do ensaio produzido pelo crítico J. Guinsburg (CULT 5), que refez o percurso da língua ídiche no Brasil. Ou ainda do dossiê sobre o Oulipo 70 (CULT 52), grupo francês criado por Raymond Queneau nos anos 60, com a proposta radical de promover um cruzamento entre a invenção literária e a linguagem matemática por meio da elaboração de complexas normas, que foram categoricamente apresentadas e discutidas por diferentes colaboradores de Cult. Sem falar nos inúmeros ensaios publicados pela seção “Turismo Literário” que, cruzando temas aparentemente distintos como Turismo e Literatura, apresentaram de maneira original uma série de cenários que inspiraram escritores, intelectuais e revolucionários. Outro exemplo de abordagem inteligente foi a matéria “Alexandria digital” (CULT 93), que traçou uma metáfora a partir da divulgação de um projeto da empresa norteamericana Google Inc. de digitalizar o conteúdo de 15 milhões de livros pertencentes a cinco grandes bibliotecas dos Estados Unidos e da Inglaterra (Stanford, Michigan, Harvard, New York Public Library e Oxford’s Bodleian Library) com o intuito de dispor esse material para consultas pela Internet. Uma reportagem que poderia ter se limitado à apresentação superficial da notícia, mas que optou por um tratamento crítico e provocativo: “Imagine combinar o poder dessa ferramenta de busca com todo o conhecimento que repousa inerte, dentro dos 70 O nome “Oulipo” é uma abreviação em francês da expressão “Ateliê de Literatura Potencial”. 120 livros? Seria algo como a Biblioteca de Babel, imaginada por Borges, em versão digital” 71. Trata-se de uma frase que aparenta certa euforia com a idéia, mas que apenas serve de pretexto para a discussão de uma série de questões como, por exemplo, as leis de direitos autorais e o imperialismo cultural. 1.6. O lugar da crítica Um terceiro argumento utilizado pelos autores que defendem que o jornalismo cultural passa por um período de crise é o de que as atuais publicações não podem mais ser consideradas o cenário da crítica, um local de discussão e polêmica. No caso da literatura, pesquisadores como Travancas (2001, p.129) defendem que, com o desenvolvimento e profissionalização do mercado editorial, o número de títulos lançados em cada país passou a ser infinitamente superior à possibilidade dos cadernos de divulgá-los, seja em notas, entrevistas ou resenhas. O fato de não haver possibilidade de comentar tudo o que é publicado faz com que cada vez mais esses veículos se tornem um espaço apenas para a crítica positiva. Fábio Lucas concorda com esta tendência, mas enxerga razões distintas para o problema: A crítica universitária cinge-se de preferência às obras já consagradas, pertencentes ao corpus mais ou menos oficializado. Manifesta-se nas teses e revistas especializadas. Guarda mais o aspecto de ensaio do que de crítica, pois, ante as exigências do cânone acadêmico, incide mais sobre obras reverenciadas pela tradição e, em vista disso, observa antes um teor apologético do que avaliação de cunho negativo (LUCAS, 2001, p.84-85). A justificativa, portanto, estaria associada mais à lógica do universo no qual essa prática está inserida do que à quantidade de produtos postos em cena. Lucas (2001, p.79) aponta dois motivos para este predomínio da crítica positiva. Primeiro: o intérprete não irá empreender esforços analíticos para uma obra que julgue sem validade. Segundo, a interpretação requer um grau de empatia com o texto, de tal modo que já o introduz na esfera do aplauso. Realmente, pela análise dos textos de Cult, a conclusão a que se chegou é a de que o tom apreciativo na avaliação de obras é predominante. Mesmo assim, houve situações em que isso não ocorreu. Em alguns desses casos a revista, inclusive, abriu espaço para os autores 71 CESANA, Natalia. “Alexandria digital” In: Cult, n. 93, jul. 2005. Tecnologia/cultura, p.17-19. 121 criticados se defenderem. Um bom exemplo é o debate que envolveu o jornalista Luís Antônio Giron e o escritor Rodrigo Lacerda, e que perdurou por três edições. Giron teve seu livro “Ensaio de ponto” resenhado por Lacerda na edição 21. Abaixo, uma amostra do teor da matéria: [...] Não é, portanto, uma linguagem pessoal, individual, elaborada no convívio diário com o ofício. É um modelo que existe, que já está à disposição para os eventuais interessados. Talvez não seja um acaso o fato de a já citada aliança – história, ficção e humor – ser tão usada por escritores estreantes, como é o caso de Giron, e como foi o meu. Ela funciona como substituto prêt-à-porter para um estilo próprio que ainda não existe [...] (LACERDA, Rodrigo. “Romance”. In: CULT. São Paulo: n.21, p.18-20, abr.1999). No número seguinte, foi publicada a réplica do jornalista: A resenha “Ascenção (sic) e queda do teatro rebolado”, publicada na CULT de abril, em torno de meu romance Ensaio de ponto (Editora 34), obriga-me a fazer alguns esclarecimentos sobre como a obra foi mal interpretada pelo resenhista em comparação à maneira pela qual ela foi escrita. [...] O resenhista, sabe-se lá por que impulso inconsciente, resolveu enxovalhar Ensaio de Ponto, enxovalhando-se a si próprio. [...] Ao tentar dar conselhos de escritor experiente, incorre em erros reles, como grafar “ascensão” com cedilha. Isso invalidaria qualquer afirmação do suposto Conselheiro Acácio das Belas Letras [...] (GIRON, Luís Antônio. “Réplica”. In: CULT. São Paulo: n.22, p.26-28, mai.1999). E, na edição 23, foi encerrada a polêmica, sendo anunciadas, ao mesmo tempo, a tréplica de Rodrigo Lacerda e a resposta de Luís Antônio Giron. Na resenha sobre o livro Ensaio de Ponto, de Luís Antônio Giron, fui duro nas críticas, mas não fiz ataques gratuitos. Além de apontar defeitos, descrevi imparcialmente a estrutura da obra [...] e sugeri que o importante não é ter o primeiro livro bom, mas caprichar no segundo, ou craniar o terceiro, arriscar no quarto etc., infinitamente, se a natureza permitisse. [...] Ao contrário do que diz Giron, não sou um ressentido pela falta de reconhecimento. Recuso-me, porém, a dizer que prêmios ganhei ou os elogios VIPs que recebi. Autoridade alheia agora? (LACERDA, Rodrigo. “Polêmica”. In: CULT. São Paulo: n.23, p.26, jun.1999). Esta polêmica ficou mais longa e sobretudo mais chata que os romances que Rodrigo Lacerda legou até agora ao mundo. Sou obrigado a responder à tréplica de Lacerda, que se vale do gênero para se auto-exaltar – caso clássico do autor second rate que necessita de polêmica para se manter publicado, sobretudo no instante em que lança seu terceiro pecadilho literário. Sabedor do fato, porém, mordo mais uma vez a isca porque sigo aquele ditado do interior: dou um boi para não entrar numa briga, mas, quando estou nela, dou uma boiada para não 122 sair... para desespero dos leitores da CULT [...] (GIRON, Luís Antônio. “Polêmica”. In: CULT. São Paulo: n.23, p.27, jun.1999). Este e outros exemplos de polêmicas que ganharam vida nas páginas de Cult poderiam ser citados para questionar a afirmação inicial de que os veículos culturais já não são mais um espaço crítico dentro do jornalismo. Inúmeras discussões também foram travadas na seção “Do Leitor” como reação a eventuais matérias publicadas. Uma das principais polêmicas surgiu em torno da novela Acaju, de Marcelo Mirisola, repercutindo em diversos números da revista, motivando, inclusive, editoriais. Logo abaixo, alguns momentos do debate: Escrevo para parabenizar a CULT, não apenas pelo excelente nível dos textos críticos que publica, mas também e principalmente pela seção “Radar CULT”. [...] Por fim, é impossível de deixar de destacar a novela Acaju (A gênese do ferro quente), de Marcelo Mirisola. O autor, como já tinha feito nos seus dois livros, mostra como a classe média, com seus vidrinhos de bala na mesa da sala, viagens à praia e meu benzinho, é detestável. Ricardo Lísias, por e-mail (CULT 43) Sou leitora assídua de CULT. Tenho desde a segunda edição. Elogios mil. Mas, infelizmente, de vez em quando os senhores publicam “coisas” que, sinceramente, não são fáceis de entender! Estou impressionada com o amplo espaço dado pelo encarte “Radar CULT” a essa “novela” Acaju, do pseudoescritor Marcelo Mirisola. Gente! O que é isso? [...] A idéia de folhetim é muito bem-vinda, mas sejamos sensatos amigos... Com “isso”? Onde foi parar o gosto literário dos senhores? Na lata de lixo, de onde resgataram esse “traste escatológico”?! [...] “Isso”, amigos, é a pornografia mais banal e sem originalidade de que já se ouviu falar. [...] Sejamos mais criteriosos, senhores! Em nome da verdadeira arte erótico-pornográfica! Maria Augusta Reis, por e-mail (CULT 43) Sou plenamente a favor de inovações estético-literárias, mas isso não quer dizer que tudo o que seja novo e que fuja a padrões estéticos preestabelecidos tenha “valor” literário. Aqui abrimos uma discussão: o que é “valor literário”? Eu “particularmente” não gostei do que li até agora da novela de Mirisola, mas em um momento literário pós-moderno é extremamente difícil para o leitor mensurar a qualidade artística de uma obra contemporânea. [...] Por tudo isso parabenizo a CULT pela coragem e iniciativa, e o tempo dirá se vocês acertaram ou não. E se erraram, pelo menos tiveram a audácia de tentar [...]. Nelson Ricardo, por e-mail (CULT 45) [...] Se o leitor prestar atenção, o texto de Acaju é, justamente, o típico “beletrismo de vanguarda” que “reduz a literatura a um diálogo entre autores (correspondências, citações etc.)”. Há uma agravante, porém: o autor esbarra em sua própria indigência criativa que pode ser resumida na frase de sua lavra novelesca: “Tô comendo bosta e lambendo os beiços”. Roberto Numeriano, Recife –PE (CULT 47) 123 Nos últimos meses, recebemos várias cartas comentando a publicação, na forma de folhetim, da novela Acaju [...]. A polêmica (que pode ser acompanhada na seção “Do Leitor” desde a CULT 43 até a presente edição) basicamente diz respeito à legitimidade da escrita de Mirisola para representar nossa degradada realidade urbana e o universo simbólico de uma sociedade imbecilizante. Para alguns leitores (entre os quais me incluo), Mirisola consegue mimetizar essa miséria simbólica sem perder as ironias do humor; para outros, essa linguagem é demasiado aderente à realidade, não possuindo as mediações que fazem a verdadeira literatura e redundando em pornografia e desejo de épater le bourgeois. [...] O que interessa aqui é dizer que, embora a transgressão não seja um valor em si mesmo, estamos carentes de uma literatura que nos ofereça instrumentos de perfuração [...] (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.48, p.2, jul.2001). O teor crítico esteve igualmente presente em matérias-denúncia, que freqüentemente debateram questões relativas ao meio editorial e cultural – como as reportagens “Resultados do prêmio Nestlé revelam caráter comercial do concurso” (CULT 1) e “Feira das vaidades” (CULT 83) sobre a Festa Literária Internacional de Parati (Flip) – e em diversos editoriais de Cult como no exemplo a seguir. A CULT participa neste mês de um evento que revela alguns dos impasses atuais do mercado editorial brasileiro e, de forma mais geral, de instituições e empresas que procuram conciliar o trabalho cultural com sobrevivência econômica: a Primavera dos Livros, uma feira que reunirá mais de 50 editoras. [...] Algumas editoras pequenas que apostam convictamente num tipo de literatura que não é um “produto”, que não atende aos protótipos do objeto feito apenas para vender, acabaram naturalmente se reunindo para criar o seu próprio modelo de “feira do livro”. [...] Nesse sentido, gostaríamos de deixar claro aqui que reiteramos integralmente a idéia de fundo da Primavera dos Livros de que é possível ter uma atuação cultural que seja orientada ao mesmo tempo por convicções intelectuais e por necessidades econômicas – sem que isso desemboque necessariamente no irrealismo comercial (caminho seguro para o fracasso objetivo) ou na aceitação de um mecanicismo que naturaliza as “leis” do mercado (caminho certo para inverter a ordem das determinações da realidade e nos destituir como sujeitos de nossas próprias ações). Nesse sentido, a Primavera dos Livros é uma forma de resistência à ditadura de um realismo econômico que de forma alguma deve ser visto como fatalidade – e, não por acaso, o nome do evento evoca de modo simpático uma outra primavera e uma outra resistência (PINTO, Manuel da Costa. “Ao leitor”. In: CULT. São Paulo: n.51, p.2, out.2001). 124 2. Cult: jornalismo de referência Vimos que, historicamente, a formação de uma classe intelectual sempre esteve associada à sistematização do saber e, por este motivo, o sistema educacional desempenhou um papel determinante neste processo, funcionando muitas vezes como instrumento de distinção sócio-cultural e de elaboração dos intelectuais de diversos graus. Da mesma forma, observamos que foi apenas com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa que se deram as condições estruturais necessárias para a profissionalização do trabalho intelectual. A imprensa se constituiu como portadora legítima de uma intelectualidade que vislumbrou no jornalismo a conquista de um espaço que teria a competência de ampliar seu público e o reconhecimento coletivo de sua atividade. Partindo destes dois pontos, a intenção é verificar se a revista Cult pode ser caracterizada como um desses ambientes de amparo e divulgação da produção intelectual. Ao mesmo tempo, descobrir se seu conteúdo reflete os valores defendidos por algum grupo específico, isto é, se é possível detectar na publicação algum tipo de influência ideológica predominante. 2.1. Jornalismo autoral Uma avaliação das categorias jornalísticas utilizadas leva à constatação de que os gêneros opinativos 72 (editoriais, ensaios, resenhas, colunas, cartas) prevaleceram na composição geral da revista. Ao mesmo tempo, a leitura e a análise desse conjunto mais denso de matérias revelou alguns indícios que merecem destaque: frases repletas de interpretações e metáforas, uso abundante de adjetivos e expressões opinativas, linguagem especializada, utilização de expressões acadêmicas, referência a cânones, citação de autores (característica do trabalho acadêmico), menção a correntes artísticas e culturais etc. De maneira geral, os textos abordaram temáticas profundas que discutiram valores e extravasaram a simples descrição dos assuntos, incluindo elementos que transpareceram as opiniões do próprio autor, revelando também aspectos provenientes de sua bagagem intelectual. 72 A classificação de gêneros tomou como base a proposta de José Marques de Melo (1992). 125 A somatória desses aspectos, aliada ao fato de que as matérias foram sempre assinadas, permite-nos afirmar que Cult trabalha a partir da idéia de um jornalismo autoral, isto é, os textos analisados configuram-se como criações de um determinado autor que, por sua vez, possui uma estrutura e estilo próprios. Em poucas palavras, diríamos que o estilo do autor é inerente ao texto. Em grande parte do material analisado, o detalhamento e a quantidade de informações oferecidas atestaram o profundo conhecimento dos assuntos tratados pelos autores das matérias. Desta forma, as opiniões encontradas ao longo do texto assumiram, na maioria das vezes, um “argumento de autoridade”. Isto é, a pessoa que as lê sabe que são julgamentos feitos por alguém apto a fazê-los. 2.2. Perfil acadêmico da revista Como já explicitado, dentre as funções de Cult não se encontrou a de divulgar propostas homogêneas de determinado grupo estético. Não houve intenção em divulgar apenas uma única corrente crítica ou teórica. Entretanto, os textos publicados estiveram relacionados a linhas teóricas hegemônicas 73 na intelectualidade ocidental, difundidas por pesquisadores vinculados a universidades. A partir da análise dos autores explorados pela revista, deparamo-nos com referências constantes a Dostoiévski, Walter Benjamin, Marx, Paul Valéry, Borges, James Joyce, Adorno, Heidegger, Foucault, Camus, Maquiavel, Baudelaire, Kafka, Nietzsche, Wittgenstein, Proust, Kant, Sartre, Derrida etc. Neste panthéon, encontramos intelectuais que questionaram a história, a verdade, o romance, a língua, o ser, o tempo, o poder, como sistemas totalizantes. Seus escritos proporcionaram a emergência de uma nova ordem (ou da própria desordem) do discurso e seus questionamentos foram emblemáticos em algum momento da história para ilustrar a derrubada de fronteiras. Outro dado que chamou atenção foi a freqüente circulação de textos baseados em idéias marxistas e em publicações com espírito contestatório, identificadas com a produção 73 Para Raymond Williams (apud RIBEIRO, 2004, p.26), em toda sociedade, em qualquer tempo histórico particular, há um “sistema central de práticas, significados e valores” que é efetivo, dominante, organizado e vivido. Trata-se, portanto, de uma formulação mais flexível, algo que não exclui e não se reduz à noção de classe dominante. Ao descrever a dinâmica de uma hegemonia cultural, Raymond Williams afirma que é preciso entendê-la fundamentalmente como um processo, e não como um sistema ou estrutura estáticos; como algo processual e intencional, que exerce pressões e estabelece limites. O conceito de hegemonia não pode ser confundido com a idéia de totalidade; por mais que seja dominante, “jamais o é de um modo total ou exclusivo”. 126 underground e a literatura de vanguarda. Posturas relacionadas com a contracultura, que visavam a inadequação e/ou crítica perante visões estáticas de mundo. Neste sentido, vale ainda lembrar que, apesar de ser criada como uma revista de cunho literário, a primeira capa de Cult não apresentou um ícone da literatura, mas sim um líder revolucionário: Che Guevara. Desta forma, pode-se dizer que a publicação se constituiu a partir de uma produção cultural militante, de esquerda, relacionada a movimentos que se utilizaram da arte e da crítica como instrumentos de manifesto. Para compreensão desse fato, algumas observações precisam ser feitas: primeiro, há uma tradição por parte dos intelectuais em serem atraídos pela ideologia dos sistemas políticos revolucionários; segundo, atualmente a maior parcela da intelectualidade está concentrada na universidade. Assim, é compreensível que uma publicação cultural – feita com a colaboração de intelectuais ligados à academia – tenha traduzido o universo de preocupações, propostas e concepções daqueles que dela participaram, transformando-se num lugar de referencialidade simbólica. Grande parte dos dossiês foi resultado de pesquisas que professores e alunos desenvolveram em suas respectivas áreas de atuação. Sobretudo neste espaço, encontraram-se contribuições de nomes expressivos da intelectualidade brasileira. O corpo de colaboradores (ver anexo 4) constituiu-se a partir de áreas de atuação, de influências e de legitimação bastante definidos, com predominância de grupos ideológica e institucionalmente nítidos, em grande parte representados, profissionalmente, por professores, escritores e jornalistas; e, na esfera acadêmica, por instituições públicas, com avassaladora presença de nomes ligados à Universidade de São Paulo (ver anexo 5). A revista contou com a colaboração de profissionais concentrados na área de humanidades (Letras, Jornalismo, Filosofia, Artes, Sociologia, Antropologia, Psicologia, História, Teologia, Educação etc.), geralmente pós-graduados ou, no mínimo, graduados especializados. Dos 428 autores identificados (no período de oito anos), 52% possuíam alguma titulação (mestrado, doutorado, pós-doutorado) e 53 % tiveram ao menos um livro publicado pelas mais diversas editoras do país e do exterior. O que se percebeu, portanto, não só nos tipos de textos que prevaleceram (ensaios e resenhas), mas também na escolha dos assuntos e autores do periódico, foi o tom predominantemente acadêmico de Cult, que pode ser confirmado pelo próprio perfil de seus colunistas (ver anexo 6). 127 Essa constatação, aliada ao fato da revista privilegiar produções mais elaboradas e autores reconhecidos, a direciona, enquanto objeto cultural, ao consumo de um público específico, permitindo sua classificação no que Bourdieu considera “campo cultural erudito”. Aqui, vale a pena retomar alguns aspectos apresentados pelo sociólogo na definição desse campo específico e que se enquadram perfeitamente no perfil de Cult: público restrito próprio; agentes especializados; instâncias de consagração particulares; criação de uma tradição de conhecimento própria; delimitação de uma área de jurisdição formal e estética exclusiva; afirmação, por oposição ao crescimento de um mercado de bens culturais industrializados, de uma irredutibilidade de suas práticas e obras à condição de mera mercadoria; singularização da condição de intelectual e artista na sociedade, baseada na “ideologia” da “arte pela arte” ou da criação desinteressada e “inata”. 128 CONCLUSÕES Poucos duvidam de que os vários meios de comunicação tenham desempenhado e continuarão desempenhando um papel crucial na formação de um sentido de responsabilidade pelo nosso destino coletivo. Há, no entanto, neste início de século, uma perspectiva negativa em relação a esse panorama. Muitos teóricos já apontaram que em nossa época o central parece ser o fluxo, o movimento – seja de capitais, produtos, pessoas e imagens. Privilegia-se a circulação ao conteúdo. Uma visão apocalíptica da cultura e da comunicação acompanha tais críticas. Marcondes Filho (1993, p.110), por exemplo, acredita que “a vida das sociedades [...] na entrada do século XXI é marcada por um ritmo cada vez mais veloz nas relações sociais”. Como conseqüência surge a precedência do volátil, do descartável, da troca rápida de várias coisas, desde objetos até relacionamentos sociais, passando por empregos, atividades das mais diversas, viagens, posse de bens móveis ou imóveis, tudo se torna mais rapidamente cambiável (MARCONDES FILHO, 1993, p.110). De acordo com o autor, o jornalismo sofre influência dessa realidade. Num ambiente cada vez mais “fragmentado, difuso e indeterminado”, a mídia “restringe-se a poucas palavras que passam a ser trabalhadas amplamente em todas as editorias e em todos os cadernos”. As notícias longas devem ser suprimidas e as matérias não devem ter mais do que três parágrafos (MARCONDES FILHO, 1993, p.112). Como justificar, então, a existência de Cult nesse universo? Como vimos, a revista dedica-se à análise de uma ampla diversidade de temas, dando lugar à multiplicidade interpretativa de assuntos. Suas matérias caracterizam-se pela extensão e profundidade do tratamento. Por ser uma publicação mensal, livre das imposições que o ritmo acelerado impõe a um jornal diário, seus textos não se prendem à factualidade da notícia, são menos efêmeros e servem de fonte de pesquisa e referência. Assim, Cult não se enquadra nesse conceito de “jornalismo fin-de-siècle”, comprovando que, mesmo em meio a uma cobertura cultural cada dia mais padronizada, uma única definição não basta para traduzir o rico universo das instituições de comunicação. 129 O tempo de permanência do periódico no mercado editorial, por si só, já seria uma vitória e uma prova de que publicações culturais podem manter a qualidade de seu trabalho sem sucumbir às exigências dos processos de industrialização. Por outro lado, um argumento que poderia contestar o êxito de Cult é o de que a revista é dirigida aos pares, a um público restrito, o que limitaria sensivelmente o alcance de sua produção. Não há dúvida de que se trata de uma publicação acadêmica, isto é, seus organizadores e colaboradores são, em sua maioria, ligados à academia e sua “seleta audiência” também é de extração nitidamente universitária. Isso não chega a ser uma novidade. Historicamente, o gênero destinou-se a grupos específicos. Conforme destaca Sirinelli, as revistas são antes de tudo um lugar de fermentação de idéias e de relação afetiva de microcosmos intelectuais: As revistas conferem uma estrutura ao campo intelectual por meio de forças antagônicas de adesão – pelas amizades que as subtendem, as fidelidades que arrebanham e influência que exercem – e de exclusão – pelas posições tomadas, os debates suscitados, e as cisões advindas (SIRINELLI, 1996, p.249). Entretanto, a questão do público não está circunscrito às revistas. Trata-se de um problema maior, nacional, de acesso à cultura. O INAF (Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional) indica que, entre os brasileiros que têm de quatro a sete anos de estudo, só a metade atinge o nível básico de domínio da língua necessário para a leitura de um texto de jornal. Nada menos do que um terço dos que estudaram de um a três anos continuam analfabetos absolutos. Pela pesquisa, 30% dos alfabetizados lêem apenas frases soltas, como as dos outdoors. E outros 37% conseguem apenas ler textos curtos. Só 25% dos alfabetizados no Brasil teriam pleno domínio da língua. Ou seja, apenas um em cada quatro brasileiros é leitor potencial de literatura ou jornal. Os outros 75% da população estariam excluídos do mundo letrado (COSTA, 2005, p.339) 74. Deste modo, não é apenas o público das revistas culturais (ou o público de Cult) que é restrito, mas sim o universo de consumidores de cultura no Brasil. Segundo Mandaji (2003, p.57), este universo representaria aproximadamente 5% da população se contarmos 74 Esses números, publicados pela autora no livro Pena de aluguel, foram extraídos de uma reportagem do Jornal do Brasil (“Só 25% têm domínio pleno da leitura”, 9/9/2003, p.A7) que se baseou em informações do relatório (2003) do Instituto Paulo Montenegro. A consulta ao último levantamento do instituto (2005) revela que os dados se mantiveram. Fonte: www.ipm.org.br. Acesso em: 10 de fevereiro de 2006. 130 os economicamente ativos, e com somente 2% se levarmos em consideração a população total. Na opinião da pesquisadora, o consumo da produção cultural no país é estratificado e segmentado porque passa, em primeiro lugar, por um processo de seleção econômica e social. [...] os estratos sociais que possuem maior poder aquisitivo terão um acesso mais irrestrito a uma quantidade maior de produtos, enquanto os grupos com menor poder econômico ficarão condicionados a um produto que é muitas vezes rejeitado por aqueles que possuem mais recursos econômicos (MANDAJI, 2003, p.63). Para Cacá Diegues, a questão da cultura no Brasil não é, e provavelmente nunca será, um problema de produção. É basicamente uma dificuldade de circulação dos produtos culturais. O que falta no país em termos de cultura é o que falta de um modo geral no país: redistribuição da riqueza. É surpreendente que, em todas as regiões, em cada lugar que se vai, encontra-se produtores de cultura absolutamente anônimos, conhecidos talvez apenas nas suas ruas, que estão produzindo cultura de certa qualidade e que não circula (DIEGUES apud MANDAJI, 2003, p.90). Neste ponto, chegamos ao seguinte: a relação entre o indivíduo e a participação na cultura de sua sociedade não é feita de forma aleatória, mas principalmente pela sua posição no quadro social e pela instrução anteriormente recebida para ocupá-la. Em termos gerais, pode-se dizer que a definição do campo intelectual se traduz no “fortalecimento de suas próprias instâncias de seleção e consagração”. É no âmbito de mercados como o sistema de ensino, a indústria cultural, o setor artístico etc., que sucede a legitimação das diferenças sociais, ou seja, neles se constitui o valor desigual das formas disponíveis de capital – títulos e diplomas, postos e cargos, padrões de gosto – de que se apropriam os diversos grupos e classes segundo as posições que lhes cabem na estrutura social. Nesse processo, a questão do consumo, enquanto símbolo de status, caminha paralela à construção de identidades e de diferenças que, paulatinamente, passam também a definir-se pelo poder de aquisição. Segundo Canclini (2001, p.83), “o consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas e atos socialmente regulados”. 131 Institui-se, assim, um complexo sistema de trocas simbólicas onde o produto cultural (neste caso, a revista), ao mesmo tempo em que confere um certo status a seus consumidores, recebe deles uma legitimação, ou seja, torna-se o resultado de um “ato mágico que nada seria [...] sem o universo dos celebrantes e crentes que lhe dão sentido e valor por referência a uma determinada tradição” (BOURDIEU, 2002, p.28). Retornando à questão da audiência, acredita-se que não seja objetivo da publicação restringir seu público, pelo contrário, Cult funciona como um canal de expressão de um grupo de intelectuais que busca um público externo a suas próprias áreas de atuação. De qualquer forma, é também preocupação do veículo manter a qualidade, e até mesmo a complexidade, de seu conteúdo, o que acaba inevitavelmente “selecionando” seus leitores. Em outras palavras, se por um lado não é intenção da revista afugentar o leitor desprevenido, mas de boa vontade, que consegue preencher as lacunas de sua formação cultural em seções mais didáticas; por outro, o periódico não apela para o “vale tudo” tendo em vista sua inserção mercadológica, isto é, não é pretensão da publicação vulgarizar o nível de sua produção para obter uma maior penetração no mercado. A lógica é simples: não se deve “baixar” a qualidade, mas “elevar” a condição dos cidadãos para que eles possam consumir produtos mais sofisticados. Como dito anteriormente, há uma proposta iluminista por trás da linha editorial de Cult, que se baseia no princípio de que não há vida intelectual sem um mínimo de esforço e disciplina. Mais uma vez a noção de cultura é vinculada a estudo, educação, escolaridade. São esses os elementos que determinam o prestígio, a legitimidade e a posição dos agentes na estrutura do campo cultural. São estratégias coletivas adotadas (conscientemente ou não) pelos intelectuais que participam desse universo para fazer valer seus interesses e sua contribuição enquanto categoria social específica. Atualmente, vive-se sob o poder dos meios de comunicação de massa e os intelectuais, assim como outras categorias, têm consciência da importância da divulgação de suas obras nestes espaços. Na era da sociedade da informação, a influência da mídia passa a ser determinante na produção, seleção e divulgação de bens simbólicos. Tratando-se do imbricamento entre a cultura erudita e os meios de comunicação de massa, Bosi (1992, p.317) relembra que pensadores como Adorno e Umberto Eco aprofundaram o tema da “institucionalização das vanguardas”. Ou seja, “a crítica que se transforma em mercadoria, que vira moda, e é diluída pelo abuso verbal, integrando-se afinal na boa consciência dos bem pensantes, perdendo, enfim, o seu alvo modificador do status quo”. 132 A cultura de massa, a indústria de objetos simbólicos em série, vale-se da cultura erudita, lança mão dela, para transformar em moda e consumo não poucas de suas representações. É o fenômeno do kitsch, estudado por Abraham Moles, que consiste em divulgar junto aos consumidores das classes alta e média, palavras, gostos, melodias, enfim, bens culturais produzidos inicialmente pela chamada cultura superior. Para Bosi, a neutralização de todas as possíveis dissidências em um amplo e flexível processo modernizante parece ser um recurso quase fisiológico das sociedades neocapitalistas que às vezes punem, aleatoriamente, algumas expressões ou atitudes mais inconvenientes, isto é, mais capazes de despertar ou aguçar a consciência das contradições. Segundo ele, a universidade, por sua vez, é chamada a colaborar para – com as devidas adaptações ou concessões a um presumível gosto médio – fornecer imagens, palavras e idéias para fascículos de grande venda ou para jornais e revistas de classe média ou alta. A indústria cultural, principalmente nas suas faixas de consumo mais exigentes, virou divulgadora, diluidora ou exploradora do trabalho universitário crítico e criador. Algumas figuras universitárias, antes circunscritas à vida acadêmica e à produção para reduzidíssimo público, viraram, em pouco tempo, personagens do consumismo cultural (BOSI, 1992, p.317). Não concordamos, entretanto, com esta visão do autor. O fato de os intelectuais estarem cada vez mais envolvidos com os sistemas midiáticos e institucionais não impede que suas produções assumam um caráter questionador. Para Nussbaumer (1997, p.78): As formas de demonstrar que o poder simbólico dos artistas pode resistir às concessões exigidas pelo mercado podem ser diferentes de acordo com cada momento ou movimento cultural. Na contemporaneidade, alguns artistas já consagrados começam a investir de forma mais evidente no marketing, sem que essa atitude os coloque na posição de ‘integrados’ mas, ao contrário, permita a produção e divulgação de uma obra que pode ser, inclusive, ironicamente anti status quo. Deste modo, já não é mais possível pensar o erudito de maneira isolada, é preciso enxergá-lo em sua imbricação conflitiva com a indústria cultural, procurando descobrir os papéis que o massivo assume na produção e reprodução da hegemonia, e no que estes papéis se diferenciam do que os círculos intelectuais realizam, como ocorre a luta pela hegemonia na época da cultura de massa e como se pode defender os interesses eruditos não mais contra a cultura massiva, mas dentro dela. 133 Com base em Habermas (1984), acreditamos que o surgimento de uma imprensa vinculada aos movimentos artísticos e intelectuais é revelador da supremacia do que essencialmente caracteriza sua natureza e finalidade, qual seja, ser um lugar de referencialidade simbólica para os indivíduos e para a sociedade. É bastante significativo o fato de os movimentos culturais de uma época recorrerem à imprensa como forma apropriada à sua expressão. O recurso a ela como instrumento concreto destinado à promoção de suas idéias e criações decorre da compatibilidade de sua estrutura institucional com a natureza e finalidade desses movimentos. Do ponto de vista da instituição jornalística, as idéias e práticas criadas por esses movimentos culturais emergentes também são compatíveis com a especificidade da prática jornalística. Suas temáticas concernem à construção de um novo conjunto de normas, valores, comportamentos e regras de sociabilidade, baseado em critérios correlatos aos princípios e procedimentos próprios das sociedades modernas. A emergência de uma imprensa de crítica literária e intelectual corresponde à expansão do universo de referencialidades simbólicas criadas no processo de desenvolvimento dessas sociedades. É coerente com a natureza institucional da imprensa expressar a expansão dessa referencialidade cotidianamente atualizada pelo exercício público da crítica, nos confrontos entre correntes, grupos e indivíduos. A imprensa não poderia manter-se à margem desse processo dinâmico de autoreflexividade da sociedade e dos indivíduos, sob pena de alienar-se da sua própria condição institucional socialmente reconhecida, pois “la información es un servicio a la sociedad, un presupuesto para al democracia y algo perfectamente implicado en el ambiente social circundante” (BENITO, 1968, p.34). Com a imprensa de crítica de arte e intelectual criada na esfera desses procedimentos emancipatórios, o exercício da crítica torna-se um atributo do seu discurso, ou, mais propriamente dito, a imprensa assimila essa nova forma de tratamento ou expressão dos fatos da natureza, da sociedade e da condição humana, por um lado, admitindo novos tipos de escritura (filosófica, científica etc.) e, por outro, desenvolvendo, a partir desses tipos, novos gêneros informativos próprios (jornalismo opinativo e interpretativo, crônicas etc.). Com a criação desses novos gêneros, ocorre uma mudança qualitativa, de forma e conteúdo, no conceito de informação, cuja diversidade explica a origem do deslocamento da posição central da notícia para a condição de um gênero particular, e não necessariamente o mais apropriado à construção do discurso jornalístico como um todo. 134 Importa, sobretudo, destacar o fato de que, a partir da convivência com discursos produzidos pelos movimentos culturais, artísticos e intelectuais, a imprensa vai, posteriormente, depreender das estruturas discursivas desses diferentes movimentos elementos que sejam capazes de remeter aos respectivos campos de conhecimento nos quais eles foram elaborados, sujeitando-os, entretanto, aos princípios e regras discursivas do próprio campo jornalístico. O jornalismo cultural não se fundirá com a escritura intelectual e artística, mas irá compartilhar os tipos de racionalidade respectivos a elas. Paralelo à pluralização dos tipos de publicação intelectual e artística, com maior e menor grau de sofisticação e de interesse lucrativo, pluralizam-se também os tipos de imprensa, num diálogo permanente com a dinâmica e crescente complexidade dessas esferas públicas culturais. 135 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS A REVISTA NO BRASIL. São Paulo: Editora Abril, 2000. ABRAMO, Cláudio. A regra do jogo: o jornalismo e a ética do marceneiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 277 p. ABREU, Alzira Alves de (org.). A imprensa em transição. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. ABREU, Alzira Alves de. A modernização da imprensa (1970-2000). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. AJZENBERG, Bernardo. Dois senhores. In: Jornalismo e literatura: a sedução pela palavra. São Paulo: Escrituras, 2002, p 53-55. AMARAL, Luiz. Técnica de jornal e periódico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969. 259 p. AMARAL, Antonio B. do. Nossas revistas de cultura: ensaio histórico-literário. In: Revista do Arquivo Municipal. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 1967, p.125-175. AMOROSO LIMA, Alceu. O jornalismo como gênero literário. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2003. 88 p. Clássicos do Jornalismo. ANTELO, Raúl. Literatura em revista. São Paulo: Ática, 1984. 376 p. ANTELO, Raúl. As revistas literárias brasileiras. In: Boletim de pesquisa NELIC. n.2. Santa Catarina, set.1997. Disponível em: <http://www.cce.ufsc.br/~nelic/Boletim_de_Pesquisa2/index2.htm>. Acesso em: 06 out. 2005. ANUÁRIO BRASILEIRO DE MÍDIA: volume segmentos (guias e listas, Internet, revista e TV por assinatura). Barueri, SP: Meio & Mensagem, 2005. ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1972. ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. 8.ed. 352 p. ARNT, Héris. A influência da literatura no jornalismo: o folhetim e a crônica. Rio de Janeiro: E-papers, 2001. 126 p. BAHIA, Juarez. Jornal, história e técnica. São Paulo: Ática, 1990. 253 p. 136 BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução de Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 1977. BARROS, Jefferson. Função dos intelectuais numa sociedade de classes. Porto Alegre: Movimento, 1977. BARTHES, Roland. Escritores, intelectuais, professores e outros ensaios. Lisboa: Presença, 1975. 223 p. BELTRÃO, Luiz. A imprensa informativa: técnica da noticia e da reportagem no jornal diário. São Paulo: Masucci, 1969. 424 p. BENITO, Angel. Situación de la enseñanza del periodismo en el mundo. In: Cadernos de temas de comunicação social. Porto Alegre: PUC-RS, 1968. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, Arte e Estética. In: Obras escolhidas, vol. 1. São Paulo: Brasiliense, 1985. BOAS, Sérgio Vilas. O estilo magazine: o texto em revista. São Paulo: Summus, 1996. 129 p. BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. BOTTOMORE, T. B. As elites e a sociedade. Tradução de Otávio Guilherme C. A. Velho. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1974. BOUDIN, Louis. Os intelectuais. Tradução de Maria do Carmo Pizarro. Lisboa: Arcádia, 1971. BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1970. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989. 311 p. BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. BOURDIEU, Pierre. A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos. São Paulo: Zouk, 2002. BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. BUITONI, Dulcília H. Schroeder. Texto-documentário: espaço e sentidos. 1986. Tese (Livre Docência), Escola de Comunicação e Artes, São Paulo. BURKE, Peter. El descubrimiento de la cultura popular. In: SAMUEL, Raphael (ed.). Historia popular y teoria socialista. Barcelona: Grijalbo, 1984, p.78-92. 137 CAMARGO, Maria Lucia de Barros. Escrita, José, Almanaque: leituras de romance. In: Boletim de pesquisa NELIC. n.2. Santa Catarina, set.1997. Disponível em: <http://www.cce.ufsc.br/~nelic/Boletim_de_Pesquisa2/index2.htm>. Acesso em: 06 out. 2005. CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas y estrategias comunicacionales. Seminario fronteras culturales: identidad y comunicación en América Latina. Scotland: University of Stirling, 1996. CANCLINI, Nestor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Tradução de Mauricio Santana Dias e Javier Rapp. 4.ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. 290p. CANDIDO, Antonio. Vários escritos. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1995. CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 8. ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 2000. 194 p. CASTRO, Gustavo de; GALENO, Alex. Jornalismo e literatura: a sedução pela palavra. São Paulo: Escrituras, 2002. 184 p. COHN, Gabriel (org.). Comunicação e indústria cultural: leitura de análise dos meios de comunicação na sociedade contemporânea e das manifestações da opinião pública, propaganda e cultura de massa nessa sociedade. São Paulo: Editora Nacional, 1977. COSTA, Cristiane. Pena de aluguel: escritores jornalistas no Brasil: 1904-2004. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. COTA, Débora. Argumento: cultura, crítica e literatura de resistência. In: Boletim de pesquisa NELIC. n.5. Santa Catarina, mar.2001. Disponível em: <http://www.cce.ufsc.br/~nelic/Boletim_de_Pesquisa5/index5.htm>. Acesso em: 11 out. 2005. COUTO, José Geraldo. Jornalismo cultural em crise. In: DINES, Alberto; MALIN, Mauro. Jornalismo brasileiro: no caminho das transformações. Brasília: Banco do Brasil, 1996, p. 129-131. CRUZ, Heloísa de Faria (org.). São Paulo em revista: catálogo de publicações da imprensa cultural e de variedades paulistana – 1870-1930. São Paulo: Arquivo do Estado/Cedic, 1997. 280 p. CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida urbana – 1890-1915. São Paulo: Educ; Fapesp; Arquivo do Estado de São Paulo; Imprensa Oficial SP, 2000. DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. DEBRAY, Régis. Le pouvoir intellectuel en France. Paris: Ramsay, 1979. DIAS, Simone. 34 Letras: pós, trans, inter? In: Boletim de pesquisa NELIC. n.3. Santa Catarina, mar.1998. Disponível em: <http://www.cce.ufsc.br/~nelic/Boletim_de_Pesquisa3/index3.htm>. Acesso em: 11 out. 2005. 138 DINES, Alberto. O papel do jornal. São Paulo: Summus Editorial, 1986. ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1976. 391 p. ERBOLATO, Mário L. Técnicas de codificação em jornalismo: redação, captação e edição no jornal diário. Petrópolis, RJ: Vozes, 1984. 213 p. ERBOLATO, Mario L. Jornalismo especializado: emissão de textos no jornalismo impresso. São Paulo: Atlas, 1981. 158 p. FARO, José Salvador. Escritores, política e poder: a república das letras. In: MARQUES DE MELO, José (org.). Ideologia, cultura e comunicação no Brasil. São Bernardo do Campo: IMS, 1982. FARO, José Salvador. Revista Realidade, 1966-1968: tempo da reportagem na imprensa brasileira. Canoas: Ulbra, 1999. 285 p. FARO, José Salvador. Jornalismo cultural: espaço público da produção intelectual [projeto de pesquisa]. Disponível em: <http://www.jsfaro.pro.br>. Acesso em: 10 nov. 2005. FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995. 223 p. FERREIRA, Giovandro Marcus. As origens recentes: os meios de comunicação pelo viés do paradigma da sociedade de massa. In: HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera Veiga (orgs). Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. GENTILLI, Victor. Jornalismo e informação no mundo contemporâneo. In: Anuário Brasileiro da Pesquisa em Jornalismo. São Paulo, n.2 , p.13-19, 1993. GONZALEZ, Horácio. O que são intelectuais. São Paulo: Brasiliense, 1982. 130 p. GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. GRAMSCI, Antonio. Obras escolhidas. Tradução de Manuel Cruz; revisão de Nei da Rocha Cunha. São Paulo: Martins Fontes, 1978. HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. HADDAD, Fernando (org.). Desorganizando o consenso: nove entrevistas com intelectuais dissidentes. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. HALL, Stuart. Notas sobre la desconstrucción del popular. In: SAMUEL, Raphael (ed.). Historia popular y teoria socialista. Barcelona: Grijalbo, 1984, p.78-92. 139 HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. HOBSBAWN, Eric. Ecos da Marselhesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. JACOBY, Russell. Os últimos intelectuais: a cultura americana na era da academia. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Trajetória cultural; Edusp: 1990. 288 p. JACOBY, Russell. O fim da utopia: política e cultura na era da apatia. Tradução de Clovis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2001. 300 p. KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o pós-moderno. Bauru: Edusc, 2001. LAJOLO, Marisa. O que é literatura. 17. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. Coleção Primeiros Passos. LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A leitura rarefeita: livro e literatura no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1991. 180 p. LIMA, Heitor Ferreira. Revista Brasiliense: sua época, seu programa, seus colaboradores, suas campanhas. In: MORAES, Reginaldo. Inteligência brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1986. LINDZEY, Gardner. Handbook of Social Psychology. Massachussets: Addison-Wesley, 1968. LORENZOTTI, Elizabeth. Do artístico ao jornalístico: vida e morte de um suplemento – Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo. 2002. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social), Escola de Comunicação e Artes, São Paulo. LUCA, Tânia Regina de. A revista do Brasil: um diagnóstico para a (n)ação. São Paulo: Unesp, 1999. LUCAS, Fábio. Literatura e comunicação: na era da eletrônica. São Paulo: Cortez, 2001. LUYTEN, Joseph M. A função e a utilidade da folkmídia. Trabalho apresentado no VI Folkcom. Santos, março de 2003. MACHADO DA SILVA, Juremir. A miséria do jornalismo brasileiro: as (in)certezas da mídia. São Paulo: Vozes, 2000. MANDAJI, Mônica dos Santos. “Me dá um dinheiro aí!” – seção Cultura e Patrocínio do jornal O Estado de S. Paulo. 2003. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social), Escola de Comunicação e Artes, São Paulo. 140 MARCONDES FILHO, Ciro. O capital da notícia: Jornalismo como Produção Social da Segunda Natureza. São Paulo: Ática, 1989. MARCONDES FILHO, Ciro. Jornalismo fin-de-siècle. In: Anuário Brasileiro da Pesquisa em Jornalismo. São Paulo, n.2 , p.107-117, 1993. MARQUARDT, Eduard. Código: uma apresentação. In: Boletim de pesquisa NELIC. n.2. Santa Catarina, set.1997. Disponível em: <http://www.cce.ufsc.br/~nelic/Boletim_de_Pesquisa2/index2.htm>. Acesso em: 11 out. 2005. MARQUARDT, Eduard. Opinião 1972-1973: os limites regrados da oposição. In: Boletim de pesquisa NELIC. n.4. Santa Catarina, jul.1999. Disponível em: <http://www.cce.ufsc.br/~nelic/Boletim_de_Pesquisa4/index4.htm>. Acesso em: 11 out. 2005. MARQUES DE MELO, José. (org). Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo. São Paulo: FTD, 1992. 128 p. MARTIN-BARBERO, Jesus. Comunicación, campo cultural y proyecto mediador. In: Revista Diálogos de la Comunicación, n. 26. março de 1990. MARTIN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Tradução de Ronald Polito e Sergio Alcides. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. MARTINS, Ana Luiza. Revistas em revista: imprensa e práticas culturais em tempos de República, São Paulo (1890-1922). São Paulo: Edusp; Fapesp; Imprensa Oficial do Estado, 2001. MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. História das teorias da comunicação. São Paulo: Loyola, 2004. 7ª ed. MEDINA, Cremilda. Profissão jornalista: responsabilidade social. Rio de Janeiro: ForenseUniversitária, 1982. 306 p. MEYER, Marlyse; DIAS, Vera Santos. Página virada, descartada de meu folhetim. In: AVERBUCK, Ligia (org.). Literatura em tempo de cultura de massa. São Paulo: Nobel, 1984, p. 33-53. MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986. MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira (1933-1974). 6.ed. São Paulo: Ática, 1990. NAPOLITANO, Marcos. Cultura brasileira: utopia e massificação (1950-1980). São Paulo: Contexto, 2004. NASCIMENTO, Patricia Ceolin. Jornalismo em revistas no Brasil: um estudo das construções discursivas em veja e manchete. São Paulo: Annablume, 2002. 186 p. 141 NUSSBAUMER. Gisele Marchiori. Para além dos cânones da cultura de massa: o mercado da cultura em tempos (pos) modernos. 1997. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social), Escola de Comunicação e Artes, São Paulo. OLINTO, Heidrun Krieger; SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Literatura e mídia. São Paulo: Loyola, 2002. ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. São Paulo : Editora Brasiliense, 1995. PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. São Paulo: Contexto, 2003. Coleção Comunicação. PORTELA, Eduardo Matos. O intelectual e o poder. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. PRIGOL, Valdir. Notas de jornalismo cultural: um estudo sobre resenhas de livros em seis cadernos semanais de cultura. 1998. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social), Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. REIMÃO, Sandra. Mercado editorial brasileiro 1960-1990. São Paulo: Com-Arte; Fapesp, 1996. RIBEIRO, Lavina Madeira. Comunicação e sociedade: cultura, informação e espaço público. Rio de Janeiro: E-papers, 2004. 348 p. ROSSI, Clóvis. O que é Jornalismo. São Paulo: Brasiliense, 1980. ROUANET, Sérgio Paulo. Mal-estar na modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa: ensaios sobre questões político-culturais. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 200 p. SANTIAGO, Silviano. Crítica literária e jornal na pós-modernidade. In: Revista de Estudos de Literatura, vol. 1. Belo Horizonte, 1993, p. 11-17. SARTRE, Jean-Paul. Em defesa dos intelectuais. Tradução de Sergio Goes de Paula. São Paulo: Ática, 1994. SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto, 2003. Coleção comunicação. SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na primeira república. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 424 p. SILVA, Wilsa Carla Freire. Cultura em pauta: um estudo sobre o jornalismo cultural. 1997. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social), Escola de Comunicação e Artes, São Paulo. SIRINELLI, Jean François. Os intelectuais. In: REMOND, René (org.). Por uma história política. Tradução de Dora Rocha. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. 142 SODRE, Muniz. A revista. In: A comunicação do grotesco: introdução à cultura de massa brasileira. Petrópolis, RJ: Vozes, 1971. SODRE, Muniz. Teoria da literatura de massa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. SODRE, Nelson Werneck. A história da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. STRECKER, Márion. Cadernos Culturais. In: Imprensa ao vivo. Rio de Janeiro: Rocco, 1989, p. 95-102. STRINATI, Dominic. Cultura popular: uma introdução. Tradução de Carlos Szlak. São Paulo: Hedra, 1999. 270 p. SÜSSEKIND, Flora. Papéis colados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993. TAVARES, Conceição. Poder, dinheiro e vida intelectual. In: HADDAD, Fernando (org.). Desorganizando o consenso: nove entrevistas com intelectuais dissidentes. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 427 p. THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis: Vozes, 1998. 6. ed. Tradução de Wagner de Oliveira Brandão; revisão da tradução Leonardo Avritzer. TRAVANCAS, Isabel. O livro no jornal: os suplementos literários dos jornais franceses e brasileiros nos anos 90. Cotia: Ateliê Editorial, 2001. 168 p. VARGAS, Herom. Reflexões sobre o jornalismo cultural contemporâneo. Disponível em: < http://www.jsfaro.pro.br/herom.shtml>. Acesso em: 10 nov. 2005. VENTURA, Zuenir. Cadernos culturais. In: Imprensa ao vivo. Rio de Janeiro: Rocco, 1989, p. 102-108. WARNIER, Jean-Pierre. A mundialização da cultura. Bauru: Edusc, 2003. 184p. 143 ANEXOS 144 ANEXO 1 145 146 147 148 149 ANEXO 2 Seção “A Cult mostra quem são os leitores que, como você, debatem e pensam a cultura” Sérgio Cardoso – professor de Filosofia Política na FFLCH-USP (CULT 74) “CULT é uma revista valiosa. Em geral, nossas revistas de cultura procuram apenas ampliar e sofisticar um pouco o que fazem os “cadernos B” dos grandes jornais, que são pautados pela indústria cultural (editoras, gravadoras, show bizz etc.). Já CULT toma a cultura no seu sentido mais legítimo, no seu teor universalista, e mesmo universitário, produzindo informação qualificada e crítica sem, no entanto, intoxicar-se com os dialetos acadêmicos. A revista tem feito, aliás, uma boa ponte com a academia – com o que ganham o bom jornalismo cultural e também a universidade. Eu gosto muito dos dossiês da revista. Guardo vários. O último número, além do oportuno dossiê Baudelaire, nos brinda com matérias como a resenha de José Luiz Fiorin e a entrevista de José Miguel Wisnik. Acho tudo isso muito interessante! Esta revista ainda vai acabar se chamando Coolt.” Jair Oliveira – músico e compositor (CULT 75) “Eu leio a CULT porque é uma revista acessível para todos. Os temas abordados interessam aos mais variados tipos de pessoas e são fáceis de entender. Tem a seção Radar que considero muito importante, pois, além de dar importância e oportunidade aos novos autores, ela contribui para a difusão da literatura no Brasil. Sou leitor porque a considero uma importante publicação multicultural e também fundamental para o indivíduo que quer estar antenado com o que aconteceu, acontece e acontecerá no mundo cultural.” Washington Olivetto – publicitário (CULT 76) “Normalmente eu faço leitura dinâmica, mas a CULT eu leio devagarzinho.” Chico César – músico (CULT 77) “A longevidade da CULT tem sido uma prova de que é possível permanecer, num mundo em que as novidades passam cada vez mais rápido. A CULT, ainda bem, não é mais novidade. Felizmente, serviu de exemplo para outras publicações do gênero no Brasil. Não está sozinha, mas foi a pioneira e firmou-se com a proposta de encontrar e apontar o fenômeno artístico, independentemente da confusão que se criou entre arte e entretenimento. É por isso que, sempre que posso, leio a CULT.” Tata Amaral – cineasta (CULT 78) “A CULT tem muitas matérias legais, os dossiês são bem interessantes. Gosto deles e da idéia de reunir textos conflitantes ou complementares sobre um mesmo assunto. Além disso, as pautas são muito bem escolhidas. A revista me acompanhou todos esses dias: ora leio um artigo, ora outro, e assim vai...” Graziella Moretto – atriz (CULT 79) “Ler a CULT, além de desobstruir os encanamentos do cérebro, dá a maior moral. Meus colegas de Terça Insana vão morrer de inveja ao ver minha cara de inteligente!” 150 Rui Ohtake – arquiteto (CULT 80) “Leio a revista CULT porque traz uma panorama cultural rico e variado, um gênero de veículo, infelizmente, raro em nosso país. Seus artigos, sempre assinados por importantes pensadores, são interessantes para o aprimoramento de pessoas que precisam deste tipo de alimento para criar e produzir.” Carlos Nascimento – editor-chefe e âncora do Jornal da Band (CULT 81) “CULT é um respiro editorial num momento em que só se vêem revistas de fofocas, frivolidades e sexo de mau gosto. Não deve ser fácil manter uma publicação assim no Brasil e tudo o que desejo é que prossigam. As pessoas podem não saber, mas precisam de uma leitura assim.” Marina Saleme – artista plástica (CULT 82) “CULT tem a forma, o tom, o tamanho e os autores certos. É séria, densa e pontual, além de ser uma revista muito gostosa.” Alice Braga – atriz (CULT 83) “Leio CULT porque nesse mundo com excesso de informações, de overdose de verdades e mentiras que circulam pela Internet, a revista filtra para mim o que há de melhor na área de cultura e me inspira para novas leituras.” Antonio Carlos Secchin – poeta, ensaísta e membro da Academia Brasileira de Letras (CULT 84) “Leio a CULT porque é uma revista aberta para a memória e a invenção. Entrevistas e dossiês bem elaborados fornecem muita matéria para discussão com meus alunos na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro.” Letícia Malard – crítica literária, professora da UFMG (CULT 85) “Leio e amo a CULT porque é uma publicação completa, Medalha de Ouro nas mais diversas modalidades culturais.” Rodrigo Matheus – artista plástico (CULT 86) “A CULT apresenta ao leitor temas pertinentes abordados por grandes autores de nossa cena cultural.” Júlio Medaglia – maestro (CULT 87) “Assuntos oportunos. Abordagens competentes. Leitura agradável. Quer mais?” Cristiano Mascaro – fotógrafo (CULT 88) “Fotografia, música, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, filosofia, não necessariamente nesta ordem. Tudo isto é CULT.” Guto Lacaz – artista plástico (CULT 89) “Queria ilustrar na CULT, pois, como dizia a Alice no país das maravilhas: de que serve um livro se não possui figuras?” 151 Matheus Nachtergaele – ator (CULT 90) “Se é verdade que a cultura (mais ainda que a educação) é o caminho para a liberdade, CULT é um passe para o vôo livre...” Luciana Mello – cantora (CULT 91) “A revista CULT é um incentivo. Não deixa morrer a história e muito menos a cultura.” Zé Celso – diretor e dramaturgo (CULT 92) “A cultura é o cultivo de todo movimento erótico da natureza. Cultura é o poder.” Sérgio Bianchi – cineasta (CULT 93) “A cultura é o complexo dos padrões de comparação das crenças, das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais etc. transmitido coletivamente pela sociedade e pela revista CULT.” 152 ANEXO 3 Quadro de anunciantes de Cult EDIÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - ANUNCIANTE Governo do Estado de S.Paulo Companhia das Letras Banking Bandeirantes Novartis Livraria Cultura Banking Bandeirantes Novartis Las Américas Editora Livraria Cultura Banking Bandeirantes Novartis Las Américas Editora Livraria Cultura Banking Bandeirantes Mônica Filgueiras Galeria de Arte AACD Novartis Petrobrás Mônica Filgueiras Galeria de Arte Novartis Petrobrás Whitehall Livraria Cultura Petrobrás Livraria Cultura Janssen- Cilag Só Frio Apple Livraria Cultura SOS Mata Atlântica GM Apple Livraria Cultura Estadão GM Apple Livraria Cultura Cesp Embratel Estadão Apple Livraria Cultura Estadão Farmalab Apple Livraria Cultura Estadão Farmalab Banco do Brasil Livraria Cultura Estadão Lage Magy Apple Petrobrás Livraria Cultura Unibanco Apple Petrobrás Livraria Cultura - LOCALIZAÇÃO Segunda pág. Penúltima página Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 5 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 5 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 9 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág.32 e 33 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 46 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Págs. 32 e 33 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 13 Págs. 32 e 33 Págs. 42 e 43 Penúltima pág. Segunda pág. Págs. 32 e 33 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Págs. 32 e 33 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Págs. 24 e 25 Págs. 32 e 33 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Págs. 32 e 33 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. - TAMANHO Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira ¼ pág. Pág. inteira Pág. inteira Página inteira ¼ pág. Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. Inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 153 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - IFEMA Estadão Apple Chivas Livraria Cultura Apple IFEMA Chivas Livraria Cultura Petrobrás Chivas Livraria Cultura IFEMA Petrobrás Chivas Livraria Cultura Petrobrás Chivas Livraria Cultura Greenpeace Center Norte Petrobrás Chivas Livraria Cultura Petrobrás Chivas Livraria Cultura Petrobrás Chivas Livraria Cultura Petrobrás Chivas Livraria Cultura Banco BBA ZAZ Finn Mackenzie AACD Petrobrás Chivas Livraria Cultura Ventura Teleton Banco BBA Mackenzie ZAZ Itaú Cultural Finn Mandic.com Petrobrás Chivas Livraria Cultura Mackenzie Mandic.com ZAZ Projeto Tom da Mata Itaú Cultural Petrobrás Chivas Livraria Cultura Furnas Petrobrás Livraria Cultura Furnas Petrobrás Livraria Cultura - Pág. 20 Págs. 32 e 33 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 36 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 28 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Págs. 30 e 31 Págs. 34 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Págs. 14 e 15 Págs. 36 e 37 Pág. 51 Pág. 52 Pág. 58 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 15 Pág. 16 Págs. 26 e 27 Pág. 33 Págs. 36 e 37 Pág. 47 Pág. 57 Pág. 58 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 23 Pág. 24 Págs. 38 e 39 Pág. 49 Pág. 50 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. - Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. dupla Pág. inteira Pág. Inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. Inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 154 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 - Furnas Petrobrás Livraria Cultura Furnas Apple Livraria Cultura Furnas Apple Livraria Cultura Ventura Furnas Apple Livraria Cultura Furnas Apple Furnas Apple Expo Livro Furnas Apple Transparência Brasil I Salão do Livro Feira Livro de Brasília IV Feira do Livro da Bahia Apple Editora Hedra Furnas Apple Revista de Cinema Editora Hedra Editora Esfera Apple Revista de Cinema Capitu.com Apple Revista de Cinema Capitu.com Apple Revista de Cinema Capitu.com Apple Revista de Cinema Capitu.com Petrobrás Revista de Cinema Grupo Promofair Capitu.com MAM Revista de Cinema Capitu.com MAM Minerthal B. do Brasil Senac MAM Petrobrás Ed. Esfera MAM Revista de Cinema Ventura MAM Capitu.com Universidade São Marcos II Feira do Livro de Minas Gerais MAM Caesar Park - Penúltima pág. Contracapa Seg. página Penúltima pág. Contracapa Seg. página Penúltima pág. Contracapa Seg. página. Pág. 36 penúltima pág. contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Penúltima pág. Contracapa Pág. 22 Penúltima pág. Contracapa Págs. 18/19 Pág. 24 Pág. 44 Penúltima pág. Contracapa Pág. 24 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 13 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Pág. 42 Penúltima pág. contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 41 Penúltima pág. Contracapa Segunda Pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Págs. 22/23 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 41 Contracapa Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág.25 Pág. 28 penúltima pág. Contracapa - Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 155 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 - V Feira Pan-Amazônica do Livro Movimento o Brasil é Mais Caesar Park Capitu.com MAM Min. da Cultura Ventura Black Ice Petrobrás B. do Brasil Anedota Búlgara Revista Pinacoteca Feira do Livro da Bahia Locadora 2001 Credicard UOL MAM MAM UOL Ventura Capitu.com Capitu.com Ventura MAM Capitu.com Furnas Ventura MAM Capitu.com Furnas Ventura MAM Mitsubishi KPMG Senac SP Universidade São Marcos São Pedro Spa MAM Furnas Senac SP Roche Mitsubishi KPMG Senac SP Senac SP São Pedro Spa MAM Roche Fnac Universidade São Marcos Ramblas do Brasil MAM Roche Livraria Cultura LPM Pocket Banco BBA Fenac Idec Saraiva Roche Gov. Estado SP Rádio Eldorado Fnac B. do Brasil Osesp Livraria Cultura MAM - Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág Pág. 17 Pág. 24 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 18 Pág. 23 Pág. 25 Pág. 27 Pág. 28 Pág. 37 Págs. 42/43 Penúltima pág. Segunda pág. Págs. 18/19 Pág. 23 Penúltima pág. Segunda pág. Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Págs. 20 a 23 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Págs. 20 a 23 Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Pág. 7 Pág. 15 Pág. 25 Pág. 35 Pág. 36 Págs. 46 a 49 Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Pág. 7 Pág. 17 Pág. 21 Pág. 23 Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Pág. 19 Pág. 33 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 15 Pág. 24 Pág. 29 Pág. 35 Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Pág. 7 Pág. 21 Págs. 34/35 Pág. 39 Pág. 40 Penúltima pág. - Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. Inteira Pág. inteira Pág. Inteira Duas duplas Pág. inteira Pág. inteira Pág. Inteira Duas duplas Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. Inteira Duas duplas Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira 1/3 Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 156 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 - Roche Rádio Eldorado LPM Pocket Universidade São Marcos Greenpeace AOL Osesp Livraria Cultura Saraiva Roche MAM Osesp Greenpeace Fnac Universidade São Marco Saraiva Capitu.com Sec. da Cultura Capitu.com Fnac MAM Saraiva Veuve Clicquot Capitu.com Saraiva McDonald’s Fnac Osesp MAM Fapesp Editora 34 Editora Record Ventura Gov. Estado SP MAM Guerreiros de Xi’an Ibirapuera Fapesp Ventura Osesp Fome Zero Editora 34 Rádio Eldorado Fapesp Ed. Record Osesp Rádio Eldorado MAM Editora 34 Fapesp Fnac Ed. Record Ventura Paulus Editora Casa Cor Osesp Fome Zero Estação USP Editora Record Fapesp Osesp Casa das Caldeiras Fnac Ventura PucCamp Min. Da Saúde Greenpeace MAM - Contracapa Segunda pág. Pág. 7 Pág. 16 Pág. 30 Pág. 32 Pág. 39 Pág. 40 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 7 Pág. 14 Pág. 31 Pág. 33 Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Pág. 27 Pág. 38 Pág. 56 Penúltima pág Contracapa Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Pág. 17 Penúltima pág. Contracapa Pág. 7 Pág. 13 Pág. 19 Pág. 40 Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Pág. 32 Pág. 44 Contracapa Segunda e 3 Pág. 7 Pág. 17 Pág. 23 Pág. 29 Pág. 31 Penúltima pág. Contracapa Pág. 13 Pág. 19 Pág. 25 Pág. 29 Pág. 36 Pág. 45 Penúltima pág Contracapa Seg. e 3 Pág. 13 Pág. 17 Pág. 32 Pág. 40 Pág. 61 Pág. 63 Pág. 64 Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Pág. 26 - Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira ½ Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 1/2 Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira ½ Pág. inteira 1/3 1/3 Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira 1/3 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira 157 73 74 75 76 77 78 79 80 - Ventura Fnac Osesp Ed. 34 Editora Record Paulus Editora Min. Da Saúde Museu Brasileiro de Escultura Marilisa Rahtsam Fisesp Ventura Fnac Paulus Editora Record Editora MAM Osesp MUBE MAB FAAP Senac Rio Min. Da Saúde Paulus Editora Ed. Record TV Cultura Zouk Editora Fnac MUBE CPFL Min. Cultura ANER Zouk Editora Chandon Ed. Record Min. Cultura CPFL Petrobrás MAM Ed. Record MUBE Zouk Editora Osesp Senac Rio Rádio Eldorado Senac Rio Editora Record Rádio Eldorado MAM Rádio Eldorado Senac Rio Uol Aliança Francesa Editora Record Rádio Eldorado Picasso na Oca Senac Rio Osesp Aliança Francesa Editora Record MAM Uol Rádio Eldorado Senac Rio Osesp Paulus Editora Ed. Record Aliança Francesa Uol Fórum Cultural Mundial - Pág. 31 Pág. 30 Pág. 34 Pág. 40 Pág. 47 Pág. 59 Penúltima pág. Contracapa - Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira - Segunda e 3 Pág. 26 Pág. 31 Pág. 51 Pág. 55 Pág. 58 Pág. 64 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 5 Pág. 13 Pág. 17 Pág. 18 Pág. 29 Pág. 31 Pág. 41 Penúltima pág Contracapa Segunda e 3 Pág. 19 Págs. 20 e 21 Pág. 23 Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Pág. 16 Pág. 19 Pág. 21 Pág. 23 Págs. 42 e 43 Págs. 66 e 67 Contracapa Segunda pág. Pág. 27 Pág. 33 Penúltima pág. Contracapa Segunda Pág. 5 Pág. 15 Pág. 19 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 5 Pág. 12 Pág. 29 Pág. 58 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 5 Pág. 17 Pág. 29 Pág. 42 Penúltima pág. Contracapa - Pág. dupla Pág. inteira 1/3 1/3 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 1/3 Pág. inteira 1/3 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla 1/3 Pág. dupla 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira 1/3 Pág. inteira 1/3 Pág. dupla Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 158 81 82 83 84 85 86 87 88 89 - Rádio Eldorado Osesp MAM Editora Record Fapesp MUBE Senac Rio CPFL Uol Osesp Senac Rio Aliança Francesa Editora Record Itaú Cultural Santos Cultural Senac Rio Osesp Editora Record Aliança Francesa MAM ANER CPFL Uol Rádio Nacional W11 Editores Ed. Record Aliança Francesa Revista Viver Casa Cor Senac Rio CPFL Guaraná Antártica Libre Senac Rio Aliança Francesa Editora Record Rádio Eldorado Rádio Eldorado Osesp Rádio Eldorado Viver Uol CPFL Portugal Telecom Senac Rio MAM Uol Osesp Ed. Record Portugal Telecom Trama Oca CPFL Uol Osesp Aliança Francesa Editora Record Trama Senac Rio Petrobrás MAM Editora Record Aliança Francesa CPFL MAM Editora Record Aliança Francesa - Segunda e 3 Pág. 17 Pág. 27 Pág. 29 Pág. 35 Pág. 39 Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Pág. 12 Pág. 17 Pág. 26 Pág. 31 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 5 Pág. 23 Pág. 32 Pág. 39 Penúltima pág. Contracapa Segunda e 3 Págs. 7 e 9 Pág. 17 Pág. 25 Pág. 26 Págs. 32 e 33 Pág. 41 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 13 Pág. 15 Pág. 19 Pág. 21 Pág. 23 Pág. 25 Pág. 26 e 27 Pág. 29 Pág. 30 Págs. 42 e 43 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 7 Pág. 21 Pág. 25 Pág. 27 Págs. 36 e 37 Pág. 39 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 5 Pág. 14 Pág. 23 Pág. 41 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 25 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 21 Penúltima pág. - Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. dupla Pág. dupla 1/2 1/3 Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 1/3 1/3 Pág. dupla 1/3 Pág. inteira Pág. dupla Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. dupla 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira 159 90 91 92 93 - Banco do Brasil MAM Editora Record Aliança Francesa Scientific American Banco do Brasil Ed. Vera Cruz MAM Osesp Editora Record Rádio Eldorado CPFL Ed. Vera Cruz Paulus Editora Editora Record Trama Osesp CPFL CPFL Editora Record Editora Paulus Rádio Eldorado Itaú Cultural - Contracapa Segunda pág. Pág. 21 Pág. 36 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 7 Pág. 12 Pág. 31 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 29 Pág. 31 Pág. 43 Penúltima pág. Contracapa Segunda pág. Pág. 29 Pág. 39 Penúltima pág. Contracapa - Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 1/3 1/3 Pág. inteira Pág. inteira Pág. inteira 1/3 1/3 Pág. inteira Pág. inteira * Papel couché integrante da montagem da capa – Segunda página, Penúltima página e contracapa 160 ANEXO 4 Quadro de colaboradores nº x Profissão Título Publicação/ Editora Instituição Área Outros 27 1 professor doutor Litoral Edições, Relógio d'Água Universidade de Nova Lisboa Literatura diretor da revista portuguesa Colóquio-Letras Ademir Assunção 23, 24, 33, 37, 40, 41 6 jornalista, escritor Adma Muhana 1, 10, 72 3 professora Adolfo Montejo Navas 19, 28, 36, 40, 41, 42, 46, 51, 66 9 jornalista, crítico e tradutor Adrián Cangi 45 1 crítico literário Colaboradores Edição Abel Barros Baptista doutora Iluminuras, Ateliê Editorial Ed.Unesp/Funda ção Cultural do Estado da Bahia, Ed. Unesp/Fapesp, Edusp/Fapesp Árdora (Madri), Ateliê Editorial, Ed. DVD (Barcelona), Ed. Hiperión (Madri) Diversas Jornalismo Unicamp Literatura Letras Literatura USP, Universidad Autónoma de México e Iberoamericana Adrián Gurza Lavalle 20 1 professor Adriana Lisboa 87 1 escritora doutor Topbooks UFC, UFRJ Literatura doutor Globo USP, Folha de S. Paulo Literatura, Jornalismo editor-adjunto do caderno Mais! colaborador da revista Número doutorando Rocco Sociologia Letras Adriano Espínola 41, 49 2 poeta, professor Adriano Schwartz 17, 27, 90 3 jornalista Afonso Luz 88 1 crítico de arte Artes Plásticas Alberto Azcárate 28 1 roteirista e escritor argentino Letras Alcides Villaça 62 1 professor Alcino Leite Neto 74 1 doutor USP jornalista Folha de S. Paulo Jornalismo Universidade de Yale, Berkeley College (EUA) Editoração Aldo Tagliaferri 9 1 editor italiano Aldo Villani 21, 35, 44, 45, 50, 56, 69 7 jornalista Diversas 41 1 pesquisador mestrando Alessandra El Far Alessandra Simões 79 1 professora doutora 60 1 jornalista 1 estudante americano Columbia University (Nova York) jornalista Universidade de Paris III (Sorbonne Nouvelle) Alexandre Agabiti Fernandez 56 82 1 editor de domingo da Folha e da revista eletrônica Trópico Jornalismo Aleixo S. Guedes Alex Cussen Literatura FGV USP Literatura USP Antropologia Jornalismo doutor nasceu em 1976, filho de pais chilenos, e cresceu na Califórnia Cinema 161 Alexandre de Oliveira Carrasco 35 1 pesquisador Alexandre Pavan 55 1 jornalista 45 1 professora doutora USP Literatura 33 1 pesquisadora doutoranda USP Literatura 48 1 professora doutora UFSC Literatura 90 1 Pesquisadora mestre Unesp Literatura 15, 43 2 professora pós-graduação doutora USP ArteEducação 93 1 professora doutora USP Sociologia 24, 43 2 pesquisadora doutoranda USP Literatura Ana Cecilia Olmos Ana Helena Souza Ana Luiza Andrade Ana Luiza Sanchez Cerqueira Ana Mae Barbosa Ana Paula Cavalcanti Simioni Ana Paula Pacheco Ana Paula Soares doutorando 28 1 jornalista 34, 44 2 professor doutor Andrea Lombardi 9, 23 2 professor doutor Hucitec, Unoesc/Chapecó Perspectiva, Cortez, C/Arte História Jornalismo, Música Ed. Invenção André Duarte Andrea Saad Hossne USP colunista de música da revista Educação Jornalismo 63 1 professora doutora Angel Bojadsen Antonio Arnoni Prado Antonio Carlos Olivieri 28 1 escritor 25, 58 2 professor 19 1 jornalista e escritor Antonio Dimas 24, 32 2 professor doutor Antônio Henrique C. Martins 75 1 professor doutor Antonio Maura 46 1 escritor, crítico e tradutor doutor Antonio Risério 1 1 poeta, antropólogo Antônio Sérgio Bueno 70 1 professor aposentado Armindo Trevisan 27 1 escritor e ensaísta doutor doutor Paz e Terra Ateliê Editorial Diversas Companhia das Letras UFPR Filosofia USP Literatura USP Literatura integrante da comissão editorial da revista Rodapé (Nankin) Letras Unicamp Literatura Jornalismo Diversas USP Universidade Federal de Juiz de Fora, Pontifícia Universidade Lateranense de Roma Universidade de Madri Fundação Casa de Jorge Amado, Perspectiva doutor Ed. UFMG Literatura Teologia Literatura Antropologia, Letras UFMG Uniprom Literatura Letras Artur Matuck 52 1 escritor, artista plástico, professor Aurora F. Bernardini 2, 9, 13, 20, 24, 31, 46, 49, 59, 79, 89 11 professora doutora Benedito Nunes 26 1 professor doutor Benjamin Ivry 56 1 escritor Absolute Press, Welcome Rain, Phaidon Letras Bernardo Carvalho 28 1 escritor Diversas Letras USP Comunicação Edusp USP Literatura Diversas UFPA Filosofia membro do Laboratório do Manuscrito Literário (FFLCH-USP) lecionou em Universidades da França e EUA 162 Bernardo Vorobow 49 1 curador de cinema e programador cultural Berta Waldman 53 1 professora Cinema doutora Boris Schnaiderman 20, 59 2 professor, tradutor e ensaísta Bruno Fischli 39 1 diretor do GoetheInstituto São Paulo Bruno Garcez 25 1 jornalista Bruno Zeni 31, 36, 38, 43, 47, 50, 54 7 jornalista, escritor Camila Viegas 2, 5, 32 3 jornalista, bacharel em artes plásticas Camilo Fernández 46 Valdehorras 1 professor, escritor, poeta, dramaturgo e ensaísta Carlito Azevedo 26, 33 2 poeta Carlos Adriano 12, 17, 21, 25, 31, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 49 12 cineasta e pesquisador de cinema mestre Carlos Alberto Dória 92 1 sociólogo, escritor doutorando Carlos Eduardo Ortolan Miranda 62, 63, 66, 69, 71, 72, 74, 85, 88, 91 10 pesquisador mestrando doutor mestrando Perspectiva, Livraria Duas Cidades, Companhia das Letras Ateliê Editorial doutor USP Literatura USP Literatura russa Folha de S. Paulo, Agora São Paulo Jornalismo USP Jornalismo, Literatura trabalhou no Mais! O Estado de S. Paulo Jornalismo, Artes plásticas repórter do Caderno2 Universidade de Barcelona Filologia Imago, Lynx, Sette Letras Os federais da cultura (2003) Letras USP Cinema Unicamp Sociologia USP Filosofia Massao Ohno, Nankin Editorial, Almedina (Coimbra), Companhia das Letras, Palas Atena Mandarim Carlos Felipe Moisés 52 1 poeta, crítico literário, tradutor Carlos Hee 66 1 escritor mestre USP, Unicid Filosofia doutora PUC-Campinas Teologia Diversas USP Literatura Literatura, Jornalismo Literatura Letras Cauê Alves 84, 87 2 professor, crítico de arte e curador Ceci Baptista Mariani 64 1 Teóloga, professora Cecília de Lara 47 1 professora Cesar Garcia Lima 62 1 jornalista e escritor mestrando Nankin UFRJ Charles Bernstein 17 1 poeta e professor doutor Sun & Moon Press Charles Cosac 82 1 editor, empresário mestre Universidade de Nova york Universidade de Essex (Inglaterra) Cilaine Alves Cunha 45, 61 2 professora doutora Claude-Gilbert Dubois 36 1 professor emérito pós-doutor Edusp criador do curso de língua e literatura russa da USP pesquisadora do IEB-USP Literatura História USP Literatura Universidade Michel de Montaigne História fundador da Ed. Cosac & Naify fundador e diretor honorário do Centro 163 (Bordeaux 3) Claudia Amigo Pino 52 1 pesquisadora Claudia Cavalcanti 3, 6, 7, 9, 13, 19, 23, 25, 28, 29, 32, 37, 38, 39, 47, 50, 51 17 tradutora e crítica literária Claudia Monteiro de Castro 52 1 jornalista Cláudia Nina 6, 8, 10, 31, 40 5 jornalista 26 1 poeta 39 1 pesquisadora doutora Claudio Antunes Boucinha 71 1 professor mestre Cláudio Garon 78 1 diplomata Cláudio Renato 58 1 jornalista Claudio Willer 11, 49, 50, 51, 54, 76 6 poeta, ensaísta e tradutor Clayton Melo Cleusa Rios P. Passos 61 1 jornalista 43 1 professora Cody Carr 83 1 filósofo Contador Borges 17, 28, 30, 50 4 poeta, ensaísta, tradutor Cristiano Santiago 43, 47, 48 Ramos 3 jornalista Cristóvão Tezza 2, 10, 20, 21, 25, 45, 54, 55, 59, 68 10 professor e escritor Daniel Augusto 67 1 Cineasta Daniel Piza 60, 77, 93 3 jornalista Daniel Sampaio Augusto 92 1 diretor de cinema Daniela Elyseu Rhinow 41 1 Darci Kusano 80 1 Claudia RoquettePinto Claudia Valladão de Mattos doutoranda Estação Liberdade, Ática Montaigne de Bordeaux USP Literatura Universidade de Leipzig Literatura membro do Laboratório do Manuscrito Literário (FFLCH-USP) Jornalismo Universidade de Utrecht doutoranda Salamandra, Sette Letras Perspectiva Literatura Letras Universidade de Berlim UERGS TV Globo Editora Lamparina, Massao Ohno, Iluminuras História da Arte diretor do Arquivo Público Municipal de Bagé (RS) oficial-degabinete no Relações Cerimonial da Internacionais Presidência da República (Brasília) trabalhou na Tribuna da Imprensa, O Jornalismo Globo, O Estado de S. Paulo e Gazeta Mercantil História Letras Jornalismo doutora Hucitec/Fapesp USP Literatura Oklahoma Filosofia State University Iluminuras Letras Jornalismo doutorando Rocco, Record USP, UFPR Lingüística Cinema dirigiu a série de documentários Mapas Urbanos O Estado de S. Paulo Jornalismo editor-executivo e colunista mestrando USP Literatura dirigiu a série de documentários Mapas Urbanos pesquisadora mestranda USP Letras, Artes Cênicas professora pós-doutor USP Teatro Contexto Perspectiva, Brasiliense 164 Davi Arigucci Jr. 22 1 David Castillo 46 1 Demétrio Magnoli Diana Araújo Pereira 33 ensaísta e professor doutor 1 poeta, narrador e crítico geógrafo doutor 66 1 pesquisadora mestre 41, 45, 51, 54, 69 5 jornalista, escritor e roteirista 43, 48 2 jornalista 72 1 estudante doutoranda 47, 50, 51, 55 4 antropólogo, professor doutor Dom Mauro de Souza Fernandes 75 1 professor, monge beneditino mestre Domingos Zamagna 64 1 jornalista e professor Diógenes Moura Diogo Monteiro Dirce Waltrick do Amarante Djalma Cavalcante Donizete Galvão 22, 26 2 poeta Douglas Diegues 47 1 jornalista E. M. de Melo e Castro 4, 25 2 professor, escritor e ensaísta português Eduardo Maretti 12, 47, 50, 57 4 jornalista e escritor Eduardo Rinesi 74 1 professor Companhia das Letras, Livraria Duas Cidades USP Anagrama Diversas Editora Fundação Casa de Jorge Amado Literatura Literatura USP Geografia UFRJ Literatura Pinacoteca do Estado de SP Jornalismo vencedor do Prêmio Carles Riba é curador de fotografia da Pinacoteca Jornalismo Diversas UFSC Letras Universidade de Roma Antropologia PUC-Campinas Teologia UNIFAI Filosofia T. A. Queiroz, Água Viva, Arte Pau-Brasil, Nankin Editorial doutor Tertúlia, Musa Letras Folha do Povo (MS) Jornalismo USP Literatura introdutor da poesia concreta em Portugal Jornalismo doutor Colihue (Buenos Aires) Eduardo Simantob 78, 90, 93 3 jornalista Eduardo Subirats 61 1 filósofo espanhol, professor Studio Nobel Edwin Torres 56 1 poeta novaiorquino Subpress, RoofBooks Elaine Bittencourt 59 1 jornalista USP, Universidade de Buenos Aires, Universidades Nacionais de General Sarmiento e da Patagônia Filosofia Jornalismo New York University Filosofia Letras Jornalismo Imago, Iluminuras/Fapes p, Educ New Directions, Marsilio Eliane Robert Moraes 30, 50, 81 3 crítica literária e professora Eliot Weinberger 8 1 ensaísta e tradutor Elisa Andrade Buzzo 86 1 jornalista, escritora Eloá Heise 3 1 professora Emmanuel Tugny 32, 34, 35, 40, 41, 42 6 romancista francês La Part Commune Letras Eric Nepomuceno 69 1 escritor Diversas Letras Ernani Chaves 37 1 professor doutora PUC-SP Letras 7 Letras doutora doutor Literatura Jornalismo USP UFPA Literatura Filosofia correspondente na Suíça da revista Primeira Leitura 165 Eudinyr Fraga Eugênio Bucci Evaldo Schleder 41 28 54 1 professor doutor Perspectiva, Art & Tec, Ateliê Editorial USP Teatro 1 jornalista e crítico de TV 1 poeta, jornalista, redator de publicidade e cronista Correio de Notícias, O Estado do Jornalismo Paraná, Gazeta do Povo, Pasquim etc. professor Literatura Letras Boitempo Editora Abril doutor Editora UFF, Zahar, 7 Letras Universidade Federal de Juiz de Fora doutoranda Diversas Universidade de Mainz Jornalismo Evando Nascimento 51, 83 2 Fabiana Macchi 42 1 Fabiano Calixto 47, 32 2 Fabiano Curi 84, 88 2 Fábio Coltro 86 1 Pesquisadora Fabio Herrmann 77 1 médico, psicanalista Ed. Graal, Ed. Artmed Psicanálise Fábio Lucas 1, 7, 23, 29 4 crítico literário Ed. UFMG, Ícone, Ática Letras Fabio Weintraub 10, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 38, 39, 42, 46, 50, 52, 53, 62 15 editor, poeta Nankin/Funalfa, Arte Pau-Brasil, Massao Ohno Editoração, Letras 1 jornalista 1 escritor Fernanda 91 Dannemann Fernando Bonassi 32 tradutora, professora poeta e ensaísta jornalista e professor Fernando Jorge 1 1 escritor e jornalista Fernando Marques 41, 43, 50, 69, 75, 79 6 jornalista, professor Edições Alpharrabio Jornalismo mestrando Cefil UEL (Londrina) Bioética membro da Academia Paulista de Letras Jornalismo doutorando Diversas Geração Editorial, T. A. Queiroz Varanda, Perspectiva Letras Jornalismo UniCEUB, UNB Jornalismo, Literatura Jornalismo correspondente da Lapiz (revista de arte espanhola) Literatura editor da Ática 78 1 jornalista Fernando Paixão 11,22 2 poeta, escritor Ferreira Gullar 26, 37 2 poeta Filipe Albuquerque 91 1 jornalista Jornalismo Finisia Fideli 6 1 escritora Literatura Flávia Fontes 58 1 jornalista especialista 2 jornalista, poeta, tradutora e editora mestranda 56, 77 presidente da Comissão do Colóquio internacional Jacques Derrida 2004 Letras Fernando Oliva Flávia Rocha diretor de redação da revista Quatro Rodas, secretário editorial da editora Brasiliense, Iluminuras, Ática Civilização Brasileira, José Olympio Ed. Ática Letras Jornalismo Rattapallax Press Columbia University (Nova York) Jornalismo, Literatura, Editoração colaboradora da extinta revista Escrita participa de um grupo de estudos em dança editora de poesia da revista norteamericana Rattapallax (distribuída no Brasil pela 166 Editora 34) Flávio Aguiar 78 1 professor Flávio Loureiro Chaves 86 1 professor Flavio Moura 75, 88 2 jornalista e professor Francisco Alambert 61 1 professor Francisco Alvim 26 1 poeta doutor Diversas USP Literatura Ed. UFRGS USP Letras Faculdades de Campinas Jornalismo USP, UNESP História doutor Gráfica Olímpica Editora, Livraria Duas Cidades Letras UFRJ Literatura é co-autor do projeto literomusical Malabaristas do Sinal Vermelho (Sony Music) Revista USP Jornalismo editor da revista USP Filosofia Francisco Bosco 73 1 escritor, letrista doutorando e ensaísta Francisco Costa 6, 12, 23, 30, 43 5 jornalista Francisco Maciel 87 1 escritor Franklin Leopoldo e Silva 34, 64, 79, 87, 91 5 professor Frédéric Pagès 26 1 jornalista e escritor Frederico Barbosa 26,29,42,5 6 4 poeta, professor Iluminuras, Perspectiva George Steiner 2 1 ensaísta francês Diversas Geraldo Galvão Ferraz 71,9 2 jornalista, crítico literário 25 1 professor doutor 37 1 professor doutor 40 1 escritor 5,11,14,28 ,30 5 pesquisador doutorando USP Literatura 54,66 2 professor doutor UFC, PUC-SP Comunicação Giovanna Bartucci 77,80,86,8 9,92 5 Psicanalista e ensaísta doutora Instituto Sedes Sapientiae Psicanálise Graziela Beting 86,87,89 3 jornalista Jornalismo Graziela R. S. Costa Pinto 5,7 2 psicóloga Psicologia Gerd Bornheim Gerhard Schweppenhäuse r Gilberto de Mello Kujawski Gilberto Figueiredo Martins Gilmar de Carvalho Francisco Alves vencedor do prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro de 2000 coordenador do programa de pós da Universidade de Caxias do Sul, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Santa Maria editor da revista Novos Estudos (Cebrap) Estação Liberdade doutor Loyola, Moderna Jornalismo Colégio Logos, Anglo Vestibulares Letras Letras Jornalismo Diversas UFRJ, UERJ Universidade de Weimar (Alemanha) Filosofia Filosofia Letras Imago, Planeta membro do Departamento de Psicanálise do instituto formação em psicanálise lacaniana 167 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas da Argentina (CONICET) antropólogo e pesquisador Antropologia Gustavo Sorá 48 1 Haroldo Ceravolo Sereza 81,93 2 Haroldo de Campos 31 1 Heitor Ferraz 1,2,3,4,7,8 ,9,10,11,1 6,21,25,26 ,33,36,42, 53,62,69,7 0,73 21 jornalista, poeta e editor mestre Ateliê Editorial, 7 Letras USP Jornalismo, Literatura, Editoração Heloisa Buarque de Hollanda 68 1 Ensaísta, crítica literária e professora doutora Ed. Aeroplano UFRJ Literatura Heloisa Godoy 15 1 estudante de Jornalismo UFMS Jornalismo Helton Adverse 74 1 professor UFMG, Unicentro Newton Paiva Filosofia jornalista e crítico literário poeta, ensaísta e tradutor Jornalismo, Literatura Diversas doutorando Letras membro do Centro de Estudos em Filosofia Americana (Cefa) Heraldo Aparecido Silva 83 1 Pesquisador Herberto Helder 27 1 poeta português Hermenegildo José Bastos 42 1 professor doutor EdUnB, 7 Letras UNB Literatura Horácio Costa 17,42 2 poeta, professor tradutor e crítico literário doutor Diversas Universidad Nacional Autónoma de México Literatura Brasiliense, Altamira, especialista Paradiso, Atuel, Colihue Universidade de Buenos Aires, Universidade Rosario Jornalismo, Literatura, Filosofia editor da revista cultural El ojo mocho USP Jornalismo, Literatura vencedor do Prêmio Nestlé (1988) USP Antropologia USP Letras doutorando UFSCar Diversas Horacio González 33,45 2 professor, jornalista, ensaísta Hugo Almeida 48,52 2 escritor e jornalista doutorando Ilana Seltzer Goldstein 50,76 2 pesquisadora mestre Irlemar Chiampi 10 1 professora doutora Ismail Xavier 41 1 ensaísta e professor doutor Ivan Marques 28,30,39,4 5,52,62 6 jornalista doutorando Ivan Teixeira 4,8,11,12, 13,14,15,1 6,30 9 professor Ivana Bentes 67 1 professora Ivo Barroso 39 1 poeta, tradutor, ensaísta Ed. Lê Editora Senac, Editora Escolas Associadas Diversas Brasiliense, Imago Filosofia Letras USP Cinema USP Literatura doutor Martins Fontes, Edusp, Ateliê Editorial USP Literatura doutora Companhia das Letras UFRJ Comunicação Topbooks Letras especialista em Nelson Rodrigues, publicou em outras revistas culturais co-autor do material didático do curso Anglo Vestibulares (SP) 168 1 professor doutor Cultrix USP, FGV-SP Lingüística, Comunicação doutor Perspectiva, Ateliê Editorial USP Teatro Izidoro Blikstein 22 J. Guinsburg 5,7,13,14, 16,26,32,4 2,80 9 J. L. Mora Fuentes 12 1 Jacques Leenhardt 24,45 2 filósofo, sociólogo doutor Perspectiva École des Hautes Études em Sciences Sociales Filosofia, Sociologia diretor de estudos da instituição citada Jaime Ginzburg 85 1 professor, pesquisador CNPq doutor Diversas USP Literatura coordenador do projeto Literatura e autoritarismo (CNPq) professor, escritor, ensaísta, editor, crítico literário escritor e jornalista Jornalismo, Literatura Quiron, Moderna Jair Stangler 81,89 2 jornalista Jornalismo Jairo Lavia 77,82 2 jornalista Jornalismo Janaina Rocha 80,81,82 3 jornalista Jayme Alberto Pinto Jr. 4,8,10,11, 17,56 6 geofísico, tradutor, estudante Jeanne Marie Gagnebin 23,72,92 3 professora doutora Jean-Paul Rebaud 74 1 adido cultural mestre Jean-Pierre Verheggen 32 1 escritor Jefferson Teixeira 80 1 tradutor doutor Jeremias Moranu 6 1 crítico literário especialista Jerusa Pires Ferreira 20 1 professora Jo Takahashi 80 1 diretor de projetos culturais da Fundação Japão Joaci Pereira Furtado 10,35 3 pesquisador Joana Monteleone 85 1 historiadora e jornalista Fundação Perseu Abramo, Senac PUC-SP, Unicamp Universidade de Sorbonne, Consulado Geral da França em São Paulo Filosofia, Literatura Objetiva Letras Letras Universidade de Tokyo Letras Ficção científica doutora USP, PUC-SP Comunicação fundou e dirige o Núcleo de Poéticas da Oralidade na PUC-SP doutorando Companhia das Letras, Hucitec USP Filosofia, História vencedor prêmio Jabuti (1998) História, Jornalismo 2,9,10,11, 70 5 João Bandeira 19 1 poeta e compositor 81 1 professor doutor 34 1 pesquisador mestrando 1 jornalista, pesquisador e crítico de cinema 93 Letras Hucitec, Perspectiva, Fundação Casa de Jorge Amado João Alexandre Barbosa João Carlos Rodrigues USP Diversas crítico, ensaísta e professor João Camillo Penna João Carlos de Carvalho Perspectiva, Imago Jornalismo doutor Perspectiva, Duas Cidades, Iluminuras, Publifolha, Ateliê Editorial USP Ateliê Editorial Editora Unicamp, Paz e Terra Bolsa Vitae de Literatura Literatura Letras UFRJ Literatura USP Literatura Jornalismo dirigiu os vídeos Punk molotov e Cantoras do rádio; produziu os CDs de Johnny Alf 169 33,43,66,7 9 4 jornalista e fotógrafo 44,60,91 3 filósofo 71 1 jornalista 1 1 professor Joca Reiners Terron 20,41,87 3 designer gráfico e poeta Joel Birman 77 1 psicanalista e professor doutor UFRJ, UERJ Psicanálise John Robert Schmitz 90 1 professor doutor Unicamp Lingüística Jon Kortazar 46 1 professor doutor Universidade do País Basco Literatura Jorge Felix 61 1 jornalista, autor de peças teatrais TV Globo Jornalismo repórter de política e economia Jorge Henrique Bastos 27 1 poeta, jornalista Fenda Edições (Lisboa) Jornalismo colaborador do semanário Expresso Jorge Schwartz 8,25,55 3 professor Edusp/Iluminuras USP Literatura José Alexandrino de S. Filho 34 1 professor, pesquisador Capes João Correia Filho João da Penha João Marcos Coelho João Roberto Faria José Ángel Silleruelo 46 1 poeta, romancista, crítico literário e tradutor José Arrabal 50 1 jornalista e escritor José Carlos Avellar 67 1 crítico de cinema José Geraldo Couto 1 1 jornalista e crítico literário José Guilherme R. Ferreira 1,2,4,6,7,1 4,19,22,27 ,29,32 11 jornalista José Luis da Silva 53 1 livreiro José Luiz Fiorin 73 1 professor Jornalismo, Fotografia há seis anos desenvolve trabalhos com fotografia e literatura acerca da obra de Guimarães Rosa Brasiliense, Ática Filosofia Jornalismo doutor livredocente Perspectiva/Edus USP p Livros do Mal, Planeta, Edições Ciência do Acidente Diversas UFPB Diversas Literatura brasileira Literatura, Artes Gráficas Literatura Literatura Jornalismo Ed. Cátedra (Madri) Cinema Jornalismo, Literatura doutor Diversas Jornal da Tarde Jornalismo Ática USP Lingüística José Paulo Lanyi 27 1 jornalista e escritor Josimar Melo 29 1 jornalista Juliana Monachesi 88 1 jornalista e curadora independente 44,48 2 escritor Ateliê Editorial Letras 16,23,26 3 poeta e ensaísta Sette Letras, Imago Letras 65 1 maestro, compositor e arranjador Jurandir Renovato 1 1 jornalista Juvenal Savian 3 professor Juliano Garcia Pessanha Júlio Castañon Guimarães Júlio Medaglia 75,78,85 editor-assistente de Geral Jornalismo, Letras Ed. DBA mestranda Folha de S. Paulo Jornalismo PUC-SP Comunicação crítico de gastronomia Música doutorando Revista USP Jornalismo USP Filosofia editor-assistente da revista 170 Filho K. David Jackson 24 1 professor, tradutor doutor Laura J. Hosiasson 14 1 professora doutora PUC-SP Literatura Lauri Emilio Wirth 64 1 teólogo, professor doutor UMESP Teologia Leda Tenório da Motta 20 1 professora doutora PUC-SP Comunicação Leiko Gotoda 80 1 tradutora Diversas Letras Leila V. B. Gouvêa 51,62 2 pesquisadora, jornalista e tradutora Iluminuras Jornalismo, Letras Len Berg 2,4,5,7,15, 16,26,31,4 2 9 jornalista e crítico de arte Leodegário A. de A. Filho 51 1 professor emérito Leonor Amarante 3 1 jornalista Lia Zatz 92 1 escritora de literatura infantil e juvenil Liam Callanan 56 1 professor Ligia Chiappini 46 1 professora Linda Lê 32 1 escritora Luana Villac 46,51 2 jornalista Lúcia Maria Teixeira Furlani 91 1 psicóloga Lucia Santaella 29 1 Luciana Artacho Penna 2,6,10 Lucrecia Zappi Frankfurt/Vervuer Universidade t de Yale Iluminuras, Imago Literatura é sobrinha do escritor Tanizaki Jornalismo doutor Diversas UERJ, UFRJ Filologia Memorial da América Latina Jornalismo presidente da Academia Brasileira de Filologia diretora de publicações do Memorial da América Latina Letras doutor Georgetown University (Washington EUA) doutora USP, Universidade Livre de Berlim Diversas Letras Literatura ganhadora do Prêmio Casa de las Américas (1983) Letras Jornalismo doutora Unisanta, Unisanta/Cortez PUC-SP Psicologia professora pósdoutora Brasiliense, Iluminuras PUC-SP Comunicação 3 pesquisadora doutoranda USP Filosofia, Literatura 82 1 jornalista Folha de S. Paulo Jornalismo Luís Antônio C. Romano 84 1 professor Unicamp Literatura Luís Antônio Giron 55 1 jornalista e escritor Luis Dolhnikoff 77 1 escritor Olavobrás Luis Gusmán 33 1 romancista argentino Iluminuras doutor Mercado de Letras/ Fapesp Editora 34, Editora do Brasil/Edusp Jornalismo USP Medicina, Letras Letras Diretorapresidente da UniSanta (Santos) professora titular e coordenadora dos cursos de doutorado e pósdoutorado em comunicação e semiótica da PUC-SP, membro de diversas entidades sobre o tema 171 Luis Krausz 15 1 jornalista Luisa MellidFranco 27 1 jornalista Luiz Antônio Ryff 83 1 jornalista Universidade da Pensilvânia (EUA), Universidade de Zurique (Suíça) mestre Letras Jornalismo em preparação Jornalismo Luiz Bolognesi 19 1 jornalista e cineasta Luiz Costa Lima 58 1 ensaísta, professor e crítico doutor Rocco, Editora 34 UERJ, PUC-RJ Literatura Luiz Damon S. Moutinho 91 1 professor doutor Brasiliense UFPR Filosofia Jornalismo Luiz Felipe Pondé 64,75 2 professor, filósofo doutor Luiz Nazário 64,66 2 professor doutor Luiz Paulo Rouanet 59 1 professor doutor Madalena Vaz Pinto 18 1 pesquisadora PUC-RJ Literatura Universidade de São Petersburgo, Universidade de Helsinki (Finlândia) Letras vive em Montpellier (França) USP Letras língua e literatura árabe pesquisadora mestre Mamede Mustafa Jarouche 25,53,75,8 9 4 professor, tradutor doutor Marcello Rollemberg 5,7,9,13,1 5,19,30,37 ,38,40,42, 44,50,57 14 jornalista e escritor Marcelo Backes 90,93 2 professor, tradutor e ensaísta 2 Marcelo Jacques de Moraes 73 1 professor Teologia, Comunicação mestre 1 27,28 PUC-SP, Faap Cinema 77 Marcelo Coelho Edusp, Ed.34 professorpesquisador convidado da Universidade de Marburg (Alemanha) UFMG USP, PUCCampinas, Universidade São Marcos e UNIFAI Maija Mikkola professor, jornalista, escritor editora da revista portuguesa Camões Martins Fontes, Hedra, Globo, Ateliê Editorial Ateliê editorial, Record Filosofia Jornalismo doutor Boitempo, 2003 Universidade de Freiburg (Alemanha) Literatura mestre Iluminuras, Imago, Revan USP, Cásper Líbero, Folha de S. Paulo Jornalismo, Sociologia, Letras doutor UFRJ Literatura Estação Liberdade, Editora 34 Marcelo Mirisola 40,41,42,4 3,44 6 escritor Marcelo Pen 30 1 tradutor mestrando Marcia Camargos 53,55, 57 3 jornalista doutoranda Ed. Senac editor-assistente da Unimarco Editora membro do conselho editorial da Foha de S. Paulo pesquisador do CNPq Letras USP Literatura USP Jornalismo, História Marcio Mariguela 28 1 professor doutorando Unimep, Papirus Unicamp, Unimep Filosofia Márcio Seligmann-Silva 11,29,47,7 2 5 professor, pesquisador CNPq doutor Iluminuras, Publifolha, AnnaBlume, Escuta Unicamp, PUCSP, Universidade Livre de Berlim Literatura colaborador da Folha de S. Paulo membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Campinas 172 Marcos Cesana 12,14,24,2 7,32,36,38 ,48 8 jornalista, roteirista e dramaturgo Marcos Faerman 11 1 jornalista Jornalismo, Teatro Jornalismo Marcos Siscar 73 1 professor doutor Marcos Soares 68 1 professor doutor L'Harmattan, Iluminuras, Cosac & Naify Unesp (São José do Rio Preto) USP Literatura Literatura Marcus Vinicius da Cunha 83 1 professor e pesquisador Maria Andrea Muncini 19,21,29,3 5,44,45,50 ,56,68 9 jornalista 35 1 professora doutora UFMG Literatura 88 1 professora doutora UFSC Letras 34 1 professora Annablume USP Literatura Loyola PUC-RJ, Universidade Gregoriana de Roma Teologia Maria Antonieta Pereira Maria Aparecida Barbosa Maria Cecília de M. Pinto Maria Clara L. Bingemer Maria Cristina Elias Maria da Graça M. Abreu Maria do Rosario A. Toschi Maria Eugenia Boaventura Maria Helena Martins 64 1 professora doutor Vozes USP Filosofia pesquisador do Centro de Estudos em Filosofia Americana Cefa) Jornalismo doutora Jornalismo, Direito 35 1 jornalista 92 1 educadora 9,50,56 3 professora, tradutora Edusp USP Letras professora Ática, ExLibris/Unicamp, Edusp, Globo, Companhia das Letras Unicamp Literatura vencedora do Prêmio Jabuti em 1996 consultora do Itaú Cultural, criou e dirige o centro de estudos de literatura e psicanálise Cyro martins e coordena o projeto Fronteiras Culturais (BrasilUruguaiArgentina) 76 49 Maria Paula 33 Gurgel Ribeiro Maria Teresa Dias 48 Mariarosaria 14 Fabris 1 USP integrante do Conselho Editorial da revista O Onze de Agosto especialista doutora Educação 1 consultora cultural doutora Contexto USP Literatura 1 tradutora mestranda Iluminuras USP Literatura 1 professora doutoranda USP Literatura 1 professora doutora USP Letras PUC-SP, Universität Münster Filosofia Mario Ariel González Porta 79 1 professor Mário Chamie 35 1 escritor Mário Hélio 63 1 escritor, jornalista Mario Manga 65 1 músico Mario Vargas 18 1 escritor Edusp doutor Diversas Letras Continente Multicultural Jornalismo Música Seix Barral, Ed. Letras editor da revista Continente Multicultural (Recife) fundador dos grupos Premê e Música Ligeira 173 Llosa peruano Giordano Marisa Balthasar Soares Mariza Werneck Martha Mamede Batalha 48 1 pesquisadora mestranda USP Literatura 82,89 2 professora doutora PUC-SP Antropologia 11,14,45 3 jornalista mestre PUC-RJ Literatura Martín Kohan 45 1 professor, romancista, ensaísta e contista Sudamericana, Simurg USP Literatura Maurício Arruda Mendonça 5 1 poeta, dramaturgo e tradutor Sette Letras, Iluminuras Mauro Rosso 65 1 jornalista, consultor editorial e professor Máximo Augusto C. Masson 88 1 professor Menalton Braff 87 1 escritor doutor Letras Universidade Gama Filho (RJ) Jornalismo, Literatura UFRJ Sociologia, Educação Planeta, Ed.S.M. Letras Michael Wrigley 60 1 professor doutor em preparação Unicamp, Universidade da Califórnia Michel Sleiman 53,89 2 professor doutor Diversas USP Michelle Strzoda 92 1 jornalista doutorando Edipucrs, Edicon, USP Palas Athena Miguel Attie Filho 53 1 professor 74,78 2 professor Milton Hatoum 26,28 2 professor, escritor Miriam Chnaiderman 77 1 psicanalista, ensaísta, doutora documentarista Moacyr Novaes 64 1 professor 89 1 Letras língua e literatura árabe Jornalismo Miguel Chaia Moacyr Scliar Filosofia PUC-SP Ciências Sociais Companhia das Letras Universidade Federal do Amazonas Letras Brasiliense, Escuta USP, Instituto Sedes Sapientiae Psicanálise USP Filosofia doutor doutor Companhia das Letras (autor de mais de 30 obras) escritor Mônica Canejo 79 1 fotojornalista Mônica Cristina Corrêa Nádia Battella Gotlib 1,2,8,16,1 8,76 6 pesquisadora doutoranda 51 1 professora doutora Nair Keiko Suzuki 80 1 jornalista Narciso Lobo 86 1 jornalista e professor Filosofia Editora Valer membro do Departamento de Psicanálise do instituto Letras Fotografia Ática, Ed. Senac coordenador do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da pósgraduação em Ciências Sociais da PUC-SP; editor da São Paulo em Perspectiva da Fundação Seade USP Literatura USP Literatura Gazeta Mercantil Jornalismo Universidade Federal do Amazonas Jornalismo realiza trabalhos com cultura popular e literatura brasileira editora-chefe adjunta do jornal Gazeta Mercantil professor do programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na 174 Amazônia Nelson Ascher 22,26,28 3 escritor, poeta Editora 34 Companhia das Letras, Edições Ciência do Acidente, Relume Dumará Nelson de Oliveira 13,14,36 3 escritor Neusa Barbosa 8,10,17 3 jornalista e crítica de cinema Neuza Paranhos 34 1 jornalista, escritora Editora Com-Arte Loyola, Ed. UFMG, Discurso Editorial, Jorge Zahar Letras Letras Jornalismo, Cinema doutor Jornalismo Newton Bignotto 74 1 professor Nilson Moulin Louzada 39 1 tradutor, escritor de livros infantojuvenis Educação Ninho Moraes 76,8 2 jornalista e cineasta Jornalismo, Cinema Noemi Jaffe 19 1 professora Oscar Cesarotto 45 1 psicanalista Oswaldo Giacoia Junior 37,88 2 professor Oswaldo Martins 78 1 jornalista Pablo Daniel Andrada 74 1 jornalista, escritor e professor USP Jornalismo UFF, Université de Paris VIII Literatura Patrícia de Cia 92 1 jornalista, tradutora mestranda Paula Glenadel 73 1 professora pósdoutora Paulo Betancur 83,86,89 3 escritor e crítico literário Paulo Bezerra 40 1 tradutor Paulo Franchetti 38 1 professor 65 1 poeta, tradutor e professor Filosofia Literatura doutor Paulo Henriques Britto Unicamp Universidad de la República (Montevidéu) crítico literário e professor professor Psicanálise UFF, Isat de São Gonçalo (RJ) 1 2 Literatura doutorando 47 83,86 Iluminuras Jorge Zahar, Ed. Unicamp e PubliFolha Filosofia Jornalismo Pablo Rocca Paulo Ghiraldelli Jr. USP, Colégio Equipe mestranda livredocente UFMG ganhadora do prêmio Nascente (USP) doutor Diversas sim/ não cita Letras Artes e Ofícios Letras Cosac & Naify Edusp, Ateliê Editorial Letras Unicamp responsável pelo programa de documentação em Literaturas uruguaia e latinoamericana Literatura doutor Manole, Vozes, DPA USP, PUC-SP Filosofia doutor Civilização Brasileira, Claro Enigma, Companhia das Letras PUC-RJ Letras dirige o Centro de Estudos em Filosofia Americana (Cefa) e é coordenador da Pós-graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga (Faibi) 175 Paulo Migliacci 63,65 2 tradutor Letras UFMG, Universidade de Edimburgo Filosofia UFPR, UFRJ Filosofia USP Filosofia Paulo Roberto Margutti Pinto 60 1 professor doutor Pedro Costa Rego 79 1 professor doutor Pedro Pimenta 79 1 tradutor pósdoutorando 32 1 poeta e professor pós-doutor PUC-SP Comunicação 27,35 2 pesquisadora mestranda USP Literatura Philadelpho Menezes Priscila Figueiredo Rafael Cardoso 14 1 Rafaela Pires 84,88 2 Azougue Editorial sobrinho-neto de Lúcio Cardoso e titular de sua obra jornalista Raúl Antelo 17 1 ensaísta, professor Ravel Giordano Paz 63 1 pesquisador Régis Bonvicino 3,7,12,17, 22,26,43,4 4 8 poeta 33 1 jornalista 3 Renata Albuquerque Renata Dias Edições Loyola Letras Jornalismo doutor doutorando Diversas UFSC Literatura Unicamp, USP Literatura Iluminuras, Editora 34 Jornalismo 1 pesquisadora Renato Pompeu 7 jornalista e escritor livros publicados na Internet Jornalismo, Letras Renzo Mora 44 1 publicitário Lemos Editorial Publicidade Reynaldo Damazio 2,5,6,14,1 8,24,36,37 ,39,40,41, 43,46,48,5 0,51,53 17 jornalista Reynaldo Jiménez 45 1 poeta Ricardo Amaral Rego 68 1 médico e psicoterapeuta Ricardo Araújo 48 1 professor 71 1 jornalista Ricardo Calil 76,85,87,9 0,93 5 jornalista Ricardo Câmara 15 1 estudante de Jornalismo Ricardo Iannace 18 1 pesquisador Ricardo Oliveros 82 1 curador e produtor de projetos culturais Ricardo Piglia 33 1 escritor argentino Ricardo Sabbag 62 1 jornalista presidente da Associação brasileira de literatura comparada Letras 4,5,6,7,8,9 ,10 Ricardo Bonalume Neto bolsista Fapesp mestranda USP Memorial da América Latina Diversas mestre Jornalismo editor de publicações do Memorial e do site Weblivros! Letras Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica UNB Brasiliense, Expressão e Cultura Literatura Folha de S. Paulo Medicina, Psicoterapia Literatura Jornalismo repórter Jornalismo editor do portal Ibest UFMS Jornalismo USP Literatura Itaú Cultural Artes Plásticas Iluminuras, Companhia das Letras diretor do instituto coordena o Grupo de Arte e Moda da Galeria Vermelho Letras Gazeta do Povo Jornalismo co-editor do Spam Zine 176 Rinaldo Gama 45,46,47,4 8,49,51,52 ,53 8 professor, jornalista Roberto Causo 36 1 escritor 6,71,90 3 escritor 75,86 2 professor doutor 88 1 professor doutor 34,37 2 professor doutor Roberto de Sousa Causo Roberto Hofmeister Pich Roberto Romano Roberto Ventura sim/ não cita PUC-SP, Instituto Moreira Salles Editorial Caminho, Grupo Editorial Cone Sul Editora UFMG, Devir, Ática Perspectiva Moderna, Companhia das Letras, PubliFolha Jornalismo Letras Letras PUC-RS Filosofia Unicamp Filosofia USP Literatura Roberto Zular 52 1 Rodolfo Dantas 32 1 Rodrigo Faour 72 1 Rodrigo Garcia Lopes 3,35,44,54 ,84 5 jornalista, poeta, escritor e tradutor Rodrigo Lacerda 3,4,6,8,21, 68 6 escritor e tradutor Rodrigo Naves 22 1 crítico de artes plásticas Rodrigues 47 1 ilustrador Rolf Kuntz 85 1 jornalista e professor doutor USP Filosofia Ronan Prigent 28 1 romancista, adido de cooperação universitária doutor Consulado Geral da França em São Paulo Letras, Diplomacia Roney Cytrynowicz 23 1 historiador doutor USP História Rosa Cohen 90 1 crítica de artes plásticas, cinema e multimeios doutora USP Comunicação Rosa Gabriela de Castro 5,19,26 3 artista plástica mestranda USP 79 1 jornalista 70 1 estudante mestre Unicamp Literatura 16 1 pesquisadora mestre USP Literatura Rosa T. N. Paim Rosana Tokimatsu Rosie Mehoudar Ruy Affonso 70 1 pesquisador doutorando poeta, professor jornalista, crítico e pesquisador musical ator, diretor e autor de teatro doutor USP Literatura mestrando USP, Unip Letras, Direito sim/ não cita doutor Lamparina, Iluminuras, 7 Letras editor-executivo dos Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles, colabora com o programa Metrópolis (TV Cultura) e com o suplemento Mais! membro do Laboratório do Manuscrito Literário (FFLCH-USP) Jornalismo Arizona State University, UFSC Ateliê Editorial, Nova Fronteira, Cosac & Naify Ática, Companhia das Letras Jornalismo, Letras editor da revista Coyote Letras Artes plásticas Desenho Edusp, Scritta Massao Ohno assina sob o pseudônimo de Emmanuel Tugny Artes Plásticas, Filosofia Jornalismo Teatro um dos fundadores do TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) em 1948 177 Safa Abou Chahla 53 Jubran 1 professora Salim Miguel 8 1 jornalista e escritor Salma Tannus Muchail 81 1 professora Samuel Leon 12,45,55 3 Sandra Nitrini 48 Saúl Sosnowski Saulo Lemos doutora Vozes USP Jornalismo, Literatura Diversas doutora PUC-SP 1 escritor e editor professora doutora Hucitec, Edusp 39 1 professor doutor Diversas 66 1 jornalista mestrando Letras língua e literatura árabe militante literário, participa de diversos grupos em Santa Catarina Filosofia Editoração USP Universidade de Maryland (EUA) UFC doutor USP Literatura Letras Jornalismo, Literatura Sergio Adorno 81 1 professor Sociologia Sergio Amaral Silva 51,67,70,7 1,85 5 jornalista, economista e escritor Sérgio Mauro 4,11,20,29 ,40 5 professor pós-doutor Sérgio Medeiros 17,31,72,7 3 4 professor, poeta, tradutor e crítico doutor Sergio Villas Boas 37,85 2 jornalista, escritor e professor Sidney Molina 70 1 professor doutorando USP, PUC-SP Filosofia Sílvia Maria Azevedo 60 1 professora doutora UNESP de Assis Literatura Silviano Santiago 78 1 escritor, poeta e crítico Simone Rossinetti Rufinoni 8,34,50 3 professora Jornalismo, Literatura Diversas coordenador do Núcleo de Estudos da Violência vencedor do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Jumanos na categoria Literatura em 2002 Unesp (Araraquara), Literatura Universidade de Siena (Itália) Iluminuras, Perspectiva UFSC Summus, Rocco Jornalismo Rocco doutoranda 32,35 2 cientista social mestrando Susana Kampff Lages 24,36,39,5 6,72 5 professora, pesquisadora pósdoutoranda Susana Scramim 36,38 2 professora Suzana de Castro Amaral 92 1 professora Tanja Dückers 51 1 escritora alemã Diversas Tarso M. de Melo 26 2 escritor Teixeira Coelho 3 1 professor doutor Alpharrabio Iluminuras, Geração Editorial, Ateliê Teresa de Almeida 14,22 2 pesquisadora doutora Literatura USP Antropologia Unicamp, USP Letras doutora UFSC, USP Literatura doutora UFRJ Filosofia da Educação Universidade Livre de Berlim Literatura Edusp, Ateliê/Fapesp editor do textovivo.com.br, vencedor do Prêmio Jabuti (1998) membro do quarteto de violões Quaternaglia Letras USP Stélio Marras Literatura Letras USP Comunicação USP, Mackenzie Letras membro do corpo editorial da revista Sextafeira vencedora do prêmio Jabuti co-editora de Babel - revista de poesia, tradução e crítica 178 Teresa Montero 84 1 professora Tereza de Arruda 39 1 curadora e crítica de arte Tessa Moura Lacerda 65 1 Pesquisadora Ubiratan Brasil 73 1 jornalista Valêncio Xavier 38,47 2 escritor, jornalista Valéria De Marco 53 1 professora doutora Rocco PUC-RJ Literatura História da Arte doutoranda USP Filosofia O Estado de S. Paulo Jornalismo repórter do Caderno2 Letras, Jornalismo diretor de curtas Companhia das Letras, Ciências do Ambiente doutora USP Literatura Centro Cultural Jornalismo Banco do Brasil Valéria Lamego 51 1 jornalista Record Vera Albers 12 1 escritora Perspectiva, Editora 34 53 1 estudante mestrando 79 1 professor doutor Vitor Angelo 76,82 2 jornalista e cineasta Jornalismo, Cinema Viviane Gueller 27 1 Jornalismo Vladimir Sacchetta 57 1 jornalista jornalista, produtor cultural Waldecy Tenório 64 1 professor doutor Walter Zingerevitz 25,65,81,8 4,89 5 professor doutor Wladimir Pomar 78 1 jornalista e escritor Yudith Rosenbaum 12 1 psicóloga Zahidé Lupinacci Muzart 8 1 professora e crítica literária Zeljko Loparic 44 1 professor Vicente de Arruda Sampaio Vinícius de Figueiredo Letras Filosofia Lido Editora UFPR Ed. Senca Ateliê Editorial Jornalismo PUC-SP Filosofia, Literatura SorbonneParisIV Filosofia Editora Unesp, Xamã e Alfa Omega doutora doutor Filosofia Jornalismo Edusp/Imago USP Psicologia, Literatura Ed. UFSC UFSC Literatura Papirus, Educ, Unicamp, PUCSP Filosofia, Psicologia editora da revista Veredas, do Centro Cultural Banco do Brasil 179 ANEXO 5 Quadro de instituições (colaboradores) Anglo Vestibulares 1 PUC-RJ PUC-RS Arizona State University 1 Cásper Líbero 1 Revista USP Centro Cultural Banco do Brasil 1 Sorbonne-ParisIV Colégio Equipe Colégio Logos 1 1 Columbia University (Nova York) 2 1 Consulado Geral da França em São Paulo 2 École des Hautes Études em Sciences Sociales Ed. Ática Editora Abril Faap FGV-SP TV Globo UEL (Londrina) UERGS UERJ UFC Consejo Nacional de Investigaciones Científicas da Argentina (CONICET) Continente Multicultural PUC-SP UFF UFMG UFMS 1 1 UFPA UFPB UFPR UFRJ UFSC 1 1 1 1 Folha de S. Paulo/ Agora S. Paulo 7 Folha do Povo (MS) Gazeta Mercantil 1 2 1 Georgetown University (Washington - EUA) 1 Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica 1 Instituto Moreira Salles 1 Instituto Sedes Sapientiae 2 Isat de São Gonçalo (RJ) 1 Itaú Cultural Mackenzie 1 1 Memorial da América Latina 2 New York University UFSCar UMESP UNB Unesp Unicamp 6 1 21 2 1 2 1 1 4 3 2 6 2 2 1 5 14 8 1 1 3 5 17 Universidade de Helsinki (Finlândia) 1 Universidade de Leipzig 1 Universidade de Madri Universidade de Mainz 1 1 Universidade de Maryland (EUA) 1 Universidade de Nova Lisboa 1 Universidade de Nova york 1 Sorbonne Universidade de Roma 3 1 Universidade de São Petersburgo 1 Universidade de Siena (Itália) 1 Universidade de Tokyo 1 Universidade de Utrecht 1 Universidade de Weimar (Alemanha) 1 Universidade de Yale 2 Universidade de Zurique (Suíça) 1 Universidade do País Basco 1 Universidade Federal de Juiz de Fora 2 Universidade Federal do Amazonas 2 Universidade Gama Filho (RJ) 1 Unicentro Newton Paiva 1 UniCEUB Unip 1 1 2 1 1 Universidad Autónoma de México 2 1 Universidad de la República (Montevidéu) Universidade Gregoriana de Roma 1 Universidade Livre de Berlim 4 Universidad Iberoamericana 1 1 Universidade da Califórnia Universidade Michel de Montaigne (Bordeaux 3) 1 1 1 Universidade da Pensilvânia (EUA) Universidade Nacional da Patagônia 1 1 4 Universidade de Barcelona Universidade Nacional de General Sarmiento 1 Universidade Rosario 1 Oklahoma State University 1 Universidade de Buenos Aires 2 Universidade São Marcos 1 Pinacoteca do Estado de SP 1 Universidade de Edimburgo 1 Pontifícia Universidade Lateranense de Roma 1 Universidade de Essex (Inglaterra) 1 PUC-Campinas 3 Universidade de Freiburg (Alemanha) 1 Gazeta do Povo O Estado de S. Paulo/ Jornal da Tarde Unicid UNIFAI Unimep Universität Münster USP 1 114 180 ANEXO 6 Perfil dos colunistas Alexandre Agabiti Fernandez – jornalista, doutor em Cinema pela Universidade de Paris III – Sorbonne Nouvelle. Cláudio Giordano – bibliógrafo, editor e tradutor, concebeu e dirige a Oficina do Livro Rubens Borba de Moraes. Cláudio Willer – poeta, autor de Anotações para um apocalipse (Massao Ohno), Jardins da provocação (Massao Ohno/ Roswitha Kempf) e Volta (Iluminuras); é ensaísta e tradutor, tendo organizado e traduzido Leautréamont – obra completa (Iluminuras). João Alexandre Barbosa – crítico literário, ensaísta e professor de teoria literária e literatura comparada da USP, é autor de As ilusões da modernidade (Perspectiva), A imitação da forma e Opus 60 (ambos pela Duas Cidades), A leitura do intervalo (Iluminuras), Folha explica João Cabral de Melo Neto (Publifolha), A biblioteca imaginária, Entre livros e Alguma crítica (Ateliê Editorial). Foi presidente da Edusp, diretor da FFLCH e pró-reitor da USP. Luís César Oliva – doutor em filosofia pela USP, pesquisador do Grupo de Estudos Espinosanos, publicou artigos nas revistas Kriterion, da UFMG, e Cadernos de História e Filosofia da Ciência, da Unicamp. Pasquale Cipro Neto – professor do Sistema Anglo de Ensino, idealizador e apresentador do programa Nossa língua portuguesa, da TV Cultura, autor da coluna Ao pé da letra, do Diário do Grande ABC e de O Globo, consultor e colunista da Folha de S. Paulo. Renato Janine Ribeiro – professor titular de Ética e Filosofia Política na USP, autor, dentre outros livros, de A sociedade contra o social (Companhia das Letras), Ao leitor sem medo (esgotado) e A universidade e a vida atual (Campus). Roberto Romano – professor titular de Ética e Filosofia Política da Unicamp, autor de vários livros, como O caldeirão de Medeia (Perspectiva), Moral e ciência: a monstruosidade no século XVIII (Senac) e Silêncio e ruído: a sátira em Denis Diderot (Ed. Unicamp). 181 ANEXO 7 Mapeamento de Cult Edição Notas Evento Entrevista Diálogo Literário 1 Xxx Colóquio discute papel do poeta Blaise Cendrars no modernismo brasileiro Décio de Almeida Prado fala de sua experiência no jornalismo cultural 2 Xxx Seminário resgata experiência do poeta italiano Ungaretti no Brasil O crítico Boris Schnaiderman comenta seu livro sobre a cultura russa atual O romancista Cristóvão Tezza analisa a trajetória de Sérgio Sant'Anna xxx Antropologia O poeta Heitor Ferraz analisa livro de poesia brasileira lançado nos EUA Trechos inéditos em português da "autobiografia" de Norberto Bobbio Fábio Lucas escreve sobre os xxx primeiros leitores de Kafka no Brasil O cenário kafkiano de praga Uma viagem pela Lisboa de Fernando Pessoa e José Saramago Biografias de Che Guevara afirmam Ensaio de George Steiner permanência do ícone revolucionário disseca o "guia literário da bíblia" Pasquale Cipro Neto satiriza a mania Uma conjugação verbal que brasileira de "macaquear" provoca muita confusão americanos O editor Cláudio Giordano resgata Cláudio Giordano evoca a preciosidades do passado editorial beleza sutil da figura feminina nos anúncios antigos Resultados do prêmio Nestlé xxx revelam caráter comercial do concurso ABL faz Cem Anos sem ter xxx conseguido resistir aos apelos do poder Tricentenário de Vieira evoca gênio Biografia de Dostoiévski renova barroco perseguido pela inquisição leituras do mestre russo xxx Livro de Davi Arrigucci Jr. Interpreta Manuel Bandeira e Murilo Mendes ensaios de Lezamma Lima propõem decodificação literária do mundo xxx Documenta de Kassel explora reflexos da política sobre a arte livros trazem ensaios de Clement Greenberg, maior crítico americano xxx Rio de Janeiro recebe mais importante acontecimento editorial do ano xxx xxx Poesia xxx Internacional Ensaio Turismo Literário Capa Na ponta da língua Memória em revista Crítica História Dossiê Poéticas Arte Bienal do livro xxx 3 Xxx O filósofo Gilles Lipovetsky vem ao Brasil para discutir pós-modernidade Jabor lança coletânea de suas crônicas e fala sobre o poder da palavra Rodrigo Lacerda resenha os dois novos livros de Rubem Fonseca Xxx O poeta Rodrigo Garcia Lopes escreve sobre William Burroughs Leonor Amarante faz um passeio pela Paris da geração beat O escritor Ferreira Gullar dá depoimento ao poeta Heitor Ferraz O professor Pasquale aborda problemas de conjugação verbal Cláudio Giordano relembra anúncios antigos que "escondiam" o produto Xxx Xxx Há 50 anos surgia o grupo 47, marco da literatura alemã do pós-guerra Xxx Xxx Xxx Teixeira Coelho analisa livro do pensador Gilbert Durand Régis Bonvicino traduz poemas inéditos do norte-americano Charles Bernstein 182 Edição Notas Evento Entrevista Diálogo Literário Internacional Ensaio Turismo literário 4 xxx Os oitenta anos da revolução russa são tema de encontro internacional O poeta e compositor Arnaldo Antunes fala de seu novo livro de poemas O poeta Melo e Castro comenta livro sobre o barroco da ensaísta portuguesa Ana Hatherly O melhor da literatura e do ensaísmo brasileiro chega aos Estados Unidos xxx 5 xxx xxx 6 xxx xxx Nadine Gordimer, prêmio nobel de 91, fala de literatura e política Maurício Arruda Mendonça desvenda a antropofagia de Ademir Assunção xxx Rosângela Rennó fala sobre livro que registra sua obra fotográfica J.Guinsburg refaz o percurso da língua ídiche no Brasil Um passeio pela Londres de Dickens xxx xxx Novo romance de João Ubaldo Ribeiro é uma fantasia geográfica História do novo mundo é narrativa romanesca da descoberta da América Um panorama da ficção científica produzida por escritores brasileiros xxx xxx Capa Conheça uppsala, cidade da Suécia que encantou o filósofo Michel Foucault xxx História xxx Xxx Dossiê Aos Cem anos do fim de Canudos, a CULT traz a história das guerras na literatura brasileira Arte Bienal de Veneza de 97 é marcada por impasse estético e político Internet Ficção Renato Pompeu navega por um site que disseca a obra de James Joyce "Brás, bexiga e barra funda" traz a São Paulo de Alcântara Machado xxx Vinte anos depois de sua morte, Clarice Lispector permanece como a maior escritora brasileira Livros de Tunga e Leonilson marcam estréia da editora Cosac & Naify Xxx Biografia xxx Poesia xxx Joyceanas 1 xxx Fotografia xxx Turismo xxx Renato Pompeu inicia série sobre a tradução de "finnegans wake" Livro traz o trabalho da retratista Madalena Schwartz Xxx Joyceanas 2 xxx Xxx Romance xxx Xxx Memória em Revista Conheça o romance “a carne de Jesus”, excomungado em 1910 na Bahia O professor Pasquale explica o que é o pretérito “mais-1ue-perfeito” Publicações celebram espírito natalino A Amsterdã labiríntica que inspirou o escritor Albert Camus Renato Pompeu continua sua série sobre a tradução de finnegans wake Recepção de Cidade de Deus, de Paulo Lins, expõe contradições da crítica O Corvo, de Poe, em tradução feita no início do século por Emílio de Menezes O professor Pasquale continua explicando o emprego do pretérito “mais-1ue-perfeito” O professor Pasquale critica preconceitos mascarados pelo rigor gramatical Modernismo Na ponta da Língua xxx xxx xxx Xxx xxx Lançamentos marcam novo boom da literatura latinoamericana Livro mostra que a política marcou vida da pensadora Hannah Arendt Xxx xxx Sai no Brasil a autobiografia do dramaturgo alemão Heiner Müller Conheça a obra de quatro novos talentos da poesia brasileira xxx xxx 183 Edição Notas Evento 7 Xxx Xxx Entrevista Duda Machado comenta seu novo livro, Margens de uma Onda Poesia Fábio Lucas analisa Magma, único livro de poemas de Guimarães Rosa Régis Bonvicino traduz poemas do norte-americano Michael Palmer O livro de arte é um devaneio pela história da pintura e da escultura Bienal de Johannesburgo reflete contradições da globalização Um passeio pelas tavernas e moinhos da mancha, a terra de Dom Quixote Centenário de Brecht propicia revisão de seu legado estético Arte Turismo Literário Capa Memória em revista Joyceanas 3 Na ponta da língua Biografia Dossiê Joyceanas 4 Do Leitor Biblioteca imaginária Romance Joyceanas 5 Homenagem Edição Notas Evento Entrevista Revistas dos anos 20 exploravam licenciosidade e excessos do carnaval Renato Pompeu mostra a “dupla fundação de Dublim” nas páginas do Finnegans Wake, de James Joyce O professor Pasquale discute a expressão “como sói acontecer” 8 Xxx Brasil é o convidado de honra do salão do livro de Paris A crítica de teatro Bárbara Heliodora comenta seu novo livro, Falando de Shakespeare xxx 9 Xxx xxx O Brasil começa a conhecer a obra do pintor argentino Xul Solar xxx O ensaísta Eliot Weinberger viaja pelo paraíso gelado da Islândia Michael Tournier fala sobre seus livros, que recriam mitos literários O ilustrador Belmonte, que emprestou sua arte às revistas dos anos 20 Xxx Conheça o hotel algonquin, reduto de intelectuais americanos nos anos 20 Nelson Ascher fala de seu livro Poesia Alheia e dos prazeres da tradução Sai no Brasil coletânea do poeta norteamericano Robert Creeley A Bienal do livro de São Paulo se consolida como uma feira de consumo Anuário brasileiro de literatura de 37 reflete vida literária dos anos 30 xxx O professor Pasquale explica o Xxx emprego da expressão “vale a pena” A vida intelectual e afetiva do crítico xxx xxx Edmund Wilson Proximidade entre loucura e Há cem anos morria Cruz e A obra múltipla de Emilio Villa, um dos imaginação marca a criação poética Sousa, o poeta simbolista maiores poetas italianos do século e a reflexão filosófica da negro que foi um precursor do modernidade modernismo brasileiro Xxx Renato Pompeu leva o leitor à xxx taverna inventada por Joyce no Finnegans Wake Xxx Nova seção dá espaço a cartas Excepcionalmente, a sessão na ponta da e e-mails dos leitores da CULT língua, do prof. Pasquale Cipro Neto, não será publicada nesta edição Xxx xxx O crítico João Alexandre Barbosa estréia sua coluna falando de Kafka xxx xxx Cristóvão Tezza lança o romance breve espaço entre a cor e sombra xxx xxx As vozes do trovão nas muitas línguas do Finnegans Wake Xxx Xxx Oscar Wilde é a mais recente moda literária na Inglaterra Stephen Fry vive escritor Irlandês no filme Wilde, de Brian Gilbert 10 Xxx “Veículo da poesia” reúne revistas internacionais de criação poética O escritor Bernardo Carvalho lança o romance Teatro, seu quarto livro 11 Xxx xxx 12 Xxx xxx O dramaturgo Dias Gomes fala sobre sua autobiografia A escritora Hilda Hilst fala de seu novo livro, que reúne crônicas de 184 Turismo Literário Shandy Hall, a casa medieval do escritor irlandês Laurence Sterne Biblioteca imaginária João Alexandre Barbosa fala da crise da crítica literária no fim do século Fermat’s enigma conta a epopéia do xxx teorema que desafiou matemáticos Fotos inéditas de escritores xxx brasileiros no acervo do jornal última hora Ilustrações do artista Belmonte Uma crônica do escritor Monteiro Lobato sobre o futebol Sai no Brasil livro que conta a vida xxx do crítico russo Mikhail Bakhtin Último artigo da série analisa a xxx importância de Finnegan’s Wake Pasquale Cipro Neto comenta As confusões no uso da palavra estrutura de uma composição de “onde” Chico Buarque A poesia em prosa de Marcelo Há cem anos nascia García Rollemberg Lorca Debate sobre o barroco provoca Futebol na prosa, na poesia e na divergências entre os críticos crônica esportiva brasileira Ciência Capa Memória em revista Biografia Joyceanas 6 Na ponta da língua Poesia Dossiê A Brasília utópica de Clarice Lispector e do crítico Mário Pedrosa João Alexandre Barbosa analisa a “raridade” da poesia atual Testemunho Xxx Prosa Xxx Literatura italiana Xxx Ensaio Xxx Revistas Xxx “Fragmentos” traz depoimentos sobre infância em campo de concentração O poeta Fernando Paixão analisa duas novelas de Mário de Sá-carneiro Os duzentos anos de nascimento do poeta Giacomo Leopardi Um panorama das diferentes correntes da crítica literária Xxx Resenha Xxx Xxx Fotografia Xxx Xxx Policial Xxx Xxx Cinema Xxx Xxx Leituras CULT Xxx Xxx Homenagem Xxx Xxx Criação Xxx Xxx Fortuna crítica Xxx Xxx jornal Conheça Islã Negra, refúgio do poeta chileno Pablo Neruda João Alexandre Barbosa desvenda nexos insuspeitados entre Marx e o Dadaísmo Crônica de 1922 mostra que a “cartolagem” no futebol vem de longe Pasquale Carpo Neto critica o “rococó lingüístico” Rente, de João Bandeira, revisita o concretismo Uma homenagem aos 80 anos de Antonio Candido, maior crítico literário brasileiro xxx xxx xxx xxx A lista dos periódicos que participaram do evento “O Veículo da Poesia” Mora Fuentes comenta as crônicas de Hilda Hilst Fotógrafa Argentina Sara Facio registra escritores do boom latinoamericano A pulp fiction brasileira, de Pagu a Tony Bellotto Régis Bonvicino Faz releitura poética de O Bandido da Luz Vermelha, lançado há 30 anos As melhores novidades do mercado editorial Há 50 anos morria o escritor Monteiro Lobato Nova seção traz Parque Dom Pedro, conto de Vera Albers Ivan Teixeira inicia série sobre a crítica literária 185 Edição Notas Entrevista Biblioteca imaginária Na ponta da língua Turismo literário Capa/ Entrevista Capa/ Ensaio Leituras CULT Memória em revista 13 Xxx O escritor Teixeira Coelho fala de As fúrias da mente, seu novo romance João Alexandre Barbosa reflete sobre a obra do escritor Ítalo Calvino O professor Pasquale flagra um ato falho premonitório de Dunga, o capitão da seleção A São Petersburgo do poeta Josif Bródski Haroldo de Campos fala sobre Crisantempo, livro e CD lançados pela Perspectiva O crítico J. Guinsburg disseca a relação de Haroldo de Campos com o teatro Confira os destaques entre os lançamentos do mercado editorial Do leitor Uma crônica de Gustavo Barroso publicada em 1931 no livro Mulheres de Paris No segundo ensaio da série, o crítico Ivan Teixeira analisa o formalismo russo Livros de viagem resgata os relatos sobre o Brasil do século XIX Seis poemas do escritor Ruy Proença Sai no Brasil a obra completa de Lautréamont Nelson de Oliveira escreve sobre o escritor Campos de Carvalho, morto este ano Biografia e livro de ensaios literários renova leitura da obra de Albert Camus O recado dos leitores de CULT Capa/ Resenha xxx Literatura Argentina Fortuna Crítica 3 xxx Poesia Italiana xxx Contos xxx Crítica Xxx Fortuna Crítica 2 História Criação Literatura Francesa Homenagem Dossiê xxx 14 Xxx xxx 15 Xxx Manoel de Barros relança Arranjos para Assobio e fala de sua obra poética Capítulo de Dom Casmurro revela diferentes concepções da poesia em Machado de Assis Palavras corriqueiras têm significados originais totalmente inesperados A Buenos Aires fantástica de Piglia, Borges, Cortazar, Ernesto Sábato e Roberto Arlt O escritor Ricardo Piglia fala de Dinheiro queimado, seu romance mais recente Livros do escritor argentino são percorridos pela idéia de utopia João Alexandre Barbosa revisita a trajetória do intelectual mexicano Alfonso Reyes Expressão como “vou estar enviando” viram praga lingüística Os destaques entre os lançamentos do mercado editorial A polêmica questão dos direitos autorais é discutida em crônica de 1922 xxx Os destaques entre os lançamentos de livros xxx xxx Um conto em estilo Noir de Sergio Vilas Boas xxx Seis poemas de Donizete Galvão xxx xxx Diário de Viagem de Kafka é um roteiro por cidades européias xxx xxx Conheça alguns dos fantasmas que assombram as crianças desde os anos 20 xxx xxx Os 30 anos da morte do escritor xxx Lúcio Cardoso Cartas, fax e e-mails dos leitores da CULT Novo romance de Piglia transforma assalto a banco em parábola da redenção Una Magia Modesta reúne os novos contos de Bioy Casares Terceiro ensaio da série discute o New Criticism de Eliot e Empson Antologia bilíngüe apresenta o poeta Cesare Ruffato ao público brasileiro Afogado, do dominicano Junot Díaz, registra dramas de comunidades que vivem à sobra dos EUA xxx Cartas, fax e e-mails dos leitores da CULT xxx xxx xxx xxx xxx Em Espelho crítico reúne ensaios de Robert Alter sobre Cervantes, Stendhal 186 Ensaio Xxx Xxx Fortuna Crítica 4 Poesia Xxx Xxx Xxx Xxx Capa/ Dossiê Xxx Xxx Edição Notas Entrevista 16 Xxx Vik Muniz fala de seus ilusionismo da representação Biblioteca imaginária Lista das melhores obras em língua inglesa abre debate sobre o cânone do século As inquietantes e polêmicas flexões do infinitivo verbal Na ponta da língua Crítica Nos 50 anos de Israel, J. Guinsburg analisa a literatura hebraica contemporânea Criação Conto de Lizete Mercadante Machado Ensaio A segunda parte do texto de João Alexandre Barbosa sobre Conhecimento Proibido, do crítico Roger Shattuck Leituras CULT Os destaques entre os lançamentos de livros Memória em Excertos de O Brasil Continua..., revista livro de Álvaro Moreira publicado em 1933 Fortuna Crítica Quinto ensaio da série discute o 5 desconstrutivismo Turismo A região da Provença, berço do literário trovadorismo francês Capa/ Dossiê Cem anos sem Stéphane Mallarmé, homenageado por Manuel Bandeira em texto de 1942 Do Leitor Cartas, fax e e-mails dos leitores da CULT Capa/ Xxx Entrevista Capa/ Ensaio Xxx Capa/ Resenha Xxx Cinema xxx e Nabokov A primeira parte do texto de João Alexandre Barbosa sobre Conhecimento Proibido do crítico Roger Shattuck Quarto ensaio da série discute o estruturalismo Matéria e Paisagem reúne a obra recente do poeta Júlio Castañon Guimarães Tudo sobre a Bienal de São Paulo, que começa este mês no Parque do Ibirapuera 17 Xxx O poeta e ensaísta Augusto de Campos fala sobre seu novo livro, Música de Invenção João Alexandre Barbosa analisa o Diário de um Escritor, de Dostoievski O professor Pasquale mostra o emprego indiscriminado do termo “você” Xxx 18 Xxx Yves Bonnefoy, cuja obra completa acaba de ser editada no Brasil, fala sobre sua poesia A história de um encontro marcado pela paixão pelas palavras Seis poemas de Antonio Moura Xxx Conto de Ronaldo Bressane se inspira em música de Lupiscínio Rodrigues O escritor peruano Mario Vargas Llosa escreve sobre o romance de cavalaria Tirant lo Blanc Os destaques entre os lançamentos de livros Um conto de Natal de 1910 publicado na revista Fon-Fon Os destaques entre os lançamentos do mercado editorial O apelo insólito de um poeta nas páginas de um livro de 1924 Expressões redundantes que impregnam a linguagem coloquial Ensaio sobre o New Historicism encerra a série Xxx Xxx Cartas, fax e e-mails dos leitores da CULT Uma conversa de José Saramago, primeiro Nobel da literatura portuguesa, com o poeta Horácio Costa Em texto inédito no Brasil, Saramago contesta distinção entre autor e narrador O jornalista Adriano Schwartz analisa José Saramago – O Período Formativo, de Horácio Costa Amor & Cia. Leva para as telas obra póstumas de Eça de Cartas, fax e e-mails dos leitores da CULT 187 Queiroz Obra de Roldan-Roldan oscila entre o sagrado e o erótico Saiba o que são os Estudos Culturais, principal tendência da crítica contemporânea Poesia Xxx Dossiê Xxx Contos Xxx Xxx Arte Xxx Xxx Edição Notas Entrevista 19 Xxx Um depoimento da roteirista Suso Cecchi d’Amico, a “romancista” do cinema italiano Biblioteca imaginária O ensaísta João Alexandre Barbosa discute as relações da cultura com o mercado e a sociedade de massa Nomes das empresas “Telefônica” e “Petrobrás” violam ortografia e provocam reação de fervor cívico Na ponta da língua Turismo literário Leituras CULT Memória em revista Poesia Berlim sobrevive às guerras do século nas obras de Fontane, Döblin e Günter Grass Os destaques entre os lançamentos do mercado editorial Conheça a revista luso-brasileira Atlântico, editada no Brasil dos anos 40 Inéditos e dispersos traz as obras do período de formação da escritora Ana Cristina César Criação Oitos poemas de José Guilherme Rodrigues Ferreira Arte Biografia e livro com reprodução inédita de quadro da pintora Tarsila do Amaral homenageiam dama modernista Livros do jornalista Eduardo Bueno trazem visão anti-ufanista das viagens de descobrimento do Brasil Resumo de Ana traz duas histórias escritas pelo contista e ensaísta Modesto Carone, tradutor de Kafka no Brasil CULT homenageia o escritor catalão Joan Brossa, maior nome da poesia visual, morto recentemente em Barcelona Cartas, fax e e-mails dos leitores CULT Xxx História Ficção Dossiê Do Leitor Capa Críticos e escritores comentam a biografia, a reedição da obra e a fotobiografia do poeta português Fernando Pessoa Leia resenhas dos livros que estão renovando o gênero no Brasil Revista do MAM é novo espaço para as artes plásticas contemporâneas 20 Xxx Valêncio Xavier, o autor de O mez da grippe, fala de seu novo livro, Meu 7º dia – Uma novella-rébus O ensaísta João Alexandre Barbosa analisa os Cahiers do poeta francês Paul Valéry Prefixos que indicam negação – como "des-", "a-" e "an-" – provocam confusões na linguagem cotidiana Uma viagem ao México em companhia do escritor gaúcho Érico Veríssimo 21 Xxx O filósofo italiano Antonio Negri fala de sua experiência na prisão Um caso curioso de “censura de capa” na editora de Monteiro Lobato Um ensaio de Leda Tenório da Motta sobre Francis Ponge e traduções inéditas do poeta francês nascido há cem anos Leia os minicontos que compõem o Fabulário de Cláudio Daniel Xxx Conheça a revista Vamos Ler!, editada no Rio de Janeiro nos anos 30 João Alexandre Barbosa escreve sobre as leituras do Dom Quixote, de Miguel de Cervantes O professor Pasquale explora o pantanoso “território crasístico” Um passeio pelos cafés de Viena com Freud, Stefan Zweig e Wittgenstein Cláudio Willer analisa a antologia Esses poetas, de Heloisa Buarque de Hollanda Poemas de Barrocidade, do escritor Amador Ribeiro Neto da Paraíba Xxx Xxx Depoimentos e livros de intelectuais russos mostram as tendências da cultura russa contemporânea Cartas, fax e e-mails dos leitores CULT Lançamentos de Umberto Eco no Brasil, nos EUA e na Itália reafirmam seu papel de maior pensador contemporâneo Tudo sobre o I Salão Internacional do Livro de São Paulo e a IX Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro Cartas, fax e e-mails dos leitores CULT 188 Romance Xxx Xxx Cristóvão Tezza comenta o novo livro do romancista e Jornalista Bernardo Ajzenberg Rodrigo Lacerda resenha o romance de estréia de Luís Antônio Giron Edição Notas Entrevista 22 Xxx Aos 80 anos, a poeta Dora Ferreira da Silva fala de sua trajetória literária João Alexandre Barbosa analisa a recepção crítica do Dom Quixote no Brasil O professor Pasquale discute erro cometido pela CULT 23 Xxx xxx 24 Xxx Pedro Bial fala da experiência de levar Guimarães Rosa para as telas de cinema O cosmopolitismo de José Veríssimo, o formador do cânone literário brasileiro Diferenças entre regências de verbos em Brasil e Portugal João Alexandre Barbosa escreve sobre os cem anos de Dom Casmurro Um panorama da vida e da obra do escritor Julien Green, morto ano passado O poeta Régis Bonvicino escreve sobre a Poesia completa de Raul Bopp Sete histórias sobre o desbravamento do oeste do Estado de São Paulo Luís Antônio Giron responde às críticas de Rodrigo Lacerda a seu romance Seção de inéditos estréia na CULT com poemas de Nelson Ascher xxx A expressão “está na hora da onça beber água” traz diferença entre linguagens oral e formal xxx xxx xxx Onze poema de Antonio Geraldo Figueiredo Ferreira xxx xxx xxx Biblioteca imaginária Na ponta da língua Ensaio Literatura Brasileira Criação Réplica Gaveta de Guardados Turismo literário Memória em revista Fotografia Leituras CULT Dossiê Do leitor Capa/ Entrevista Capa/ Ensaio Literatura Italiana Polêmica Seção de inéditos traz seis poemas do escritor e editor Fernando Paixão A luz mediterrânea da villa San O Portugal provinciano e Michelle, na Ilha de Capri autêntico do romancista Eça de Queiroz Imagens de escritores brasileiros na Revista Panorama veiculava revista Sombra editada nos anos 40 doutrinas do movimento e 50 integralista nos anos 30 Leia poema de Haroldo de Campos xxx sobre o trabalho do fotógrafo Bruno Giovannetti Os destaques entre os mais recentes xxx lançamentos do mercado editorial CULT homenageia o poeta José Literatura de testemunho Paulo Paes, morto no ano passado, redimensiona relação entre com entrevista inédita e literatura e realidade a partir de depoimentos de Davi Arrigucci Jr., relatos dos sobreviventes de Izidoro Blikstein, Fernando Paixão campos de concentração e Rodrigo Naves Cartas, fax e e-mails dos leitores Cartas, fax e e-mails dos CULT leitores CULT Xxx Um depoimento de Lygia Fagundes Telles sobre sua obra e seus engajamentos literários Xxx O crítico Fábio Lucas escreve sobre a ficção de Lygia Fagundes Telles xxx Contos de Casamentos bem arranjados são Aleph literário de Carlos Emilio Gadda Xxx Tréplica de Rodrigo Lacerda e Um conto inédito do poeta e tradutor Paulo Henriques Britto A Moscou do Flâneur Walter Benjamin A sociedade baiana dos anos 20 nas páginas da revista A Luva, de Salvador xxx CULT destaca alguns dos melhores lançamentos do mercado editorial xxx Cartas, fax e e-mails dos leitores CULT xxx xxx xxx xxx 189 resposta de Luís Antônio Giron encerram polêmica sobre Ensaio de ponto Centro Cultural Murilo Mendes xxx expõe acervo pessoal do poeta Xxx CULT publica primeiro ensaio do ciclo de conferências do Itaú Cultural Memória xxx Rumos da Leitura e Crítica Poesia 1 Xxx Xxx Xxx Poesia 2 Xxx Xxx Poesia 3 Xxx Xxx Filosofia Xxx Xxx Edição Notas Entrevista 25 Xxx O poeta Régis Bonvicino fala de Céu-eclipse, livro que será lançado neste mês O filósofo Gerd Bornheim discute o contexto histórico e estético do surgimento da crítica Os novos livros de ensaios dos críticos João Alexandre Barbosa e Fábio Lucas Uma antologia de alguns dos melhores poemas recebidos pela CULT durante o primeiro ano da seção “Criação” CULT destaca os melhores lançamentos do mercado editorial Nove poemas inéditos do escritor português E.M. de Melo e Castro 26 Xxx O poeta Horácio Costa fala de Quadragésimo, seu novo livro de poemas O filósofo Benedito Nunes faz um panorama da crítica literária no Brasil xxx Rumos Literatura e Crítica Teoria Literária Criação Leituras Gaveta de Guardados Turismo Literário Na Ponta da Língua Memória em Revista Dossiê Biblioteca Imaginária Do Leitor Poesia & Ensaio Os itinerários do escritor alemão Thomas Mann Conheça um uso incomum, porém muito literário, do verbo “esquecer” Uma reportagem sobre Rachel de Queiroz nas páginas da revista Coração, de 1949 Lançamento das Obras completas marca centenário de nascimento do escritor argentino Jorge Luis Borges Leituras ininterruptas de Dom Quixote marcaram as ficções borgianas Cartas, fax e e-mails dos leitores CULT Xxx Entre Livros Xxx Teatro Xxx Leia o conto Segredos de dona Nena, de Ana Paula Pacheco Conheça os novos lançamentos da coleção “Janela do Caos” As inquietações poéticas de Ronald Polito e Jorge Henrique Bastos O sarcasmo e o humor negro de Eletroencefalodrama, de Joca Reiners Terron Walter Benjamin é tema de ensaio de Pierre Missac e Márcio Seligmann-Silva 27 Xxx O crítico português Eduardo Lourenço fala sobre Mitologia da saudade, seu novo livro de ensaios Marcelo Coelho discute as relações entre jornalismo e crítica O livro Altas literaturas, de Leyla Perrone-Moisés, analisa a obra de “autores-críticos” Leia os Primeiros poemas do Fausto, de Caetano Waldrigues Galindo Os melhores lançamentos do mercado editorial Oito poemas da compositora, atriz, diretora teatral e poeta Beatriz Azevedo xxx xxx As questões lingüísticas da poesia de Drummond Almanaques eram alimento para leitura nos anos 20 O professor Pasquale Cipro Neto discute frases estruturalmente ambíguas Um poema de Cecília Meireles publicado na revista Portugal em 1923 Dez poetas escrevem sobre a onipresença de Drummond na literatura brasileira Um panorama da prosa e da poesia contemporâneas em Portugal xxx xxx Cartas, fax e e-mails dos leitores CULT Milton Hatoum comenta Quadragésimo e Tarso M. de Melo analisa Mar abierto, livro de ensaios de Horácio Costa Coluna de João Alexandre Barbosa entra em nova fase J. Guinsburg escreve sobre a Cartas, fax e e-mails dos leitores CULT Um conto inédito da filósofa Jeanne Marie Gagnebin xxx xxx João Alexandre Barbosa comenta o novo livro do crítico Victor Brombert xxx 190 Música Xxx Arte Xxx Memória Xxx Poesia Xxx Capa Xxx concepção do humorismo em Luigi Pirandello Anna Maria Kieffer mapeia história da música brasileira Cosac & Naify lança no Brasil a série Arte Moderna: Práticas e debates A brutalidade do fato reúne nove entrevistas com Francis Bacon Há cem anos nascia o escritor francês Jacques Audiberti Nelson Ascher comenta os lançamentos do selo Sebastião Grifo Xxx Romance Xxx Xxx Turismo Xxx Xxx Edição Notas Entrevista Rumos da Literatura e Crítica Prêmio Nobel Leituras Cult Gaveta de Guardados Entre Livros Vive la France! Evento Turismo Literário Na Ponta da Língua Homenagem Criação Memória em Revista Capa/Dossiê 28 Xxx Ernesto Sábato fala sobre sua pequena mas densa obra e de sua atividade política Eugênio Bucci discute as implicações éticas da crítica televisiva O escritor alemão Günter Grass leva a mais importante premiação de literatura Os melhores lançamentos de livros do mercado editorial Conto inédito do escritor e tradutor Ivo Barroso João Alexandre Barbosa lê Mitologia da saudade de Eduardo Lourenço Escritores falam de sua relação pessoal com a literatura francesa Porto Alegre sedia a Feira do Livro e a Bienal de Artes do Mercosul A Turim de Ítalo Calvino e dos “cavaleiros da távola oval” O professor Pasquale Cipro Neto discute ambigüidades recônditas Um ano de morte de Orides Fontela, poeta do silêncio e da indagação do ser “O beijo da locomotiva”, conto de Roberto de Sousa Causo Edição de novembro de 1933 da revista O Malho A obra fundadora da psicanálise faz cem anos e reafirma a importância xxx xxx xxx Cristal traz uma antologia do poeta Paul Celan Um perfil do dramaturgo Plínio Marcos e de O truque dos espelhos, seu novo livro de contos Trama policial de Crime de Estado envolve o mundo da diplomacia A Florença de Leonardo Da Vinci e de Maquiavel 29 Xxx O escritor siciliano Andréa Camilleri fala de sua obra romanesca Ensaio da semioticista Lucia Santaella encerra série do Itaú Cultural xxx 30 Xxx Ignácio de Loyola Brandão fala de seu retorno à ficção xxx Os melhores lançamentos do mercado editorial Um conto inédito de Marcelo Mirisola Poema de Frederico Barbosa descreve a contagem da virada do século xxx João Alexandre Barbosa analisa O Ateneu, de Raul Pompéia xxx xxx A paisagem cabralina de Pernambuco e Recife O professor Pasquale aborda a dimensão lingüística da poesia de João Cabral xxx No aniversário de São Paulo, um itinerário poético da Paulicéia O professor Pasquale navega pela origem das palavras O poema Walk – Don’t Walk, de Rafael Rocha Daud Lembranças de São Paulo resgata história através de cartões-postais xxx Conto de Marcelo Moutinho retrata as melancolias da vida circense Os desenhos de Renato Palmeira para a revista Phoenix, de 1925 191 Do Leitor de Freud para o século XX Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Xxx Capa/ Entre Livros Xxx Literatura Alemã Dossiê Xxx Xxx Capa/ Resenha Xxx Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Livro de Ivan Teixeira analisa influência de Pombal na poesia do século XVIII João Alexandre Barbosa analisa a “poesia crítica” de João Cabral Sai em livro o périplo de Goethe pela Itália Livros sobre cultura e gastronomia são encontro entre saber e sabor Xxx Poesia Xxx Xxx Literatura Italiana Lingüística Xxx Xxx Xxx Xxx História Xxx Xxx Edição Notas Entrevista 31 Xxx Fernando Bonassi fala de seu novo romance, O céu e o fundo do mar 33 xxx Sebastião Uchoa Leite fala sobre A espreita, seu novo livro de poemas Entre Livros João Alexandre Barbosa celebra a memória do poeta Jorge Wanderley Poesia Livros e CDs que trazem poesia sonora e visual ganham espaço no mercado Olho-de-corvo desvenda a poética abissal do escritor Yi Sán A surpreendente multiplicidade dos substantivos abstratos 32 Xxx O escritor Mário Chamie fala sobre o movimento da poesiapráxis João Alexandre Barbosa analisa pensamento literário de Gilberto Freyre O poeta norte-americano Douglas Messerli lança livro em São Paulo Xxxx Falta clareza ao “Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa” Revista Vitrina, dos anos 40, era Revista Summula, dos anos 30, idílio inocente num mundo em traz depoimentos “pacifistas” convulsão de Hitler Oito poemas inéditos do escritor Dois contos inéditos do crítico paulista Fabio Weintraub literário e editor J. Guinsburg Uma entrevista com Cildo Meireles, Xxxx cuja obra terá retrospectiva em exposição e livro Os peixes reúne poemas em série de Leia o conto “Sete vezes o sol”, Manoel Ricardo de Lima de Marcos Cesana A prosa radical do Finnegans wake O cenário de Gilberto Freyre, de Joyce começa a ser publicada no autor de Casa-grande & Brasil Senzala A cidade de Dublin é personagem Desenho de Cícero Dias recorrente de James Joyce transporta leitor ao mundo de Gilberto Freyre Cartas, fax e e-mails dos leitores de Cartas, fax e e-mails dos CULT leitores de CULT Xxx A designer Emilie Chamie lança livro com retrospectiva de sua obra O professor Pasquale continua sua análise do “Acordo Ortográfico” Literatura & História Literatura coreana Na Ponta da Língua Memória em revista Gaveta de guardados Arte Criação Dossiê Turismo literário Do leitor Design Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Ivan Teixeira contesta resenha de seu livro por Fábio Lucas Uma história das lúbricas relações entre erotismo, pornografia e literatura Loyola lança o volume de contos O homem que odiava a segunda-feira Donizete Galvão lança Ruminações, seu quinto livro de poemas Mulher de Porto Pim registra a experiência de Tabucchi nos Açores O nome de Deus, de Gershom Scholem, traz decifrações cabalísticas A vida mítica de Anita Garibaldi João Alexandre Barbosa analisa a evolução poética de Sebastião Uchoa Leite xxx xxx Um retrato de Cacilda Becker na São Paulo Magazine de 1955 Leia onze poemas inéditos do escritor Ademir Assunção xxx Conheça a produção do designer e artista plástico Jorge Padilha Brasil descobre a obra do escritor argentino Roberto Arlt Ensaio fotográfico segue as trilhas de Grande Sertão: Veredas Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT xxx 192 Contos Xxx Evento Xxx Réplica Xxx Redescoberta do Xxx Brasil Capa Xxx (os sobreviventes) reúne contos do jornalista Luiz Ruffato Semana da Francofonia defenda pluralidade lingüística e cultural Philadelpho Menezes responde às críticas a seu trabalho Xxx Xxx Bienal do Livro Xxx Xxx Homenagem Xxx Xxx Edição Notas Entrevista 34 Xxx Roberto Piva fala sobre sua trajetória poética Nova edição de Paranóia permite reavaliar a obra de Roberto Piva João Alexandre Barbosa comenta o Livro do centenário, de 1900 35 Xxx A ensaísta Argentina Beatriz Sarlo fala sobre arte e literatura Xxx Entrevista/ Resenha Entre Livros Música A canção no tempo recapitula oitenta anos de MPB Ficção & Livros de Juliano Garcia Pessanha Filosofia são encontro singular de poesia e reflexão Redescoberta do Roberto Ventura escreve sobre a Brasil obra do pensador Manoel Bomfim João Alexandre Barbosa comenta impacto de Ernest Renan no Brasil xxx Do Leitor Ensaio 36 Xxx Milton Hatoum fala do processo de criação de Dois irmãos Novo romance de Hatoum narra busca da memória familiar João Alexandre Barbosa comenta a trajetória do editor Cláudio Giordano xxx O ensaísta Claude-Gilbert Dubois discute o imaginário da França Antártica Polêmica sobre a segunda pessoa mostra radicalismo teórico e preguiça pedagógica Um conto do escritor Valêncio Xavier com fotos de Milla Jung Nadja é uma viagem pela Paris surrealista de André Breton Poetas eslovenos percorrem cidades xxx brasileiras Revista dos anos 50 era “órgão Conheça a revista Rio, editada oficial do Clube de Lady do Brasil” nos anos 40 por Roberto Marinho Um conto inédito da jornalista Oito poemas de Priscila Neuza Paranhos Figueiredo Os vinte anos da morte do filósofo Filosofia e política na visão de Jean-Paul Sartre Marilena Chauí, maior pensadora brasileira Cartas, fax e e-mails dos leitores de Cartas, fax e e-mails dos CULT leitores de CULT Xxx Livro de Dominic Strinati discute a cultura de massa Dossiê Ensaio abre série que investiga a identidade cultural brasileira Correspondência entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira recupera itinerário de uma amizade poética As indicações dos melhores lançamentos da Bienal de São Paulo Eventos em Viena homenageiam o escritor irlandês Samuel Beckett João Alexandre Barbosa comenta as polêmicas entre Sílvio Romero e José Veríssimo xxx Na Ponta da Língua Criação xxx xxx Torre de Montaigne desvenda intimidade do autor dos Ensaios Nova série lança olhar estrangeiro sobre a “Paulicéia desvairada” Memória em Revista xxx xxx Turismo Literário Folhetim/ F(oeil)leton Gaveta de Guardados Literatura Francesa Evento xxx Emmanuel Tugny escreve segundo texto da série sobre São Paulo O professor Pasquale analisa a canção Sampa de Caetano Veloso Quatro poemas inéditos de Rodrigo Garcia Lopes xxx Madri de Ramón Gómez de la Serna é Babilônia espanhola xxx Valor periférico dos verbos pode ser álibi de políticos corruptos xxx xxx xxx Um poema de Drummond para Esfera, revista carioca dos anos 40 xxx A nova tradução e as releituras ficcionais da América de Kafka Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT xxx 193 Polêmica Xxx Biografia CULT Xxx Mário Chamie responde a cartas publicadas na CULT 34 Livros de João de Minnas e Benjamin Costallat trazem belle époque carioca A lenda do pianista do mar, filme de Tornatore, leva livro de Alessandro Baricco às telas Xxx Literatura Brasileira xxx Cinema Xxx CULT Movies Xxx Xxx Radar CULT Xxx Xxx Edição Entrevista 37 Sebastião Nunes relança História do Brasil e fala do sarcasmo visual e verbal de sua obra Memória em Paralelos tinha Antonio Candido e Revista Décio de Almeida Prado como colaboradores Redescoberta do Os sertões, de Euclides da Cunha, Brasil transita entre literatura, história e ciência Na Ponta da O uso criativo do subjuntivo por Língua Machado de Assis Turismo Literário Radar CULT Rio de Assis resgata a cidade perdida do autor de Esaú e Jacó Seção de criação literária traz texto em prosa inédito do poeta Ferreira Gullar CULT Movies Em o Leopardo, Visconti recria o olhar aristocrático de Lampedusa Dossiê CULT Há cem anos morria Friedrich Nietzsche, filósofo alemão que demoliu a metafísica Do Leitor Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Biografia CULT Xxx Entre Livros Xxx Capa Xxx Arte Xxx Literatura Italiana Xxx Edição Entrevista 40 Armando Freitas Filho fala de Fio terra, seu novo livro de poemas História O que eu vi, o que nós veremos traz memórias de Santos Dumont xxx xxx xxx Há cem anos nascia o poeta francês Jacques Prévert Seção sobre cinema e literatura enfoca Apocalipse Now Nova seção mapeia os itinerários da literatura brasileira contemporânea 38 O poeta Décio Pignatari fala de Errâncias, sua obra de “memorialismo semiótico” Conheça Stradivarius, revista de 1953 dedicada à música 39 O chulo e o chic em depoimento do poeta Glauco Mattoso Darcy Ribeiro formulou utopia a partir da miscigenação racial Lisboa discute 500 anos de encontros e desencontros entre Brasil e Portugal Poema de Vinicius de Moraes consagrou mudança de valor da expressão “posto que” Os diferentes usos de locuções verbais como “tem havido” Caderno de criação literária traz poemas inéditos de Waly Salomão Xxx CULT começa a publicar em capítulos novela de Marcelo Mirisola Crônica de Agostinho de Campos fala da chegada do foot-ball em Portugal Uma homenagem ao centenário de morte de Eça de Queirós Antologia poética, exposição e ciclo de cinema trazem expressionismo alemão a São Paulo Cartas, fax e e-mails dos leitores Cartas, fax e e-mails dos leitores de de CULT CULT Vida do escritor Ernest Hemingway foi marcada por guerras e aventuras João Alexandre Barbosa discute Poesia e pensamento na Máquina do a prosa ensaística de André mundo de Haroldo de Campos Gide Xxx Publicação de Octaedro e da Obra crítica permitem reavaliar obra de Cortazar Xxx Panorâmica de Alex Flemming mostra uso plástico da palavra Xxx Annalisa Cima fala sobre o Diário póstumo de Eugênio Montale 41 Um depoimento de Eduardo Galeano, autor de As veias abertas da América Latina O sociólogo Carlos Eugênio Marcondes de Moura expõe nossa mestiçagem ancestral 42 O poeta Francisco Alvim fala de Elefante, seu sétimo livro Xxx 194 Memória em Revista Homenagem Na Ponta da Língua Revista Nacional era “mensário de intercâmbio cultural” dos anos 30 Artes gráficas perdem o talento da designer Emilie Chamie A “uniformidade de tratamento” em Os passistas, de Caetano Veloso Califórnia é a terra prometida das letras norte-americanas Contos de Angu de sangue trazem universo estilhaçado de Marcelino Freire Radar CULT Seção de criação literária traz poemas inéditos de Júlio Castañon Guimarães Redescoberta do Os relatos das expedições italianas Brasil ao Brasil pré-cabralino Revista da Semana traz crônica de João do Rio xxx Uma coluna da revista Automóvel Clube assinada por Ferreira Gullar Xxx Os substantivos concretos e abstratos em música de Gilberto Gil xxx A música substantiva de Tom Jobim em “Águas de março” Turismo Literário Entre Livros xxx CULT Movies “poesia CULT” traz três inéditos de Zulmira Ribeiro Tavares Último ensaio da série aborda a duplicidade da obra de Gregório de Mattos xxx Dossiê Caderno de Viagem Do Leitor Entrevista/ Resenha Ran é releitura do Rei Lear de Shakespeare por Akira Kurosawa Há cem anos morria Oscar Wilde, o dândi das letras Xxx Xxx Xxx Há 20 anos morria Nelson Rodrigues, um divisor de águas no teatro brasileiro Nova seção traz interpretação visual de conto de Paul Bowles Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Xxx Londres de Shakespeare era rive gauche elisabetana Xxx Seis propostas de Horácio Costa para a poesia do próximo milênio Xxx Xxx A atualidade da obra de Graciliano Ramos Xxx Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Elefante atualiza a lição modernista, denunciando o absurdo da vida moderna Conheça a comissão julgadora do concurso promovido pela CULT A poesia experimental do austríaco Ernst Jandl, morto no ano passado Série Cahiers d’Artiste traz diário íntimo de Rubens Gerchman Redescoberta da Xxx Literatura Biografia Xxx Xxx Arte Xxx Xxx Edição Entrevista 43 O romancista pernambucano Gilvan Lemos fala de sua trajetória literária 45 Veríssimo fala da grandeza que há na fugacidade da crônica Caderno de Viagem Arte Um passeio visual pelo poema Altazor, de Vicente Huidobro Brasil 1920-1950: da Antropofagia a Brasília leva identidade póscolonial à Espanha O uso da partícula “se” na voz passiva a partir de poema de Cecília Meireles O Teatro Terrível revela a obra dramatúrgica de Elias Canetti Um poema de Ademir Assunção publicado na última edição da revista Bric à Brac Oito poemas inéditos do escritor e tradutor Régis Bonvicino 44 O filósofo italiano Gianni Vattimo fala de seu “pensamento fraco” xxx xxx xxx A partícula “se” no poema “Catar feijão”, de João Cabral de Melo Neto Xxx Os enganos no uso literal do advérbio “literalmente” Carta inédita de Oswaldo Aranha ao General Góes Monteiro Um poema do norte-americano Michael Palmer sobre São Paulo Heidegger, o filósofo que resumiu os dilaceramentos do século XX Cartas, fax e e-mails dos xxx Na Ponta da Língua Teatro Memória em Revista Radar CULT Dossiê Do Leitor Releituras destacam história, psique e metalinguagem em Guimarães Rosa Cartas, fax e e-mails dos leitores de Xxx xxx xxx Um conto inédito do escritor Cristóvão Tezza A literatura argentina das últimas duas décadas Cartas, fax e e-mails dos leitores de 195 CULT Biografia CULT Xxx História Xxx CULT Movies Xxx Evento Xxx Entrevista/ Resenha Fotografia Xxx leitores de CULT A poeta norte-americana Laura Riding e suas investidas antipoéticas Villa Kyrial: tradição e renovação na belle époque de São Paulo Relíquia macabra é transposição para as telas do clássico noir O falcão maltês Semana da Francofonia reúnes vozes de três continentes Xxx Xxx Xxx Turismo Literário Fronteiras Culturais Xxx Xxx Xxx Xxx Literatura Brasileira Poesia Xxx Xxx Xxx Xxx Redescoberta da Xxx Literatura Xxx Edição Entrevista 46 Eduardo Subirats fala de seu novo livro, A penúltima visão do paraíso Redescoberta da Conheça os ganhadores do prêmio Literatura promovido pela CULT Brasileira Capa O centenário de nascimento do poeta mineiro Murilo Mendes Fronteiras Segundo ensaio da série discute Culturais multiculturalismo e identidade nacional Bienal do Livro Os principais lançamentos da X Bienal Internacional do Rio de Janeiro Na Ponta da A contaminação lingüística na música Língua “Dinamarca” de Gil e Milton Nascimento Radar CULT Quatro poemas inéditos de Carlos Ávila Memória em Revista Europa em Obras Dossiê Uma carta de Murilo Mendes ao poeta e crítico Wilson Rocha Encontro discute a constituição do imaginário europeu na literatura Literatura espanhola é atração da Bienal do Rio Do Leitor Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Xxx Entre Livros CULT xxx xxx xxx xxx Novo romance de Veríssimo é uma armadilha no labirinto de Borges O álbum de Afonso documenta a São Paulo do início do século XX Uma visita à Belluno do escritor italiano Dino Buzzati Jacques Leenhardt inicia série de ensaios discutindo a unidade simbólica dos pampas Reedição de O agressor traz a escrita alucinatória de Rosário Fusco Nova Aguilar lança a Obra completa do romântico Álvares de Azevedo CULT promove cerimônia de entrega de prêmio literário 47 O jornalista José Castello fala de Fantasma, seu primeiro romance Xxx 48 Raimundo Carrero analisa a crise cristã e os dilemas existenciais em sua obra xxx Xxx A fragilização das fronteiras por meio da poesia gauchesca Há trinta anos morria o compositor e poeta norte-americano Jim Morrison O silêncio sobre as traduções que transitam entre Brasil e Argentina Xxx xxx Professor Pasquale discute o uso do verbo “haver” Os diferentes usos do pronome “si” em Brasil e Portugal Um conto inédito de João Gilberto Noll O escritor Juliano Garcia Pessanha discorre sobre a “Província da escritura” Monteiro Lobato escreve para Francisco Solano Carneiro da Cunha xxx Duas cartas de Alcântara Machado a Plínio Barreto xxx O centenário do escritor António de Alcântara Machado Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT O prefácio de João Alexandre Barbosa para Prosa, livro de poemas de Eduardo Sterzi A cosmogonia experimental de Osman Lins Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT João Alexandre Barbosa fala da obra ensaística do escritor Aldous Huxley 196 Biografia CULT Xxx Entrevista/ Resenha xxx Thomas Mann – Uma biografia traça um perfil histórico do romancista alemão Há cem anos nascia o escritor regionalista José Lins do Rego Pensando o ritual, novo livro do pensador italiano Mario Perniola xxx Ficção e História Xxx Xxx Literatura Brasileira Filosofia Edição Entrevista Ensaio Memória em Revista CULT Movies Xxx Xxx 49 Celso F. Favaretto lança novas luzes sobre a obra de Caetano Veloso Cláudio Willer reflete sobre a crise da crítica literária contemporânea As colaborações de Drummond e Paulo Rónai para a revista Sul América O cinema falado, filme experimental de Caetano Veloso Fronteiras Culturais Na Ponta da Língua Radar CULT Rio Grande do Sul, um território entre periferia e fronteira As várias línguas da canção “Língua”, de Caetano Veloso Um conto inédito de Sérgio Sant’Anna Dossiê Em entrevista exclusiva à CULT, Caetano Veloso fala sobre cultura e literatura Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Xxx Do Leitor Capa Entrevista/ Resenha Literatura Brasileira Evento Xxx Xxx Xxx Literatura Alemã Xxx Primavera dos Livros Xxx Edição Entrevista 52 Um depoimento do poeta francês Michel Deguy Ensaio de Carlos Felipe Moisés disseca obra poética de Marcel Proust Um passeio pela “Paris ideal” de Literatura Francesa Turismo xxx xxx xxx Com Sombra severa Carrero fecha trilogia de reflexão sobre a condição humana No coração do mar, de Nataniel Philbrick, redireciona as atenções para o clássico Moby Dick 50 A vanguarda poética do italiano Edoardo Sanguineti xxx 51 O poeta Waly Salomão fala de sua escrita metabolizadora xxx Mais duas cartas de Monteiro Lobato a Francisco Solano Carneiro da Cunha Memórias póstumas, de André Klotzel, revisita o defunto Brás Cubas Xxx A revista mensal O Mundo Literário, que circulou na década de 1920 Concordância verbal revela a posição sustentada pelo falante Um poema inédito de Arnaldo Antunes e Josely Vianna Baptista Megaexposição resgata debate sobre vanguarda surrealista Professor Pasquale fala sobre a origem da palavra “retaliação” Um nome – Ensaio para sinônimos, novela inédita de Diógenes Moura xxx xxx Centenário de Cecília Meireles resgata tradição do lirismo absoluto na poesia brasileira Cartas, fax e e-mails dos leitores Cartas, fax e e-mails dos leitores de de CULT CULT Homenagem a Jorge Amado xxx traz ensaios sobre sua vida e obra Xxx O mel do melhor traz panorama da obra nômade de Waly Salomão Xxx A literatura marginal de João Antônio e Fernando Bonassi Xxx Instituto Goethe promove encontro de revistas literárias de Brasil e Alemanha Xxx Leia um conto da alemã Tanja Dückers que participará do evento no Instituto Goethe Xxx Feira no Rio de Janeiro reúne 56 editoras exclusivamente dedicadas à literatura 53 Sublunar traz antologia do poeta Carlito Azevedo xxx 54 Depoimentos do cordelista cearense Patativa do Assaré xxx xxx xxx 197 Literário Na Ponta da Língua Radar CULT CULT Movies Memória em Revista Dossiê Do Leitor Em busca do tempo perdido Professor Pasquale inicia série sobre novos dicionários da língua portuguesa A experiência da recordação em Poeira, nova coletânea do poeta Fernando Paixão Lavoura arcaica traz universo de Radiam Nascer para o cinema Cláudio Giordano resgata figura do poeta Martins Fontes Conheça a história do Oulipo, grupo que reuniu os escritores Queneau, Perec e Calvino Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Xxx Professor Pasquale continua série sobre dicionários O professor Pasquale Cipro Neto discute as ambigüidades da linguagem O apocalipse segundo Nelson de Oliveira Edição especial sobre os ganhadores do Prêmio Redescoberta da Literatura Brasileira xxx Xxx Um artigo sobre livro de Cecília Meireles publicado em 1923 Literatura expressa diversidade do Islã Trechos do livro Domingo dos séculos, de Rubens Borba de Moraes Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT xxx História e Linguagem Xxx Ensaio Xxx Entrevista/ Ensaio Entre Livros Xxx Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Ataques aos EUA são reação à mobilização total do mercado Catástrofe e representação discute testemunho de eventos traumáticos A caverna, de Saramago, antecipou atentados terroristas Xxx Xxx Xxx Literatura Brasileira Xxx Xxx Edição Entrevista 55 Paulo César Pinheiro fala de sua obra situada entre a música e a poesia A trajetória singular do editor e crítico Roberto Alvim Corrêa Professor Pasquale escreve sobre o labirinto sintático do Hino Nacional Uma conversa de Haroldo de Campos com o poeta argentino Juan Gelman Um conto inédito do escritor André Sant’Anna Os 80 anos da Semana de 22 e a edição das obra incompleta de Oswald de Andrade Um texto de Luiz Annibal Falcão sobre a Semana de 22 escrito em 1935 Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Xxx 56 As memórias de Fernanda Pivano, tradutora italiana da Geração Beat Obra de Graciliano Ramos explora limites da representação As diferenças da língua falada em Brasil e Portugal xxx Filosofia Entre Livros Na Ponta da Língua Diálogo Literário Radar CULT Dossiê Memória em Revista Do Leitor Tradição e contemporaneidade na poesia popular de cordel xxx xxx A oralidade nos repentes do poeta violeiro Uma homenagem ao ensaísta gaúcho Augusto Meyer, nascido há 100 anos Biografia e coletânea de ensaios rememoram o poeta Paulo Leminski 57 João Ubaldo Ribeiro fala de seu novo romance João Alexandre Barbosa homenageia editores Pasquale comenta o “mais-queperfeito” xxx Sete exercícios poéticos de Novos talentos em verso e prosa Manoel Ricardo Lima Um panorama da literatura norte- xxx americana contemporânea Uma carta inédita do poeta Jorge de Lima xxx Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT xxx Literatura Italiana Ensaio Xxx Agenda CULT Música Xxx Xxx Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Sai no Brasil primeiro romance de Fernanda Pivano O pensador Mauro Maldonato disseca a identidade pósmoderna Xxx Xxx Bienal Xxx Xxx xxx Eventos, cursos e sugestões de leitura Lenine assume a proa do barco da MPB Os destaques do maior evento editorial 198 Dossiê CULT Xxx Edição Agenda CULT 58 Eventos, cursos e sugestões de leitura Nova seção registra a cena cultural Instantâneos Entrevista Na Ponta da Língua Entre Livros Estante CULT Fonotipia O cineasta Nelson Pereira dos Santos As “contaminações” lingüísticas Drummond foi “poeta do conhecimento” Marcelo Mirisola estréia no romance As filigranas musicais de Chopin Radar CULT Um espaço para a poesia e a prosa contemporâneas Filosofia CULT Bacon e as origens da modernidade Capa Crepúsculo dos gramáticos é sintoma de crise da língua Dança História e tradição na escola do Teatro Municipal Dossiê CULT O centenário de Sérgio Buarque de Holanda Do Leitor Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT Fotografia Xxx Xxx 59 60 Eventos, cursos e sugestões de Eventos, cursos e sugestões de leitura leitura Imagens da cena cultural e Imagens da cena cultural e artística artística Os 80 anos de Arcângelo Ianelli Ferreira Gullar relança ensaios sobre arte Pasquale continua análise das Pasquale continua análise das “contaminações” “contaminações” Um romance que persegue as Drummond e o conhecimento pela trilhas de Dostoiévski poesia A ficção do espólio de Kafka Duas antologias de poesia brasileira CD traz nova interpretação de Camargo Guarnieri xxx Situações críticas Filosofia Xxx Radar Xxx Arte Xxx Xxx Do Prelo Xxx Xxx Ensaio Xxx Xxx Edição Agenda CULT 61 Eventos, cursos e sugestões de leitura Arte e publicidade segundo Washington Olivetto Imagens da cena cultural e artística Entrevista Instantâneos Teatro Política Cultural Entre Livros Capa Situações Críticas Chico César e o medo da globalização xxx Narrativas do cárcere renovam literatura brasileira xxx A biografia e as novas traduções de Dostoiévski Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT A crônica em imagens de Paulo Garcez Nova seção discute questões contemporâneas O problema da causalidade em Aristóteles Inéditos de prosa e poesia Xxx do Brasil Os 120 anos de nascimento de Monteiro Lobato Lógica e ética no pensamento de Wittgenstein Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT As convergências de Machado e Rosa Espinosa e a causalidade em xeque Quatro poemas inéditos de Waly Salomão O templo e a mitologia pessoal de Francisco Brennand Trechos do novo romance de Ignácio de Loyola Brandão Alguma criticar reúne textos de João Alexandre Barbosa 62 63 Eventos, cursos e sugestões de Eventos, cursos e sugestões de leitura leitura A ironia cáustica de Jamil Snege Crise e transição democrática por Clóvis Rossi Primavera dos Livros chega a Eventos na Biblioteca Nacional e na São Paulo Casa das Rosas Os 80 anos de Paulo Autran xxx xxx Leis de incentivo são entraves para a xxx xxx cena cultural João Alexandre conclui ensaio sobre xxx xxx Drummond Pensadores brasileiros falam sobre a xxx 50 anos da polêmica entre Camus e atualidade de Karl Marx Sartre Ataques terroristas e realidade A fantasmagoria onipresente da xxx global TV 199 Fonotipia Radar Filosofia Na Ponta da Língua Dossiê Francisco Alves e a elegância dos bambas Poemas inéditos de Luis de Dolhnikoff Finalidade e ignorância em Espinosa Estante CULT A importância da vírgula no discurso Antonio Candido lança livros e dá depoimento exclusivo Cartas, e e-mails dos leitores da CULT Xxx Televisão Xxx Contraponto Xxx Cinema Xxx Do Leitor Edição A Hipótese de Deus Entrevista/ Notker Wolf Trajetórias de Agostinho A Loucura da Fé xxx xxx A “peleja” metafísica de Luís Augusto Cassas Noção de progresso e modernidade O futuro do passado no português O centenário de nascimento de Drummond Cartas, e e-mails dos leitores da CULT Livro disseca a estetização do corpo Vertigem e fragmentação da informação A diversidade da música instrumental brasileira Xxx Poemas em prosa de Contador Borges A noção de progresso no século XVII Pasquale discute combinações pronominais Os 80 anos da morte de Lima Barreto Cartas, e e-mails dos leitores da CULT Adoniran Barbosa: samba e Sampa Discípulos homenageiam Miles Davis 007: ícone da guerra fria sobrevive à globalização 64 O caráter crítico da religião 65 xxx 66 xxx A convergência entre fé e razão xxx xxx O primeiro grande filósofo cristão xxx xxx A tradição mística de Eckhart e S. João da Cruz O transcendente e o absoluto xxx xxx xxx xxx A fé racional de Santo Tomás de Aquino O paradoxo humano segundo Martinho Lutero Crise de paradigmas e religião xxx xxx xxx xxx xxx xxx Ensaio de Franklin Leopoldo e Silva Ética, religião e globalização xxx xxx xxx xxx Entrevista/ D. Estevão de Souza O Cativeiro Libertador Sobre Fé e Liberdade Entrevista / Paulo Roberto Garcia O Mediador e a Solidão Depoimento/ Frei Carlos Josaphat Filosofia e Mística em Simone Weil O Adeus Interminável O Sagrado no Cinema Agenda CULT O legado da pensadora francesa xxx xxx Representações literárias do imaginário cristão Imagens e narrativas da transcendência Xxx xxx xxx xxx xxx Eventos, cursos e sugestões de leitura Entrevista Xxx Sertões Xxx Filosofia Xxx Cinema Xxx Eventos, cursos e sugestões de leitura O filósofo francês JeanFrançois Mattéi Cem anos do clássico de Euclides da Cunha Liberdade e independência em Leibniz Obras-primas do terror em DVD O pensamento de Gaston Bachelard Situações Críticas Xxx Com o poeta peruano Antonio Cisneros xxx Pascal e a questão da diversão xxx xxx 200 Contraponto Xxx Radar Xxx Na Ponta da Língua Dossiê Do Leitor Xxx Estante CULT Fotografia Semana 22 Xxx Xxx Xxx Edição Agenda CULT Xxx Xxx Biscoitos finos do gramofone agora em CD Inéditos de Marcelo Tápia e de Carlos Eduardo de Magalhães O “cujo” na berlinda Beatles, o eterno paradigma pop Cartas e e-mails dos leitores da CULT Xxx Xxx Xxx A literatura gay: variações e ícones Cartas e e-mails dos leitores da CULT Os fantasmas de Ernesto Sábato Ruas literárias de João Correia Filho Dois livros revisitam eclosão do modernismo 68 Eventos, cursos e sugestões de leitura A música livre de Hermeto Pascoal Hector Babenco: o cineasta da palavra Xxx 69 Eventos, cursos e sugestões de leitura A crise permanente do gênero romanesco xxx Livros recuperam história do cinema industrial paulista xxx Um conto inédito do escritor Luiz Ruffato A ficção, a poesia e o teatro de Chico Buarque Cartas e e-mails dos leitores da CULT Ética & Política Xxx A poesia do indizível de Fernando Pessoa Xxx Berkeley em Bellagio, novo romance de Noll Xxx Dois contos inéditos de João Gilberto Noll O realismo mágico de William Faulkner Cartas e e-mails dos leitores da CULT O cotidiano da prisão: do livro ao filme Uma amizade epistolar Mark Twain, o arauto do antiimperialismo Xxx Bienal do Rio Xxx Xxx Música Xxx Xxx Fotografia Xxx Xxx Contraponto Entrevista Na Ponta da Língua Situações Críticas Capa Estante CULT Filosofia Radar Dossiê Do Leitor Carandiru 67 Eventos, cursos e sugestões de leitura Frevo de Jackson do Pandeiro é revisitado Tom Zé: do sertão para o mundo Charlie Haden analisa sonho americano Um conto inédito de Neuza Paranhos O paralelismo sintático Três verbos problemáticos Recuperando a Angústia de Graciliano Ramos Hitler, a fisionomia do genocídio A selvagem jornada de Hunter Thompson A razão do método de Descartes Adaptação em verso da peça Woyzeck Livros e DVDs invadem a terra em transe de Glauber Rocha Cartas e e-mails dos leitores da CULT Xxx Carlos & Mário Xxx Inéditos Xxx Edição Agenda CULT Entrevista Contraponto Ética & Política Situações Críticas Capa 70 Eventos, cursos e sugestões de leitura A prosa ácida de Marcelo Mirisola O novo CD do pianista Cláudio Dauelsberg Roberto Romano estréia em nova seção Dois momentos marcantes dos festivais de MPB Uma anatomia do fenômeno Paulo O canto econômico da mineira Ceumar O filósofo italiano Antonio Negri comenta Império A construção de “Construção” xxx xxx xxx Renato Janine Ribeiro inaugura nova seção Os destaques do maior evento editorial do ano O filme de João Moreira Salles sobre Nelson Freire A biografia em imagens do etnólogo Pierre Verger 71 xxx 72 Xxx A escritora Ana Maria Machado Exclusiva com Roberto Schwarz xxx Renato Janine Ribeiro analisa o discurso de Lula Deus como método e a teologia do vazio Blues: um século de paixão, Roberto Romano analisa a função política do riso xxx xxx 201 Coelho dor e poesia Um conto inédito de Airton Paschoa Dois contos de João Carrascoza Cinema Obra-prima de Buñuel sai em DVD A indigestão insolente de A comilança Estante CULT Um clássico de Adelbert Von Xxx Chamisso Dossiê O centenário do memorialista Pedro O centenário do escritor inglês Nava George Orwell Do Leitor Cartas e e-mails dos leitores da Cartas e e-mails dos leitores da CULT CULT Turismo Cultural Xxx São Luís do Maranhão Serviço Xxx Cursos e eventos Seleção CULT/Agenda Crítica Literária Xxx Xxx Radar Música Erudita Seleção CULT CDs/ Brasil e Mundo Cinema Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Edição 73 Seleção CULT/ Mostra Internacional de cinema em Agenda destaque Entrevista O novo livro de Ruy Castro Memória O concretismo perde Haroldo de Campos Ética & Política Renato Janine Ribeiro analisa declínio dos elos sociais Crítica Literária O romance histórico de Roa Bastos e o crítico russo Bakhtin Música Erudita Música Brasileira Seleção CULT CDs/ Brasil e Mundo Cinema Vinicius de Moraes Lector in Fabula Flip Dossiê xxx O centenário de nascimento do filósofo Theodor Adorno Cartas e e-mails dos leitores da CULT xxx xxx Destaques para a Pinacoteca e o MAM A tradução de Finnegans wake e as Cartas do Brasil de Vieira Bach e Webem Elizeth Cardoso em 4 CDs reeditados Ingmar Bergman sonda o sentido da vida 74 xxx 75 xxx John Gledson propõe outro modelo para a história da literatura nacional Xxx O artista Carlos Eduardo Uchoa apresenta a religião da arte Por que parte da população deseja a pena de morte? Gabriel García Márquez esconde mais do que revela em sua autobiografia Rachel de Queiroz marca o fim de um momento brasileiro Renato Janine Ribeiro explica a necessidade da boa educação Sérgio Sant’Anna promove o pensamento vertical O compositor Charles-Valentin Alkan Entrevista com José Miguel Wisnik Baden Powell, choro e Johnny Cash A fábula satírica de Vittorio de Sica O sistema de produção de filmes determina a nova estética O poeta da paixão Nova seção discute questões de teoria literária Depois da festa, ficam as perguntas A permanência da poética de Baudelaire Radar Textos de Nelson Moraes e Lauro Marques Do Leitor Cartas e e-mails dos leitores da CULT Xxx Agenda Fragmentos de Jorge Pieiro e Sérgio Medeiros xxx A crítica pode ser também um exercício de criação O resgate de José Veríssimo Maquiavel pensa a política, o Estado e o futuro das organizações sociais A prosa de Ernesto Araújo e a poesia de José Edmilson Rodrigues Cartas e e-mails dos leitores da CULT A companhia de dança Momix retorna ao Brasil e o CCBB A liberdade, a vontade e o Bem em Santo Agostinho Leia crônicas, inéditas em livro, de Nelson Rodrigues Cartas e e-mails dos leitores da CULT Terça Insana volta ao teatro e Belle &Sebastian lançam DVD 202 Novos latinos Xxx Seleção cult/ Livros Xxx Première Xxx Claude Lévistrauss Xxx Seleção CULT/ Música Xxx Cocteau Xxx Jorge de Lima Xxx Mercado Xxx Quadro a Quadro Poesia e Cinema O Profeta Tricolor Pensamento árabe Xxx recebe a arte africana O escritor mexicano Ignácio Padilla apresenta a renovada literatura hispânica Manuel Bandeira e o romance policial russo estão entre os novos lançamentos Salam Pax conta em seu diário como foi a invasão do Iraque As Mitológicas, sobre os índios da América, são editadas em português A bossa nova é mais uma vez a tendência da música para exportação Exposições, livros e palestras lembram o dandismo do poeta francês Cinco décadas após sua morte, o poeta permanece no purgatório A Liga Brasileira de Editoras luta pelo direito de ser diferente Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Edição Agenda 76 Lamartine Babo, Picasso e imagens de São Paulo estão entre os destaques O produtor Luiz Carlos Barreto explica por que o cinema brasileiro já tem uma indústria O que a produção nacional oferece para este novo ano O choro, a paixão e a angústia do melodrama por Ismail Xavier Entrevista Estréias 2004 Cinema Première Seleção CULT/ livros Os subterrâneos da ação revolucionária em Fiodor Dostoiévski O escritor Guimarães Rosa envia uma longa carta de amor a suas netas O sociólogo Pierre Bourdieu pretendeu mudar a maneira como vemos a arte A crise palestina e o mito do Estado estão entre os lançamentos Visão do caribe Modos de narrar Fidel Castro e Che Guevara se reencontram em filme e biografias Ricardo Piglia imagina ser mundo uma nação de livros Ooó do vovô Crítica J.G. Ballard e Iberê Camargo estão entre os lançamentos A visão de Raymond Aron sobre a obra de Karl Marx O samba desfruta de mais um momento de infidelidade com o rock Marcel Proust reencontra nos quadrinhos o tempo perdido A poeta Sylvia Plath chega ao cinema com a face de Gwyneth Paltrow Nelson Rodrigues e os 60 anos de uma revolução A herança de Edward Said e a polêmica dos intelectuais 77 São Paulo é tema para fotografia, e, em exposição, o carnaval O psicanalista Renato Mezan explica a utilidade da auto-ajuda O historiador Boris Fausto fala de sua experiência com ditadura militar xxx Xxx O gosto amargo do neo-realismo na produção italiana do pósguerra Djuna Barnes chega com amor lésbico e modernismo As oscilações de Dr. Jekyll e a fúria de Mr. Hide em duas versões xxx 78 Vik Muniz ganha exposição em São Paulo e Curitiba recebe um Cabaret Flaubert caminha em direção ao sagrado em As tentações de Santo Antão xxx Xxx O historiador Jacques Le Goff revela o mundo intelectual da Idade Média Vinicius de Moraes tem seu Orfeu desvendado e Lacan chega com mais escritos xxx George Steiner luta contra a barbárie e Adriana Lisboa oferece um beijo de colombina xxx xxx xxx 203 Seleção O destino do rap brasileiro e a CULT/ Música volta do Living Colour Afro O escritor Ahmadou Kourouma apresenta sua visão da crise africana Ética & Roberto Romano diz quem vigia Política quem na sociedade moderna Dossiê Um passeio pela vanguarda de São Paulo nos 450 anos da cidade Radar O cineasta Rogério Sganzerla redescobre Oswald de Andrade O peso do heavy metal e a leveza de Al Green xxx Oral Renato Janine Ribeiro fala da parte maldita da democracia A psicanálise mostra a face para o novo século Mário Gerson e Homero Gomes de Farias Jr. se apresentam aos leitores Cartas, e e-mails enviados à CULT Cartas, e e-mails enviados à CULT Xxx Karl Bissinger recupera as imagens de um glorioso passado literário Xxx A vanguarda de Augusto de Campos e o lirismo de Armando Freitas Filho Xxx A literatura russa vive seu grande momento entre leitores brasileiros Xxx A música instrumental brasileira espera por seus novos talentos Xxx Manuais de disciplina para crianças podem ajudar a formas os pais? Xxx Edward Said motiva ainda a batalha intelectual Xxx Xxx Escola Brasil Xxx Xxx O Viajante Xxx Xxx Oficina Literária Xxx Xxx Do Leitor Fotografia Verso Depois do Baile Prêmio Visa Educação Polêmica Edição Agenda Entrevista Première Evento Teatro Literatura de combate Seleção cult/Livros Crítica 79 A vida Paulo Leminski chega aos palcos e Salvador Dali viaja pelo mundo O antropólogo Hermano Vianna explica por que a TV é solução para o Brasil A alma de Aristóteles é pela primeira vez revelada em português Os principais lançamentos para a 18ª Bienal do Livro de São Paulo Décio Pignatari redescobre Machado de Assis para o palco Editoras oferecem o lado mais revolucionário dos livros Ignacio Padilla encontra um fantasma e a arte toma Fernando Lucchesi Os caminhos do samba são investigados pro Tárik de Souza A embolada de Jackson do Pandeiro e o jazz de Norah Jones xxx Roberto Romano mostra a origem do antiamericanismo 1964 e a herança de um período em verde-oliva xxx Cartas, e e-mails enviados à CULT xxx xxx xxx xxx xxx xxx Um pouco da história da dramaturgia nacional contada por seus autores O artista José Resende explica por que não existem livros de arte O leitor é apresentado ao universo fantástico de Robert Walser O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional 80 A arte de Maria Bonomi e as culturas judaicas e mexicana são o destaque O sociólogo Fernando Henrique Cardoso explica a prática na teoria Pierre Bourdieu deixa como legado uma lição sobre si mesmo xxx 81 Nelson Leiner zomba da arte, e Marília Pêra encontra mademoiselle Chanel xxx xxx xxx xxx Os versos para Aplo e os desvios do mundo com Sebastião Uchoa Leite O erotismo é a razão do corpo e do espírito em Georges Bataille A vida de Adorno e um guia da literatura nacional estão entre os lançamentos xxx O crítico Silviano Santiago fala da crise do romance nacional Como uma ficção pode determinar a realidade no pensamento de Edward Said xxx 204 Seleção cult/música Oficina literária Do leitor Blues, soul e a recuperação da bossa-nova estão entre os lançamentos Guimarães Rosa renasce como canção O jogo perfeito pelo olhar do cineasta Jean Renoir Renato Janine Ribeiro define os papéis da direita e da esquerda O melhor uso da Razão no pensamento da Immanuel Kant O debate intelectual se encerra Os livros chegam ao metrô de São Paulo O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional Cartas, e e-mails enviados à CULT Modernismo Xxx Ensaio Xxx Novela mexicana Debate Xxx Xxx O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional Cartas, e e-mails enviados à CULT O diálogo revolucionário de Le Corbusier e Oscar Niemeyer com o espaço Euclides da Cunha é um autor que procura ainda uma explicação Carlos Bolado explica o boom da produção latina Xxx Centenário Xxx Xxx O artista do excesso Filosofia Xxx Xxx Xxx Xxx Rural Cinema Etica & política Dossiê Polêmica Apelo popular Edição Agenda Entrevista Première Poesia Espanha Memória Seleção cult/livros Produção nacional Seleção cult/música Ética & política Dossiê 82 Gaudí procura sua forma e o cinema francês ganha mostra em São Paulo A obra de Penderecki, o compositor que fala com Deus Antes do cinema, Bernardo Bertolucci vivia ao lado da poesia Roberto Piva tem sua obra reeditada e exige o paganismo A vanguarda de Enrique VilaMatas e o passado de Javier Cercas O teatro e o cinema têm sua memória retomada em livros A democracia pro Hannah Arendt e a arte no Brasil do século 20 A música eletrônica tem ainda um futuro? Os anos 80 insistem em continuar ao lado do ouvinte Xxx xxx Orson Welles faz sua grandiosa meditação sobre a decadência Roberto Romano aponta a questão da herança comunista A literatura japonesa se aproxima do leitor brasileiro Xxx Xxx Luis Buñuel e um toque de surrealismo O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional Cartas, e e-mails enviados à CULT 83 Cláudio Willer retoma o caminho da poesia e lança novo livro Carlos Augusto Lacerda procura explicar a crise dos livros Por que a Igreja Católica deve mais explicações à história xxx Renato Janine Ribeiro mostra por que falamos mal do poder O pensamento da palavra e do poder em Michel Foucault xxx xxx xxx xxx xxx São Paulo recebe o Fórum Cultural Mundial e debate a política da criação O périplo de Ulisses, de James Joyce, faz cem anos Jô Soares prepara novas ações com a literatura e a arte As efemérides de um homem que pensou a Ciência 84 Crime e castigo no teatro e as imagens do gravurista Gilvan Samico Rosângela Rennó mantém sua conversa com a fotografia e a etermodade xxx xxx Paulo Leminski mostra com Catatau por que era um Kamiquase xxx Xxx xxx O cinema de Humberto Mauro e a gaivota de Tchekhov Che Guevara divide o papel revolucionário com os novos autores dos EUA xxx O documentário pode ser a nova Xxx esperança do cinema brasileiro? Tango como terapia contra a falta O mito romântico de Nick de sofisticação no som para dançar Drake e a segunda chance da MPB Roberto Romano pergunta: quem Renato Janine Ribeiro assiste manda no Estado? ao teatro da política O saber e o sabor do homem com Os Estados Unidos e o The Libertines e Interpol, algo para se ouvir e falar Roberto Romano mostra que os Hulks não são tão incríveis assim A aproximação e a distância amorosa 205 Do Leitor suas roupas O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional Cartas, e e-mails enviados à CULT Flip Xxx Crítica Xxx Filosofia francesa Made in USA Xxx Evento Xxx pragmatismo de sua filosofia O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional Cartas, e e-mails enviados à CULT A Festa de Parati é um problema ou uma solução para o leitor? Dyonélio Machado convive ainda com os ratos da crítica nacional Derrida e Ranciêre. Os Jacques falam ao público brasileiro Harold Bloom faz de Shakespeare uma arma xxx Perfil Xxx xxx Filosofia Xxx xxx Debate Xxx Xxx Edição Agenda 85 As imagens surrealistas e os novos fotógrafos compõem a cena Oficina literária Entrevista Première Crítica Seleção cult/livros Filofut Esporte e guerra Seleção cult/música Momento delirante Ética & política Dossiê Oficina literária Do Leitor Made in USA Boêmia xxx 86 As imagens surrealistas e os novos fotógrafos compõem a cena A filósofa Marilena Chauí quer ver O filósofo Peter Singer e a a realidade contada ao eleitor crueldade contra os animais Hunter S. Thompson acredita ser o Joseph Conrad e os heróis jornalismo uma forma violenta da perdidos em um mar de ficção romantismo O húngaro Sándor Márai As imagens de Abbas Kiarostami aproxima-se um pouco mais dos analisadas em dois lançamentos leitores Os viajantes continuam nas Roland Barthes e a cultura pop galáxias e Philip Roth combate nos inglesa estão entre os EUA lançamentos Um filósofo francês escolhe o Xxx futebol como a melhor metáfora A presença brasileira no Haiti e o Xxx jogo da morte do nazismo Bjork realiza o sonho de ser uma A alternativa oferecida pelo diva Jumbo Elektro e a voz de Vanessa da Mata André Breton, Oswald de Andrade Xxx e Rimbaud nas comemorações Renato Janine Ribeiro defende a Roberto Romano mostra língua portuguesa descontentamento com os bem pensantes O destino nacional está na A obra de Erico Veríssimo na realização do projeto democrático? proximidade de seu centenário O poeta Cláudio Willer revela a O poeta Cláudio Willer revela a produção contemporânea nova produção nacional Cartas e e-mails enviados à CULT Cartas e e-mails enviados à CULT Xxx O norte-americano Donald Davidson tem sua obra completa editada Xxx O cotidiano de Picasso, Cocteau na trajetória de oito autores O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional Cartas, e e-mails enviados à CULT xxx Harold Rosenberg mostra qual o ângulo para se olhar pinturas xxx xxx Na Primavera dos Livros a chance de encontrar o inusitado Quanto pode um filósofo brasileiro como Paulo Arantes? Bento Prado Jr. desafia os limites da razão em seu volume de ensaios No primeiro encontro CULT/ Trópico, um passeio pela cultura 87 A arte gráfica polonesa e a herança deixada por Henri Cartier-Breson O filósofo José Arthur Giannotti diante das novas faces da política O mundo desaparecido com o mito do imperador Alexandre Com três histórias, Gustave Flaubert reaparece em toda sua maestria A poesia brasileira e a revolta nas grandes cidades estão entre os lançamentos xxx xxx Um trio da música brasileira e o retorno ao rock de Elvis Costello xxx Renato Janine Ribeiro se volta para a luta de todos contra todos Gabriel García Márquez na visão dos jovens autores brasileiros O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional Cartas e e-mails enviados à CULT Xxx Xxx 206 História Xxx Poesia Xxx Persona Xxx e os artistas que fizeram o século 20 Coleção oferece textos fundamentais sobre os europeus no Oriente O Brasil prepara-se para conhecer os versos de Philip Larkin Xxx Evento Xxx Xxx Fenômeno Xxx Xxx Filosofia Xxx Xxx Edição Notas Entrevista 88 O universo de Farnese de Andrade e o teatro com Beatriz Segall A apresentadora Soninha e as armadilhas do discurso público Première Quanto pode haver de verdade na paranóia de Noam Chomsky? Pop Do Leitor A cultura popular e a história subterrânea do século 20 A atraente e espantosa obra de Louis-Ferdinand Céline O romance da vida de Napoleão e Hélio Pellegrino estão entre os lançamentos O escritor E.T.A. Hoffmann e a musicalidade do romantismo alemão As editoras espanholas caçam os best-sellers nacionais Espaço artístico é entregue ao público brasileiro Uma recente geração de criadores libaneses se mostra ao mundo Novos agentes da cena musical e a criação de uma MCB O encontro da razão e da idéia da fé na filosofia O poeta Cláudio Willer revela a jovem produção nacional Cartas e e-mails enviados à CULT Agenda Xxx Memória Xxx Hispânico Xxx Macrocosmos Xxx Crítica Seleção cult/livros Ensaio Mercado Evento Arte Seleção cult/música Dossiê Oficina literária Xxx Xxx Pode Kenneth Tynan ser um exemplo para a crítica no jornalismo? Os melhores livro nacionais publicados em 2003 pelo júri e pelo público Um best-seller brasileiro escondido em meio ao preconceito A herança deixada por Derrida e a influência do pensamento francês 89 Xxx 90 Xxx Francisco Foot Hardman fala do trem-fantasma que assombra o Brasil O Novo Romance atualizado pelo escritor e cineasta JeanPhilippe Toussaint Xxx Slavoj Zizek defenda ser Lênin uma saída para o impasse da história A violência silenciosa do japonês Yasunari Kawabata A nova poesia brasileira, Rimbaud e Beckett estão entre os lançametos xxx A vida e o tempo veloz de Marcel Duchamp A nova ficção brasileira e o policial norte-americano no velho estilo Dom Quixote merece mais do que uma burocrática efeméride xxx xxx xxx A maior banda de fevereiro e a reciclagem do rock Os segredos e as revelações das Mil e uma noites O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional Cartas e e-mails enviados à CULT Michelangelo Antonioni e Chico Buarque no mês do Carnaval As lembranças do século 20 nos EUA por Marjorie Perloff O mexicano Juan Rulfo promove um diálogo com os desesperançados O crítico italiano Cláudio Magris fala da cultura da Europa O que há de novo, moderno e legendário O centenário de Jules Verne e seu mundo de maravilhas O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional Cartas e e-mails enviados à CULT A arte do beijo e a cultura judaica dão o tom em março 207 Clínica Xxx Ética & política Xxx Lançamento Xxx EUA Xxx do meio Seria a histeria um sintoma do homem do século 21? Renato Janine Ribeiro e a sombra das ideologias Chega ao leitor a primeira tradução do árabe do mito do Oriente Xxx Palco A fera Xxx Xxx Xxx Xxx Cena internacional Memória Xxx Xxx Xxx Xxx Edições Notas 91 O cineasta Lars Von Trier prepara um retorno ao mundo de Dogville Entrevista O autor Agnaldo Silva fala sobre a crise da sexualidade nacional Première Um breve manual da crítica cinematográfica chega às livrarias 92 O mais novo filme de Pedro Almodóvar e a reaparição do Kraftwerk A vida de Adorno contada por meio de suas aventuras intelectuais A mais nova literatura dos EUA faz a luz Mercado As editoras mostram os músculos do marketing para a mídia nacional O mundo em dissolução do escritor irvine Welsh Pagu, um dos mitos do feminismo nacional, prepara um retorno A tragédia de Marina Tsvetaeva e as personalidades de São Paulo A batalha econômica e cultural chega aos vinhedos do planeta Pode uma jovem imigrante ser a última esperança da música pop? Renato Janine Ribeiro pensa estar a esquerda nos braços da direita Revolta Musa Seleção cult/livros Cinema Seleção cult/música Ética & política Dossiê Oficina literária Do leitor Ano zero Perfil Ensaio Ciências Humanas Fato e ficção Roberto Romano mostra por que o Ocidente é vencedor A memória sexual de Philip Roth manda lembranças O choque do teatro em Regurgitofagia O esquecimento de José Cândido de Carvalho O francês Jean-Philippe Toussaint fala do minimalismo literário O fim da corrida de Hunter S. Thompson contra os conservadores 93 O cineasta Stanley Kubrick e a arte em Veneza promovem um espetáculo O jornalista Jon Lee Anderson fala da experiência da Guerra no Iraque O norte-americano Philip Roth imagina um governo fascista na América O desejo de pensar o Brasil como um idílio romântico Xxx Xxx Peter Burke e a memória de uma O retorno de um clássico húngaro e a vida feliz em Cuba rebeldia como marketing Xxx xxx Quando a idolatria do Pop encontra o fanatismo do cinema Roberto Romano fala da necessidade da sátira como estratégia política O reino de Harry Potter, o mago das vendas de livros A nova produção nacional Jean-Paul Sartre e o mito do intelectual engajado O poeta Cláudio Willer revela a nova produção nacional Cartas e e-mails enviados à CULT Cartas e e-mails enviados à CULT Xxx Enquanto o mundo comemora o fim da guerra, Frankfurt enfrenta o desastre Xxx Roberto Freire fala de seu exílio voluntário Xxx De que maneira olhar e respeitar a arte contemporânea? Xxx A filosofia é um espaço de ruas, viadutos e avenidas Xxx Xxx A nova cena francesa e a dissolução da energia musical do Metallica Renato Janine Ribeiro mostra como as pessoas se tornam mercadorias O cinema de Michelangelo Antonioni ressurge para o cinéfilo brasileiro A nova produção literária nacional Cartas e e-mails enviados à CULT xxx xxx O mundo preciso e trágico do alemão W. G. Sebald xxx Editoras mostram ao leitor brasileiro as possibilidades do jornalismo 208 Tecnologia/ cultura O tempo reencontrado História cultural Literatura brasileira Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Estaria o grupo Google reconstruindo a Biblioteca de Alexandria? Marcel Proust e sua literatura construída por meio de cartas O romantismo como criador da identidade nacional Um toque de sofisticação de Silviano Santiago
Download