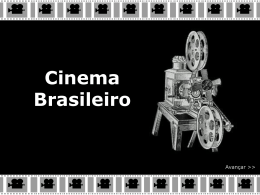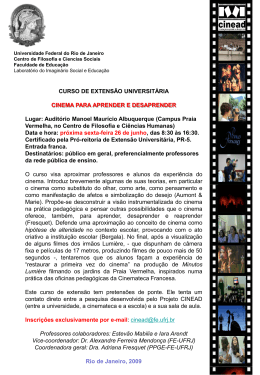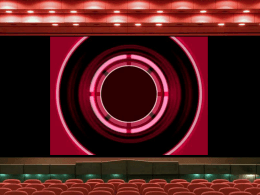PODER Tema: O Erudito e o Popular Pesquisador: Francis Vogner dos Reis Sinopse Na cultura moderna brasileira discutir nas categorias de “erudito” e “popular” não é mais contrapor dois tipos de produção artística, mas pensar as convergências, divergências e misturas entre essas duas categorias. No caso do cinema, há exemplos importantes que serão abordados neste programa tais como Alma Corsária, de Carlos Reichenbach, Cleópatra, de Julio Bressane, Carnaval Atlântida, de José Carlos Burle e Auto da Compadecida, de Guel Arraes. Apresentação dos filmes e das questões Carnaval Atlântida (Brasil, 1952), de José Carlos Burle O grande diretor de cinema Cecil B. de Milho (paródia do americano Cecil B. de Mille) pretende fazer um filme sobre Helena de Tróia e contrata o professor Xerofontes, especialista em História e mitologia grega para contribuir na escritura do roteiro. Porém, os atores querem convencer o produtor de realizar uma comédia musical, não uma tragédia. O filme ironiza o preconceito do intelectual dos anos 1950 com as chanchadas e opõe a “alta cultura” (a cultura clássica) com aquela considerada “baixa cultura” (a cultura popular do carnaval). O filme lida com uma série de referências da cultura popular não só das músicas do rádio ou do carnaval, mas do próprio cinema. Há um olhar crítico para o desejo de “alta cultura”, visto como algo um pouco ridículo e provinciano. Alma Corsária (Brasil, 1993), de Carlos Reichenbach Dois amigos, Torres e Xavier, lançam um livro escrito a quatro mãos em um bar no centro de São Paulo, a Pastelaria Espiritual. O evento mistura gente de tudo quanto é tipo: intelectuais, cafetões, patricinhas, prostitutas, travestis, halterofilistas, suicidas, burocratas e etc. O filme parte deste evento e recupera as memórias dos protagonistas, da infância, passando pela militância política na juventude, a contracultura nos anos 1970, o sexo, a revolução. Mistura o alto e o baixo, o popular e o erudito, a chanchada e a vanguarda, o sórdido e o chique, o cafona e o sofisticado. A sequência síntese é o operário negro tocando Claire de Lune, de Debussy na Pastelaria Espiritual acompanhado da performance de um halterofilista embaixo de um neon. Filme quase artesanal realizado no vácuo entre o fim da Embrafilme e a Retomada, usa a precariedade no conceito do filme. O Auto da Compadecida (Brasil, 2000), de Guel Arraes O filme de Guel Arraes era originalmente um produto televisivo: uma série de TV dividida em episódios. Foi reeditada para o cinema e foi sucesso de bilheteria, mesmo estreando no cinema depois da exibição da série na rede Globo. Baseado na peça homônima de Ariano Suassuna, O Auto da Compadecida conta a história dos vigaristas Chicó e João Grilo e sua pequenas trapaças em uma cidade no sertão nordestino em que todos os habitantes – do padre ao comerciante – não corruptos e aproveitadores. Quando cangaceiros invadem a cidade e matam boa parte das pessoas, incluindo João Grilo, todos se reencontram no juízo final, frente a Jesus e Nossa Senhora. A peça de Suassuna traz elementos que compõem os objetivos do Movimento Armorial, movimento este que tem como um dos criadores Ariano Suassuna e que visa criar uma arte erudita brasileira por meio de elementos da cultura popular do nordeste. Cleópatra (Brasil, 2008), de Júlio Bressane Júlio Bressane leva o mito de Cleópatra às telas de maneira bastante singular. A história da personagem, a rainha egípcia – considerada a mulher mais poderosa da antiguidade -‐ apaixonada pelo conhecimento e resultado de uma mistura de culturas de antiguidade, é contada por Bressane por meio da lírica tradicional da cultura portuguesa, segundo suas próprias palavras. O filme lida com questões corriqueiras no cinema de Bressane, como poder, o sexo, o conhecimento e a poesia. O repertório de Bressane é vasto e erudito, porém ele se apóia em elementos populares para contar uma história que, a despeito de sua substância erudita, é de conhecimento popular. O diretor se utiliza de atores da TV (geralmente marcados pela telenovela e por programas popularescos), da música popular (o samba) e de um imaginário que o cinema de grande público se utilizou. Cleópatra foi filmada por Cecil B. de Mille com a atriz mais popular dos anos 1930 (Claudette Colbert), foi levada às telas na pele de Elisabeth Taylor nos anos 1960 e foi personagem do filme italiano filmado por Vitorio Cottafavi, cineasta especialista em filmes para o grande público. Bressane queria, inclusive, como sacerdote de seu filme o ator Omar Shariff, que se notabilizou por fazer épicos em Hollywood nos anos 1960 e 1970, porém, por questões de orçamento o diretor desistiu de trazer o ator. A mistura do erudito com o popular para Bressane está mais em uma postura estética do que em uma implicação temática mais específica. Material Anexo O CLÁSSICO E O MODERNO, O ERUDITO E O POPULAR NA ARTE Classicismo x modernidade O século XX marcou, no domínio das artes, a supremacia de duas realidades oriundas de rupturas históricas: de um lado, o fenômeno da arte moderna enquanto transgressão e superação dos cânones estéticos aceitos por nossa civilização desde a Antigüidade Clássica; de outro, o fenômeno da cultura de massa, decorrente do impacto das novas tecnologias sobre os meios de comunicação. Hoje, com a consolidação das conquistas da arte moderna e com o triunfo da cultura de massa, as dicotomias clássico x moderno e erudito x popular se impõem mais do que nunca. Na verdade, a cultura ocidental sempre oscilou entre duas grandes dicotomias: a herança clássica, sobretudo greco-‐romana, em oposição à idéia de modernidade, e a cultura erudita, praticada pela e para a aristocracia, por oposição à cultura popular, de caráter vulgar e plebeu. A primeira dessas dicotomias se coloca, ainda no Renascimento, na forma de um questionamento por parte da classe intelectual, à qual pertenciam artistas, filósofos, pensadores e críticos, quanto ao próprio rumo da cultura européia, recém-‐saída das brumas da Idade Média. Uma vez rejeitada a ideologia medieval – e suas implicações nas artes –, havia agora dois caminhos a seguir: ou o retorno aos padrões estéticos e filosóficos da Antigüidade Clássica, ou a criação de uma cultura totalmente nova, a partir do nada. Os intelectuais e criadores dos séculos XV e XVI optaram, como se sabe, pelo primeiro caminho. Assim, se a Idade Média se defrontou com o conflito entre a cultura antiga e os valores judaico-‐cristãos a ela superpostos, procurando adaptar a filosofia aristotélica aos ditames ideológicos do cristianismo – donde o surgimento da escolástica –, agora o Renascimento vinha sobrepor a cultura antiga aos valores ocidentais originários da Idade Média. Contraditoriamente, o termo Renascimento, aplicado ao movimento artístico e cultural desse período, procurava aludir a um verdadeiro renascer da cultura greco-‐romana ao mesmo tempo em que a nova fase histórica que ali começava era denominada pelos historiadores como Idade Moderna. Assim, a modernidade era, de fato, a ressurreição da Antigüidade. A consciência da falta de uma identidade legítima para essa cultura que se intitulava “moderna” levou mesmo a embates radicais, como a Querela dos Antigos e dos Modernos, que agitou o cenário literário francês nos séculos XVII e XVIII. Cultura erudita x cultura popular Por outro lado, a oposição entre uma cultura erudita ou aristocrática e uma cultura popular ou plebéia permeia toda a história ocidental. Na verdade, o próprio conceito de História está ligado ao do conflito de classes (daí ter Marx proposto que a construção de uma sociedade sem classes, a sociedade socialista, marcaria o fim da História). Assim, a história cultural tem sido marcada desde sempre por essa divisão entre a cultura da elite, considerada, aliás, por muito tempo como a única forma possível de cultura, e a cultura do povo, na verdade vista pela aristocracia dominante como a não-‐cultura, isto é, como a ausência completa de civilização. Na Roma antiga, essa oposição ficava clara principalmente na literatura e no teatro, em que a língua utilizada pelos escritores para tratar de assuntos nobres e elevados era a língua culta, deixado o sermo vulgaris apenas para o estilo “baixo” da comédia popular. De um modo mais geral, opunha-‐se a “grande arte”, destinada ao usufruto da aristocracia e, posteriormente, da alta burguesia, ao artesanato e aos folguedos populares, de origem camponesa, vistos sempre como manifestações rudes e toscas de um populacho rude e tosco. O esgotamento da cultura de inspiração clássica em fins do século XIX, contemporânea da derrocada da nobreza européia e do esfacelamento das últimas monarquias, bem como do advento da civilização industrial e pós-‐industrial, que tornou a própria arte reproduzível, levou os artistas a proclamarem uma revolução estética que se inicia com a pintura impressionista e que deságua na pluralidade de tendências estéticas que marcou o século XX – os famosos ismos. Com isso, estabelece-‐se um novo conceito de arte moderna, entendida agora como a arte nascida das vanguardas do início do século XX, por oposição à arte praticada até o século XIX, chamada comumente de arte acadêmica, por ser aquela que se ensinava nas academias de belas-‐artes. Indústria cultural e cultura de massa O advento dos meios de comunicação de massa (cinema, rádio, televisão), decorrente do desenvolvimento tecnológico que permitiu a reprodução em larga escala dos bens culturais (surgimento da fotografia, do fonógrafo, etc.), deu origem à chamada indústria cultural e à cultura de massa. De um modo geral, a cultura que se expandiu através dessas novas mídias foi a cultura popular e não a erudita. Desse modo, o século XX assistiu ao cruzamento das resultantes de duas tensões dialéticas: a cultura moderna e a cultura popular. Por isso, às vezes, as dicotomias clássico/moderno e erudito/popular se confundem: o termo clássico às vezes equivale pura e simplesmente a antigo, tradicional, acadêmico, e às vezes se refere à esfera de cultura erudita (por exemplo, a oposição ainda corrente hoje em dia entre música clássica e música popular de um lado, e entre balé clássico e balé moderno de outro), mas, na verdade, trata-‐se de oposições diferentes, pois a dicotomia clássico/moderno representa uma oposição fundamentalmente cronológica, ao passo que a dicotomia erudito/popular é de caráter sobretudo sociológico. A oposição dialética entre tradição e modernidade, vale dizer, entre conservação e mudança, dá origem aos conceitos de vanguarda, arte-‐padrão e academicismo. Este último caracteriza-‐se pelo apego fiel à tradição, sem nenhum aspecto de inovação; a vanguarda representa a ruptura com a tradição, a imposição do novo sobre o velho; a arte-‐padrão é a conciliação entre inovação e tradição, a convivência do novo com o antigo. Assim, toda inovação artística começa por uma ruptura com a tradição, por uma negação dos cânones vigentes. Uma vez sendo aceita socialmente, essa forma de arte inicialmente vanguardista passa a ser o padrão estético, isto é, o novo status quo. À medida que novas rupturas sejam feitas, por meio de novos movimentos de vanguarda, a arte-‐padrão tende progressivamente a tornar-‐se conservadora e a ser vista como arcaica. Esse é o ciclo dinâmico das modas estéticas que se sucedem no tempo. Já a oposição dialética entre elite e massa produz os conceitos de arte erudita (aquela que atende o gosto da elite), arte popular (a que representa o gosto da massa) e arte eclética (que concilia ambos os gostos). Segundo o princípio formulado pela teoria da comunicação de que quanto maior for o repertório menor será a audiência (isto é, quanto mais rica a mensagem, menor o número de pessoas capazes de decodificá-‐la corretamente), a arte de vanguarda costuma ser uma arte elitista, já que propõe basicamente um alargamento do repertório artístico. À medida que o novo código de leitura das obras de arte estabelecido por essa vanguarda se dissemina socialmente, permitindo que mais e mais pessoas sejam capazes de decifrá-‐lo, a audiência, isto é, o público desse tipo de arte, também se alarga, consubstanciando a popularização da nova estética. Entretanto, certas formas extremamente conservadoras de arte são igualmente elitistas. Nesse sentido, tanto a vanguarda absoluta quanto o academicismo absoluto tendem a ter pouco público. Quando os meios de comunicação de massa e a indústria cultural se consolidaram, tornando-‐ se uma realidade incontestável, foi justamente a cultura popular a que mais se beneficiou do novo processo. Na música, por exemplo, foi o jazz, nos Estados Unidos do início dos anos 20, e não a música sinfônica, o gênero musical mais difundido pela indústria fonográfica e pelo rádio, então emergentes. Assim, a cultura moderna, nascida sob o signo da produção industrial, confundiu-‐se pouco a pouco com a cultura popular. Se quisermos descrever às futuras gerações o que foi a música do século XX, devemos assinalar sobretudo a música popular como a representante legítima de nossa cultura. De fato, se é verdade que a música sinfônica continuou a ser produzida no século XX e teve mesmo alguns representantes de importância indiscutível, como Stravinsky e Villa-‐Lobos, ninguém pode negar que o fenômeno realmente representativo em termos musicais deste século foi o advento do jazz, do rock e do pop, além, é claro, dos ritmos latino-‐americanos (samba, tango, bolero, etc.). Até o século XIX, a música popular restringia-‐se àquilo que hoje chamamos de música folclórica: no Brasil, o lundu, a modinha, o maxixe, etc. Quem quiser conhecer a “verdadeira” música do século XIX deve ouvir Beethoven, Wagner ou Tchaikovsky. Mas quem quiser conhecer a “verdadeira” música do século XX não pode ignorar os Beatles ou Frank Sinatra. Sobretudo no campo da música, a arte popular ocupou o espaço antes reservado à arte erudita. Até o século passado, gêneros musicais como a missa e a ópera pertenciam ao domínio da música erudita (tomem-‐se a Missa Solemnis, de Mozart, e a ópera Aída, de Verdi); hoje, pertencem ao domínio da música popular (por exemplo, a Missa dos Quilombos, de Milton Nascimento e a ópera-‐rock Evita). Com isso, a música sinfônica do século XX, embora original, foi relegada a um plano secundário, a uma posição marginal. As conquistas harmônicas da música dodecafônica de Arnold Schönberg jamais chegaram ao grande público e permanecem até hoje restritas aos estudiosos da teoria musical. Por outro lado, a cultura popular que logo se generalizou pareceu, num primeiro momento, operar uma verdadeira democratização da cultura. Se, tradicionalmente, a arte erudita é aquela consumida pela elite cultural e econômica e a arte popular, aquela consumida pelas classes mais baixas da sociedade, então o fenômeno da cultura de massa havia feito tanto ricos quanto pobres, tanto a elite cultural quanto o proletariado ouvir o mesmo tipo de música: Glenn Miller ou Louis Armstrong eram apreciados tanto nas classes mais altas quanto nas mais baixas. Porém, com o tempo, e na medida em que o conflito de classes não foi superado pela moderna sociedade capitalista (talvez tenha-‐se até mesmo agravado), essa cultura popular universal, que pretendia unificar o gosto artístico sob a égide do modelo de massas, logo se cindiu em duas: surgia uma música popular mais elitizada e outra mais vulgarizada. A própria cultura popular, que destronara a cultura erudita, reproduzia agora em seu próprio seio a mesma interminável luta de classes. A emergência da cultura de massa provocou acirrada polêmica nos meios intelectuais, formados basicamente por membros da burguesia acostumados à cultura acadêmica e erudita. É nesse contexto que os pensadores da Escola de Frankfurt – dentre os quais Marcuse, Horkheimer e Adorno – vão delinear uma concepção estética de arte frontalmente contrária à cultura de massa, numa atitude abertamente conservadora, que denuncia a cultura das massas e a indústria cultural como alienantes. Diz Marcuse em A dimensão estética: " Em virtude de sua forma estética, a arte é absolutamente autônoma perante as relações sociais existentes. Na sua autonomia, a arte não só contesta estas relações como, ao mesmo tempo, as transcende. Deste modo, a arte subverte a consciência dominante, a experiência ordinária." Umberto Eco assume uma perspectiva diversa ao afirmar em Apocalípticos e integrados que "[…] o universo das comunicações de massa é – reconheçamo-‐lo ou não – o nosso universo; e se quisermos falar de valores, as condições objetivas das comunicações são aquelas fornecidas pela existência dos jornais, do rádio, da televisão, da música reproduzida e reproduzível, das novas formas de comunicação visual e auditiva. Ninguém foge a essas condições, nem mesmo o virtuoso […]" Conforme diz Maria Lúcia B. C. de Paula (Nem apocalípticos nem integrados: perspectivas da arte no final do século XX. Cultura Vozes, maio-‐junho de 1996, p. 118-‐119): "Embora no âmbito da arte os limites entre a cultura erudita e a cultura de massa fossem ficando cada vez mais confusos, no domínio da produção teórica estas esferas ainda se preservavam distintas e separadas. […] O clima nos últimos anos do milênio é outro. As fronteiras estão definitivamente borradas, com a cultura de massa invadindo cada vez mais domínios até então exclusivos da alta cultura, como por exemplo os museus de arte." O erudito e o popular hoje No presente, é difícil definir o que é erudito ou popular. Antigamente, como dissemos, a arte erudita era aquela consumida pela elite econômica e cultural, e vale a pena ressaltar que, até o século XIX, a elite econômica e a cultural coincidiam. Atualmente, é curioso notar artistas extremamente populares – até mesmo popularescos – ocupando grandes casas de espetáculos e cobrando ingressos mais caros do que a maioria dos artistas mais elitizados, circunscritos em geral aos pequenos espaços culturais. O que percebemos é que, enquanto a cultura erudita tradicional – a música de concerto, o balé clássico, a pintura acadêmica, etc. – marginalizou-‐se e tornou-‐se fenômeno social pouco significativo, a cultura popular preencheu sozinha o espaço social, atingindo todas as classes. No entanto, se hoje toda a arte tem raízes populares, não deixa de haver uma estratificação social da arte, e não apenas em termos da oposição elite x massa, mas em termos de uma gradação que vai do mais erudito ao mais vulgar. Retomando o exemplo da música, notamos que a corrente erudita se diluiu, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, de tal modo que compositores como Karlheinz Stockhausen e John Cage já não podem mais ser classificados quer como eruditos (isto é, sinfônicos) quer como populares; por outro lado, nota-‐se que tais compositores permanecem mais eruditos do que Egberto Gismonti, o qual é mais erudito do que Tom Jobim, que é mais erudito que Roberto Carlos, e assim por diante. De uma parte, o índice de popularidade cresce proporcionalmente ao tamanho do público atingido; de outra parte, decresce proporcionalmente ao aumento do nível cultural desse público. Identificam-‐se, assim, dois eixos ao longo dos quais a música – e a arte em geral – se situa: um eixo que vai da máxima elitização à máxima massificação, e um eixo que vai da tradição mais conservadora à vanguarda mais revolucionária. Nesse sentido, podemos dizer que tanto Paulinho da Viola quanto Zeca Pagodinho produzem uma arte conservadora, no caso o samba tradicional, mas aquele tem um público mais elitizado (isto é, ao mesmo tempo menor e mais culto) do que este último. A obra de Milton Nascimento é, sem dúvida, mais conservadora que a de Arrigo Barnabé e mais inovadora que a de Noel Rosa ou Beethoven. Por outro lado, é mais popular que a de Villa-‐Lobos ou Miles Davis, mas mais erudita que a de Amado Batista. Além disso, sua produção musical nos anos 60 e 70 era mais vanguardista do que sua produção a partir dos anos 80, que se mostra mais conservadora em termos formais, mais popular na fórmula estética e, portanto, mais linear. Muitas vezes, vanguarda e tradição se interpenetram na produção artística. De um lado, a vanguarda utiliza elementos tomados à tradição para dar-‐lhes um novo papel significativo, dentro de um novo contexto. Desse modo, o rock progressivo representou uma inovação dentro do contexto do rock’n’roll ao assimilar elementos da música sinfônica, chegando até o desenvolvimento do chamado rock sinfônico de Rick Wakeman. Da mesma forma, a pintura surrealista aliou uma temática revolucionária (o onirismo e o nonsense) a uma técnica pictórica acadêmica, assim como a pop art incorporou ícones da arte acadêmica (por exemplo, a imagem da Gioconda) em colagens irreverentes. De outro lado, temos exemplos de arte tradicional que utiliza elementos de vanguarda. É o caso da pintura de Hieronymus Bosch, que em pleno século XV foi um precursor do surrealismo. Também o erudito e o popular se mesclam muitas vezes na elaboração de um novo paradigma estético. De um lado, temos a música de Bach ou de Villa-‐Lobos, que incorporaram elementos populares para produzir um resultado erudito. De outro, temos o já citado rock progressivo, que assimila elementos eruditos para produzir um resultado popular. Essa mescla de erudito e popular, tradicional e inovador, leva a uma arte híbrida, difícil de ser classificada. Por exemplo, a música new age é erudita ou popular? E o free jazz, gênero de origem negra de complexidade melódica, harmônica e rítmica superior à da música de concerto, e que chegou mesmo a influenciar certos compositores sinfônicos? E os arranjos do tipo muzak, como Ray Conniff e Lawrence Welk, em que canções populares são transformadas em peças orquestrais com arranjo sinfônico? E Luciano Pavarotti cantando música popular? Conclusão A arte atual em geral, e a música em particular, fundiu a idéia de vanguarda à de raízes populares. A arte dos dias de hoje é moderna e popular ao mesmo tempo. Por outro lado, no dizer de Ezra Pound, “clássico é o que é moderno em qualquer época”. Portanto, toda arte que sobrevive à sua época se torna clássica. Nesse sentido, a oposição clássico x moderno remete a uma outra, moderno x eterno. Para Octavio Paz (apud Maria Lúcia B. C. de Paula), o homem clássico, sabendo-‐se mortal, propunha uma arte eterna. Já o artista moderno, ciente da historicidade, e portanto da efemeridade da arte, dedica-‐se ao exercício de sua temporalidade. Além disso, devemos lembrar que os conceitos de clássico, moderno, erudito e popular variam conforme a época (as valsas de Strauss, que eram modernas e populares em seu tempo, hoje são clássicas e eruditas). As trilhas sonoras instrumentais e músicas incidentais de filmes, peças de teatro e balés, que até a década de 50 pertenciam normalmente à música sinfônica (por exemplo, o tema de E o Vento Levou), são hoje domínio quase exclusivo da música popular. Finalmente, é preciso lembrar que, a partir dos anos 50, com a explosão do movimento jovem, as oposições culturais clássico/moderno e erudito/popular deram lugar à dicotomia cultura jovem x cultura adulta. Nessa nova perspectiva, o jazz tradicional de Louis Armstrong e Frank Sinatra passou a representar o antigo, o clássico, por oposição à música e à cultura modernas, surgidas do movimento jovem (Elvis Presley, os Beatles, o movimento hippie). De outra parte, hoje, passados mais de 40 anos do surgimento do rock e da explosão do movimento jovem e da cultura pop, com sua rebeldia característica, já se começa a notar um fenômeno interessante: se até aproximadamente os anos 70 o rock era a música jovem por excelência (aqui no Brasil, além do rock procedente dos países de língua inglesa, a juventude – sobretudo a mais politizada – também ouvia o rock e o pop nacionais, representados primeiramente pela jovem guarda, e a seguir pela Tropicália e seus sucessores), enquanto os mais velhos preferiam o jazz tradicional e, no caso do Brasil, a música popular pré-‐bossa nova, a partir dos anos 80 já começam a surgir pais que foram adolescentes nas décadas de 50 e 60 e cresceram ouvindo rock e bossa nova; hoje, esses pais têm filhos que também escutam rock e a MPB moderna. Assim, o que temos hoje em dia é uma geração de jovens que apreciam o mesmo gênero de música que seus pais. Em outras palavras, o conflito de gerações, que no início do século XX opunha a música de concerto à musica popular (o jazz e o samba tradicionais), que em meados desse século opunha o jazz e o samba tradicionais ao rock e à bossa nova, hoje se dá de forma mais sutil, dentro do próprio quadro do rock e da MPB pós-‐bossa nova e pós-‐tropicalismo: a diferença de gosto musical entre pais e filhos não é mais uma diferença de estéticas, mas sim uma diferença de estilos dentro de uma mesma estética (Beatles, Rolling Stones e Raul Seixas x Oasis, Alanis Morrisette e Paralamas do Sucesso; Caetano Veloso e Chico Buarque x Chico César, Carlinhos Brown e assim por diante). Aliás, é comum hoje em dia encontrarmos tanto pais quanto filhos “curtindo” Chico Buarque ou Raul Seixas, o que demonstra que o padrão estético nascido da cultura jovem e rebelde dos anos 50 e 60 está se tornando – se é que já não se tornou – o mainstream em matéria de música. Aldo Bizzochi Líbero -‐ ano 2, n.º 1, 1999 Disponível em http://www.aldobizzocchi.com.br/artigo14.asp Cultura popular, cultura erudita e cultura de massas no cinema brasileiro Uma atitude adequada para a pesquisa sociológica sobre as obras de arte consiste numa análise interna à obra, conforme defenderemos brevemente agora. Empreender uma análise interna significa reter aquilo que há de sociologicamente relevante dentro da obra de arte, e não no seu entorno ou nas relações que estabelecem seus produtores entre si. Em seguida, procuraremos resgatar um pouco da complexidade e dos interesses que se exteriorizam nas definições de cultura popular, cultura de massas e cultura erudita, conceitos importantes para a sociologia. Existe um mundo social que é interno à obra de arte, e que pode e deve ser objeto da sociologia. No caso, é preciso considerar que existe uma visão de cultura popular, cultura erudita e cultura de massas que reside no interior dos filmes, e que deve ser buscada na análise da obra, e não nos seus condicionantes externos, sejam eles econômicos, políticos, sociais, etc. O sociólogo da arte Pierre Francastel é um dos autores que defendem veementemente a legitimidade de uma sociologia da arte que tenha como objeto justamente aquilo que reside no interior das obras. A introdução de seu livro A realidade figurativa discorre longamente sobre o mundo social que existe nas obras de arte – e que portanto deve ser objeto da sociologia – e sobre o método que o sociólogo deve empreender para analisá-‐lo (FRANCASTEL, 1973). Ele rejeita uma sociologia das obras que utilize a arte apenas como ilustração de argumentos que foram buscados fora dela. Se as obras que constituem o produto das atividades propriamente estéticas das sociedades constituíssem tão somente uma espécie de duplo dos outros produtos de nossa conduta, seria legítimo reter esses trabalhos apenas como uma fonte de informação complementar. Uma Sociologia da Arte seria então fácil de escrever, pois resumir-‐se-‐ia em confirmar – ilustrar – conhecimentos adquiridos ao cabo de pesquisas de interesse e alcance superiores. Como isso não é verdade, as obras de arte conferem ao historiador, assim como ao sociólogo, elementos de informação que de outro modo não possuem (FRANCASTEL, 1973, p. 4). Francastel rejeita, portanto, a sociologia que, analisando outros aspectos da vida social que não a obra de arte – círculo de artistas, indústria do cinema, aspectos econômicos, políticos, etc. – proponha-‐ se a encontrar explicações para o que é visto dentro da obra de arte. Quando nos referirmos a alguns filmes que compõe a cinematografia brasileira, estaremos justamente pensando na cultura erudita, popular e de massas que está colocada no interior das obras, não de maneira positivista e reificada, como se existisse um sentido dado na imagem, mas como uma relação entre imagem e espectador que é complexa e mutável mas que, não obstante as dificuldades, deve ser buscada. A segunda atitude sociológica a que nos referimos consiste em colocar em questão os próprios termos que utilizamos na pesquisa: a cultura popular, a cultura de massas e a cultura erudita. São definições mutáveis, interessadas, históricas, que devem ser relativizadas e mesmo dissolvidas na medida em que devem ser consideradas com parte de um discurso sobre a vida social. Em primeiro lugar, é preciso considerar que a mundialização da cultura e a pós-‐modernidade nos colocam diante do problema de definir se as fronteiras entre a cultura de massas, a cultura popular e a cultura erudita permanecem rígidas ou se estão cada vez mais fluídas, sendo que em alguns casos já não se poderia falar nesta distinção categórica. Esta é a posição de Renato Ortiz no livro Mundialização e cultura, que baseia sua opinião na existência de uma cultura “internacional-‐popular”, universalista porque desenraizada, despolitizada porque mítica (o mito da “grande família dos homens”), assentada no consumo e na qual o mecanismo da citação, próprio da arte erudita, foi incorporado e dilatado (ORTIZ, 1994). Esta é uma discussão importante no caso do cinema pois significa ter de lidar com a grande quantidade de filmes que incorporam e dialogam com elementos da cultura erudita e da cultura popular, principalmente no que se refere a temas e conteúdo (“sérios”, históricos, muitas vezes “existenciais”), mas que aspiram à conquista do mercado consumidor dando ao público formas mais ou menos testadas (ou seja, padronizadas) e preocupando-‐se fortemente com a qualidade técnica e industrial. O fenômeno da cultura de massas começou a chamar a atenção de pesquisadores das ciências humanas principalmente a partir da década de 40, quando houve uma difusão dos meios de comunicação e quando se percebeu a importância que adquiria a mensagem transmitida por eles (LIMA, 1978). O moderno fenômeno da cultura de massa só se tornou possível com o desenvolvimento do sistema de comunicação por media, ou seja, com o progresso e a multiplicação vertiginosa dos veículos de massa – o jornal, a revista, o filme, o disco, o rádio, a televisão. Como causas subjacentes necessárias, mencionam-‐se os fenômenos de urbanização crescente, de formação de públicos de massa e do aumento das necessidades de lazer. Portanto, o que se convencionou chamar cultura de massa tem como pressuposto, e como suporte tecnológico, a instauração de um sistema moderno de comunicação (os mass-‐media, ou veículos de massa) ajustados a um quadro social propício (SODRÉ, 1973, p. 13, grifo do autor). Mas a idéia de uma cultura de massas, ou a palavra que deve traduzir a idéia de um novo fenômeno cultural, tem limitações importantes. Raymond Williams (1979) acredita que o conceito de “massa” não nos deixa antever o caráter de dominação de classe que perpassa essa nova cultura, assentada na dominação capitalista e não simplesmente na novidade das multidões urbanas dispostas ao consumo em larga escala. Sérgio Paulo Rouanet (1992) utiliza justamente o exemplo do cinema, bastante aproveitado por aqueles que crêem na idéia do apagamento entre as fronteiras entre cultura de massas e cultura erudita, para rejeitá-‐la. Segundo o autor, a confusão que se cria na discussão arte de massas/arte erudita é dada pela tendência ao que ele chama, para falar com Benjamin, em “auratização póstuma”. Seu principal exemplo é o filme Casablanca, produto de massas como outro qualquer mas hoje reverenciado “pelos assinantes do Cahiers du cinéma”: “Tudo se passa como se o envelhecimento da obra tivesse modificado sua qualidade [...]. Não se trata, portanto, de um nivelamento pós-‐moderno de alta cultura e cultura de massas, e sim de uma aristocratização da cultura de massas, promovida a cultura de elite” (ROUANET,1992, p. 131). A causa dessa “auratização póstuma” é a necessidade de fantasia e de identificação que o capitalismo avançado nos imprime, e que atua de modo diferente em dominantes e dominados: Para a moça operária, evadir-‐se do presente pela fantasia é uma operação simples – ela recorre à cultura de massas contemporânea. Para o intelectual de classe média, a operação é mais complicada – ele recorre a uma cultura de massas fóssil, trazendo-‐a para o presente e transformando-‐ a em cultura erudita (ROUANET, 1992, p. 132). Sobre o popular, pode-‐se dizer que alguns componentes da definição do popular e de suas práticas artísticas estão difundidos em larga escala na sociedade e têm longa permanência em discursos sobre a cultura: a cultura popular como ligada a regionalismo, primitivismo, passado ameaçado de se perder, como ato da produção coletiva, frequentemente ingênua (e aí o nome arte naïve), como produção carregada de purismo, de tradição, cujo processo de criação está associado ao “fazer” e não ao “saber”. Parece recorrente a valorização do popular a partir destas características elencadas, ou seja, pelo seu papel na manutenção de tradições e práticas que, sem ele, estariam perdidas em meio às transformações do mundo industrializado e urbano. Por outro lado, nem sempre a palavra popular tem uma acepção positiva. Popular pode assumir uma conotação pejorativa relacionada, em geral, a baixo nível intelectual e artístico e a atraso. Marilena Chauí (1996, p. 124) comenta a ambivalência do conceito e a simultaneidade das visões: Em decorrência do verde-‐amarelismo, dos populismos, do autoritarismo paternalista, frequentemente encontramos no Brasil uma atitude ambivalente e dicotômica diante do popular. Este é encarado ora como ignorância, ora como saber autêntico; ora como atraso, ora como fonte de emancipação. Talvez seja mais interessante considerá-‐lo ambíguo, tecido de ignorância e de saber, de atraso e de desejo de emancipação, capaz de conformismo ao resistir, capaz de resistência ao se conformar. Ambigüidade que o determina radicalmente como lógica e prática que se desenvolvem sob a dominação. Há ainda uma outra conotação de popular e de cultura popular que se diferencia destas que estamos comentando. Popular pode estar também associado ao que é conhecido, ao consumo, ao que vende mais, ao que agrada a muitos, ao que tem larga penetração na vida social. Nesta acepção, cultura popular não está exatamente relacionada ao povo como reduto da ingenuidade, espontaneidade, tradição, numa visão romântica que valoriza o regionalismo, o purismo, os valores, a verdade. Nesta acepção, cultura popular relaciona-‐se a consumo de massas, tornando-‐se inclusive substituto deste termo. Antônio Augusto Arantes faz uma observação interessante a respeito da cultura popular, que nos leva para outro aspecto de problema que queremos abordar. Segundo o autor, a cultura popular é vista por “alguns pesquisadores mais sofisticados” como “resíduo da cultura ‘culta’ de outras épocas (às vezes de outros lugares), filtrada ao longo do tempo pelas sucessivas camadas de estratificação social” (ARANTES, 1982, p. 16). Isso pode nos indicar que existe, segundo uma certa visão de popular, uma identificação de conteúdo entre cultura popular e alta cultura, ambas sobrevivendo enquanto reduto da originalidade e autenticidade em meio ao oceano de produtos massificados. É o que se depreende da leitura do já citado Sergio Paulo Rouanet (1992, p. 130): [...] a alta cultura e a cultura popular são as duas metades de uma totalidade cindida, que só poderá recompor-‐se na linha de fuga de uma utopia tendencial. No meio tempo, elas têm de manter-‐se em sua autonomia, pois seria tão bárbaro abolir a cultura popular, onde habita a memória da injustiça, como abolir a alta cultura, onde habita a promessa de reconciliação. Existiria, portanto, algo de semelhante entre a cultura popular e a cultura erudita, não exatamente enquanto conjunto de preceitos, sistematização de conhecimento, e instâncias de consagração. Neste sentido, concordamos com Marcos e Maria Ayala quando os autores afirmam que a cultura popular não constitui um sistema, no mesmo sentido em que se pode falar de sua existência na cultura erudita – um conjunto de produções artísticas, filosóficas, científicas etc., elaboradas em diferentes momentos históricos e que têm como referência o que foi realizado anteriormente, pelo menos desde os gregos, naquele campo determinado e nos demais (AYALA; AYALA, 1987, p. 66). As semelhanças entre a cultura popular e a alta cultura viriam de sua definição como refúgio da produção autêntica, que adviria talvez da identidade entre os produtores e seus produtos e da identificação entre produtores e seu público. Assim, a cultura popular e alta cultura expressariam ambas, uma necessidade orgânica de produção, que seria impulsionada pelo livre prazer estético e pelo desejo de comunhão de um grupo, por ampliar as possibilidades de reflexão, pela vontade de contribuir para a beleza e o conhecimento da comunidade, com grande identidade entre os que produzem e os que consomem, ou ainda uma total indiferenciação entre eles. Já a cultura de massas estaria assentada na produção visando o lucro, o mercado, o grande público, e por isso não haveria identidade entre os produtores e os consumidores, nem possibilidade de criação “desinteressada”, ou de criação interessada na beleza, no prazer do jogo, do reconhecimento, da comunhão. Bosi (1973, p. 57) dirá: “Um forte componente lúdico anima todo ato genuinamente estético, e será, talvez, o traço distintivo mais importante a separar a arte (popular ou não) da indústria cultural”. A semelhança entre cultura popular e alta cultura se manifestaria também na ameaça que ambas sofreriam da cultura de massas, na qual a lógica da mercadoria e da produção comercialmente interessada prevalece. Se as definições são, logo de saída, necessariamente tensionadas e lugar de disputas intelectuais, devem ser colocadas em questão de modo ainda mais radical na medida em que, como dissemos no início, é preciso partir do interior mesmo das obras de arte, no caso dos filmes brasileiros. Ou seja, a análise da visão de popular, massificado e erudito pode nos revelar um conteúdo ainda mais complexo, na medida em que, conforme dissemos, existe um mundo social na obra de arte que não se reduz ao que se passa fora dela. A seguir faremos alguns apontamentos tomando o cinema brasileiro moderno, ou seja, aquele inaugurado pelo Cinema Novo, como ponto de partida. O CINEMA BRASILEIRO MODERNO Em 1963 o cineasta Glauber Rocha conquista cinéfilos e jovens revolucionários da América Latina com uma obra de arte admirável e vanguardista: Deus e o diabo na terra do sol, uma combinação surpreendente de western, Nouvelle Vague, religião, misticismo, violência, revolução, sertão, mar. Poucas vezes no cinema brasileiro um realizador foi tão feliz na relação que fez entre a cultura popular e cultura erudita. Ismail Xavier exalta as qualidades de Deus e o diabo por estes motivos, ou seja, pela sua visão dialética que “se recusa a descartar a representação construída pelas classes dominadas e, ao mesmo tempo, procura questionar, por dentro, a face tradicionalista dessa representação em nome da história” (XAVIER, 1983, p. 118). Em relação a seu filme anterior, Barravento, em Deus e o diabo, Glauber Rocha expõe esta dialética entre a valorização-‐desvalorização do popular de modo mais facilmente observável e, ao mesmo tempo, de forma bem mais complexa. Sua relação contraditória com o popular expressase, por exemplo, segundo Xavier, na convivência do cordel (popular) com a música de Villa-‐Lobos (erudita), e o pesquisador chama a atenção para o fato de que, na famosa seqüência final, “não é apenas o mar que substitui a caatinga. É também a peça musical erudita que substitui o cantador” (XAVIER, 1983, p. 91). Além da relação contraditória entre popular e erudito, que se manifesta na convivência tensionada entre cordel, cangaço, sertão e Villa-‐Lobos, é preciso considerar que a linguagem utilizada por Glauber Rocha estava influenciada e era parte dos movimentos de vanguarda cinematográficos, e portanto incluía-‐se entre o cinema erudito de sua época, que buscava experimentar e transformar a linguagem do cinema em direção a uma maior autonomia do espectador, a uma ampliação das possibilidades de reflexão sobre o material fílmico e sobre a sociedade na qual o filme estava inserido. Os desejos de realização de uma cinematografia baseada em temas populares povoam acentuadamente a mente de diversos cineastas brasileiros desde os anos 50 (BERNARDET, 1983), mas é principalmente o Cinema Novo nos anos 60 que procura dar ao conteúdo popular uma forma popular, utilizando criticamente os dados da cultura popular brasileira na medida em que estabelece um claro diálogo com a cultura erudita (às vezes literária, às vezes musical, às vezes plástica) e com o cinema de vanguarda mundial. O resultado são filmes marcantes do ponto de vista da história cinematográfica brasileira, ainda que não tenham atingido o sucesso de público esperado pelos realizadores. De modo geral, os filmes do Cinema Novo não tiveram penetração no mercado, sendo esta uma preocupação que ainda não se encontrava disseminada entre os artistas do movimento. Atingir o mercado, fazer do seu cinema cultura de massas, não mobilizava de forma intensa os realizadores e produtores, ainda que o sonho de aproximar o Cinema Novo do povo enquanto público de cinema fosse naturalmente acalentado. É possível que a relevância social de certos filmes pudesse ter sido maior se eles tivessem atingido um maior número de pessoas, mas é possível pensar, como Jean-‐Claude Bernardet (1978), que a falta de espectadores não condena necessariamente o filme a uma desimportância social: “É errôneo pensar que são inúteis filmes que atingem um público relativamente restrito, mas que tenham a possibilidade de entrar em violenta polêmica com problemas essenciais da sociedade brasileira e latino-‐ americana” (BERNARDET, 1978, p. 207). Efetivamente, o fato de filmes como Deus e o diabo na terra do sol (Glauber Rocha), Vidas secas (Nelson Pereira dos Santos) e São Bernardo (Leon Hirszman) terem sido pouco vistos, até hoje, não significa que eles não tenham tido influência e importância na cinematografia brasileira e mesmo internacional. O cinema brasileiro dos anos recentes frequentemente dialoga com os filmes do Cinema Novo, o que nos sugere sua incorporação definitiva e marcante na história do cinema no Brasil. Ao considerar este cinema mais crítico dos anos 60, que dialogava freqüentemente com a vanguarda internacional e que se preocupava com propostas estéticas nem sempre perfeitamente palatáveis ao grande público, é necessário relativizar a afirmação de Raymond Williams segundo a qual o cinema, junto com o rádio e a televisão, não necessitam de um saber específico para serem consumidos, ao contrário da literatura (WILLIAMS, 1992). A idéia de uma “linguagem universal”, que seria expressa pelo cinema e que atingiria a todos indiscriminadamente, pode ser contestada a partir do que nos revela o roteirista Jean-‐Claude Carrière em A linguagem secreta do cinema (CARRIÈRE, 1995). Ele nos mostra que a compreensão da linguagem cinematográfica modifica-‐ se continuamente como parte de mudanças sociais, culturais, mudanças na maneira de ver do público e da própria história do cinema. Efeitos que antes eram necessários para a pela compreensão hoje não mais o são. Até meados de 1920, segundo Carrière (1995), existia na Espanha a figura do explicador que, com um bastão, apontava os personagens e explicava o que eles estavam fazendo. A linguagem do cinema “continua em mutação, semana a semana, dia a dia, como reflexo veloz dessas relações obscuras, multifacetadas, complexas e contraditórias, as relações que constituem o singular tecido conjuntivo da sociedade humana” (CARRIÈRE, 1995, p. 22). E, sua observação mais importante, o menos para o sociólogo, consiste em nos fazer perceber que a compreensão de um filme consiste numa relação entre imagem, espectador, realizador, uma relação que é imediatamente social, e que nos mostra que o sentido não está na imagem em si: a ‘verdade’ de uma foto, ou de um cinejornal, ou de qualquer tipo de relato, é, obviamente, bastante relativa, porque nós só vemos o que a câmera vê, só ouvimos o que nos dizem. Não vemos o que alguém decidiu que não deveríamos ver, ou o que os criadores dessas imagens não viram. E, acima de tudo, não vemos o que não queremos ver (CARRIÈRE, 1995, p. 58). De volta a nosso tema, a relação entre a cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massas no cinema brasileiro, podemos constatar que diversos filmes nos anos 60 e 70 procuram apropriar-‐se de conteúdo “popular” de forma erudita: os já citados São Bernardo, de Leon Hirszman, Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos, Os inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, são alguns exemplos. Trata-‐se de filmes com tema e preocupação eminentemente “populares” – falar do povo e conscientizar o povo –, mas que procuram fazê-‐lo operando uma linguagem que os aproximam da cultura erudita. Não estamos diante de um cinema padronizado, que se vale das fórmulas conhecidas e já bem aceitas, mas daquele que procura experimentar. Outros filmes, cujo melhor exemplo talvez seja o filme O bandido da luz vermelha, de Rogério Sganzerla, dialogam com a cultura de massas e problematizam a cultura erudita, numa perspectiva que, da mesma forma, nada tem de massificada ou padronizada, mas que, da mesma forma, procura fugir à linguagem estabelecida. O bandido da luz vermelha, embora dialogue com os meios de comunicação e com linguagens próprias do rádio, por exemplo, o faz como parte de uma atitude erudita, que procura provocar, experimentar, e que faz dele um filme que definitivamente se afasta do cinema de massas. Esta apreensão estimulante da cultura brasileira, bastante comum nos anos 60 – na qual popular, erudito e massificado dialogam de maneira complexa –, tende a ser esvaziada no decorrer da década de 70, quando diversos cineastas professam uma rejeição ao “elitismo” cinematográfico e à cultura erudita em nome de um interesse no que seria o nacionalpopular. A vontade crescente de conquistar o mercado cinematográfico brasileiro, o fortalecimento de uma visão mais industrial e mercadológica que ganha força a partir da atuação da Embrafilme, o progressivo enfraquecimento das propostas estéticas mais radicais, tudo isso colabora para que os cineastas de modo geral aproximem-‐se do cinema mais identificado aos produtos culturais de massa, com resultados por vezes mais, por vezes menos bem sucedidos. Surgem filmes estimulantes como Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, baseado em obra de autor considerado erudito (Mário de Andrade), cujo tema relaciona-‐se à compreensão do caráter (ou da falta de caráter) do povo brasileiro e que, baseando-‐ se numa linguagem mais massificada, procurava satisfazer aos desígnios de parte do mercado. Outros filmes ambicionam uma linha auto-‐proclamadamente “nacional-‐popular” e pretensamente “sem sociologia”, ou seja, sem a preocupação de “explicar” o outro, mas apenas de “mostrá-‐lo” e “respeitálo”, como se fosse possível esse tipo de neutralidade cinematográfica. Um discurso mais afinado àquele da antropologia, mas colocado em termos um tanto simplistas, visto que a possibilidade do outro expressar-‐ se tende a não ser tensionada e complexificada. Podemos citar como exemplos os filmes de Nelson Pereira dos Santos Tenda dos milagres e O amuleto de ogum (Nelson Pereira dos Santos), filmes “anti-‐sociológicos”, que procuram não questionar o outro, tratando do “popular” de modo engessado, aceitando de modo menos crítico e tensionado uma linguagem que seja permeável ao mercado. Provavelmente são os filmes menos felizes do grande cineasta que é Nelson Pereira dos Santos, que realiza a seguir A estrada da vida, filme com Milionário e José Rico que, de modo a meu ver mais bem sucedido, estabelece com o outro uma relação mais interessante, permeado de uma modéstia sincera, de uma despretensão melhor realizada, aproveitando-‐se das figuras simpáticas e divertidas dos cantores da dupla sertaneja. A cultura de massas e a cultura popular aqui mais uma vez se relacionam, mas de uma maneira diferente em relação a outros filmes do cinema brasileiro: Milionário e José Rico são mostrados com legítimos representantes do “povo”, que conquistam o sucesso no mercado justamente por esta autêntica condição, como se entre a cultura popular e a cultura de massas houvesse uma linha de continuidade de modo que uma conduzisse naturalmente à outra. Conforme se avança nos anos 70, notamos filmes que se valem de uma maior ou menor padronização estética própria da cultura de massas numa tentativa de aproximação com o povo/público brasileiro, ou seja, filmes que procuram tematizar o povo ou o discutir certas manifestações do caráter popular por meio de uma narrativa clássica e mais massificada. Exemplos são algumas adaptações de Nelson Rodrigues realizadas por Arnaldo Jabor, notadamente Tudo bem; e Eles não usam black-‐tie, de Leon Hirszman. Sobre este último filme, a meu ver podemos dizer que, a despeito do tema ostensivamente popular e operário, existe uma grande reificação na linguagem, afinada ao melodrama e ao novelesco – e portanto à cultura de massas –, e mesmo na visão dos personagens, tratados de maneira simplificada e por vezes maniqueísta. O interessante é notar que o cinema brasileiro, que já era variado, tende a abarcar ainda mais tendências, a colocar novos problemas para o pesquisador que tenta desvendar o social dentro do filme. No entanto, aquela apreensão erudita da cultura popular de Glauber Rocha ou da cultura de massas de Rogério Sganzerla parece não ter se desdobrado imediatamente e rendido novos frutos, e é difícil encontrarmos filmes com preocupações semelhantes, ou seja, que professem um caráter eminentemente vanguardista – e portanto ligado por sua origem à cultura erudita – ao lidar com a cultura popular ou com a cultura de massas. A cultura definida pelos cineastas como popular passa a ser apreendida muito mais em termos da cultura de massas, enquanto cresce o desejo pela conquista do público e desenvolve-‐se o mercado de bens culturais no Brasil (ORTIZ, 1988). Ou, em outras palavras, para conquistar o público, muitos cineastas não abrem mão de suas convicções “nacionais-‐populares” e da críticaà sociedade brasileira, mas passam a operar de forma mais livre com elementos do cinema comercial. Pra frente Brasil (Roberto Farias) é um exemplo quase limite desta tendência, que também pode ser verificada em Chica da Silva e Bye bye Brasil (Cacá Diegues) e na própria fala do cineasta Joaquim Pedro de Andrade (apud BERNARDET, 1978, p. 174): “A proposição do consumo de massa no Brasil é uma proposição moderna [...]. É uma posição avançada o cinema tentar ocupar um lugar dentro desta situação nova”. Dentro dessa tendência, há também uma progressiva tentativa à adoção de um discurso tendente a valorizar a cultura mais marcadamente massificada e padronizada como algo eminentemente popular, e portanto como algo a ser valorizado. Um exemplo patente é o que ocorre com o cinema de Mazzaropi. Um artigo de Renato da Silveira (1980) na Arte em revista critica os intelectuais de esquerda que defendem a cultura de massas brasileira como eminentemente popular na medida em que trata de temas ditos “populares” e em que conquista o público brasileiro. Sobre uma matéria do jornal Movimento sobre Mazzaropi, O jeca contra o tubarão, Silveira (1980, p. 8) comenta: A entrevista (do próprio Mazzaropi) é alternada com declarações ao vivo de pessoas de diversos níveis sociais, todas elogiosas. Dessa maneira, Mazzaropi é apresentado como uma unanimidade nacional [...]. Mas, na entrevista, Mazzaropi faz declarações assim: ‘O Ferris me conseguiu um documento falso para poder dizer as besteiras que o povo gosta de ouvir’. Muitos não fazem sucesso ‘porque falam uma linguagem intelectual e o povo não gosta de pensar’ [...]. Seria então o caso de insistir sobre a função do tipo de espetáculo que Mazzaropi faz? As matérias se omitem sobre isso. Não informam que, conforme a espantosa riqueza que o próprio Mazzaropi alardeia na própria entrevista, seu cinema serve, de um lado, para acumular capital, e, de outro, para concretizar o projeto do verde-‐ amarelismo: botar o povão para produzir sem discutir. É a mesma crítica que endereça Roberto Schwarz, no ensaio Vanguarda e conformismo, àqueles que consideram o que vende bem como vanguarda ou como folclore: “O capitalismo seria, pois, literalmente, o melhor dos mundos: obtêm a coincidência do mais avançado e do espontaneamento popular” (SCHWARZ, 1978, p. 48). Esta é a visão, conforme já discutimos, proclamada em A estrada da vida, de Nelson Pereira dos Santos, sobre a dupla caipira Milionário e José Rico. A identificação povo-‐público, que se desdobra nas identificações povo-‐ mercado e povo-‐cultura, perpassam todo o filme. Milionário e José Rico são autênticos homens do povo e sua música é popular; consequentemente, farão sucesso no mercado, ainda que depois de alguns contratempos. O que faz Nelson Pereira dos Santos escapar da pura apologia do mercado é sua economia estética adequada (como em Vidas Secas), sua sensibilidade elegante e discreta (como em Como era gostoso o meu francês), e o humor “simples” e eficiente da dupla de personagens. Como se sabe, o cinema brasileiro entra em crise nos anos 80 e leva seu golpe de misericórdia com o fechamento da Embrafilme em 1990. Alguns anos se passaram até que novos filmes fossem produzidos em quantidade razoavelmente relevante, e hoje é possível dizer que há certa regularidade na produção cinematográfica. O cinema brasileiro recente coloca novos problemas na questão da relação entre cultura de massas, cultura popular e cultura erudita. A relação com as vanguardas e com a experimentação estética certamente não é tão intensa quanto nos anos 60 e 70. É preciso lembrar, no entanto, que estas décadas foram especialmente férteis no cinema brasileiro e mundial, tanto no que se refere à ficção quanto ao documentário. Era o tempo da Nouvelle Vague, do Neo-‐Realismo italiano e seus desdobramentos posteriores, do cinema-‐direto de Drew e Leacock e do cinema-‐verdade de Edgar Morin e Jean Rouch. Havia um clima de época, uma efervescência cultural, social e política que favorecia a experimentação. O cineasta e a câmera deveriam sair às ruas, simplificar as formas de produção, rejeitar o esquema dos estúdios, mostrar o que é comum e ordinário, filmar a vida cotidiana, improvisar, curto-‐ circuitar a idéia da semelhança entre o cinema e o mundo (NINEY, 2000). É interessante notar que diversos procedimentos adotados nesta lógica de produção se tornaram hoje recorrentes e banais, muitas vezes separados aquela motivação que lhes deu origem, sendo reproduzidos de forma quase independente, de modo que pouco revelam da situação social que os motivou. Assim, a idéia de uma cultura erudita retirou-‐se de certa forma dos esquemas de produção, como havia sido comum no Cinema Novo, e não é possível identificarmos com tanta clareza a adesão de cineastas brasileiros a vanguardas ou a propostas estéticas eruditas. No entanto, a cultura erudita permanece no cinema brasileiro como tema, objeto, e como citação. É recorrente o uso de autores eruditos, de músicas eruditas, de citações eruditas. Mesmo o recém lançado Dois filhos de Francisco (Breno Silveira), de tema acentuadamente popular (a vida “simples” e dura da família eminentemente popular), por um lado, e massificado (o sucesso comercial de Zezé de Camargo & Luciano), por outro, utiliza-‐se da cultura brasileira considerada erudita – a voz de Maria Betânia, cantora da MPB, que, como se sabe, não é música popular – como forma de legitimação de seu discurso sobre a qualidade dos personagens em questão. Outro exemplo, agora de um dos primeiros filmes da chamada “retomada” do cinema brasileiro, é Terra estrangeira (Walter Salles), no qual a cultura erudita apresenta-‐se tematizada através dos desejos artísticos do personagem Paco (que quer interpretar o Fausto de Goethe) e da citação recorrente de movimentos cinematográficos e de cineastas que procuram realizar um cinema erudito (no caso o próprio Cinema Novo e o cinema alemão de Win Wenders e Werner Herzog). No filme O homem que copiava (Jorge Furtado), manifestações de arte erudita povoam a existência simples e quase iletrada do personagem de Lázaro Ramos. A cultura erudita, no cinema brasileiro recente, é antes um tema do que uma prática. A cultura de massas passa a existir, tanto como tema quanto como estrutura de produção, sem os questionamentos sobre suas implicações que se esboçavam nos anos 60 e 70. Hoje a defesa da cultura de massas não parece tão necessária, nem é preciso que se proclame que “mercado é cultura”, ou que se justifique a existência de uma maneira mais padronizada e comercial de se fazer cinema no Brasil. A necessidade de público, a presença de grandes distribuidoras, a penetração em mercados internacionais não precisam de legitimação, sendo considerados valores em si mesmos, necessários para a manutenção de uma produção brasileira comercial regular e auto-‐sustentada. O espaço da precariedade, a valorização da autonomia e da improvisação, do amadorismo e do espontaneísmo, não resistiram nem como utopia. Enquanto tema, a cultura de massas aparece de maneira bastante constante e de maneiras diversas, muitas vezes como um elemento acessório, pouco problematizado, outras vezes de maneira bastante criativa e interessante, como no caso do já citado O homem que copiava, de Jorge Furtado, que, ao mesmo tempo em que brinca com a cultura erudita, trás a fragmentação e o modo de ver entrecortado típico dos produtos massificados para o interior do próprio filme. Ou como em Baile perfumado, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, filme no qual o elemento popular – Lampião – estabelece uma relação desprovida de ingenuidade com o cinema enquanto cultura de massas. Parece importante notar que a vida social brasileira está, atualmente, intensamente penetrada pelos produtos culturais de massas, e o consumo é algo extremamente valorizado. A cultura de massas aparece, nessas condições, tematizada de forma recorrente no cinema brasileiro, como parte inalienável de nossa vida social: Sábado (Ugo Giorgetti), O homem do ano (José Henrique Fonseca), Cidade de Deus (Fernando Meireles), são alguns dos inúmeros filmes cujo conteúdo está intimamente ligado a esta realidade. Sobre a cultura popular no cinema brasileiro, podemos dizer que ela continua presente, aparentemente de maneira ininterrupta desde antes dos anos 60, de forma inconfundível no cinema brasileiro, como uma reserva eterna de conteúdo a quem recorrentemente a arte apela na tentativa de elaborar sua visão de mundo ou de causar emoção. A favela, o campo, o nordeste, o carnaval, o trabalhador, o homem comum urbano, tudo isso é parte inegável de nossa cinematografia, e parece ajudar a legitimar o conteúdo produzido pelo filme, como se bastasse colocar o povo e a cultura popular em cena para que a obra ganhasse em qualidade e relevância. Poucos filmes externalizam uma concepção amarga do povo brasileiro, como Sérgio Bianchi e seu Cronicamente inviável, que procura criticar principalmente a elite mas que acaba englobando toda a sociedade brasileira, em todas as regiões do país. A atitude mais comum é a do povo e da cultura popular como simples positividade, na maioria das vezes destituídos de complexidade, um assunto enfim que parece sempre render bons e maus filmes e emoções variadas. REFERÊNCIAS ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982. AYALA, Marcos; Ayala, Maria Ignez Novais. Cultura popular no Brasil: perspectiva de análise. São Paulo: Ática, 1987. BERNARDET, Jean-‐Claude; GALVÃO, Maria Rita. O nacional e o popular na cultura brasileira: cinema. São Paulo: Brasiliense, 1983. BERNARDET, Jean-‐Claude. Trajetória crítica. São Paulo: Pólis, 1978. BOSI, Ecléa. Cultura de massa e cultura popular: leituras de operárias. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1973. CARRIÈRE, Jean-‐Claude. Algumas palavras sobre uma linguagem. In: ______. A linguagem secreta do cinema. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. p. 13-‐49. CHAUÍ, Marilena. Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. FRANCASTEL, Pierre. A realidade figurativa. São Paulo: Perspectiva, 1973. LIMA, Luis da Costa (Org). Teoria da cultura de massa. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. NINEY, François. Cinema-‐verité et cinema-‐direct. In: L’Épreuve du réel à l’Écran. Bruxelles: De Boeck Université, 2000. p. 131-‐145. ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1988. ______. Uma cultura internacional-‐popular. In: _______. Mundialização e cultura. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. ROUANET, Sergio Paulo. O irracionalismo brasileiro. In: __. As razões do iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. SCHWARZ, Roberto. O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. SILVEIRA, Renato da. Uma arte genuína, nacional e popular. Arte em Revista, São Paulo, ano 2, n. 3, 1983. SODRÉ, Muniz. A comunicação do grotesco: introdução à cultura de massa brasileira. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1973. WILLIAMS, Raymond, Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. ______. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. XAVIER, Ismail. Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome. São Paulo: Brasiliense, 1983. Marina Jorge – USP Disponível em http://www.periodicos.ufrn.br/index.php/cronos/article/view/3196/2586 Carnaval Atlântida (1952), de José Carlos Burle Carnaval Atlântida A companhia cinematográfica Atlântida iniciou suas atividades em 1941. A ideia original dos fundadores da empresa era produzir longas-‐metragens com pretensões artísticas, tendo como principal influência o Neo-‐Realismo italiano. Mas essa ideia acabou não vingando. Com o tempo, ficou provado que somente os filmes carnavalescos tinham um público cativo. Médico de formação, o pernambucano José Carlos Burle foi um dos grandes diretores do período. Buscou diversas vezes o filme social (Moleque Tião) e mesmo os dramalhões nos moldes da Vera Cruz (Maior Que o Ódio). Mas fez escola com as chanchadas, que eram perseguidas pela crítica da época. Paródia a Hollywood, Carnaval Atlântida é um dos mais divertidos longas-‐metragens de todos os tempos. O produtor Cecílio B. de Milho (Renato Restier) quer realizar uma fita sobre Helena de Tróia no Rio de Janeiro. Para isso, ele contrata o professor Xenofontes (Oscarito), um profundo conhecedor da mitologia grega. Ao mesmo tempo, dois empregados do estúdio (Grande Othelo e Colé Santana) querem transformar tudo numa chanchada. Com o tempo, todos os personagens da trama veem a impossibilidade de realizar um trabalho igual aos americanos. Por isso, o antes sisudo professor de assuntos da Grécia Antiga e o produtor americanófilo acabam caindo no samba. Um aspecto que precisa ser destacado neste longa-‐metragem são os números musicais. Nomes sagrados da nossa música popular como Blecaute, Caco Velho, Nora Ney e Dick Farney cantam seus respectivos sucessos. Esse desfile de artistas não afeta o ritmo do filme. Trabalho bastante autoral de Burle, este filme não é uma chanchada comum. Isso pode ser visto de várias maneiras. O nome do produtor Cecílio B. de Milho é claramente uma gozação com Cecil B. de Mille, realizador norte-‐americano reconhecido por trabalhos marcantes como Os Dez Mandamentos e Sansão e Dalila. Passados quase 60 anos da realização desta fita, podemos dizer que Carnaval Atlântida é sem dúvida uma paródia atemporal. Resistiu muito bem ao tempo e seu recado continua valendo. Muitos produtores e cineastas brasileiros continuam sendo grandes Cecílios B. de Milho. Não pensam numa estética popular e brasileira. Querem somente imitar modelos estrangeiros. Matheus Trunk Revista Zingu! Disponível em http://revistazingu.net/2011/03/23/carnaval-‐atlantida/ José Carlos Burle dirige chanchada de primeira linha Há alguns dias passou um filme do José Carlos Burle sério: "Também Somos Irmãos". Hoje, temos um pouco do Burle gaiato, com "Carnaval Atlântida" (no Canal Brasil, às 19h30). Mas, vamos ver, também é sério. Lá, um produtor pretende filmar a história de Helena de Tróia, com a ajuda de um doutor professor de grego (Oscarito). Mas é no Brasil que estamos, aliás, no Rio de Janeiro. E o que vai sair é uma chanchada mesmo. Uma chanchada de primeira linha, diga-‐se, onde aparecem em grande estilo Grande Otelo e Colé, além de Cyll Farney (galã), Eliana (mocinha), José Lewgoy (vilão). Parafraseando Paulo Emilio, pode-‐se dizer que este filme é um produto de nossa capacidade criativa de não copiar. Burle sabia bem o que fazia: como em outras ocasiões, seu filme enfatiza o valor da produção popular, não contra o erudito, mas contra o pedantismo. O público mais simples entendia bem o que o "Carnaval Atlântida" queria dizer. Inácio Araújo Folha de S. Paulo Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0907200717.htm Alma Corsária (1993), de Carlos Reichenbach Trechos da entrevista de Carlos Reichenbach ao blog “máquina de escrever” “Sou filho, neto e sobrinho de industriais gráficos e editores. Eu nasci para seguir o ramo da família, mas perdi o pai muito cedo, um dia antes de completar 14 anos. Por razões naturais, minha formação foi essencialmente literária. Convivi desde cedo com escritores e jornalistas, e meu projeto de vida na pré-‐adolescencia era viver de escrever. Como meu pai era amigo do cineasta Oswaldo Sampaio [de Sinhá Moça e A Estrada], pude testemunhar, aos 10 anos, a leitura do roteiro cinematográfico que Sampaio havia escrito para Jovita, de Dinah Silveira de Queiroz. Sampaio leu o roteiro com tanta emoção e intensidade que resolvi naquele momento que aquela seria minha forma de expressão. Mas, logicamente, meu pai tinha outros planos: eu iria para um colégio alemão, em Rio Claro, aprender a língua e depois ir estudar artes gráficas no exterior. Aos 11 anos, ele me presenteou com um mimeógrafo a tinta, um luxo para a época. Por isso, acabei sendo editor de quase todos os jornais dos colégios onde estudei. Com a morte do meu pai, houve um desvio de rota na minha vida, mas escrever roteiros não me saía da cabeça. Escrevi alguns, dos 12 aos 15 anos, e um deles será ponto de partida para aquele que planejo ser meu filme “de aposentadoria”, O Mar das Mulheres Finais. Nesse meio tempo, além da literatura, a música também me interessava muito. Voltei esporadicamente a estudar e praticar o piano. Com o tempo fui me dando conta de que o cinema somava todos os meus interesses na área da expressão individual. A partir dos 16 anos fui me transformando num cinéfilo obsessivo. Hoje, com a devida distância, percebo que meu gosto cinematográfico foi sendo afinado nas sessões duplas e triplas dos cinemas do centro de São Paulo. Os preconceitos possíveis com gêneros específicos de filmes, eu perdi muito cedo. Outra coisa que aprendi muito cedo, por freqüentar a Aliança Brasil-‐Japão, foi ver filmes sem legendas. Foi na sala da Aliança que vi Intendente Sansho, de Mizoguchi, sem legendas e – graças a um panfleto mimeografado escrito pelo José Fioroni Rodrigues – pude entender tudo que se passava na tela. Esse filme foi, de certa maneira, um divisor de águas na minha vida. Fiz meu primeiro exercício filmado em 8 milímetros inspirado nele; chamava-‐se Fuga própria. Com 17 anos comecei freqüentar a Sociedade Amigos da Cinemateca, e a sala do Museu, na Rua Sete de Abril, em São Paulo. Conheci Paulo Emílio Salles Gomes, que viria ser meu professor na Escola Superior de Cinema São Luiz. Fiz um curso com ele sobre cinema russo e outros cursos esporádicos, sobre Expressionismo alemão e cinema brasileiro. Já naquela época me irritava o preconceito contra a chanchada. Aprendi a gostar de chanchada no breve tempo que morei no Rio de Janeiro, no ano seguinte à morte do meu pai. No Rio, freqüentei com assiduidade um cinema no Leme, chamado Danúbio, que exibia muitas chanchadas. O único gênero que não me atraia em especial eram os filmes de guerra, afinal minha mãe – que era estoniana – tinha sido vítima da primeira, quando passou fome e perdeu dois irmãos; ela veio ao Brasil aos 17 anos, para buscar a irmã mais velha, que havia fugido com um alemão. Quando estourou a Segunda Guerra, e a Estônia foi “negociada” por Roosevelt com Stalin, ela nunca mais pôde voltar e rever a família. Conto esses detalhes porque pouca gente sabe que tudo isso, em algum momento, vai aparecer nos meus filmes. Por exemplo: as palavras exatas do brinde que Roosevelt fez para Stalin, quando a Estónia, a Lituânia e a Letônia foram entregues aos soviéticos, eu repeti em O império do desejo, num brinde-‐saudação que a maoísta do filme faz para o personagem anarco-‐canibal.” Entrevista a Luciano Trigo Blog Máquina de escrever Disponível em http://g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/2011/02/06/935/ Olhos livres: o cinema de Carlos Reichenbach Diretor unia a erudição do cinéfilo ao amor à cidade e seus tipos Alguns dias se passaram desde que Carlos Reichenbach partiu. Uma comoção intensa tomou conta de amigos, críticos e artistas. Era uma pessoa generosa e a falta que faz transparece na tristeza com que todos ainda comentam seu adeus. Mas ao lembrar o amigo, muitas vezes deixamos de lado o seu cinema. Natural, pois Carlão, como era chamado, foi múltiplo: professor, crítico, provocador, defensor incansável do compartilhamento livre da arte. Foi o guru de várias gerações de guris. Mas é como realizador que Carlão deixará o seu maior legado. Um cinema particular, único, forjado nas contradições e singularidades de seu tempo. Um olhar generoso e sem concessões aos marginalizados, despido de paternalismo. Unia a erudição do cinéfilo ao amor à cidade e seus tipos. Realizou em imagens uma reflexão crítica e apaixonada sobre sua geração que, nas suas palavras, “privilegiava as sensações absolutas, a amizade e a fé na utopia.” Foi nos anos de 1960 que este diretor deu seus primeiros passos. Intelectual, fruto de uma família de editores, possuía uma sólida formação literária. Era um cinéfilo inveterado, frequentador das salas de cinema do bairro paulistano da Liberdade, onde assistia, muitas vezes sem legendas, a fina flor do cinema japonês. Mesmo sem entender os diálogos, viajava pela mise-‐en-‐scène, nos ângulos de câmera, e procurava compreender pelas imagens o que a barreira da língua o impedia. Foi aluno na pioneira escola de cinema São Luís, onde teve aulas com Paulo Emílio Salles Gomes e com aquele que se tornou seu mestre, o diretor Luís Sérgio Person, autor do clássico São Paulo S.A. Foi ali que Carlão encontrou os primeiros parceiros no fazer cinematográfico. Resolveu partir para a prática no momento em que muitos diretores do Cinema Novo davam uma guinada conservadora, aproximando-‐se do Estado ditatorial. Era a época da formação da Embrafilme, empresa estatal que fomentou por muitos anos parte da atividade cinematográfica brasileira. Fora da tutela Carlão e sua geração não viam com bons olhos o cinema bancado pelo Estado em tempos de ditadura e resolveram trilhar outro caminho. Admiravam o lado subversivo do Cinema Novo, mas viam seus horizontes tolhidos pela censura e pela tutela da Embrafilme. Tinham também desconfiança em relação ao discurso oficial da esquerda e sua iniquidade estética. Partem em direção a um projeto radical de rompimento com toda a linguagem estabelecida em favor de um cinema sem concessões para qualquer traço de paternalismo e ufanismo. São filmes que se arriscam no campo da linguagem, refratários tanto ao ideário nacional-‐popular quanto à cosmética publicitária. É nos escombros do projeto derrotado da subversão (ao qual se ligavam os primeiros anos do Cinema Novo) que se constrói um cinema da transgressão. A luta agora se dá na linguagem. Não mais um cinema que constrói um projeto de país: frente a este projeto agora moribundo cria-‐se um discurso de rompimento, um cinema do anti-‐poder, marginal porque à margem de qualquer estética oficial. No caso de Carlos Reichenbach, seus primeiros filmes ligam-‐se ao que ele chamava de um cinema “marginal-‐cafajeste”. Carlão abandona o espaço de conforto de sua cinefilia erudita para mergulhar nas entranhas da Boca do Lixo paulistana, onde uma crescente produção de filmes populares emergia. Era um cinema realizado em sua maior parte por diretores e técnicos advindos de extratos mais baixos da população, que procuravam desenvolver uma cinematografia inspirada em gêneros de sucesso da indústria cultural internacional (comédias eróticas, westerns, filmes policiais) trazendo em sua estrutura os mais diversos preconceitos de nosso cotidiano e o mal gosto transformado em (in)consciência coletiva. Carlão retira sua matéria-‐prima deste culto ao grotesco, do humor picante e do erotismo das pornochanchadas e converte o “lixo” em seu contrário: uma estética que subverte a lógica da indústria cultural a partir de sua exacerbação. Utiliza-‐se da pornochanchada para realizar comédias críticas e transgressoras como O império do desejo, A ilha dos prazeres proibidos e Lilian M. Boca do Lixo A Boca foi um espaço de aprendizado, onde Carlão tomou contato com os populares, aprendeu na prática a gramática do seu ofício e despiu-‐se de preconceitos de classe. A construção de um caminho muito particular e coerente permitiu a Carlão seguir produzindo de maneira contínua mesmo depois da decadência daquela cinematografia. Três pontos distanciam Carlão do restante da produção da Boca. Em primeiro lugar ele nunca deixou de fazer filmes políticos. Não mais um cinema tal qual o realizado nos anos de 1960, mas filmes com discurso anárquico, libertário, tentando pensar pela estética o papel da esquerda e os dilemas de sua geração. Estão presentes questões sobre sexualidade e interdições, os limites da liberdade e as diferenças entre teoria e prática. Um cinema que procurava recolocar a política na vida após as seguidas derrotas do pós-‐golpe. Em segundo lugar, Carlão forja uma estética fragmentária e repleta de citações para dar conta destes dilemas. Consegue criar algo novo, um cinema ao mesmo tempo erudito e popular, contraditório e vivo em suas dúvidas. Um cinema dentro da indústria do sexo, mas questionando este ideário. Uma espécie de terrorismo simbólico através da transgressão dos discursos (tal qual o industrial de Lilian M, que após uma noitada de farra com o filho e a amante grita desesperado pela “moral” perdida). O terceiro ponto, talvez o mais marcante nos filmes de Carlão, é o papel que as mulheres assumem em seus trabalhos. Na contramão do cinema de seu tempo, suas personagens são fortes e independentes, lidando com tabus e desconstruindo caminhos em uma sociedade machista. As lentes de Carlão as captam com um misto de solenidade e tesão, colocando-‐as no centro das ações não mais como objetos, mas sim como protagonistas do desejo. As mulheres são também o centro da ambiciosa série de filmes sobre garotas operárias que encerra a carreira do Carlão. Dos quatro roteiros escritos, conseguiu levar dois às telas: Garotas do ABC e Falsa Loira. Num mergulho único no cinema brasileiro, ele consegue participar criativamente do cotidiano destas meninas em um mundo masculino e violento. O dia a dia das fábricas, as horas de lazer, os clubes de baile, o star system do “brega”, a sexualidade transbordante e a ingenuidade das moças bonitas que não percebem as barreiras de classe e exploração que muitas vezes transparecem em relações despidas de romantismo. As jornadas de suas heroínas possibilitam a imersão neste universo, mediado por uma câmera generosa e apaixonada que transforma sua atrizes em personagens míticos. Já em 1986, no belo e implacável Anjos do Arrabalde, as mulheres da periferia paulistana apareciam como centro de suas preocupações, na figura de professoras suburbanas que buscavam virar-‐se no mundo dos homens. Carlão procurou, segundo ele mesmo, trabalhar o “imaginário a respeito do universo feminino submetido às perversões do progresso desordenado e caótico que caracterizam regiões surgidas à margem da industrialização acelerada”. Em seus filmes não só retratou estas mulheres, mas dialogou com seu mundo, pensando-‐as também como público de si mesmas. Mas foi com Filme Demência que o cinema de Carlão chegou a seu ápice. Nesta obra estranha e perturbadora o industrial Fausto (magistralmente interpretado por Ênio Gonçalves) vai à falência após sofrer um golpe do cunhado em conluio com o amante de sua esposa. Fausto parte para uma aventura sem volta no submundo de São Paulo, onde romperá todas as amarras. Passa então a perambular pelas ruas da cidade, deparando-‐se com poetas, marginais, prostitutas e profetas. Estranhos personagens surgem em seu caminho, as diversas faces do diabo. Seduzido por uma imagem, parte em busca de Mira-‐Celi, um paraíso mítico no qual acredita encontrar a resposta para suas angústias. No meio desta jornada, um estranho homem (interpretado pelo próprio diretor) diz para Fausto: “O amigo gosta de mensagens. Então guarde essa. Cada um aprende com as vilanias de cada um e continua a andar. Não é possível, e é.” A estrada de Fausto não vai a lugar algum. Como ele próprio diz na conclusão do filme, o que importa não é a chegada, mas a viagem. “É preciso recomeçar”, diz Fausto, antes de se chocar com o próprio espelho e voltar para o ponto de partida do filme: “Que eu me reduza a um monte de destroços. É possível que o outro lado surja então fecundo”. A estrutura circular sugere que Mira-‐Celi é uma miragem de si mesmo. A jornada interior é também o tema de sua obra mais pessoal, Alma Corsária, uma ode à amizade e à liberdade. Carlão diz no início do filme que este é baseado nas experiências do diretor e de seus amigos. Constrói uma narrativa de memórias sobre uma geração anárquica que mergulhou fundo nos mistérios da cidade. Dois poetas lançam na Pastelaria Espiritual, no centro de São Paulo, um livro escrito a quatro mãos sobre suas vivências compartilhadas. Ao longo da noite, amigos, amantes e tipos clássicos da Boca aparecem para a festa. Eles são o mote para que as lembranças do personagem central, Rivaldo Torres (magistralmente interpretado por Bertrand Duarte) venham à tona, intermediadas por precisas elipses temporais. O filme é um mergulho no passado e presente deste que é um dos mais marcantes personagens do cinema brasileiro. O poeta vive na noite de lançamento de seu livro um doce encontro com a morte. Alma Corsária, diversos filmes em um filme, a vida do poeta Rivaldo na alma do diretor Reichenbach. Na sua generosidade, no seu desprendimento, na sua verdade. O que foi este cineasta de olhos livres senão a prática de transformar a vida em símbolo? Carlão em sua viagem traduziu diversas experiências na sua. Poderá São Paulo ter novamente um cronista à altura da cidade? Quem verá novamente poesia na patética e sensual dança de uma anã, na performance do pianista proletário ao lado de um fisioculturista em trajes de banho, na luz noturna e misteriosa do centro de São Paulo? Estas experiências jamais se repetirão? Não há fim. Os filmes estão vivos. E cada vez que revemos seu cinema, voltamos à frase de Fausto em Filme Demência: “o importante não é chegar, mas viajar”. No final de Império do desejo um profeta visionário incendeia sua cabana e é consumido pelo fogo. Na palhoça em chamas lemos uma frase emblemática: “Vim e irei como uma profecia”. Carlão parte para mais esta jornada com a certeza de que não há ponto de chegada, deixando para nós a profecia nas imagens de um visionário que dos escombros criou seu mundo. Thiago Brandimarte Jornal Brasil de Fato Disponível em http://www.brasildefato.com.br/node/10113 Alma Corsária, de Carlos Reichenbach Antes de a sessão ter início, Carlos Reichenbach, em companhia da homenageada da Mostra Cinebh, Sara Silveira, afirmou ser Alma Corsária um filme de amizade (algo confirmado pelo próprio prólogo do longa) e de grande esforço e desdobramento (o cineasta assina a direção, o roteiro, a fotografia e trilha musical do filme). Logo, um filme feito em um processamento artesanal, livre, realizado de acordo com o que realmente o cineasta queria colocar para fora, exteriorizar ao seu público um certo questionamento ao próprio fazer artístico, representado pelos amigos poetas que se encontram em uma pastelaria no centro paulistano. Alma Corsária é o próprio processo cinematográfico, diz muito de uma necessidade de se colocar na sala escura as ansiedades, devaneios, poesias e imagens de um diretor e seu filme. Reichenbach constrói um plano de fundo excêntrico e apaixonado para o cinema que ele verdadeiramente acredita, e ao espectador cabe a prazerosa tarefa de deixar-‐se ir, adentrar fundo um universo propiciado por um cinema técnica e esteticamente impecável e inquestionável. O adjetivismo e o elogio se fazem necessários, pois não é um filme meramente simples; ao contrário, é um filme capaz de refletir toda uma carga libertária em uma seqüência em que a imagem (e a força que ela implica) diz absolutamente tudo: Bertrand Duarte corre pelas ruas de São Paulo acompanhado por um travelling; pelo caminho percorrido ficam as marcas, um passado e os traços da cidade; a corrida é sublime, do homem em busca do encontro consigo mesmo, se desprendendo de tudo o que o cerca e acompanhado apenas de sua alma desbravadora, corsária. Alma corsária é a representação de uma época, sem, no entanto, se mostrar datado: é uma visão romântica e questionadora de um tempo, com fragmentos de lembrança e sonhos no meio do caos de São Paulo. A cidade é sujeito da ação, ela interfere diretamente na vida dos personagens ao mesmo tempo em que se modifica e se constrói por meio do olhar desses e também do espectador. Cidade-‐agente, que sufoca e ao mesmo tempo circunda – como no primeiro movimento panorâmico do filme que nos apresenta e nos insere em São Paulo, bem como na tentativa de suicídio, em que a câmera parte de baixo, dando-‐nos a perspectiva contrária do homem que está preste a pular, para, posteriormente nos colocar quase ao seu lado: sobre a ponte, com a cidade abaixo, aos nossos olhos, em uma espécie de visão paradoxal do tudo e do nada. A sua salvação está também na cidade, no outro que passa e o oferece o gesto altruísta – Reichenbach é sobretudo um humanista. O mundo de muitos dos filmes do diretor é composto de um universo que abrange a cidade que se coloca ao mesmo tempo como sonho e pesadelo; poeta moderno em busca das ambigüidades e paradoxismos do espaço urbano, Rivaldo Torres (Bertrand Duarte) é o personagem vagante e confinado nesses espaços, símbolo de uma geração e de um tempo em constante mutação. A narrativa de Alma corsária se organiza, de uma maneira geral, por meio de uma evolução temporal que percorre, em especial, os anos 1950 e 1960 (Reichenbach já ressaltara ser esses os anos de sua infância e mocidade e o filme que diz muito do próprio autor), e a passagem de tempo é demarcada através dos fatos, concepções políticas e culturais, por vezes dados de maneira irônica ou simbólica, como no momento do sonho de Rivaldo, em que, em uma janela ao lado de sua cama, são refletidas fotos de figurões como Mão Tse-‐Tung ou Jean-‐Luc Godard ao lado de uma mulher apresentando seus seios fartos à mostra. Ideário, sonho e sensualidade são na verdade um só. Alma Corsária é, acima de tudo, um Debussy tocado pelas mãos do homem comum e negro na Boca do Lixo. A arte nos dedos do próprio povo, a alma da cidade, que, nos filmes de Reichenbach, ainda tem tempo de se olhar e reunir em um bar de São Paulo. Clair de Lune, grande obra impressionista de Claude Debussy, ao alcance de todos – representados por figuras excêntricas como o halterofilista que se exibe enquanto os outros contemplam e vivem um momento sublime. Ao mesmo tempo, somos levados, ainda sob esse efeito letárgico da música e das imagens, aos devaneios e sonhos que se misturam a fragmentos filmados em super8 por Carlos Oscar Reichenbach -‐ pai do diretor em registro de algumas de suas viagens -‐, o que nos conduz a uma espécie de experiência simbolista. Lirismo único, potente, latente, de resgate da própria arte, um encontro com o passado para dizer do ser humano. Possibilidade do cinema como também o lugar da poesia. Leonardo Amaral Filmes Polvo Disponível em http://www.filmespolvo.com.br/site/eventos/cobertura/432 Alma Corsária (1993), de Carlos Reichenbach A estrutura é simples, mas atravessada por linhas caóticas: dois homens fazem uma noite de autógrafos do livro de poesia que escreveram a quatro mãos. Do evento desprendem-‐se situações pitorescas e lembranças sentimentais, numa espécie de Amarcord do cinema de invenção. Mais do que qualquer outro filme de Reichenbach dos últimos vinte anos, o que norteia Alma Corsária é o princípio da liberdade irrestrita. Liberdade para passear pelos tempos e lugares ao sabor da memória e sem se preocupar com a verossimilhança cronológica. Liberdade para usar uma anã dançarina como passagem entre dois tempos distantes. Liberdade, acima de tudo, para dar um Oscar para Samuel Fuller sendo que este se encontra completamente deslocado (porque envelhecido) da época em que a história estava na ocasião, 1965. Em suma: liberdade para passear por diversas dimensões artísticas e históricas e ser desconcertantemente imperfeito. Para se entender essa liberdade, é necessário atentar para a época em que o filme foi feito. 1993, três anos depois do assassinato da Embrafilme pelo governo Collor, seis anos depois do longa anterior de Reichenbach, Anjos do Arrabalde. Não era fácil fazer filmes nessa época, e Alma Corsária chegou antes da chamada retomada, iniciada e confirmada pelo sucesso de Carlota Joaquina (1995), de Carla Camuratti. Não havia aportes de dinheiro, e quem quisesse filmar tinha de meter a mão no bolso, ou ter o dom para encontrar um bom mecenas. Reichenbach respondeu a esse contexto aprisionador com parcos recursos e uma narrativa libertária e afetiva, em que os amigos e acontecimentos de sua vida fundem-‐se em personagens sonhadores, efusivos, melancólicos. Há o presente, filmado com exagero e pendor ao brega. Há os flashbacks que contam parte das aventuras dois dois escritores. Há sobretudo a incrível presença de Bertrand Duarte, um Rimbaud perdido nas pensões paulistanas e pastelarias chinesas, um Rubens de Falco cuja nobreza de espírito está refletida no olhar de quem nasceu para vida efêmera e intensa. E planos antológicos como aquele em que Anésia (Andrea Richa) flagra seu falso noivo e o pai fumando no alpendre. Todo esse momento do falso noivo é de sublimação de uma ideia de poesia em cinema, um primor de encenação e delicadeza: a bela música embala o casal que se apaixona sem saber, que dança no alpendre e na praça, deixando-‐se transportar pela melodia encantadora; o contraplano flagra aquela que está interessada no falso noivo, e sabe da farsa, mas não pode se declarar; os olhares da família testemunham a representação do noivado fictício como quem vê um truque barato. Filmada na pacata cidade Dois Córregos, a sequência revela um diretor inspirado pela paz e pela beleza da região (no interior do estado de São Paulo). É a melhor sequência do cinema brasileiro dos últimos vinte anos. Assim como Alma Corsária é a obra-‐prima derradeira de um mestre do cinema referencial. Sérgio Alpendre Revista Interlúdio Disponível em http://www.revistainterludio.com.br/?p=4985 "Alma Corsária" é exercício de liberdade Há dois poetas e um lançamento de livro em "Alma Corsária" (Canal Brasil, 22h; classificação indicativa não informada). Acompanhamos também a trajetória dessa amizade. Mas, com ela e através dela, o que se mostra são vários momentos recentes do Brasil. Não propriamente da história do Brasil, ou ao menos não no sentido acadêmico da expressão. É da experiência subjetiva de um grupo de pessoas que cresce durante os anos 50 do século passado e depois enfrenta as dores de adolescência e da ditadura que trata este filme de Carlos Reichenbach, um belo momento do cinema brasileiro dos anos 90. Um filme tão pessoal que o tema da amizade se realiza pela participação de alguns amigos. E tão pessoal que um desses amigos, o cineasta João Callegaro, faz o papel de um porteiro de cinema. E, a horas tantas, aparece um sósia de Samuel Fuller para receber o Oscar que Fuller merecia, mas nunca levou. Enfim: "Alma" é um exercício de liberdade. Inácio Araújo Folha de S.Paulo Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0212200903.htm O Auto da Compadecida (2000), de Guel Arraes Suassuna aprova "O Auto" de Guel Arraes Autor elogia os atores e até as inovações incluídas no filme pelo diretor Ariano Suassuna confessa ter ficado apreensivo quando Guel propôs incluir a referência ao clássico "Decameron", de Bocaccio, mas diz que gostou do resultado, pois a trama ficou mais movimentada. Na época da estréia de O Auto da Compadecida em palco paulistano, em 1957, Antônio Houaiss saudava a peça dizendo que o texto subsistiria mesmo nas adaptações para rádio e televisão porque era "coisa íntegra". Mais de 40 anos depois, Ariano Suassuna, o autor, assistiu à adaptação cinematográfica de Guel Arraes e saiu com um sorriso nos lábios. "Ele soube manter o espírito da obra", comentou o escritor, crítico ferrenho das tentativas de verter sua obra teatral para outros meios. "Mesmo as novidades na trama, criadas pelo Guel, acabaram enriquecendo e muito." Suassuna conta que foi procurado pelo diretor quando da adaptação para minissérie de televisão, produzida em película, em 1998. "Guel me pediu para acrescentar cenas e histórias de outras peças minhas como O Santo e a Porca e Torturas de um Coração", lembra. "Como são obras no mesmo estilo de O Auto, ou seja, com histórias populares, eu aceitei." Ao elaborar a versão para o cinema, o diretor quis dar mais um passo e introduzir outras cenas, dessa vez de clássicos universais como Decameron, de Bocaccio. Nesse momento, Suassuna confessa ter vacilado, mas deixou a decisão nas mãos do diretor. "Disse-‐lhe que o filme era dele, portanto, podia fazer o que bem entendesse; minha peça já estava pronta." O cuidado com a pesquisa (Guel buscou referências desde os personagens picarescos do teatro popular europeu até pequenos contos franceses do século 12) encantou Suassuna, que percebeu mais movimentação na trama com os acréscimos propostos pelo diretor. O Auto da Compadecida nasceu da fusão de três folhetos de cordel: O Enterro do Cachorro, O Cavalo que Defecava Dinheiro e O Castigo da Soberba. Escrita em 1955, a peça tem 16 personagens e conexões com o teatro medieval, especialmente com Calderón de La Barca. Disposto a manter essa ligação literária, Guel Arraes e os outros dois roteiristas (Adriana e João Falcão) criaram uma personagem feminina, Rosinha, que não consta no original, mas faz referências aos contos de fadas, reforçando a busca por um "nordeste medieval". A escolha dos atores, aliás, agradou o escritor, a ponto de ele apontar Matheus Nachtergaele como o melhor intérprete de João Grilo. "Sua atuação é impecável, pois consegue passar toda a esperteza do personagem, que luta contra o patriarcado rural, a burguesia urbana, a polícia, o cangaceiro e até contra o diabo", analisa. Dignidade Sobre a atuação de Selton Mello como Chicó, Suassuna confessa sua surpresa. O relacionamento desse personagem com João Grilo é importante para o desenvolvimento da história e, segundo o escritor, o jovem ator foi perfeito. Suassuna também ficou espantado com Rogério Cardoso, no papel do submisso padre João. "Eu estava acostumado a vê-‐lo apenas em papéis cômicos, mas, no filme, ele conferiu muita dignidade ao personagem." O autor lembra, com emoção, de uma cena especial, em que o padre e o bispo autoritário (Lima Duarte) são fuzilados. "Eles conseguiram a proeza de conferir uma religiosidade superior à da peça, o que me sensibilizou muito", conta. Os personagens, aliás, são mortos pelo cangaceiro Severino, vivido por Marco Nanini, outro ator plenamente aprovado. Para Suassuna, a figura diabólica e misteriosa é recriada com precisão. "Aquele olho cego exprime toda a maldade necessária." Finalmente, a figura de Nossa Senhora, a Compadecida, interpretada por Fernanda Montenegro, ganhou a melhor aprovação de Suassuna. "O rosto de Fernanda agora vai se juntar, na minha memória, ao de Socorro Raposo, a primeira atriz a interpretar o papel, no Recife, e que ainda hoje continua encenando, já somando oito anos ininterruptos", afirma. Para o escritor, foi inevitável comparar a versão de Guel Arraes com as outras duas adaptações do Auto. A primeira, A Compadecida (1969), de George Jonas, era estrelada por Antônio Fagundes, Armando Bogus e Regina Duarte. "Gostei muito da plástica do filme, sem dúvida a melhor, para mim, entre as três", elogia. "Mas não gostei de seu ritmo muito lento." Já a segunda versão, Os Trapalhões e a Compadecida (1987), dirigida por Roberto Farias, tem duas grandes qualidades: o bom ritmo e a interpretação de Renato Aragão. "Ele, como João Grilo, é um achado." Ariano Suassuna não se surpreende que um texto, escrito em uma época e recriado em diversas outras, continue atual. "Na verdade, o grande mérito das imagens e da movimentação da peça é ter origem nas histórias populares, ou seja, apresentar um conteúdo humano." As referências com outras obras mundiais, portanto, são imediatas. Ele lembra, por exemplo, da cena em que o padre enterra o cachorro: "Trata-‐se do mito do Fausto". Há também o fato curioso do cavalo que defecava dinheiro que, no filme, foi adaptado para um gato -‐ segundo Suassuna, a imagem já foi usada também pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes. Por isso, acredita, que a apresentação da peça em outros países não causou tanto espanto. "Essas histórias nasceram na África e passaram pelo sul da Europa e Penísula Ibérica até chegar ao Brasil", conta. "Não é de se estranhar, portanto, que sejam tão familiares a diferentes povos." Agência Estado Disponível em http://www.terra.com.br/cinema/noticias/2000/09/15/005.htm Auto da Compadecida, Brasil, 2000 -‐ Xuxakespeare ou Cinderela Bacana O Auto da Compadecida vem coroar a entrada definitiva da Rede Globo no mercado cinematográfico. Depois de diversos filmes de sucesso voltados para o público infantil – que remonta à fusão dos Trapalhões com Xuxa Meneguel nos anos 80 –, finalmente chega às telas uma produção "séria" voltada para o cinema, saída ela mesma de uma série televisual filmada, na maior parte, em película. Um projeto, antes de tudo, de ponta no que tange a estética da rede de televisão: dar a direção ao chefe do núcleo mais inventivo do canal de televisão, Guel Arraes, produtor de, entre outros, a "Comédia da Vida Privada", série que em muitos aspectos revolucionou a ficção televisual. Mas é preciso que se diga: O Auto da Compadecida é ruim, e muito. Todos os elementos "geniais" de Guel Arraes estão lá: dinâmica de encenação, interpretação estilizada (como se diz em design de uma figura ilustrada apenas em seus traços básicos), hibridismo de formato (vídeo, cinema), de gênero (drama, comédia... e auto), a citação e o retrabalho do clichê, etc. Acontece que essa fórmula, que alcançou rapidamente o seu próprio clichê na televisão há alguns anos, chega no cinema absolutamente diluída (sabe-‐se previamente tudo que vai se ver) e, o pior, mal realizada: vê-‐se algumas cenas filmadas às pressas em vídeo (à falta de significação estética, percebe-‐se a contenção de custos), outras de uma cenografia risível de cafona, e sobretudo efeitos especiais sem noção do ridículo. O que pode ter funcionado na tv – perdoe-‐me o leitor, mas o que aqui escreve não assistiu à série original – definitivamente não funciona na tela grande. A começar, porque parece que finalmente se conseguiu entender a diferença entre montagem e edição: montagem é quando você corta um filme com objetivos de expressão; edição é quando você picota uma peça para que ela possa ter um formato de cinema (em torno de 100 minutos). Tudo bem, isso é apenas uma brincadeira, a diferença é outra. Mas aqui pouco importa: definitivamente O Auto da Compadecida não foi montado, foi apenas editado. E mal. A edição acaba com qualquer diferença entre dia e noite, qualquer idéia de ritmo (ritmo é a passagem de tempos fortes para tempos fracos e vice-‐versa), e ainda por cima prejudica absolutamente a direção quando cria erros fatais de continuidade (que se lembre quando num momento Diogo Villela aparece atrás dos dois personagens principais e depois desaparece sem dizer nem um adeuzinho ao espectador). A edição fez do filme aquilo que, numa transmissão de futebol, chama-‐se de compacto: guardam-‐se apenas os "melhores momentos", e o resto a gente picota e tira do produto final. Tudo bem, a gente vê tudo. Mas, como no futebol, justamente o que a gente não vê é o clima daquilo que a gente vê. E no cinema, o clima é tudo. E se O Auto da Compadecida tivesse sido um filme bem realizado? Dificilmente seria muito melhor. O auto de Ariano Suassuna poderia de alguma forma se juntar com aquilo que a Globo entende como sua visão de mundo, mas não sem uma derrota da inteligência e do senso crítico. Não precisamos nos estender aqui sobre o regionalismo superficial de Suassuna – que, entre outras coisas, prometeu que só conversaria com Chico Science se ele mudasse seu segundo nome para "Ciência" – : basta dizer que o regionalismo exibido em esfera nacional é um paradoxo ridículo. Mas o que é, independente de Guel Arraes, o "Auto da Compadecida" de Suassuna? Nada senão a afirmação da esperteza popular, de uma religiosidade popular cristã – contra a avereza dos padres – e de uma fiel crença na ingenuidade do povo. Como se pode mistificar!! A esse nível, é preciso que se grite urgentemente o nome de Jorge Amado, um escritor popular/populista que ao menos sabe que o povo pode ser tudo, tudo, menos ingênuo. Essa ingenuidade, Guel Arraes trata de repeti-‐la (aliás é todo esse o ideal da Globo com o programa de Regina Casé, por exemplo), na medonha parte final do filme, medonha ética (pela mistificação da "boa alma" das pessoas) e esteticamente (pela incrível feiúra da cena crucial em que Nossa Senhora – aliás Fernanda Montenegro – desce aos Infernos para salvar João Grilo e cia.) Filme perigoso por tudo o que representa, O Auto da Compadecida ainda cria para si um forte paredão "cultural": aparecia toda hora em propagandas na tv Globo e foi motivo de um bonequinho aplaudindo no jornal "O Globo". Coincidência? Rarrarrá. A crítica de cinema finalmente torna-‐se o que já era há muito tempo: release. A função ética do jornalista vai definitivamente pras cucuias. Pois O Auto da Compadecida não é nada além de uma obra ruim que manifesta desejos de absoluto: ela é Xuxakespeare – comercialismo disfarçado pela direção "inteligente", a obra consagrada, a mistura de solenidade e de farsa –, mas também é "Cinderela Bacana" – uma obra muito mal produzida que se arroga ares de profundidade com um verniz intelectual. Quem perde é o cinema. Ruy Gardnier Contracampo – revista de cinema Disponível em http://www.contracampo.com.br/criticas/autodacompadecida.htm Guel Arraes leva minissérie da Rede Globo para a tela grande Escrita por Ariano Suassuna em 1955, O Auto da Compadecida nasceu como peça de teatro e teve duas adaptações para o cinema – A Compadecida (1969), de George Jonas, e Os Trapalhões e a Compadecida (1987), de Roberto Farias. Para a televisão, nas mãos de Guel Arraes, as aventuras de João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) receberam tratamento de minissérie em quatro capítulos, em uma produção de nível cinematográfico. O luxo compensou: uma versão reduzida das duas horas e quarenta minutos do programa chega aos cinemas na sexta-‐feira 15. Na primeira adaptação, do teatro para a televisão, Arraes teve o trabalho de aumentar participações de personagens que já existiam na peça e inserir elementos de outros textos clássicos na trama. Na segunda, da televisão para o cinema, teve de enxugar excessos. Nos dois casos, o diretor soube como ninguém manter o ritmo e a agilidade da narrativa picaresca. Discípulo do documentarista francês Jean Rouch, Arraes aplica o rigor da produção cinematográfica aos seus trabalhos na televisão. Antes de chegar à locação para filmar, ele ensaia exaustivamente com os atores. Isso contribui para o entrosamento na interpretação e uma fluência narrativa que não é muito comum no cinema brasileiro. Um dos grandes méritos de Arraes foi ter mantido intacta a essência da peça, que faz um paralelo entre o Nordeste dos anos 30 e a Idade Média, com seus narradores (bobos da corte), coronéis (senhores feudais), comerciantes (nobres), religiosos (clero) e cangaceiros (bárbaros). Na pele do matuto João Grilo, Matheus Nachtergaele toma a tela por inteiro. Como o mentiroso Chicó, Selton Mello faz muito bem o seu papel, embora não esteja brilhante. Entre os coadjuvantes, não há como deixar de notar a participação de Marco Nanini como o cangaceiro Severino. E a boa interação entre Diogo Vilela e Denise Fraga, respectivamente o padeiro e Dona Dora, e Rogério Cardoso e Lima Duarte, como o pároco e o bispo. Alessandro Giannini Isto é Gente Disponível em http://www.terra.com.br/istoegente/59/divearte/cine_oauto.htm Cleópatra (2008), de Júlio Bressane Cleópatra Negrini Acabo de assistir, confesso que com um misto de fascinação e horror, a ‘Cleópatra’, de Júlio Bressane. Mesmo que dificilmente tivesse votado nele como melhor filme do Festival de Brasília do ano passado, até entendo a opção do júri pelo Bressane, mas a de melhor atriz para Alessandra Negrini uiltrapassa minha capacidade de compreensão e entendimento. Só posso acreditar que alguém, ou todo aquele júri, estivesse tirando onda conosco. Mas achei muito interessante a estilização cênica desta ‘Cleópatra’, que se traduz por meio de tableaux vivants e alguns movimentos da câmera (maravilhosa) de Walter Carvalho (com o Lula de segundo), mas o que me deixou estupefato – acho que nunca usei esta palavra antes – foi a direção de arte, uma das mais criativas e complexas não apenas da carreira de Bressane, mas de toda a história do cinema brasileiro. Contem-‐me – o diretor de arte de ‘Cleópatra’ ganhou o Candango da categoria? Se não, não tem remédio. Tem de chamar o camburão e meter todo aquele júri dentro dele, porque era formado por… Ofenderei as pessoas que nem sei quem eram? Delinqüentes? Mais ou menos… O que me incomodou no filme, fora a Alessandra Negrini, com seu sotaque de lugar nenhum – hilária a cena dela com Bruno Garcia, após a morte da mulher dele -‐, tem a ver com o próprio diretor e remete a um comentário de Claude Chabrol sobre Godard, no livro ‘Que Reste-‐t-‐Il de la Nouvelle Vangue?’, de Aldo Tassone, que comprei em Paris e li de um jato, um livro de entrevistas ao qual pretendo voltar. Um bom pretexto para esta conversa será o Festival do Cinema Francês que ocorre daqui a pouco na cidade, na Reserva Cultural (e não sei se mais em alguma sala). Chabrol diz que Godard com freqüência busca a comunicação, mas busca no lugar errado. Tenho um pouco essa sensação com o Bressane. Achei muito legal, um ponto a favor, a forma como ele incorpora aqui ‘Filme de Amor’ – recolocando o filme anterior na sua justa medida -‐, mas a tão decantada erudição do diretor serviu aqui somente para iluminar aspectos da ‘Cleópatra’ de Mankiewicz aos quais nunca havia prestado maior atenção. Ao mesmo tempo em que é erudito, Bressane enche o filme de bundas e recorre a um humor chancho que não me convence, embora ache que se trata de uma atitude tanto estética quanto ideológica. Bressane sempre tem um lado de chanchada, presente nas interpretações de alguns de seus atores e em certas escolhas musicais (mas não apenas nelas), e acho que esse, de certa forma, é seu manifesto antropafágico. O filme mistura Plutarco com Camões e – quem? – Lope da Vega?, e a subversão chancha me parece uma atitude intelectual ousada, mas que raramente dá certo. Eu, pelo menos, ria não porque achava inteligente, mas porque me parecia ridículo. Não é um filme que eu recomendaria para ninguém ou, então, recomendaria com reservas, como vou fazer agora. Com certeza não é perda de tempo assistir a ‘Cleópatra’. O filme fornece muito material para reflexão e, neste sentido, me parece estimulante, mesmo que não seja 100% logrado. É visualmente muito bonito e aqui não estou falando de uma beleza da imagem, uma coisa decorativa, para o olho. É uma coisa mais profunda, um conceito fotográfico e iconográfico que me fascinou. Mas a Negrini… O problema nem é a Alessandra, que não fez aquela escolha sozinha. Ali o conceito da direção tropeçou feio. E o júri de Brasília, que que é isso? Já virou folclore. Bressane vai a Brasília e, automaticamente, ganha. Vou misturar alhos com bugalhos, mas seria como se Clint, em Cannes, tivesse de ter sido, automaticamente, vencedor, sem necessidade de competir. Luiz Carlos Merten Blog do Estadão Disponível em http://blogs.estadao.com.br/luiz-‐carlos-‐merten/cleopatra-‐negrini/ CLEÓPATRA, de Julio Bressane Na abertura da sessão de Cleópatra, ontem à noite, o produtor do filme, Tarcísio Vidigal, explicou que Bressane não poderia estar em Tiradentes por conta de compromissos na Europa, mas que tinha mandado um recado (bastante lacônico, aliás). "Este um pequeno filme sobre um grande tema". Não é surpresa para ninguém que, a esta altura do campeonato, o único grande tema que interesse a Bressane seja ele mesmo. Mas diferente do que fez Carlão Reichenbach em Falsa Loura, por exemplo, este não é um filme que reúne um repertório de imagens já associadas ao trabalho do cineasta e então aponta novos rumos a elas. Conversando com Reichenbach estes dias (numa entrevista que o leitor verá publicada na próxima edição da Contracampo), ele nos contava, a mim e ao Luiz Carlos Oliveira Jr., detalhes sobre seu próximo filme e, no fim, sobre como temia sempre que um projeto de tamanha proximidade com sua história pessoal pudesse se tornar, involuntariamente, seu último trabalho. E então citou Pasolini, justificando que depois de filmar literalmente o fim do mundo em Salò, o que mais poderia o gênio italiano fazer? É possível que Bressane tenha criado para si a mesma armadilha em Cleópatra. E não porque o filme trate do fim do mundo, mas sim porque é, do começo ao fim, a implosão extasiante de seu próprio mundo. Basta dizer que Cleópatra é o elo perdido entre Filme de Amor e nada menos que A Família do Barulho. Uma seqüência: Marco Antônio começa a abusar da paixão de Cleópatra, e ela o encosta na parede: "tá pensando o quê, que a puta egípcia se arreganha e pronto?". Alessandra Negrini capricha no sotaque caipira (sua voz no filme é uma mistura de cinco sotaques regionais diferentes – uma "poliglota", como se repete ao longo do filme, mas especialista nas línguas brasileiras) e se contorce em seu trono de rainha como se sofresse de alguma cólica aguda. O sotaque é idêntico ao que Rita Lee fazia nas músicas dos Mutantes, escracho em seu mais alto grau. O corpo, dobrado e redobrado como se as articulações não existissem, lembra as mais radicais experiências das atrizes marginais, certamente a que Bressane mais filmou, Helena Ignez. À medida que Alessandra Negrini vá se apresentando cada vez mais liberta, cada vez mais despudorada, e que Bressane vá exigindo dela mais caretas, mais expressões no limite do patético, mas certamente sem nunca chegar lá completamente, vamos pensando que talvez Cleópatra seja aquilo que Memória de Um Estrangulador de Loiras foi para Guará Rodrigues: um documentário (encenado, uma vez que a presença física é outra) sobre a Helena da Belair, mediunicamente incorporada por Alessandra da Globo – Falsa Loura é melhor que Cleópatra, mas numa coisa o júri de Brasília acertou em cheio: não existe paralelo no cinema brasileiro recente de um trabalho de atriz da enormidade do que Alessandra Negrini faz aqui. Depois de Filme de Amor, o "Filme de Humor" (é um trocadilho irresistível). É o canto de despedida da última grande rainha, a que tem todos os homens aos seus pés: mas seu rosto mesmo pertence a Bressane. Numa das inúmeras seqüências em que Cleópatra é enquadrada frontalmente, olhando para a câmera e exibindo-‐se para ela, Bressane forja um repertório de expressões que levam Alessandra Negrini do sorriso largo ao truque dos olhinhos virados, como se em transe. Em todos estes pequenos planos de careta, ficamos esperando que, em algum momento, ela cuspa aquela baba negra (agora vermelhíssima, como toda a fotografia do filme) que um dia vimos Helena cuspir. E mais: contra a odalisca de araque de Maria Gladys em Família do Barulho, Bressane arranja duas originais de fábrica, com a câmera fazendo o mesmo jogo de chicote entre uma e outra, como na famosa seqüência do filme de 1970. Mas não é, como aquela placa no meio de Família do Barulho, um "retorno" de Bressane. Se Cleópatra é um filme sobre o momento em que volúpia, paixão e poder não se equilibram mais a não ser que num regime de pura convulsão (física, demonstrável, como nos diversos ataques epiléticos encenados aqui, e não através da sublimação do corpo, como nos vôos pelo quarto de Filme de Amor), esse descontrole não ignora a moldura intransponível em que Bressane encerrou seu cinema dos anos 90 para cá. As armações do poder romano, por exemplo, são encenadas da mesma maneira que os longos colóquios religiosos de São Jerônimo, mas aqui os discursos não dividem o espírito com a cena em que são proferidos, não se relacionam com a idéia que os personagens tenham de si, de seu trabalho ou daquilo que suas figuras históricas signifiquem: quatro atores em quadro, num plano aberto, parados, conversando entre si com impostação straubiana é "a maneira certa" de se filmar, e pronto. Mesma coisa com a recorrência de simbolismos: tomar o Farol de Alexandria como símbolo fálico onipresente, fazer Alessandra Negrini chupar o peito de Miguel Falabella, rito da absorção egípcia por Roma, dando de mamar a sua nova rainha como uma vez Rômulo e Remo fizeram com certa loba, tudo isto parece já fazer parte de uma bula bressaniana que o diretor faz questão de sempre nos prescrever. Morta, Cleópatra torna-‐se ao mesmo tempo mito e sombra do que um dia foi a presença física mais aterradora a já habitar a Terra. Se Cleópatra, o filme, servirá para devolver ainda mais carne, pulso e sangue ao cinema de Bressane, ou se o colocará de vez como sombra de um abalo sísmico que aquietou-‐se na própria mitologia, isso só o tempo e o próximo filme dirão. Mas até lá, fiquemos remoendo (e revendo, sempre) este grande filme-‐esfinge. Rodrigo de Oliveira Contracampo – revista de cinema Disponível em http://www.contracampo.com.br/90/pgtiradentescleopatra.htm Julio Bressane apresenta 'Cleópatra' e pede tolerância do público BRASÍLIA -‐ Poético, belo, intenso, devasso. Perturbador, difícil, cansativo, não deveria ter sido feito com dinheiro público. Intolerável. Foram muitas as classificações feitas pela platéia após a exibição de "Cleópatra", de Júlio Bressane, no terceiro dia da mostra competitiva do Festival de Brasília. E foi exatamente tolerância que pediu o diretor em seu discurso inicial. -‐ Para se gostar de alguma coisa, é preciso ter paciência -‐ advertiu, arrancando risos. O público obedeceu e ficou até o fim, mas, em sua maioria, não perdoou e vaiou impiedosamente a peculiar leitura do mito egípcio, apesar de uma barulhenta minoria que aplaudiu o filme de pé. Bressane, dono de uma filmografia que inclui "O anjo nasceu", "Matou a família e foi ao cinema" e "Filme de amor", pareceu feliz com a repercussão. -‐ Eu não esperei que o público fosse suportar isso. Ficaram até o final, para mim foi uma surpresa. O filme é um arrepio disso que está aí, uma contrapeso, um contrafluxo disso tudo. O filme traz de volta uma coisa que está esterilizada no cinema brasileiro, que é a sensibilidade, a imagem artística, sobretudo a patologia artística. Então foi uma surpresa ver que as pessoas, mesmo sem experiência pra ver uma coisa dessas, tivessem tido estômago para aceitar. É um público tão desacostumado a ler, a ver e a sentir e sobretudo, a se observar quando está sentindo -‐ disse. No filme, uma Cleópatra passional (Alessandra Negrini) enfeitiça Júlio César (Miguel Falabella) e depois Marco Antônio (Bruno Garcia) em direção a um paraíso lisérgico de sensações a qualquer custo, onde os acontecimentos históricos e políticos estão apenas em segundo plano. Os atores, mergulhados em algo de onírico e irracional, tiveram, segundo o próprio Bressane, total liberdade para criar e desenvolver os papéis, o que fica evidente pela singular mise en scène. Do enredo, não se poderia esperar algo linear de Bressane. "Cleópatra" não é prosa, mas poesia. E como se não bastasse, há o espetáculo visual da fotografia de Walter Carvalho. Alessandra Negrini se destaca pela imersão no personagem principal, uma rainha apaixonada e lírica, com um ar contemplativo e superior que sempre a mantém acima dos líderes romanos. -‐ A idéia era fazer essa representação das representações, por isso a idéia do sotaque. É um lugar estranho, encantado, tem o componente latino. Foi a primeira Cleópatra latina, ela é sentimental, tem uma pegada que é só nossa. Filmar com Bressane foi uma delícia, uma viagem. Uma grande aventura, mas ao mesmo tempo muito segura, porque ele é um maestro. E você ser levada por um maestro é uma sensação muito boa -‐ conta a atriz. Alessandra pareceu não se importar com as vaias do público, que não poupou risos para as cenas de sexo pouco usuais do filme e para o sotaque de Cleópatra, algo entre o português de Portugal e o interior do Paraná. -‐ É um público empolgado né, um público que se manifesta. Achei lindo, interessantíssimo. Já tinham me dito que aqui que tem sempre gente que vaia e aplaude. E tem aqueles que ficam no cinema até o fim só para vaiar no final. Acho muito engraçado isso, essa coisa política que tem aqui em Brasília -‐ disse. Além de "Cleópatra", foram exibidos os curtas "O presidente dos Estados Unidos", de Camilo Cavalcante, e "Uma", de Nara Riella. O primeiro, a história de um homem que enloquece e acha que é George W. Bush após ver na TV o início da guerra do Iraque, frustrou pela qualidade técnica e atuações de baixo nível, mas surpreendeu pelo final inesperado e acabou bem aplaudido. "Uma", produção brasiliense que conta a história de uma mulher em crise com a família, teve uma recepção apenas discreta. Neste sábado, são exibidos os curtas "Enciclopédia do inusitado e do irracional", de Cibele Amaral, e "Trópico das cabras", de Fernando Coimbra. O longa da noite é "Falsa loura", de Carlos Reichenbach, que em 1993 levou o Candango de melhor filme por "Alma Corsária". Rodrigo Vizeu O Globo on line Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/julio-‐bressane-‐apresenta-‐cleopatra-‐pede-‐ tolerancia-‐do-‐publico-‐4138611 Cleópatra de Bressane O que sabemos de Cleópatra? Muito do que está nos livros, em Shakespeare, etc. Talvez a Cleópatra tenha o rosto (e o corpo) de Elizabeth Taylor, na leitura meio kitsch que fez da rainha do Egito o diretor Joseph Mankiewicz. De certa forma, falar de Cleópatra é escavar um mito. Ou reconstruí-‐lo, com os materiais disponíveis e acumulados pela cultura. É o que faz o diretor Julio Bressane nesse novo trabalho, vencedor do Festival de Brasília do ano passado. Valeria a pena dizer que Bressane parece um pouco na contramão do assim chamado cinema de autor brasileiro. Este tem-‐se definido, grosso modo, pela urgência. Antenado tematicamente na rachadura social brasileira, opta por uma linguagem ágil para se comunicar. São os casos, por exemplo, de O Invasor, Amarelo Manga, Cidade de Deus, entre outros. Não se está querendo dizer que seja possível somar esses filmes na mesma coluna do ponto de vista da linguagem; apenas que existe uma aproximação entre eles nesses quesitos, a temática e a pegada moderna. Já Bressane planta e colhe em outro território. Parece, como diria Drummond, que não aspira a ser moderno, mas deseja ser eterno. Chega a ser clássico na sua fixação de estilo e no aprofundamento de uma pesquisa pessoal. Cada filme é uma pincelada a mais nessa tela que vai compondo ao longo dos anos. Visita temas universais e personagens quase atemporais, como são os casos de Vieira, em Os Sermões, e São Jerônimo. Em Cleópatra, seu trabalho de arqueólogo o leva a referências variadas, que vão de Plutarco a Camões, tentando trazer até nós uma Cleópatra latina, que coube tão bem na pele de Alessandra Negrini. Nessa universalidade, sobressai uma brasilidade perceptível. Os elementos pictóricos entram na composição de um Egito recriado no Rio de Janeiro, no qual não faltam músicas como Há Um Deus, de Lupicínio Rodrigues, na voz de Dalva de Oliveira, e Felicidade, de René Bittencourt, cantada por Noel Rosa. Fotografado por Walter Carvalho, o filme é estruturado como uma série de quadros. Um mosaico que às vezes lembra um pouco outro filme ‘arqueológico’, Satyricon, de Fellini. A aproximação entre os dois não é gratuita. Também Fellini, ao ler os fragmentos de Petrônio, despertou para a dificuldade (na verdade na impossibilidade) de pensar como um romano do século 1º da era cristã, quando Satyricon foi escrito por Petrônio Árbitro. Essa impossibilidade, que poderia ser paralisante, foi, ao contrário, utilizada como inspiração e princípio de uma liberdade total de criação. Se não podemos recuar no tempo e ‘saber como as coisas de fato aconteceram’, só nos resta recriar, reconstruir, para nos aproximarmos da ‘verdade’. Quer dizer, a verdade como construção. Ou melhor, como invenção. Ao cinéfilo, atento à construção e ao trabalho com a forma e a linguagem cinematográfica, salta à vista o rigor do cineasta e também do fotógrafo. Cada plano é estruturado com sensibilidade visual que raramente se vê, não apenas no cinema brasileiro mas também internacional. Bastante preso à dramaturgia, ao enredo, aos diálogos, o cinema contemporâneo tem abandonado de maneira preocupante o rigor com a linguagem específica dessa arte. Bressane não esquece. E, pelo contrário, revisita a cada novo projeto esse artesanato da imagem – o que, por si só, já justifica o seu cinema. Mas é claro que não se trata apenas disso, senão estaríamos falando de um formalismo estéril, uma evocação da boa forma que não sai de si mesma. O que entra em jogo nesse projeto de cinema, que é também uma idéia de vida, é um adensamento cultural digno de nota. Há quem veja na Cleópatra de Bressane um comentário sobre a luta pelo poder – e a trajetória da rainha do Egito não deixa dúvida quanto a isso. Tampouco descabida parece a interpretação que fala da tolerância. Afinal, a polis de Cleópatra pode ser lida como tentativa de conciliação de várias culturas até então antagônicas. Tudo isso cabe. Mas é claro que o esplendor estético do filme extravasa generosamente qualquer interpretação reducionista. Luiz Zanin Oricchio O Estado de S.Paulo – 22 de maio de 2008 Disponível em http://blogs.estadao.com.br/luiz-‐zanin/cleopatra-‐de-‐bressane/
Download