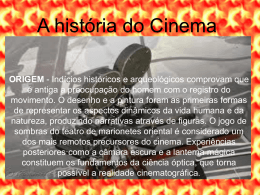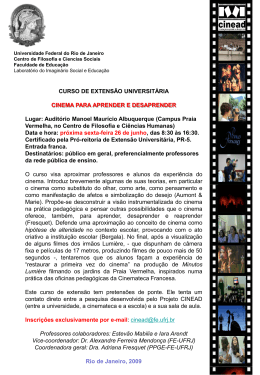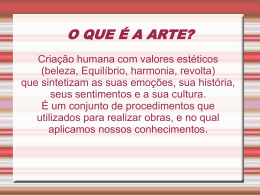Camponeses do cinema, Catarina Alves Costa, Abril de 2012
Camponeses do Cinema: a Representação da Cultura Popular no
Cinema Português entre 1960 e 1970.
Catarina Sousa Brandão Alves Costa
Tese de Doutoramento em Antropologia Cultural e Social
Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em
Antropologia Social e Cultural, realizada sob a orientação científica do Professor Doutor João Leal, do
Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa.
Abril de 2012
Agradecimentos
Agradeço em especial ao meu orientador, João Leal pelo apoio constante em todas as
tarefas da tese e pela amizade.
À Cinemateca Portuguesa / Museu do Cinema, a todos os que me ajudaram no ANIM
onde visionei o material que serviu de base a esta tese.
Ao Museu Nacional de Etnologia pelo acesso aos Arquivos.
Ao Paulo Rocha e ao José Manuel Costa pelas conversas inspiradoras. Ao Benjamim
Pereira com quem estou sempre a aprender e a surpreender-me.
A Jean Arlaud, pelo suporte institucional e à Sylvie Randonneix que possibilitaram a
minha estadia em Paris.
A Paul Henley, meu antigo professor, que me recebeu na Universidade de Manchester
onde passei um Verão a ler.
À Mariana Viegas, com ela percorri os caminhos de António Campos, e à equipa de
filmagens de “Falamos de António Campos”, em particular Olivier Blanc, pelo
entusiasmo.
Aos amigos no Brasil, onde escrever parecia mais fácil: Nelson e Marli, Júlio, Renata.
Aos meus amigos Catarina Mourão, Filipe Alarcão, Pedro Duarte, Daniel Blaufuks, por
estarem sempre aí.
À minha família, aos meus filhos Laura e Francisco, à minha mãe Luísa e ao Zé, ao
meu pai Alexandre, ao Sérgio, à Francisca, Ana e, claro, à memória do meu avô
Henrique Alves Costa.
Ao Jorge, sem ele e sem o seu amor não tinha feito esta tese.
Camponeses do Cinema:* A representação da cultura popular no cinema português
entre 1960 e 1970.
[Peasants from the Cinema: The Representation of Popular Culture in Portuguese
Cinema - 1960 and 1970].
PALAVRAS-CHAVE: Cinema Português, Antropologia Visual, Cultura Popular
KEYWORDS: Portuguese Cinema, Visual Anthropology, Popular Culture
RESUMO: Esta tese trata o cinema documentário e ficcional de vocação etnográfica na
sua ligação com a representação da cultura popular de matriz rural e a identidade
nacional. Pretendo tornar visível este cinema de vocação etnográfica, quer na história
da etnologia portuguesa, revalorizando a importância da etnografia espontânea, quer na
história do cinema português. O objecto é portanto o questionamento da fixação deste
cinema nos conceitos de ruralidade, pastoralismo, tradição, raízes e autenticidade,
partindo dele enquanto produtor de um discurso de objectificação da cultura popular
portuguesa, e de uma ideia do país, ou da memória do país, cuja homogeneidade vou
aqui questionar. Assim, trabalho os usos da imagem a partir de várias modalidades
identificadas: o arquivo etnográfico, o documentário etnográfico, a imaginação ou
poética de inspiração etnográfica e finalmente o cinema revolucionário e o discurso
ideológico. Comum a todos eles é o facto de fazerem um cinema que se imagina
próximo do povo que é filmado por razões que oscilam entre a produção e recolha de
informação científica às motivações românticas ou politicas.
ABSTRACT: This thesis deals with Portuguese documentary and fiction films that
have an ethnographic gaze in its connections with rural popular culture representations
and national identity. I intend to give visibility to the ethnographic propensity in
cinema relating it both to the history of Portuguese Anthropology (with an emphasis in
spontaneous ethnography) and to Portuguese cinema History and Critic. The object is
then questioning the placement of Portuguese cinema in concepts of rurality, the
pastoral, tradition and roots and the ideas of authenticity. I will deal with the
production of an objectification discourse on the national popular culture, (an idea of
the country and its memory) questioning its homogeneity. I will work these films as
visual culture, treating different identified modalities of discourse: the ethnographic
arquive, ethnographic documentary, the cinema of an ethnographic imagination or
poetic and finally the revolutionary and ideological cinema. The common issue among
all this modalities is the fact that the producers of these discourses see themselves as
connected and close to the rural people they film for different reasons, from the
scientific and collections of traditions to the more romanticized and political
motivations.
*
António Reis afirmava, em entrevista de Serge Daney e Jean-Pierre Oudart, para a
revista Cahiers du Cinéma (nº 276, Mai, 1977): “nós éramos camponeses do cinema”,
a propósito da rodagem do filme Trás-os-Montes (1976). Como afirma Reis, acerca da
relação que mantiveram, ele e a sua mulher Margarida, com os transmontanos: “Une
chose très importante: nous étions des paysans du cinéma, parce qu’il nous arrivait
parfois de travailler seize, dix huit heures par jour et je pense qu’ils aimaient bien nous
voir travailler.”
ÍNDICE
Abertura -------------------------------------------------------------------------------------------1
Percurso e objecto ------------------------------------------------------------------- 1
Roteiro da escrita --------------------------------------------------------------------- 5
CAP. 1 À procura das Imagens da cultura popular ------------------------------------ 9
Apresentação dos critérios de escolha do corpus a trabalhar ------------- 9
Modalidades cinematográficas: Etnográfico, Poético, Político ---------- 19
Metodologia -------------------------------------------------------------------------- 23
Cultura popular e Identidade Nacional ---------------------------------------- 27
Especificidades do trabalho com imagem. Cinema rural ------------------ 35
CAP. 2 Contexto histórico internacional ----------------------------------------------- 49
História e cinema ------------------------------------------------------------------- 49
Um cinema europeu, um cinema de autor ----------------------------------- 52
O caso espanhol --------------------------------------------------------------------- 59
O Novo Cinema brasileiro --------------------------------------------------------- 63
CAP. 3 Contexto histórico nacional ----------------------------------------------------- 77
O ano da ruptura ------------------------------------------------------------------- 77
A génese: dois filmes fundadores ---------------------------------------------- 80
O cinema do regime --------------------------------------------------------------- 87
Os anos 50, amadorismo e Neo-realismo ------------------------------------ 96
Cinema Novo? --------------------------------------------------------------------- 107
Oliveira, o Acto fundador ------------------------------------------------------ 110
Conclusões ------------------------------------------------------------------------ 121
CAP. 4 Filme etnográfico de arquivo -------------------------------------------------- 125
Introdução -------------------------------------------------------------------------- 125
Caracterização geral do corpus ------------------------------------------------ 127
Os filmes do Centro de Estudos de Etnologia ------------------------------ 131
Os filmes feitos com o Instituto de Göttingen ----------------------------- 143
Análise dos conteúdos, a partir do ficheiro do C.E.E. -------------------- 151
Filme etnográfico, características comuns a outras escolas ------------ 160
Conclusões ------------------------------------------------------------------------- 169
CAP. 5 Documentário etnográfico ----------------------------------------------------- 173
A emergência do documentário etnográfico ------------------------------- 177
António Campos: contexto social e histórico da sua obra -------------- 181
Filmar é retomar a experiencia vivida e a memória subjectiva -------- 209
Costa e Silva, entre Trás-os-Montes e o Alentejo ------------------------- 212
Conclusões -------------------------------------------------------------------------- 223
CAP. 6 Cinema de imaginação etnográfica ------------------------------------------- 225
Jaime e a arte bruta --------------------------------------------------------------- 236
Trás-os-Montes, província mítica: paisagem e memória ----------------- 248
Reflexões em torno da polémica que gerou a recepção do filme ------ 258
Conclusões --------------------------------------------------------------------------- 263
6
CAP. 7 Reflexões e conclusões, a partir da vertente etnográfica
do cinema revolucionário ----------------------------------------------------------------- 267
Introdução --------------------------------------------------------------------------- 267
O cinema revolucionário --------------------------------------------------------- 268
Reflexão sobre a prática: os meus filmes ------------------------------------ 287
Fecho ------------------------------------------------------------------------------------------- 303
Filmografia ------------------------------------------------------------------------------------ 309
Índice de Imagens --------------------------------------------------------------------------- 313
Referências Bibliográficas ----------------------------------------------------------------- 315
Anexos
DVD 1. Compilação de excertos de filmes (tempo total : 32 min.)
1. O Acto da Primavera, 1963, Manoel de Oliveira (1’ 50’’)
2. Olaria Primitiva em Malhada Sorda, 1970, Arquivo MNE (3’ 20’’)
3. Romaria de São Bartolomeu do Mar, 1970, Arquivo MNE (2’ 31’’)
4. Vilarinho das Furnas, 1971, António Campos (2’ 36’’)
5. Falamos de António Campos, 2009, Catarina A. Costa (1’ 7’’)
6. Jaime, 1974, António Reis (2’ 44’’)
7. Trás-os-Montes, 1976, António e Margarida Cordeiro (4’ 5’’)
8. Veredas, 1977, João César Monteiro (3’ 36’’)
9. A Lei da Terra, 1977, Grupo Zero (1’ 12’’)
10. Senhora Aparecida, 1994, Catarina A. Costa (8’ 29)
DVD 2. Falamos de António Campos. Documentário integral.
Realização: Catarina Alves Costa, Produção: Midas Filmes, Produtor: Pedro Borges, Câmara:
Pedro Paiva, Som: Olivier Blanc, Montagem: Pedro Duarte, 2009, (tempo total : 60 min.)
7
Abertura
Nunca ninguém se perdeu.
Tudo é verdade e caminho.
(F. Pessoa)
Percurso e objecto
Quando em 1992 cheguei à aldeia de Arga de Baixo para fazer o meu primeiro filme, procurava
uma experiência de filmar a vida quotidiana de uma comunidade rural, a mais isolada que
encontrei no Minho, numa perspectiva etnográfica mas que fosse, ao mesmo tempo, pessoal e
subjectiva. Não conhecia ali ninguém, e era esse processo de descoberta do lugar e das pessoas
que eu queria filmar. Interessava-me perceber, em jovens como eu, a vivência do regresso à
terra durante as férias, e acreditava que transportava comigo os instrumentos cognitivos e as
técnicas para o fazer. Foi com eles que me aproximei da vida da aldeia. Quando cheguei,
estávamos no mês de Junho e esperei com os poucos habitantes da aldeia a chegada dos
emigrantes. Uma parte de mim queria que o filme ficasse ali, sempre, com as poucas pessoas
que viviam todo o ano na aldeia. Passei as primeiras semanas com as pastoras que levavam o
rebanho colectivo durante todo o dia para a serra, um espaço selvagem povoado de histórias
de florestação e de lobos. Por isso o filme começa assim, com duas mulheres e um rebanho, um
pau na mão, a assobiar, beber água da nascente e enfim adormecer sobre uma pedra. Durante
esses meses estivais, confrontei-me pela primeira vez com as imagens da ruralidade que faziam
parte do meu imaginário cinematográfico, marcado pelos filmes de António Reis ou de João
César Monteiro, os quais contrastavam com a vida na aldeia, que os jovens emigrantes
tentavam agarrar, transportados eles mesmos, com as suas representações e ideais, para uma
vida que lhes escapava, mas da qual queriam participar. As ideias românticas de fazer uma
etnografia numa aldeia isolada, que haviam sido desconstruídas pelos meus professores de
Antropologia, regressavam como uma desculpa para filmar aquilo que me fascinava, e que
agora percebo melhor ser essa relação positivada e ficcionada que o citadino cria com o rural.
O meu imaginário cinematográfico havia sido marcado por um avô cineclubista e
sessões de cinema na Escola de Belas Artes do Porto, nos anos do pós-revolução: António
Campos, Vittorio De Seta, o Olmi, o Buñuel do Las Hurdes. Era esse todo um mundo cuja
verdade confirmava com estadias em Rio de Onor, onde os meus pais tinham feito um trabalho
quando eram adolescentes, nas aldeias do Gerês e, durante o PREC, em idas organizadas para
assistir ao processo de colectivização das terras no Alentejo. Os espigueiros do Lindoso, a aldeia
8
submersa de Vilarinho das Furnas, as malhas em Rio de Onor ou a Páscoa em Braga, para além
das idas, com o meu pai, à feira de Barcelos, a casa de poetas populares ou de escultores
ingénuos em busca da arte popular, fizeram parte da minha infância. Quando, cheguei, em
1992, à aldeia de Arga de Baixo, reconheci esse mundo dos velhos, que falavam do tempo
antigos, regavam o milho, mungiam as vacas, iam buscar erva e carregar lenha, que nos dias de
festa tocavam concertina e dançavam o vira, e o dos jovens que eu queria fossem os
protagonistas do meu filme, eles que, embora nascidos na cidade, procuravam namorar e casar
com alguém das aldeias vizinhas, contribuindo assim para a aparente continuação de um
mundo que parecia estar a desaparecer. Reconheci, também, aquilo que nesta tese se mostra
ter sido tratado de forma mais eficiente pelos realizadores da poética: a complexidade do
imaginário, do pensamento e da história local. Talvez por isso tenha aqui querido procurar em
cada cineasta, e para além da respectiva obra, uma visão do mundo e do país, respondendo
consequentemente à pergunta: porque é que toda uma geração, até aos inícios de 1980,
centrou o seu trabalho e a sua arte cinematográfica no registo do país rural, em detrimento de
outros universos, como o operário, ou o suburbano, por exemplo?
Movida pelos métodos da escola de filme etnográfico de Manchester, onde me formei,
parti então para uma experiência de trabalho de campo em que, em colaboração com os meus
personagens e informantes, iria filmar situações, muitas delas catalisadas pela minha presença
naquele lugar, numa atitude claramente deslumbrada, participativa e observacional. Daí
resultou o filme que apresentei como parte da minha tese de mestrado Back to the Homeland.
Pela primeira vez, consegui que as peças de um puzzle que parecia não encaixar – o Cinema,
que fez a minha adolescência, a Antropologia, que preencheu os anos que vivi em Lisboa e o
Filme Etnográfico, que experimentei em Manchester – servissem um propósito só, o filme.
Desde esse período, grande parte da minha profissão, incluindo a de docente, desenrola-se em
torno da realização de documentário, de filmes etnográficos. Nesta tese, e na tentativa de
compreender formas de trabalho e metodologias de realizadores que, tal como eu, mantiveram
sempre uma forte relação com a perspectiva etnográfica e documental, descobri outras tantas
ligações e sentidos para o meu trabalho.
Ao longo da escrita, que me levou também a realizar um filme que anexo em DVD a esta
tese, Falamos de António Campos (2009), entreguei-me a esse fascínio que o cinema possuía,
fosse pelo universo da cultura popular fosse ainda pelo efeito cinematográfico produzido pela
ruralidade, o campo e a sua paisagem. Pensei então que poderia começar, nesta pesquisa, por
perceber, na história do cinema português, a demanda da ruralidade, que ele vinha
protagonizando, e a forma como esta se construiu historicamente desde os anos 1960 a partir
9
de uma fórmula que me parecia conseguir identificar: i) as influências do cinema todo, em
especial as que foram partilhadas pelos intelectuais ligados à cultura; ii) a história particular do
modo como os cineastas de uma certa geração, que viria a ser, genericamente, conhecida como
a esquerda, procurava um certo tipo de país rural; e, por fim, iii) as variações que dependiam
não tanto dos assuntos contidos nos filmes, mas antes da modalidade do discurso que lhes era
atribuída. Como se antecipará, durante todo o processo, a maior dificuldade que encontrei – e
com a qual ainda hoje me debato – foi a de não conseguir excluir-me dele, sentindo que,
embora não fosse, directamente, a minha geração, fora nela que eu tinha efectivamente
crescido e me tinha construído como observadora. No fundo, ao longo da escrita desta tese,
busquei sempre, mesmo no aparente distanciamento crítico, o lugar desse legado identitário, a
afinidade com os realizadores que estudo, mas também a admiração, a dívida, o
reconhecimento. Como afirma Jacques Derrida, senti, e talvez tenha sido esse o motivo
profundo que me levou a esta escrita, “a necessidade de ser fiel à herança a fim de
reinterpretá-la e reafirmá-la ao infinito”; e “se a herança nos fornece tarefas contraditórias
(receber e no entanto escolher, acolher o que vem antes de nós e no entanto reinterpretá-lo,
etc.), é porque ela atesta a nossa finitude”. Por isso, “é preciso (e este é preciso está inscrito
directamente na herança recebida), é preciso fazer de tudo para nos apropriarmos de um
passado que sabemos no fundo permanecer inapropriável” (Derrida, 2004: 12-15).
Assim, o legado que recebia trazia com ele elementos que reconhecia e outros que
queria desvendar. No fundo, aquilo que me interessou mais foi ver o lugar que, nestes filmes
que vi, ocupava a tematização, a emblematização da cultura popular, assim como a
representação do povo enquanto universo qualificado e valorizado esteticamente,
independentemente do género cinematográfico preciso: ficção, documentário, filme
etnográfico, filme científico. Importou-me identificar de que modo, durante um certo período
da história do cinema português, se criaram imaginários ligados a uma alteridade que relevam
não só de uma atitude estética, intelectual e política, mas também de um contexto social,
histórico e ideológico, que é, resumidamente, o do chamado cinema português que nasce dos
movimentos do neo-realismo, do cineclubismo e do cinema novo.
No percurso entre este cinema e o trabalho de realização de filmes etnográficos a que
eu mesma me dediquei durante os últimos quinze anos, faz-me sentido perceber como este
cinema de raiz documental que se foi produzindo fora do universo urbano consubstanciou toda
uma imagética da cultura popular, num processo que se legitimou através de atitudes
diferentes - a científica, ou etnográfica, a assumidamente poética, a mais politizada, etc. - a
cujos contextos quero aqui regressar. Com efeito, entendo que a identidade de cada um destes
10
discursos só pode ser pensada a partir da respectiva mundividência e, nesse sentido, eles são
nesta tese explicitados num processo de selecção e de envolvimento com os filmes que é
determinado, em ultima análise e inevitavelmente, pela minha própria experiência no trabalho
de realização cinematográfica.
Ao trabalhar o cinema como processo de objectificação da cultura popular vou
relacioná-lo com a produção de discursos de identidade nacional, identificar redes e
protagonistas, bem como algumas constantes discursivas desse processo, assente em noções
como as de autenticidade e arcaísmo ou em dicotomias como as de tradição e modernidade,
popular e erudito, campo e cidade. Estas são clivagens que, no entanto, parecem exprimir um
essencialismo cultural: existe uma continuidade na utilização de categorias como povo, tradição
e autenticidade, ou mesmo no modo como se usa a ideia de passado que me interessava,
desde logo discernir. Por outro lado, neste processo de fixação e de trabalho sobre a cultura
que o cinema faz, produzem-se textualizações, ou seja, os cineastas estão envolvidos num
processo de construção e encenação de contextos culturais que se assemelham em tudo às
entidades culturais essencializadas pela Antropologia. Ora, ao incorporar reflexivamente a
minha própria experiência enquanto realizadora de filmes que circulam no meio institucional e
académico da chamada Antropologia Visual, pretendo aqui ampliar um olhar crítico e analítico
sobre as relações possíveis entre a Antropologia e o Cinema, discutindo as possibilidades e as
contribuições que a prática do filme etnográfico pode trazer às discussões metodológicas no
seio desta ciência social, considerada eminentemente da escrita e da palavra.
Esta tese encara pois o cinema como parte das culturas visuais, de um trabalho sobre a
cultura e, neste sentido, o seu quadro teórico de base é o da Antropologia, embora procure,
sempre que necessário, outros territórios. No cruzamento entre a Antropologia e a imagem –
cinema, fotografia, desenho –, podemos a meu ver encontrar duas formas de pensamento
distintas, com consequências teóricas e metodológicas específicas. A primeira, mais
desenvolvida e que teve a sua primazia até aos anos 1990, continuando até hoje, refere-se à
Antropologia Visual como método da Antropologia, centrando-se no uso de material visual na
pesquisa, apresentação e circulação do conhecimento antropológico (cf. Hockings, 1975).
Incide, portanto, sobre o desenvolvimento e os aspectos práticos e metodológicos do filme
etnográfico, assim como sobre o documentarismo enquanto género cinematográfico, sem
esquecer a fotografia, suas estratégias e práticas. A segunda, mais híbrida e teoricamente mais
indefinida, por cruzar territórios de várias áreas de estudos derivados dos chamados cultural
studies, relaciona-se com a Antropologia Visual enquanto teoria mais do que enquanto
método, e com o estudo dos sistemas visuais, isto é, a produção de conhecimento
11
antropológico a partir da análise de imagens produzidas por outros (cf. Taylor, 1994; Morphy e
Banks, 1997). Cruzando estes dois movimentos – e partindo da natureza construída das
representações visuais e dentro destas a do cinema e em especial a do cinema de temática
rural – esta tese procura problematizar as relações da antropologia com a imagem. Entramos
aqui num terreno que imbrica também esta disciplina com a história, os estudos culturais e
literários, o cinema e os estudos cinematográficos. Mas, por outro lado, ao falar de um
conjunto concreto de filmes correspondentes a um número delimitado de autores ou de
realizadores, é deles, das suas particularidades e da sua especificidade, da sua etnografia, que
quero aqui partir. Trata-se de uma espécie de zoom out, para usar a linguagem
cinematográfica.
Roteiro de escrita
A minha metodologia centrou-se, numa primeira fase, no visionamento e na análise de
conteúdo de um conjunto de filmes que decidi subdividir em categorias, a que correspondem
diversas formas de olhar o popular: o filme etnográfico de arquivo, o cinema documental de
vocação etnográfica e finalmente o cinema poético ou da imaginação etnográfica. Em seguida
delimitei o quadro temporal a que se referem os filmes sobre que incide a análise. Os limites
cronológicos situam-se entre 1962 e finais da década de 1970. O critério básico de serem filmes
cuja temática central está ligada às imagens do povo, e em especial da ruralidade em Portugal,
revelou-se muito abrangente, tendo-me feito chegar a uma listagem inicial muito vasta de
filmes a visionar que urgia restringir. Justamente, no primeiro capítulo irei discutir os critérios
de escolha deste corpus de filmes a trabalhar, descrever a metodologia usada, fazer a resenha
de alguns dos mais importantes conceitos operativos que atravessam a análise, inserir a
temática abordada em alguns debates contemporâneos da Antropologia e, finalmente, fazer
um ponto de situação relativamente a alguns estudos semelhantes, embora realizados em
contextos diferentes.
Explicitadas então as bases metodológicas e teóricas de partida, no segundo capítulo, e
depois de algumas reflexões sobre as ligações do cinema com a história, faço uma resenha do
panorama internacional do cinema na época considerada; cruzo territórios geográficos e
cinematografias, tratando a identidade do cinema europeu de autor, em especial o francês,
mas também me introduzo no cinema brasileiro, inglês e espanhol. Esta deriva internacional
permite-me enquadrar a cinematografia portuguesa, não obstante esta se ter imaginado numa
espécie de autarcia.
12
No terceiro capítulo, que aborda as origens da vocação etnográfica do cinema
português, parto do percurso de Oliveira até ao filme O Acto da Primavera (1962), que
analisarei mais longamente. Serão tratadas e referenciadas as cronologias do cinema nacional,
assim como todas as discussões sobre o realizador e filme que estão na origem da ruptura de
1962, que veremos, foi por alguns chamado Cinema Novo. Para chegar a esse ano de charneira,
identifico a génese de um documentarismo etnográfico na década de 1920-30, reflicto sobre o
cinema ligado ao regime autoritário e ainda, ou concomitantemente, sobre a importância dos
anos 1950, com os cineclubes, o cinema amador e o neo-realismo. Tratadas estas questões, que
permitem enquadrar historicamente o movimento de representação da cultura popular pelo
cinema português, procurando discernir rupturas, continuidades, redes de influências e um
contexto intelectual e estético que o marcaram, entro de modo mais preciso no corpus sobre
que irei de facto trabalhar. Como já se antecipa, trata-se de pensar sobre algumas modalidades
deste cinema, acima enumeradas. Assim, e ainda de modo geral, trato o modo como a
etnografia, associada ao fascínio pela cultura popular contaminou o cinema português quer ele
seja “de arquivo”, assumidamente “documental”, poético ou “da imaginação etnográfica” e
finalmente, “politizado”, revolucionário.
O capítulo seguinte trata especificamente o primeiro grupo de filmes, o etnográfico de
arquivo, a partir do material realizado para o Centro de Estudos de Etnologia entre as décadas
de 1960 e a de 1980. Estou persuadida de que não se pode fazer uma abordagem ao filme
etnográfico português sem tratar o trabalho do grupo de Jorge Dias a partir da produção de
imagens, cruzando a informação dos filmes com outras ferramentas de catalogação e
organização material do saber, como sejam fichas, objectos ou fotografias. Esta minha
orientação supõe que a análise parta não só dos filmes mas também do depoimento, no caso
uma entrevista extensa a Benjamim Pereira, posto que este discute de forma operativa não só
os conteúdos destes filmes mas também o seu contexto de produção teórico-prático, que na
sua voz surge aliado a campanhas de recolhas de objectos ou a projectos expositivos.
Finalmente, e ainda propósito deste material, caracterizo o território do filme etnográfico
clássico, procurando lançar pistas e levantar questões relacionadas com a sua constituição
como território académico, a fim de enquadrar o caso português na história da Antropologia
Visual. As discussões em torno da própria definição de filme etnográfico, domínio que se
institucionalizou em torno de publicações e festivais, permitirá em meu entender perceber as
especificidades e anacronismos do caso português, fazendo um ponto da situação sobre a
importância do trabalho visual deste grupo de etnólogos.
Trato no quinto capítulo um outro grupo de filmes, ainda dentro daquilo a que
13
genericamente chamo o olhar etnográfico: o cinema documental de vocação etnográfica de
António Campos, Manuel Costa e Silva, Fernando Matos Silva ou Noémia Delgado. Trata-se de
um acervo de filmes que, não sendo parte de um projecto científico institucional, como era o
caso dos tratados no capítulo precedente, também não deriva da produção propagandística e
pedagógica do Estado Novo nem se situa no encontro da ficção com o real, como era o caso do
Acto da Primavera, de Manoel de Oliveira. Finalmente e embora se cruzem com ela, estes
filmes não podem ser incluídos na deriva modernista do movimento do Cinema Novo. A obra
de Campos é exemplar e assim será tomada, seja como incursão no domínio do popular em
termos documentais, seja na relação particular que estabelece com a etnologia. A propósito do
trabalho deste realizador, mas também do de Costa e Silva, trato a emergência e a identidade
do documentário e do olhar documental que surgiu com os neo-realistas, atravessando
igualmente o período revolucionário, e que tinha por missão documentar e registar, de forma
mais ou menos espontânea, o país na sua interioridade.
No sexto capítulo trato mais uma vez, e este é um pano de fundo de toda a tese, da
questão da identidade de género do olhar cinematográfico a partir de um novo grupo de filmes.
O cinema poético ou da imaginação etnográfica de António Reis, em especial o lugar da
paisagem em Trás-os-Montes, o fascínio pela arte bruta em Jaime e a ruralidade intemporal em
Veredas, de João César Monteiro, serão temáticas tratadas aqui como uma forma idiomática de
olhar a cultura popular que tem muito de romantismo, de procura do idílio e de pastoralismo.
Notar-se-á que esta poética não deixava, no entanto, de estar ligada a um projecto, mais uma
vez de missão etnográfica, costituído pela ideia de um Museu da Imagem e do Som, depositório
das cinematografias feitas a partir das regiões portuguesas.
No último capítulo, o cinema documental revolucionário, como é o caso dos filmes da
realizadora Solveig Nordlung ou de José Nascimento, será contrastado com o anterior.
Interessa-me aqui contextualizar o seu estilo e a sua relação com o cinema directo, o que me
permite empreender uma discussão final sobre documentário etnográfico em Portugal, o que
este foi e o que se admitiu que poderia ter sido. Será problematizado o lugar de toda esta
reflexão para a história do cinema português e, mais concretamente, para a história do modo
como se foi representando o país. Neste capítulo final faço, ainda, uma ponte entre aquilo que
julgo ser o carácter etnográfico do cinema português de 1960 e 1970 e uma problematização
acerca da minha própria prática de realizadora de filmes em contexto rural, na década de 1990,
especialmente em Regresso á Terra (1992), Senhora Aparecida (1994) e nos filmes feitos em
parceria com Benjamim Pereira, em particular sobre o Ciclo do Linho e da Seda (2003). O gesto
e as atitudes que identifiquei em realizadores que olharam o povo formam também os meus:
14
“nunca ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho”. Só esta certeza que também eu estive
envolvida em processos de objectificação e representação do outro, permite reverter esta
reflexão em prática, em futuros filmes. Esta é, pois, uma tese que trabalha com um conjunto de
filmes que, defenderei, pode funcionar como catalisador para reflectir acerca das dinâmicas do
filme etnográfico contemporâneo e, ainda, para identificar questões teóricas e metodológicas
que envolvem a Antropologia lato sensu. Este corpus restrito e seleccionado de filmes serviume como material bastante do qual julgo poder retirar acepções gerais sobre a construção do
olhar, os modos de pensar e de sentir através do cinema, os quais, no limite, me permitem
aproximar e questionar a minha própria actividade de realizadora. O caminho que faço na tese
partirá assim de filmes com uma atitude claramente realista e de registo para outros em que se
complexifica a relação com o real, culminando na ideia de utopia, no caso do discurso
revolucionário. Sigo assim um percurso que passa da vocação à imaginação etnográfica: o plano
da família de camponeses que Reis e Cordeiro filmam a comer neve, servidos pela mãe, de ar
grave e sério, é a expressão cinematográfica e metafórica da vida rural, cuja beleza se encontra,
também, na ideia de miséria e que a película deseja registar para todo o sempre.
Fig.1. Trás-os-Montes, António Reis e Margarida Cordeiro, 1976.
15
CAP 1 À procura das imagens da cultura popular
Le cinéma ne peut être qu’une chose particulière, une vérité particulière. Et c’est
seulement en partant du particulier qu’on peut arriver au général. Ceux qui font le
contraire, ne font qu’une soupe d’idées générales qui n’ont pas de racines dans la
réalité. Dans aucune réalité (J.M. Straub cit in Gayraud, 1980: 102).
Apresentação dos critérios de escolha do corpus a trabalhar
Quero começar por discutir os critérios que estiveram subjacentes à escolha do corpus de
filmes que esta tese trata2. Na tentativa de encontrar categorias diferentes, que correspondem
a tipos distintos de discurso e de representação, foi necessário pensar na especificidade do
cinema como linguagem, no seu estatuto enquanto discurso. Confrontei-me, desde o início,
com grandes dúvidas quanto à escolha dos materiais a estudar. Antes de mais, apesar de
trabalhar no eixo de cruzamento entre os usos da imagem e a Antropologia, acabei por deixar
de fora o desenho etnográfico e a fotografia, ficando apenas com o cinema. Queria escolher um
conjunto de películas que permitisse tratar a questão da construção de um olhar sobre a
cultura popular portuguesa, que fosse ao mesmo tempo significativo, representativo e
relativamente homogéneo, mas incorporasse uma diversidade de temáticas e de
cinematografias. Apesar de o suporte ser a película e de a escolha recair sobre a imagem em
movimento, um conjunto significativo da produção que me interessava tinha um estatuto
diferente, uma vez que eram filmes de arquivo e registo etnográfico com pouca ou nenhuma
visibilidade. Esta tese mobiliza assim, como seu material empírico, tanto o cinema tomado
como arte, quanto esse fundo complexo das imagens muitas vezes tomadas como não tendo
autoria.
Neste impasse metodológico, recorri à análise dos espaços discursivos da fotografia e do
estatuto do arquivo fotográfico feito por Rosalind Krauss a partir de imagens da paisagem do
século XIX. O que me atraiu particularmente na obra de Krauss foi a passagem epistemológica
da ideia da fotografia enquanto produto da arte, que existe na longa duração e continuidade de
uma formulação histórica, que a teria preparado, suscitado, para essoutra ideia da fotografia
como acontecimento, permitindo restituir-lhe “algo da força, do valor de ruptura que teve
originalmente e, ao mesmo tempo, sublinhar a sua irredutível exterioridade. Isto pressupõe
uma descentralização do discurso: a fotografia não se deixa reduzir às dimensões
2
Em anexo a esta tese, tal como identifiquei no índice, pode encontrar-se um DVD com alguns excertos dos filmes
trabalhados, prefazendo uma montagem com um total de 30 minutos.
16
essencialmente estilísticas da história da arte” (cf. Krauss, 2002: 11). Como esta autora mostra,3
a fotografia opera noutros planos de discurso que não são estritamente artísticos: o espaço da
reportagem, da viagem, do arquivo, e o espaço da ciência. No entanto, a fotografia não é
apenas um índice do real. Mais do que o chamado cinema de actualidades, ela quer estar
presente na história, tanto a oficial como a mais secreta, na história colectiva bem como na
história individual (cf. Krauss, 2002: 11).4
No acervo de filmes que trabalho aqui, não se pode, do mesmo modo, considerar que
todos estão dentro de uma só ordem discursiva, convindo portanto ter em conta a sua
reificação, o conjunto de práticas, instituições e tipos de representação que, na origem, os
formataram intencionalmente. Até em realizadores como António Campos, que produziu filmes
mais próximos do olhar etnológico, científico, a que chamava documentários, e outros
artísticos, ficcionais, convém perceber como, na origem, o próprio utilizava as diferentes
categorias e aplicava soluções estilisticamente diferentes. A montagem dos seus primeiros
filmes de ficção, - O Senhor, de 1959, por exemplo - utiliza uma decoupage rápida e artística
influenciada pelo cinema soviético. Em nada se pode comparar com o tipo de solução que
utilizou, por exemplo, no documentário Gente da Praia da Vieira (1975), com longos planos de
sequência que seguem os acontecimentos numa linguagem realista e documental.
Colocava-me, portanto, na escolha dos filmes a tratar, a questão do género
cinematográfico. Mas o critério de selecção deveria ter em conta também a sua visibilidade, ou
teria de partir antes da escolha de um género cinematográfico, centrando-me neste caso no
documentarismo de cariz etnográfico, ponderando o maior ou menor grau de profissionalismo?
Ou, por outro lado ainda, deveria o critério estabelecido privilegiar os universos retratados em
termos de conteúdo, narrativa ou paisagem? Ou, antes, partir da escolha de certos realizadores
3
Designadamente através do trabalho de Timoty O’Sullivan, Auguste Salzmann ou Roger Fenton.
4
Krauss compara duas fotografias que mostram uma paisagem de mar com três rochedos maciços: uma de
Timothy O’Sullivan de 1868, que opera apoiando-se especialmente nos códigos da fotografia de paisagem
do sec. XIX, tal como os construiu a história de arte; a segunda fotografia, realizada em 1878 para a
publicação Systematic Geology, é uma cópia litográfica da primeira. Naquela, o nevoeiro e a luz dão-lhe
uma misteriosa beleza que se perde no detalhe da segunda. A diferença entre estas duas imagens (entre a
fotografia e a sua interpretação) deve-se ao facto de “pressuporem expectativas diferentes por parte do
espectador e veicularem dois tipos distintos de saber”, ou seja, de terem como origem dois discursos
diferentes. A litografia pertence ao discurso da geologia, portanto da ciência empírica (com o elementos da
descrição topográfica), a outra opera num espaço discursivo diferente, o do discurso estético desenvolvido
no sec. XIX, que a autora analisa (cf. Krauss, 2002:41). Esta questão é metodológica, porque na verdade
estas fotografias, topográficas por natureza, feitas originalmente em função das necessidades da
exploração geográfica das expedições são hoje em dia montadas, emolduradas, dotadas de um título, ou
seja, musealizadas e legitimadas no modo como se enfatiza o seu carácter de representação no espaço
discursivo da arte (cf. Krauss, 2002:43).
17
que cruzam estas diferentes vertentes: um olhar documentarista de cariz etnográfico e uma
temática ligada à cultura popular?
A primeira lista que fiz de filmes que tratam o povo formou-se em termos de núcleos, a
partir de géneros cinematográficos que tive necessidade de estabelecer: filme etnográfico,
filme documental de carácter etnográfico, ficção com carácter documental, etc. No entanto,
parece-me contraproducente e desinteressante do ponto de vista da análise estabelecer aqui
fronteiras artificiais, embora largamente discutidas, entre géneros, especialmente porque
muitos dos filmes que encontrei eram de fronteira, entre a ficção e o documentário. Por outro
lado, não tendo existido no país uma escola de documentário forte como a que se instalou, por
exemplo, no Quebeque, em Inglaterra, em França ou nos Estados Unidos da América, a maioria
dos realizadores portugueses tem uma produção mista. Acabei, portanto, por trabalhar a partir
de uma selecção limitada de realizadores que: (i) cruzam esses vários territórios, (ii) fizeram
pelo menos alguns filmes com um atitude documental e vocação etnográfica, importantes para
a démarche que me interessava, e cuja obra é genericamente marcada pela temática da cultura
popular, (iii) paara além de terem trabalhado esta temática e este género, me parecia terem
explorado uma linguagem cinematográfica aberta à interpretação e não colada aos formatos
estilísticos da reportagem, da actualidade científica, do cinema comercial. Estava assim face a
um cinema que se enquadra naquilo que se tem designado genericamente por independente.
Cumpre ainda assinalar que tive em conta nesta tese, e para o âmbito temporal
definido, o “percurso”, a totalidade da obra dos autores seleccionados, tendo escolhido para o
efeito essencialmente as de Manoel de Oliveira, António Campos, António Reis e Margarida
Cordeiro, João César Monteiro e Manuel Costa e Silva. Para além deste núcleo central e
emblemático de cineastas, optei por encarar um bloco de filme etnográfico, que se centra na
produção feita no âmbito do trabalho da equipa do Museu de Etnologia (1962-1980). Irei referir
também, no capítulo final, o cinema revolucionário, que se centra no período dos dois anos
(1974-1976) que se seguem à revolução de Abril. Em meu entender, nestes dois núcleos – o do
arquivo etnográfico e o revolucionário – a atitude criativa altera-se, fortemente condicionada
que estava pelo discurso restrito em que então operava. Será que em ambos casos os seus
realizadores imaginavam que a marca do autor se apagava, em detrimento de uma atitude mais
objectiva e científica, de registo etnográfico, no primeiro caso, ou de uma atitute política e um
sistema de produção colectivizados, no segundo? Roland Barthes questiona em texto célebre, e
a partir da literatura, o conceito de autor, ao impugnar a concepção que o vê como a origem e a
fonte autorizada do significado do texto cuja autoria lhe é atribuída. No fundo, ao atribuir-lhe a
morte, o que Barthes faz é descentrar o autor como fonte única e exclusiva do significado, em
18
favor do leitor.5 Do mesmo modo, só podemos entender estas diferentes abordagens ao filme
de vocação etnográfica – do que se vê dentro da ciência ao que se vê dentro da poética – a
partir da forma como a sua representação do mundo foi recebida pela crítica, pelos
historiadores, pelo público. No entanto, em ambos os casos, existe uma urgência histórica de
filmar um mundo que, no primeiro caso, parece estar a desaparecer, e, no segundo, parece
estar a surgir, a acontecer, frente à câmara.
O núcleo central de cineastas que referi não deixa, no entanto, de se cruzar com os
conjuntos referidos, - o do filme etnográfico de arquivo e o do cinema revolucionário -, que não
são portanto estanques. É o caso, mais uma vez, de António Campos, cineasta pertencente a
este nosso grupo central e que tanto trabalhou num registo ficcional como documental, numa
atitude que em certos casos se aproximava da produção vinda do filme etnográfico mais puro,
de registo, como foi o caso dos dois filmes baseados em monografias escritas por Jorge Dias,
Vilarinho das Furnas (1972) e Falamos de Rio de Onor (1974). Campos é talvez o caso mais
interessante de cruzamento de diversos universos e registos, ajudando a explicitar relações,
trocas e circulação de influências artísticas, estéticas e intelectuais entre as elites de cinéfilos,
cineastas e etnólogos da época em análise. Quanto ao cinema revolucionário, poucos dos seus
realizadores fazem parte do nosso núcleo central, mas mantêm ligações com eles. Veja-se, por
exemplo, o caso de Cunha Telles, importante produtor do Cinema Novo feito por Paulo Rocha,
Fernando Lopes ou Seixas Santos, e que, movido pela energia política do pós-revolução se torna
realizador em Os Índios da Meia Praia (1975), um filme que poderá ser considerado, dentro das
categorias formuladas, como “revolucionário".
Como disse antes, trato assim, nesta tese, para o âmbito temporal definido, a totalidade
da obra dos realizadores seleccionados. A noção de autor que adoptei, a importância de ter em
conta toda a obra de um determinado realizador, independentemente do género
cinematográfico que o classifica, como um contínuo com unidade e homogeneidade, um
percurso em que os filmes estabelecem diálogos entre si e expressam preocupações e mesmo
obsessões com determinadas temáticas, ambientes, sonoridades, foram determinantes na
configuração do corpus que trabalho aqui. Convém, no entanto, ter em conta, e mais uma vez,
que a ideia de autor, tal como a de obra e em especial a de artista, remetem para o cinema
como universo que se constituiu, e voltando à análise de Rosalind Krauss, mais do lado da arte
do que do da ciência. Krauss, na sua crítica à forma como a história de arte desvirtuou materiais
como a fotografia de arquivo do século XIX, mostra como, neste processo de apropriação e
musealização das imagens científicas, se concluiu que determinadas imagens eram paisagens (e
5
Cf. O conceito de “autor” em Um vocabulário crítico (Silva, 2000: 18).
19
não vistas), e como, em seguida, se aplicou ao arquivo visual outros conceitos: o de artista, com
a ideia de uma “progressão regular e intencional a que chamamos carreira”; o de obra, ou seja
de uma unidade, de uma “coerência e de um sentido que surgiram deste corpus colectivo”. De
acordo com Krauss, a fotografia topográfica do século XIX não somente não permite “utilizar”
este par de termos, mas até parece “questionar” a sua própria “validade”. O conceito de artista
está ligado ao de vocação, o que implica uma “iniciação, obras de juventude, uma
aprendizagem das tradições da sua arte e a conquista de uma visão individual através de um
processo que implica ao mesmo tempo fracassos e sucessos”. Já no que respeita à obra, ela
surge como o “resultado de uma preserverança na intenção”, tem “um vínculo orgânico com o
esforço daquele que a produz”, é coerente. No caso do arquivo, há práticas e modalidades que
“questionam a legitimidade do conceito de obra”. É, por exemplo, o caso de um corpus
“excessivamente parco ou extenso para responder a esta definição” (Krauss, 2002: 49-50),
como poderemos aqui afirmar relativamente ao arquivo do Museu de Etnologia. Assim,
Tudo o que foi adiantado aqui sobre a necessidade de abandonar – ou pelo menos
submeter a uma crítica séria – as categorias derivadas da estética, tais como autor, obra
e género (como no caso da paisagem) consiste, é claro, no esforço de conservar a
fotografia antiga no seu estatuto de arquivo e de pedir que se examine este arquivo de
forma arqueológica, de acordo com a teoria e exemplo que Foucault nos apresentou.
[...] Hoje, em todo o lugar, tenta-se desmantelar o arquivo fotográfico, quer dizer, o
conjunto das práticas, instituições, relações de onde surgiu indicialmente a fotografia do
séc. XIX, para reconstruí-lo no quadro das categorias já constituídas pela arte e pela
história” (Krauss, 2002: 56).
Assim, a decisão de examinar tanto a ficção como o documentário feitos por um
realizador, de tomar a sua obra, no sentido de Krauss, como um todo, partiu também da
necessidade de cruzar o seu cinema com a prática, o contexto histórico e social marcado pelas
correntes estéticas da época, por redes de convivência dos cineastas ou dos antropólogos que
fazem filmes, e pelos seus percursos biográficos. Ao escolher trabalhar sobre um cinema de
autor ou então especificamente etnográfico optei por excluir, para além do cinema amador ou
feito por estrangeiros sobre Portugal, aquele que mantinha alguma continuidade ideológica
com o tempo anterior ao Cinema Novo, as “actualidades”6 e também o cinema posterior a
6
Pela sua longevidade e periodicidade, os jornais de actualidades cinematográficas são uma das melhores fontes
para a história de Portugal no século XX, em especial para a história do Estado Novo (cf. Piçarra, 2007). Durante a
ditadura, verificou-se uma maior vitalidade do género, tendo surgido então dois jornais de actualidades que se
destacaram pela sua longevidade e pelo facto de terem sido produzidos, directa ou indirectamente, pelo regime.
Foram eles o Jornal Português, (JP), exibido entre 1938 e 1951, e o Imagens de Portugal, entre 1953 e 1970,
dirigidos ambos pelo realizador António Lopes Ribeiro, também ligado à distribuidora SPAC, responsável pela
divulgação destas e de muitas outras produções cinematográficas estatais.
20
1962, mas que vinha na linha da geração formada na década de 1950, dominada pelo
folclorismo, pelos restos da “comédia portuguesa”, ou pelo nacional-cançonetismo. De fora
ficaram também os documentários de propaganda política marcelista, os filmes turísticopromocionais (como Algarve, de Faria de Almeida, 1972), os institucionais e didácticopromocionais, etc.7 O cinema que me interessa tratar aqui é o que foi visto e se viu a si mesmo
como de contra-corrente, de uma esquerda que se anunciava, embora não deixando de criar
cumplicidades com o regime.
De qualquer modo, quase todo o cinema com uma vertente documental, em Portugal,
entre os anos 60 e os anos 80 trata predominantemente da cultura popular. E cultura popular é
sinónimo de ruralidade, com pequenas excepções de escassos filmes que tratam a camada
popular urbana, como é o caso de Belarmino (1964), de Fernando Lopes, de alguns dos filmes,
que decidi excluir, de temática sociológica realizados durante o 25 de Abril, como o filme
Direito à Habitação (1975), de Fernando Matos Silva8. Ao trabalhar sobre a cultura popular, e
em especial a ruralidade, não pude excluir um conjunto de películas que trata da vida dos
pescadores, em especial Mudar de Vida (1966), de Paulo Rocha e, de António Campos, A
Almadraba Atuneira (1961) e Gente da Praia da Vieira (1975). Como veremos no capítulo 3, a
partir dos anos 30, e atravessando toda a história do cinema português, há uma veia bem
identificável de filmes que tratam comunidades piscatórias – por exemplo, do início dessa
década, Nazaré, Praia de Pescadores e Maria do Mar, de Leitão de Barros, e mais tarde, dos
anos 40, Alla Arriba. Em ruptura com este olhar, podemos dizer que foi muito importante o
filme de tendência neo-realista Nazaré (1952), de Manuel Guimarães, assim como o referido
Almadraba Atuneira, de António Campos, abordagens estas que vão culminar com o filme
Mudar de Vida, uma ficção de Paulo Rocha. Trata-se de um conjunto de filmes que destaca,
especialmente, a dependência do mar e uma forma de vida quase de subsistência, em cujo
interior o “aleatório” e as situações de infortúnio geradas pela natureza marcam toda a imagem
do universo dos pescadores, como de resto tem sido estudado, embora não para o caso do
cinema, por Francisco Oneto (1999).
7
Nesta mesma linha propagandística, ficaram obviamente excluídos assuntos relativos às colónias, e toda uma
série de material de arquivo de um cinema etnográfico feito em África, como seja o espólio da Diamang, e que
seria de grande interesse trabalhar. Enquanto nos anos 1960 e 70 se filmava em Portugal um país rural e
atemporal, o cinema que vinha de África tratava o progresso e a modernidade, servindo muitas vezes de apelo
para a emigração dos colonos.
8
Este filme trata o SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, um serviço do Estado que foi criado no pós- 25 de
Abril com o intuito de dar apoio às populações que se encontravam alojadas em situações precárias, um serviço
descentralizado que, através do suporte projectual e técnico dado pelas brigadas de arquitectos que actuavam nos
bairros degradados, foi construindo novas casas e novas infrastruturas.
21
Como referi anteriormente, excluí o cinema que trata o urbano, embora sejam
importantes alguns filmes que cruzam as duas realidades, filmes que usam a cidade para falar
do campo e vice-versa, como Nós Por Cá Todos Bem (1976), em que Fernando Lopes, partindo
do percurso de vida da sua própria mãe, faz contrastar a vida no campo e na cidade. Este
realizador, que não incluí na tese, fez um trabalho importante não só porque pertenceu, como
veremos, ao Cinema Novo, tal como Paulo Rocha, António Pedro Vasconcelos ou Seixas Santos,
mas também porque filmou a partir do contraste entre os dois mundos. Por isso, será
considerado este seu filme de 1976, mas não a totalidade da sua obra.9
Apesar do que foi dito, mesmo quando trabalho sobre o cinema de ficção, privilegio a
intenção documental e realista, estabelecendo ligações entre o olhar cinematográfico e o
terreno teórico da Antropologia, na forma como esta também seleccionou, objectificou, recriou
e construiu uma imagem do mundo rural português. João Leal (2008) refere essa relação entre
a imagem (desenho etnográfico, fotografia e filme) e a etnografia portuguesa a partir do modo
como, para o período que vai de 1870 a 1970, se puderam estabelecer diferentes fases por que
passou a história da Antropologia portuguesa, correspondendo a formas diferenciadas de
conceber o seu objecto e portanto distintas maneiras de trabalhar com a imagem. A última fase
de desenvolvimento da Antropologia que refere, dominada pela figura de Jorge Dias, vai da
década de 1930 a 1970. Será justamente este período que vamos trabalhar aqui, relacionandoo, em especial, com a forma como, nesta altura, se concebia a relação entre a cultura popular e
a identidade nacional (Leal, 2000). Em especial para o estudo que faço referente ao filme
etnográfico produzido pela equipa do Museu de Etnologia, é importante perceber o modo
como o uso das imagens foi marcado por concepções teóricas e metodológicas da própria
disciplina académica, e pela forma como o objecto da Antropologia é visto, com o triunfo, neste
período, de uma visão ampla e diversificada do mesmo, em se incluíam as tecnologias
tradicionais, os modos de organização económica e social, etc. (Leal, 2008a: 118).
9
O universo do cinema português é eminentemente masculino, para o período em análise. As principais
protagonistas de um cinema sobre a ruralidade neste período foram Solveig Nordlung (n. 1943), em especial nos
filmes revolucionários, participando no colectivo A Lei da Terra (1977), e realizando A Luta do Povo, Assim Começa
uma Cooperativa (1976), Monique Rutler (n. 1941), também montadora de muitos dos filmes aqui tratados e
Teresa Olga (n. 1939) que realizou para a RTP, entre 1978 e 1980 a série, cuja análise seria de grande interesse
pelo impacte que teve na construção de um imaginário sobre o país, Memória de Um Povo. Falaremos em
capítulos próximos de Margarida Cordeiro (n. 1938), que colabora com António Reis, e de Noémia Delgado (n.
1933), cujo filme Máscaras sobre as festas do Nordeste transmontano do ciclo de Inverno entra na nossa categoria
de etnográfico. Para uma listagem completa com biografia e filmografia de mulheres realizadoras em Portugal, em
especial aquelas que se dedicaram à ficção, ver http://www.mulheres-ps20.ipp.pt/Realizadoras_Txts.htm. A
melhor base de dados sobre cinema português com entradas por filme e por realizador encontra-se, no entanto,
em http://www.amordeperdicao.pt.
22
Ainda relativamente aos critérios para a elaboração da listagem de filmes a trabalhar,
punha-se a questão, para alguns deles, de serem considerados, pelo menos à época, amadores,
fosse pelo formato, o 8mm ou o super 8, fosse pela sua circulação, feita em pequenos
cineclubes e festivais associados ao género. Apesar de existir um movimento de amadorismo
com festivais próprios e uma identidade à parte, por razões que explicitarei caso a caso, tratarei
aqui de cineastas que, em geral, trabalharam com os formatos profissionais e semiprofissionais,
em especial o 16 mm, embora possam ter começado o seu percurso pelo uso de formatos
amadores. De fora ficou um conjunto de filmes não profissionais, feitos essencialmente por
uma certa elite intelectual que, na década de 70, procurava no cinema uma forma de fazer
etnografia local (tal foi o caso do Cineclube do Porto, e de Auto da Floripes, 1959). No entanto,
alguns amadores, ou que eram assim classificados, como Campos, importam aqui, pois fizeram
uma espécie de etnografia alternativa, construída de fora, cujo impacte foi avaliado pelo
antropólogo Paulo Raposo (1998) para o caso do teatro popular, e que tentarei avaliar também
para o caso deste cinema. Mesmo o cinema etnográfico de Veiga de Oliveira e Benjamim
Pereira, que pouco ou nada se viu para lá dos circuitos académicos e museológicos, foi então
considerado, pelos próprios, amador, tendo sido executado com uma câmara 16 mm comprada
a pedido de Margot Dias para as missões em África, nomeadamente o trabalho entre os
macondes de Moçambique.
O critério de tratar o cinema profissional em vez do amador parecia inicialmente estar
incompatibilizado com o de me ocupar de uma produção com pouca visibilidade – etnográfica
ou científica –, que se contrapunha ao cinema comercial. Aqui, mais uma vez, existem zonas
híbridas que obrigam a explicitar as razões das opções tomadas. Decidi escolher o cinema mais
visível, mais iconográfico, e que me parece mais significativo do ponto de vista da construção
de uma imagem do país, de um trabalho de tematização e de emblematização da cultura
popular. Esta escolha teve em conta, também, a visibilidade destes filmes, ou seja, o facto de a
partir deles se ter construído todo um discurso histórico ou de crítica cinematográfica,
independentemente do público que a eles assistiu. Por outro lado, considerei a sua influência
na forma como se elaboraram e reelaboraram, a partir dele, discursos legítimos sobre o povo e
o país. Colocou-se-me igualmente desde logo o problema, de que falarei à frente em termos
mais teóricos, de enquadrar este conjunto numa suposta cinematografia nacional, ou seja, uma
cinematografia institucionalmente e academicamente aceite como representativa daquilo a
que se chamou cinema português, um cinema que criou a sua identidade, que foi
selectivamente valorizado ou desvalorizado consoante as épocas e a origem dos discursos, que
teve e tem os seus apoios institucionais, e, finalmente, que é associado a um conjunto
recorrente de nomes referidos por historiadores, críticos, realizadores, destacando-se, sem
23
dúvida, como pai fundador, Manoel de Oliveira. Em síntese, seguiu-se assim o critério, à
excepção do filme etnográfico, com um carácter arquivístico e de registo, e que toca por vezes
aquilo a que chamei o amadorismo, de trabalhar o cinema profissional.
Outra questão que se colocava, já referida, foi a de fazer uma escolha entre estudar o
cinema português feito a partir do país ou então o que tratasse Portugal mas que incluísse
realizadores de outras nacionalidades. Ao optar pelo cinema feito a partir de Portugal e pelo
contexto específico em que este nasce, deixei de fora filmes de alguns realizadores estrangeiros
feitos no país, como é o caso dos trabalhos de Thomas Harlam, Robert Kramer e, em especial,
Philippe Costantini, realizador de Terras de Abril, cujos trabalhos remetem para o universo que
me interessa aqui. Esta opção relaciona-se com a dificuldade de, se incluídos estes realizadores
e filmes, se proceder aqui à sua contextualização em escolas de cinema de países tão diversos
como os EUA, a Suécia, a França ou o Brasil, onde movimentos de documentário com uma
grande especificidade nacional tiveram um peso significativo. Por outro lado, trata-se de filmes
com um carácter muito diferente dos da cinematografia nacional, incorporando som, muitas
vezes o discurso em directo, com filmagens de situações a partir de uma postura observacional,
sem aspectos centrais do cinema português, como, por exemplo, o modo particular como se
grava e regista os discursos a partir de textos, ou a questão da teatralização, a atemporalidade,
a dimensão onírica e poética, etc.10
Pôs-se, como é evidente, muitas vezes, o problema dos filmes realizados para a
televisão. Apesar de ter visionado aqueles feitos pelos autores principais deste estudo, como
João César Monteiro, excluí, para além da já referida, séries televisivas de ficção de realizadores
como José Fonseca e Costa (Ivone A Faz Tudo, 1979). No fundo, estes critérios, com todas as
subjectividades inerentes a um trabalho de campo no arquivo de filmes, foram-se desenhando
à medida que a pesquisa avançava, e a necessidade de trabalhar mais profundamente alguns
autores, como Oliveira ou Campos, excluíam a opção de fazer um trabalho mais extenso e
completo a partir da cinematografia da época. De salientar, por outro lado, que o trabalho de
recolha de informação e cronologia do cinema nacional está feito de forma excelente por
Matos Cruz (1990), que a isto dedicou parte da sua vida de investigador da história e do
inventário do cinema português.
10
Para o caso de Costantini ver a entrevista que efectuei (Leal et al, 1993). Sobre os realizadores e fotógrafos que
retrataram o país no período revolucionário, o filme Outro País (1999, produção RTP e SP Filmes), de Sérgio
Trefaut, inclui o testemunho de, entre outros, Sebastião Salgado, Dominique Isserman, Robert Kramer e Glauber
Rocha. O filme, usando um enorme manancial de arquivos, faz uma abordagem ao universo que procuravam os
fotógrafos e realizadores que filmavam o país.
24
Ainda a propósito dos critérios e da definição do corpus a trabalhar, e para dar um
exemplo de um estudo semelhante, mas relativo à realidade francesa, Christian Bosseno, que
organizou em 1981 o dossier Cinémas Paysans na revista CinémAction, define para a sua análise
do cinema francês rural de longa metragem alguns critérios de escolha do tipo de filmes a
trabalhar, decidindo excluir o cinema pedagógico, o tecnológico, que trata temas
extremamente precisos e técnicos, e finalmente o cinema geográfico-folclórico, definido por
uma câmara que sublinha o pitoresco do mundo rural (Bosseno, 1975: 46). De fora para ele fica
também o cinema agrícola oficial, de vulgarização das grandes linhas da política agrária
francesa, o cinema de sensibilização e de informação, ou seja, de apresentação para um público
alargado de problemas ligados à crise agrícola, e finalmente, o autor acaba por excluir ainda, o
cinema militante revolucionário, por em seu entendimento este não se compadecer com a
descrição, sobrepondo-lhe sempre uma mundividência fixa e com ideias exteriores ao contexto
retratado. Em França, para além da produção mainstream de ficção, ou documentário de autor,
existe um enorme manancial de curtas metragens, excluídas pelo autor, que tratam a temática
rural, nomeadamente, em 1975, cerca de 600 títulos de filme agrícola, financiado pelo
Ministério da Agricultura francês ou pelo CNRS, filmes que, curiosamente, muitas vezes não
indicam sequer um nome de realizador. Na realidade, constato que o conjunto de autores com
quem dialogo nesta tese, vindos das áreas dos estudos cinematográficos e da crítica, e que
trabalham especificamente sobre cinema e ruralidade, sobretudo no caso francês, utilizam
como base das suas reflexões o chamado cinema de longa-metragem, de ficção e
entretenimento, ou o documentário criativo, e excluem, ao contrário do que faço aqui, o filme
etnográfico, um cinema considerado de constat ethnologique, ou seja um cinema que, em
geral, se considera que apenas regista e constata a existência do mundo rural empírico.
Christian Bosseno refere, no entanto, a excepção do trabalho de realizadores como Jean
Dominique Lajoux e Jean Arlaud,11 em que “a realidade social e os problemas reais do povo não
foram postos de lado” (Bosseno, 1975: 14). Julgo que por aqui talvez fique mais evidente que a
escolha do material empírico tem que ver essencialmente com as necessidades e a economia
da narrativa da tese, mais do que com as características intrínsecas dos objectos fílmicos.
11
Para uma síntese sobre a especificidade do filme etnográfico francês de carácter rural, e especialmente o
importante trabalho de Jean-Dominique Lajoux, etnólogo, dedicado ao estudo e registo do mundo rural, ou de
Jean Arlaud, e os arquivos do CNRS e S.E.R.D.D.A.V. ver o artigo “Cinéma et Recherche: des contributions du
SERDDAV”, em CinémAction, Cinémas Paysans. Dossier reunido por Christian Bosséno, 1981 a, Paris: Cerf nº 16,
113- 150.
25
Modalidades cinematográficas: o etnográfico, poético, político
Partindo destes critérios e de um conjunto limitado de filmes quero começar por delinear três
grandes modalidades cinematográficas, categorias flexíveis, cuja fronteira é plástica (ver anexo
1), mas que acredito nos permitem falar das intencionalidades inerentes às diferentes atitudes
no acto de filmar o povo. A primeira, é marcada por um olhar etnográfico e refere-se a filmes
que ou se cruzam directamente com a Antropologia enquanto campo disciplinar, ou então
operam como derivações da produção antropológica, aquilo a que se tem chamado “etnografia
espontânea” (cf. Brito e Leal, 2003). Esta é a modalidade que acabará por ser mais desenvolvida
na tese. Trata-se de películas marcadas pela atitude do registo, de uma urgência dele e,
retomando a expressão de Bosseno, de constatação, em que a cinematografia se cola à ideia de
observação não mediada do real. Neste grupo incluí, antes de mais, filmes feitos por
antropólogos, com destaque para a equipa de Jorge Dias, única no panorama nacional. A este
chamarei “filme etnográfico de arquivo”. São 23 filmes realizados por Benjamim Pereira (que
operava a câmara) e Ernesto Veiga de Oliveira entre 1960 e 1980. Deste conjunto foram feitos
14 pequenos filmes em 1970 em colaboração com o Instituto do Filme Científico de Göttingen,
cobrindo o território português de Trás-os-Montes e Barroso à Serra Minhota, ao Litoral
Minhoto, Beira e Alentejo. Todos tratam da cultura popular e são centrados na sua
materialidade, nomeadamente nas tecnologias tradicionais (malhas, debulhas, apanha de
sargaço, pastoreio, lavras) ou no ciclo do linho e engenhos (de serração, do linho, teares,
azenhas, moinhos), na cultura material (cestaria, olaria) e no ritual (danças, festas). Estes filmes
têm características próprias. Por um lado, dependem de um contexto que é fornecido pelas
colecções museológicas, ou seja, eram concebidos mais como técnica de registo do que como
um meio com expressão própria. Por outro lado, ligam-se a uma urgência de filmar o mundo
rural português que desaparecia. Para entender este uso das imagens, é necessário olhar as
ambições interpretativas do projecto antropológico que os enquadrava, que passava pela
constituição de tipologias e pelo estabelecimento da origem étnica dos diferentes elementos
da cultura popular portuguesa.
Nesta modalidade incluí também, embora tenham um carácter diferente, as incursões
feitas por cineastas no domínio do popular em termos documentais. 12 A este grupo chamarei
12
Estes filmes com um olhar etnográfico formam um corpus feito essencialmente de documentários, embora com
cruzamentos interessantes com a ficção. Em Pedro Só (1972) uma ficção de Alfredo Tropa, o herói vagabundo do
filme circula por uma paisagem rural como que fugindo de si próprio, encontrando-se de repente no interior de
uma aldeia onde assistimos à festa religiosa que é filmada de forma realista, não encenada, no seu detalhe
etnográfico.
26
cinema documental de vocação etnográfica. Antes de mais, o caso paradigmático de António
Campos, com Vilarinho das Furnas (1969) e Falamos de Rio de Onor (1974), directamente
influenciados pelas obras de Jorge Dias, ou do já referido Máscaras (1974) de Noémia Delgado,
baseado no livro de Benjamim Pereira e com música recolhida por Michel Giacometti. Mas
também, por exemplo, o filme de Manuel Costa e Silva, importante director de fotografia e
episódico realizador, Festa Trabalho e Pão em Grijó de Parada (1973), em que a colagem à
produção escrita dos etnólogos portuguese não é tão óbvia, cruzando territórios mais poéticos
e oníricos.
Neste filme, logo na abertura, surge o título sobre uma paisagem rural de campos de
oliveiras, e um caminho de terra a perder de vista. Em off, ouvimos uma voz de narrador que
diz, “Os montes de Trás-os-Montes, uma estrada, um sulco de pó e pedra, que nos leva a Grijó
de Parada, aldeia protegida pelos montes de Trás-os-Montes... Espanha”. Este início remete
para o carácter de isolamento do cenário, isolamento não só cultural, como geográfico,
situando ironicamente o narrador o filme que retrata uma realidade portuguesa em Espanha. A
categoria de etnográfico sai do território académico e museológico e é usada pelos críticos da
época, como Jorge Leitão Ramos, que refere que este é um dos primeiros olhares que “procura
ter uma atenção, digamos, etnográfica, e ao mesmo tempo, uma respiração cuturalmente
solídária com a realidade que filma”, enquadrando o filme num cinema português com uma
“presença forte do povo, arredio da pequena burguesia lisboeta” (Ramos, 1989: 156). O filme
alterna as imagens da festa e a presença dos caretos, filmadas com uma película a cores, com
imagens a preto e branco do ciclo do pão e da natureza, que remetem para a ideia de
permanência e de ligação à natureza e à sobrevivência.
A segunda grande modalidade a tratar aqui, marcada por uma intencionalidade mais
onírica e estética, refere-se àquilo a que chamarei o “cinema poético” ou da “imaginação
etnográfica”, e é caracterizado, antes de mais, por encarar o cinema que retrata o povo como
uma viagem nostálgica, que oscila entre uma visão pastoral, uma viagem a um mundo
esquecido, arcaico, romantizado e esteticizado. Mas ao contrário da vaga revolucionária ou de
certos documentários de registo etnográfico, que trabalham a partir da ideia do momento
presente, do aqui e agora, este cinema acaba por representar o mundo rural num passado
construído cinematograficamente, para o que contribui grandemente a forma como se filma a
terra, a paisagem, a relação das pessoas com esta, assim como o acento no uso de
determinados objectos e construções que materializam a ruralidade como modo de vida, como
testemunhos do passado. O olhar etnográfico partilha, quando virado para a ideia do arquivo,
em certa medida, desta característica.
27
Para entender o olhar poético é importante o cinema de António Reis e Margarida
Cordeiro, especialmente Jaime e Trás-os-Montes, de 1976, um filme que tomamos como
estudo de caso desta representação da ruralidade em que se mostra um povo “guardião de
tradições e de utopia, e hipótese de redenção do citadino” (Nunes, 2003: 303), mas também
João César Monteiro, realizador que muito contribuiu para a criação da ideia de um mundo
rural associado à estética medieval, por exemplo na espécie de best-of da ruralidade que é o
seu magnífico Veredas (1977). Neste filme misturam-se e des-hierarquizam-se uma série de
registos, misturando e baralhando o popular e o erudito. Interessa perceber aqui, por um lado,
um universo autoral, que assume ainda mais o seu carácter em Silvestre (1982), mas, por outro
lado, olhar as recorrências e principalmente os elementos do popular (a máscara do
chocalheiro, a flauta do pastor, a música tradicional, a fala em mirandês) que são depois
retiradas do seu contexto e passam a ser elementos híbridos. Neste processo de re-colocação
dos elementos fragmentados retirados da cultura popular, o filme cria um universo diegético,
conceito que em cinema se usa para designar algo que ocorre dentro da ação narrativa ficcional
do próprio filme.13 Falamos aqui de um recurso que dá um novo sentido a estes elementos que
fragmentam a ideia de povo, reconstituindo um universo próprio e coeso. Os objectos ou as
construções tradicionais, como a eira ou o espigueiro, desligados do seu funcionalismo
tecnológico, fornecem o cenário para novas e inusitadas acções por parte dos actores.
Trato, assim, neste terceiro grupo, de filmes de ficção, ou na fronteira da ficção com o
documentário, em que a matéria do popular se impõe como referência do que é nacional,
especialmente a partir do filme chave que é Os Verdes Anos, de Paulo Rocha (1963), marcador
do surgimento do Cinema Novo, movimento que promove a ideia de que o cinema português
deve recuperar um certo terreno de verdade. O Novo Cinema “associou a sua busca de
identidade à questão da identidade nacional, a qual, neste sentido, evitou que se achasse a
identidade noutras ideias, imagens ou sentimentos. Desembocou, assim, numa explícita
reflexão sobre Portugal, mais do que como questão, como mito” (Monteiro, 2004: 68).
Estas modalidades principais relacionam-se ainda com uma outra, que começamos por
denominar de olhar revolucionário, fruto do movimento de urgência e de vontade de registo
13
Diegese é um conceito que diz respeito à dimensão ficcional de uma narrativa, a realidade própria da narrativa
("mundo ficcional", "vida fictícia"), à parte da realidade externa de quem lê (o chamado "mundo real" ou "vida
real"). O tempo diegético e o espaço diegético são, assim, o tempo e o espaço que decorrem ou existem dentro da
narrativa, e cujas particularidades, limites e coerências são determinadas pelo autor. Existem subtis diferenças
entre termos que circulam com alguma especificidade em línguas diferentes: diegese, récit, plot, story, fábula,
trama, enredo, intriga, história, narração, narrativa. Em especial o termo é usado a partir de Étienne Souriau (ed.),
L'Univers filmique (1953).
(cf. e-dicionário de termos linguísticos, http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/D/diegese.htm)
28
que se criou logo a seguir ao 25 de Abril de 1974, um movimento de dois anos que
revolucionou as formas de produção do cinema português. Trata-se de um momento em que
os realizadores da ficção, contagiados pelos acontecimentos, se voltam para a realidade do
país: casos de As Armas e o Povo, colectivo, Cooperativa Agrícola Torre-Bela, de Luís Galvão
Telles, Deus Pátria e Autoridade, de Rui Simões, Ocupação de Terras da Beira Baixa, de António
Macedo, todos de 1975. Mas surgem também outros realizadores, que ainda não tinham
construído uma obra e que haviam trabalhado como técnicos do cinema. No filme de Luís
Gaspar, feito em 1974, Deolinda da Seara Vermelha, em homenagem a uma camponesa,
regista-se a criação da primeira união cooperativa do campo com comercialização, a união
cooperativa Seara Vermelha. Logo no início, Deolinda fala para a câmara: “eu chamo-me
Deolinda, moro em Alvalade, trabalho na empresa de concentrados de tomate, vivo com o meu
pai, já não tenho mãe há 16 anos, e tenho um irmão mais novo que eu, sou solteira.” O
discurso directo, a relação com o trabalho, com as suas dificuldades e problemas do quotidiano,
são a força motriz destes filmes, cujo olhar é condicionado não tanto pelo aspecto poético, ou
pelo registo etnográfico, mas pela urgência de fazer um cinema que contribuísse para o
processo revolucionário. Da enorme produção que se fez nessa época saliento o filme de 1976,
A Luta do Povo, um filme do Grupo Zero que trata a alfabetização no Alentejo, em Santa
Catarina. Nele os camponeses falam directamente das suas experiências: “eu não aprendi a ler,
andei descalço com tamancos e cheio de fome e então pensei aprender a ler, assim quando for
a qualquer lado, posso pedir uma assinatura qualquer”. Estes filmes, ao contrário dos
anteriores, são marcados por uma polifonia de vozes e discursos que servem de guia à imagem,
neles encontramos sempre a narração em voz-off que veicula claramente um discurso
politizado, montado em paralelo com entrevistas que confirmam, dando voz ao povo, o que é
dito pela locução. O historiador do cinema brasileiro Jean Claude Bernardet, a propósito do
filme Viramundo, trata o modelo sociológico e político de documentário, referindo que este é
marcado por vozes múltiplas (o entrevistado, o entrevistador e a voz off com narração), por
registos diferenciados que correspondem a níveis de leitura diferentes. Os personagens
entrevistados, diz, são a voz da experiência, “falam só de suas vivências, nunca generalizam,
nunca tiram conclusões”, enquanto que o locutor “fala espontaneamente e nunca de si, mas
dos outros”, não apenas dos entrevistados, mas daquilo que eles representam, “é a voz do
saber, de um saber generalizante que não encontra a sua origem na experiência, mas no estudo
de tipo sociológico [...] ele diz dos entrevistados coisas que eles não sabem a seu próprio
respeito” (Bernardet, 2003: 17). Este é o grupo de filmes que, de certo modo, mais se afasta
daquilo que julgamos serem as incursões dos cineastas no território da etnografia, marcados
que estão por um texto, que é lido em off por um locutor. As pistas aqui levantadas serão
29
desenvolvidas na tese, por serem reveladoras de intencionalidades que determinam o
resultado final, aquilo que vemos projectado, o que parece estar também ligado, como
veremos, a concepções acerca das audiências às quais se dirigiam os filmes em questão.
Metodologia
Passo agora dos critérios de escolha e de uma primeira especificação e classificação do corpus
que estou aqui a trabalhar, para a metodologia usada. No início procedi ao visionamento
aberto, desprendido e curioso dos filmes, na sala escura do Arquivo Nacional de Imagem em
Movimento (ANIM), organismo dependente da Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema,
que me deu acesso a todos os filmes ali arquivados, cedendo-me inclusive uma sala individual
em que estes podiam ser vistos no seu formato original, em película, com a possibilidade de, a
cada momento, parar a bobine e tirar notas. Estes visionamentos foram sendo acompanhados
de um registo ao estilo de um diário das impressões provocadas pelo visionamento, por um
lado, e de notas mais descritivas, por outro: o texto, um diálogo, uma paisagem, um plano ou
um movimento de câmara, um modo de montar uma determinada sequência. Na continuidade
dos visionamentos, saltavam à vista algumas recorrências naquilo que era representado (os
objectos, as figuras humanas, as situações, a paisagem), o que permitia estabelecer
continuidades quer dentro do trabalho de um autor (a importância do moinho nos filmes de
Campos), quer na totalidade dos filmes que tratavam a cultura popular, e em especial a
ruralidade (elementos iconográficos como o espigueiro e o carro de bois, a presença do pão
como alimento, etc.).
O que fazer com a memória destes visionamentos, as notas tomadas? O primeiro passo
foi contextualizar estes filmes, tanto do ponto de vista da sua realização, como da sua recepção
na época em que foram mostrados, em alguns casos partindo dos catálogos de retrospectivas e
mostras dos realizadores, de artigos saídos nas revistas de cinema da época, das biografias dos
autores, dos espólios fotográficos e pessoais doados à cinemateca (em especial no caso de
António Campos e de João César Monteiro), dos catálogos e folhas de sala da Cinemateca e,
quando acessíveis nos arquivos, os textos de voz off e guiões, cruzando assim biografias,
filmografias e textos críticos sobre cada autor. Ismail Xavier, historiador do cinema brasileiro, e
em especial da obra de Glauber Rocha, sintetiza, em minha opinião, o modo como devemos
encarar estes materias escritos que complementam o visionamento dos filmes. Numa nota o
autor explica que tipo de análise faz: não se trata de isolar os filmes e descartar outras
intervenções do cineasta, como as entrevistas, os manifestos e as declarações. Estes são
documentos importantes. No entanto, não detêm aquilo a que chama a verdade da obra. De
30
facto, “confundir a intenção do autor com o sentido efectivo produzido pelas imagens e sons é
cair na ‘falácia intencional’ para usar a expressão do crítico norte–americano William K.
Wimsatt. A tarefa da crítica muitas vezes envolve o gesto fundamental de apontar a diferença
entre o projecto, a intenção e a realização, pois é a obra que cria o autor, e não o contrário”
(Xavier, 2007: 9). Assim, resume:
Cada filme define um modo particular de organizar a experiência em discurso, sendo um
produto de múltiplas determinações. São redutoras as análises que reconhecem no
filme apenas aquilo que está na ideologia formulada nos manifestos e nas entrevistas
do autor. E o mesmo é dito das análises que, partindo do filme, saltam com certa pressa
de um resumo do enredo para a caracterização da mensagem da obra ou da ideologia
do autor. Fala-se de associação mecânica, que não leva em conta as mediações do
processo de representação. Ou seja, o modo pelo qual se conta a história, os meios à
disposição do autor, as limitações impostas pelo veículo usado, as convenções de
linguagem aceites ou recusadas, a inscrição ou não em determinado género (Xavier,
2007: 16).
Interessa portanto sobretudo perceber como se fazem estas mediações do processo de
representação. Para isso, a minha reflexão sobre os filmes parte da Antropologia, e a base da
metodologia usada é a observação de conteúdos. No entanto esta observação, que sabemos
ser sempre vinda de um determinado ponto de vista (Hastrup, 1995: 4), não parte do presente
etnográfico, do “aqui e agora”, mas sim de um mundo que é mediado e diferido, cuja
observação é passível de ser repetida as vezes que se quiser. Assim, tinha por um lado essa
etnografia do filme, e por outro lado a linguagem cinematográfica que manipula essa base
empírica, e que me fez, numa outra fase da pesquisa, decidir entrevistar e falar com os alguns
dos realizadores, mais do que optar por uma análise fílmica formalista. O procedimento
metodológico acabou por ser o da análise crítica, da desconstrução, no sentido empregue por
Jacques Derrida14 de uma análise que questione operações e as oposições binárias e processos
que tendam a ocultar o trabalho envolvido na sua construção social, tais como a naturalização,
o essencialimso, a universalização.
Em todo o caso, e para certas situações em análise, como era o caso dos filmes do
arquivo do Centro de Estudos de Etnologia, precisei de realizar conversas com os seus
protagonistas. Entre 29 de Março e 6 de Abril de 2007 fiz entrevistas, que foram na realidade
conversas entre dois amigos, a Benjamim Pereira, na sua casa de Montedor, no Minho. A
necessidade de realizar estas entrevistas deveu-se ao facto de se tratar de um cinema que não
14
cf. “desconstrução” em Vocabulário crítico de Silva, 2000: 36.
31
podia ser lido por si só, enquanto obra artística, de pelo seu carácter necessitar de uma maior
contextualização. Visionámos em conjunto todos os filmes feitos por ele nos anos 1970 e 1980
no âmbito do trabalho com a equipa de Jorge Dias e Ernesto Veiga de Oliveira. Estas conversas
tiveram um primeiro objectivo de contextualização, datação, identificação de lugares e
personagens, e um segundo objectivo, mais reflexivo, tratava as intenções, as técnicas usadas e
a utilização futura destes filmes. Sempre que possível, recorremos aos catálogos de exposições
feitas pelo Museu de Etnologia, assim como a textos produzidos por esta equipa, para assim
podermos identificar elementos de carácter etnográfico e registos fotográficos que ajudaram a
perceber a relação entre os diversos elementos de que resultavam estas incursões ao terreno.
Com o tempo, no entanto, elas revelaram-se de grande importância para aceder aos
discursos feitos à posteriori a partir dos filmes, permitindo perceber as limitações reais, quer
técnicas quer metodológicas e teóricas da abordagem deste grupo de etnólogos que usava,
antes de mais, a película no sentido da construção de um arquivo científico. Reforço esta ideia
com a de que estes filmes sofrem de uma lacuna essencial: não podem ser vistos fora de um
contexto de produção de materiais que os explicam. Mais tarde, entre Setembro e Dezembro
de 2008, fiz um conjunto de entrevistas extensas aos intervenientes fundamentais de um
corpus de filmes já visionado, os de António Campos, realizador já falecido. Este trabalho foi
feito no âmbito do filme que realizei durante o tempo de escrita desta tese, Falamos de
António Campos, em 2009, produzido pela Midas Filmes para a RTP, e que me permitiu,
durante seis meses, mergulhar a fundo na tentativa de fazer um retrato do realizador, da sua
vida e do seu cinema. Estas entrevistas extensas aos amigos e companheiros de teatro amador
do realizador de Leiria, aos técnicos que com ele trabalharam, como Alexandre Gonçalves no
som e Acácio de Almeida na fotografia, aos críticos que discutem questões do seu cinema, em
especial José Manuel Costa e Augusto Seabra, ao realizador Paulo Rocha que dá todo um
contexto da época, bem como a outros, permitiram completar informações e dados mas,
principalmente, desenvolver um questionamento crítico dos filmes, a partir do seu contexto de
produção. As longas conversas com Paulo Rocha acabaram por me fornecer de dentro as
impressões subjectivas e recriadas pela memória dos anos vividos na época do novo cinema
português.
A experiência de ter realizado este filme anexo à tese, e que encarei como parte do
processo de reflexão que desenvolvo aqui, colocou-me perante novas e inusitadas questões
sobre a forma como no meu trabalho recriei uma narrativa de história de vida e de abordagem
ao real do realizador que sempre tinha considerado como o pai do filme etnográfico português.
O processo de pesquisa, elaboração do guião, rodagem e montagem deste filme permitiu-me
32
aceder de uma forma metodologicamente distinta a esta temática: ao trabalhar eu própria com
o filme como ferramenta, desenvolvi uma outra linguagem para falar do tema, o que explica o
facto do capítulo sobre António Campos diferir, assumidamente, dos capítulos sobre outros
realizadores.
Mas a questão que se colocava, nos visisonamentos do ANIM, era sobretudo a de
procurar ferramentas interpretativas que permitissem analisar estes materiais, o que implicava
clarificar o enquadramento teórico e tentar definir alguns conceitos operatórios. Nas leituras e
pesquisa bibliográfica, começou a desenhar-se para mim aquilo que poderia dar alguma
sustentabilidade teórica às notas, impressões e memórias dos visionamentos dos filmes.
Tomando o conjunto de materiais já explicitado, parti de algumas interrogações iniciais: como
trabalhar a partir de cinema, como tratar as questões da estética e da linguagem; que
ferramentas usar, que representações do mundo permitem estes filmes discernir; como
adaptar a metodologia e o tratamento teórico a materiais que são antes de mais
representações feitas a partir de imagens e sons, utilizando uma linguagem cinematográfica
que balança, nos dois extremos, entre uma preocupação mais objectiva, como é o caso dos
filmes etnográficos realizados por Benjamim Pereira e Ernesto Veiga de Oliveira, e por outro
lado, filmes que são elaborados como ensaios poéticos, ficcionados, como é o caso de Veredas,
de João César Monteiro, ou de Trás-os-Montes, de António Reis e Margarida Cordeiro? Por
outro lado, como fazer para não deixar escapar a especificidade da obra de cada autor, e de
cada filme? Como afirma Ismael Xavier,
A tendência à descrição topológica, onde se definem puras recorrências e seus lugares,
deixa a leitura a meio caminho. Compara-se os filmes no conjunto e opera-se uma
decomposição que encaixa a todos num único engradado, perdendo-se a possibilidade
de reconstruir a dinâmica de cada filme na sua particularidade. Tornam-se invisíveis as
transformações que marcam o trajecto do autor ao longo dos anos e faz-se um discurso
por demais genérico sobre a presença de referenciais históricos e míticos, que acabam
por “flutuar” nos filmes. Não há uma tentativa de precisar melhor como o movimento
interno de cada filme define critérios e valores que orientam a incorporação destes
elementos da história, da cultura popular e do mito. Estão lá como objecto de
representação, ou estão lá para definir a própria perspectiva que preside o discurso
sobre o mundo e a sociedade? (Xavier, 2007: 26).
Procurando pistas que ajudassem a resolver este problema de ver, interpretar e
trabalhar estes materiais, parti de abordagens teóricas vindas de territórios disciplinares
diferentes (antropologia, film studies, crítica cinematográfica, história do cinema). Como temos
estado a verificar, o objecto desta tese são os discursos e as retóricas visuais e sonoras que
33
geram repreentações do mundo. Mas que estatuto desempenha o próprio discurso? Era
preciso problematizar as ideias de autor e perceber as práticas discursivas como textualização,
como representação, sem perder de vista a especificidade do acto cinematográfico como acto
criativo e ao mesmo tempo como gerador de uma autoridade sobre o mundo. A legitimidade
do discurso cinematográfico só pode ser entendida dentro de um sistema de pensamento e
uma linguagem comuns, que operam com base na “reprodução mecânica” definida por Walter
Benjamim. Parto assim de dois grades núcleos teóricos. Primeiro, o da Antropologia, em
estudos sobre a representação da cultura e em particular da cultura popular. Dentro desta,
valorizei a História da Antropologia portuguesa que trata quer a cultura popular, quer a
identidade nacional, partindo de três conceitos principais: objectificação, a pastoral, e as
noções de tempo estudadas por Fabian. Segundo, a Antropologia Visual e os estudos ligados ao
cinema, tendo em conta a especificidade do trabalho com a imagem (o conceito de
representação), em especial no que toca a análises do cinema de temática rural.
Cultura popular e identidade nacional
Antes de mais, parti da própria Antropologia, com um conjunto significativo de contribuições
que, não trabalhando a partir do cinema mas antes da literatura, da performance ou dos usos
da cultura popular, ajudam a pensar a possibilidade de interpretação dos conteúdos dos filmes.
Essas contribuições proporcionaram uma base teórica formulada a partir de estudos de caso
que ajudam a entender a construção da identidade cultural (local, regional, ou nacional) e que
trabalham sobre as questões da objectificação (cf. Handler, 1988), tematização e apropriação
da cultura popular e suas representações. Estas ideias, tal como foi referido no início deste
capítulo, podem ligar-se com as da construção e definição da essencialidade da ideia de nação
(cf. Stocking, 1982), para a qual contribuiram os conceitos de tradições, usos e costumes
populares, e o interesse de círculos intelectuais em torno da redescoberta da cultura popular, já
identificada e abordada para o caso português (Leal 2000, Pina-Cabral, 1991).
Ao trabalhar o cinema como processo de fixação, no sentido mais literal da palavra, da
cultura popular, pode estabelecer-se uma relação entre esse processo e a produção de uma
ideia de identidade nacional, e por esta via identificar-se alguns protagonistas e as redes em
que estes actuam, assim como as constantes discursivas presente neste processo. Como já
referiu João Pina-Cabral, “a produção e reprodução de uma identidade nacional no contexto de
34
uma hegemonia burguesa parece ter dependido da constante reformulação da noção de
“povo” no seio da qual se deveria encontrar a ‘verdadeira’ identidade nacional” (1991: 15). Por
outro lado, neste processo de fixação e de trabalho sobre a cultura, o cinema vai produzindo
textualizações. Identificar as contaminações entre a história da Antropologia portuguesa e a
história mesma do Cinema pode ser extremamente útil para perceber como existe, entre as
elites, uma visão do povo rural que incorpora elementos comuns, e da qual o cinema e a
etnologia são expressões justapostas. De facto, muito do que foi fixado como tradição e
reinventado pelo cinema assentava em visões vindas do seio da etnologia.
O próprio conceito de tradição é uma construção cultural, portanto inventada num
certo período e sob certas circunstâncias (cf. Hobsbawn e Ranger, 1983): o apetite
contemporâneo pelo conhecimento do passado, esse país estrangeiro da metáfora usada no
título do livro de Lowenthal (1985) é acompanhado por um nostálgico sentimento de
continuidade histórica com as gerações passadas (Frykman e Lofgren, 1987). A maneira como a
vida rural foi filmada, como veremos, por grande parte dos realizadores aqui tratados, remete
para o passado, mas não para um qualquer passado. O passado da estética enunciada pelo
Estado Novo não é o mesmo passado enunciado pela estética do contra-regime, e nesse
sentido parece existir um passado cujo propósito essencial é debater os outros passados (cf.
Appadurai, 1981: 202). Por outro lado, interessa identificar várias ordens de razões para um
culto do povo (cf. Burke 1989), que remontam ao século XIX. Primeiro, razões estéticas, ligadas
à descoberta da cultura popular como parte de um movimento de primitivismo cultural no qual
o antigo, o distante e o popular surgem igualados. Depois, razões intelectuais, ligadas à
valorização do instinto sobre o intelecto, e que andam a par com o enobrecimento da poesia e
da literatura popular. Finalmente, razões políticas que podem estar relacionadas com a
construção moderna do estado-nação ou com a ascensão do nacionalismo.
Para o caso do cinema, podemos identificar uma manipulação do mundo associado a
esta ideia de povo, com a criação de um universo imaginário que releva não só de uma atitude
estética, intelectual e política, mas também, e como veremos melhor, da própria identidade
nascida de um contexto social, histórico e ideológico, neste caso do chamado cinema português
identificado com o movimento do Cinema Novo. Se por um lado sabemos que existiu uma
internacionalização dos cineastas portugueses durante os anos 1960 do sec. XX, por outro
parece haver uma reacção às escolas realistas do documentarismo americano e inglês, ao
cinema candid-eye do Québec, ou à escola do cinema vérité francês, exceptuando,
provavelmente, Fernando Lopes e o seu filme Belarmino e algum cinema revolucionário.
Ao falar de cinema, estamos no âmbito da esfera pública da cultura, e dos seus modos
35
de tematização e fixação. Alguns autores são importantes para pensar esta questão. Richard
Handler (1988) trabalhou sobre nacionalismo e identidade nacional no Quèbec, tratando ideias
sobre a cultura popular e propondo o referido conceito de objectificação da cultura. Para
entender esta ideia de melancolia e de um passado construído iremos voltar a Handler e às
suas reflexões sobre um nacionalismo etno-genealógico que dá importância à cultura popular e
às suas expressões, que foram tematizadas e objectificadas por nacionalistas identificados
como folcloristas. Este conceito de objectificação tem um sentido aqui muito preciso. Para
aquilo que nos interessa, ele tem a ver com o modo como certos traços culturais - uma forma
de dança, de arquitectura popular, um certo modo de vestir -, são transformados em coisas
discretas que devem ser estudadas, classificadas por um objectificador que as descobre e as
retira do seu contexto. Este processo de objectificação envolve a cultura popular, num trabalho
de descontextualização, de desembedment, e de re-contextualização. Tal como na cena em que
a jovem encontra o pastor que transporta ao colo um cordeiro na província transmontana de
Veredas, o produto de partida e de chegada são diferentes, há um trabalho de recomposição,
re-contextualização, o significado desloca-se e muda. No caso do cinema que estudamos aqui,
estes processos de tematização da cultura estão relacionados com a ideia de autenticidade e de
melancolia. O objecto representado remete para a sua primeira vida, uma vida sem retorno,
uma representação de uma certa ideia do país e do seu passado. Michael Herzfeld (1986), que
trabalhou também em torno de ideias sobre objectificação da cultura similares às de Handler,
fala de uma visão literalmente “arqueológica” da cultura popular, transformada em símbolo da
identidade nacional. A objectificação intervém assim sobre certos traços culturais. No caso que
ele estudou, o da poesia grega, encontra-se um “modo melancólico” que envolve dois
processos: descontextualização temporal, - projecção para o passado - e, por outro lado,
congelamento da cultura, em que há qualquer coisa que é imobilizada, conservada. A visão
nostálgica, segundo Herzfeld, implica processos que imobilizam a cultura, isto é, em que o
movimento é negado.15
Deste modo, a expressão cinema nacional ganha nesta nossa pesquisa duas acepções.
Por um lado, a que se refere ao conjunto de filmes produzidos por uma determinada nação e
que evocam a sua identidade ao visualizar e dar voz à nação; e, por outro lado, embora num
sentido mais específico, refere-se aos filmes que, dento desse corpus geral, procuram enunciar
mais explicitamente o nacional através de um determinado imaginário, seja ele iconográfico,
textual, arqueológico, etc. Veja-se, por exemplo, a representação nostálgica dos “lugares
encantados” no cinema escocês enunciada por Annie James (cf. Flower e Helfield, 2006).
15
No anexo 3 faço um resumo, em relação aos filmes a tratar na tese, dos usos do tempo e do espaço.
36
Quanto à literatura que trata das questões do nacionalismo, como no caso de Michael Herzfeld,
o cinema, em geral, nunca é referido, e quando se trata as imagens elas referem-se à
iconografia (Herzfeld, 1997: 177). No entanto, em termos de ferramentas analíticas, os
conceitos de intimidade cultural, poética social e fundamentalmente de iconicidade podem
servir aqui para estabelecer uma relação entre o corpus de filmes tratado e a sua relação com
uma ideia de estado-nação. Para além destas ferramentas analíticas, o facto de este autor
trabalhar a ideia de nação, ou a retórica subliminar à ideia de nação, a partir de tendências
estruturais como a nostalgia, faz a ligação com o modo como o cinema utilizou estratégias
retóricas de representação do país que estão por detrás da própria construção da ideia de
nação.
O nacionalismo tem um interesse especial para perceber o modo como a etnologia
europeia, uma disciplina nascida no século XIX a partir da chamada volkskund, se empenhou
num projecto ideológico que tratava as mentalidades folk e o carácter nacional. Mais tarde foi
necessário desconstruir criticamente estas tentativas pioneiras de estabelecer uma herança
folk, e trabalhar sobre os modos pelos quais a retórica nacional foi usada como um argumento
em conflitos hegemónicos entre várias classes e interesses (Lofgren, 1989: 5). Durante um
tempo, os historiadores concentravam-se no nacionalismo como um fenómeno político e
ideológico e os antropólogos trabalhavam a noção de etnicidade numa perspectiva sincrónica,
e muito do que se produziu trata o nacionalismo como uma espécie de falsa consciência.
Trabalhos como o de Gellner em Nations and Nationalism permitem perceber o nacionalismo
como um fenómeno cultural e um processo histórico, sendo que o conceito de nacional varia,
em cada caso, com as épocas e os grupos sociais que o concebem. Ao contrário da ideia de
patriotismo, a de nacionalismo é baseada em “ideas about a volksgemeinschaft, a shared
history and culture, a common destiny, an idea of equality and fellowship, which means that
nationalism contains political dynamite and can thus be used both to mask class interests or to
fight them” (Lofgren, 1989: 7).
Para falar de cinema, parto então do conceito de cultura, de uma cultura partilhada por
um grupo social, e dos seus processos de apropriação, em especial a uma escala nacional, e
seguidamente trato de formas específicas usadas pelos filmes na sua tematização e
emblematização. Avançaremos então para uma noção mais específica de cultura popular. A
minha agenda de investigação passa por tentar perceber o que há de comum e o que distingue
estes processos de tematização e emblematização do mundo rural e da cultura popular e, como
disse no início, perceber porque é que o cinema português trabalhou de forma intensa, embora
diferenciada consoante o autor, o género, ou o formato, sobre a representação do povo como
37
universo qualificado e valorizado esteticamente. Estas pistas teóricas serão úteis quando
cruzadas com os estudos feitos por investigadores vindos da crítica cinematográfica, dos film
studies e da história do cinema, em particular a partir do cinema rural, especialmente os que
tratam o contexto europeu, como a colectânea Representing the Rural (Flower e Helfield,
2006) e as compilações feitas em França como Le monde rural au cinéma, editado pelos Cahiers
da Cinematheque (2003) e outros.
Igualmente importante nesta tese será a identificação de algumas recorrências do
pensamento e da cultura ocidentais sobre a ruralidade associada a um certo tipo de paisagem,
de personagens, de objectos, e de manifestações culturais. Como pano de fundo para perceber
o que já foi dito e escrito sobre o cinema e a ruralidade, estão as categorias de rural e urbano
(Raymond Williams, 1973), pastoralismo (Leo Marx, 1964), paisagem e arcádia (Simon Schama,
1995), entre outras. Começando pela ideia de pastoralismo, Leo Marx (1964) trabalha a partir
da imaginação literária mas também outras manifestações culturais, encontrando dois tipos de
pastoralismo. Um deles seria popular e sentimental, explícito em escritores como Mark Twain,
nas descrições e representações, que encontramos também nos filmes aqui trabalhados, das
saídas da cidade para um ambiente natural (campismo, pesca, caça, jardinagem), numa
tendência para idealizar o rural, um “yearning for a simpler, more harmonious style of life, an
existence closer to nature, that is the psychic root of all pastoralism- genuine and spurious”
(Marx, 1964: 5).
What is attractive in pastoralism is the felicity represented by an image of a natural
landscape, a terrain either unspoiled or, if cultivated, rural. Movement toward such a
symbolic landscape also may be understood as movement away from an ‘artificial’
world, a world identified with “art”[...], away from sophistication toward simplicity.
(Marx, 1964: 9)
O segundo tipo de pastoralimso é o imaginativo e complexo, e refere-se a uma visão
que transforma a pura ilusão da paz e harmonia alicerçada numa paisagem de pastos verdes
numa experiência mais complexa, de industrialização: “wether represented by the plight of a
dispossessed herdsman or by the sound of a locomotive in the woods, this feature of the design
brings a world which is more ‘real’ into juxtaposition with an idyllic vision. It may be called the
counterforce” (Marx, 1964: 25). Trata-se, por exemplo, do tipo de pastoralismo que vamos
encontrar no filme Trás-os-Montes, realizado em 1976 por António Reis e Margarida Cordeiro.
Quanto ao conceito de arcádia, ele nasce de uma reflexão sobre a paisagem, a
memória, e o nacionalismo: “national identity, to take just the most obvious example, would
38
lose much of its ferocious enchantment without the mystique of a particular landscape
tradition: its topography mapped, elaborated, and enriched as a homeland” (Schama, 1995:
15). O importante é começar por perceber que o ecosistema natural é quase sempre construído
e, antes de mais, um produto da cultura:
Our entire landscape tradition is the product of shared culture, it is by the same token a
tradition built from a rich deposit of myths, memories, and obcessions. The cults which
we are told to seek in other native cultures –of the primitive forest, of the river of life, of
the sacred mountain – are in fact alive and well and all about us if only we know where
to look for them […]. For if the entire history of landscape in the West is indeed just a
mindless race toward a machine-driven universe, uncomplicated by myth, metaphor,
and allegory, where measurement, not memory, is the absolute arbiter of value, where
our ingenuity is our tragedy, then we are indeed trapped in the engine of our selfdestruction (Schama, 1995: 14).
Schama desenvolve a história dos mitos gregos da arcádia, cujos habitantes não são
vistos como pastores, mas como caçadores que habitam uma paisagem selvagem e virgem, o
que contrasta com uma tradição que associa a ideia de arcádia ao pastoralismo. Assim, a
arcádia pode ser primitiva ou pastoral: “there have always been two kinds of arcadia: shaggy
and smoth ; dark and light ; a place of bucolic leisure and a place of primitive panic” (Schama,
1995: 517). João César Monteiro, por exemplo, e em várias das suas obras “rurais” trabalha a
partir de uma arcádia pastoral.
Fig.2. Veredas, João César Monteiro, 1977.
39
Sempre que necessário, voltarei à história dos usos da imagem, em especial no interior
da própria Antropologia que, como vimos, contamina e é contaminada pelo cinema. Johannes
Fabian (1983), um autor que vem da tradição reflexiva de um conjunto de obras de crítica à
Antropologia, fala dos usos do tempo nesta disciplina. Aqui, a analogia com o conjunto de
filmes tratados é óbvia. Todos, ou quase todos, manipulam e fazem um trabalho a partir da
temporalidade. A linguagem cinematográfica joga, como veremos, com esse elemento central
do tempo, em vários sentidos: enquanto medida do plano, representação cinemática, e
finalmente como tempo histórico, com uma relação indexical com o mundo. Deleuze, na sua
obra em que trata o cinema (cf. 2004, 2006), elabora, a este respeito, uma classificação das
imagens cinematográficas para defender que o cinema pensa com imagens-movimento e
imagens-tempo. As primeiras caracterizariam o cinema clássico e as segundas o moderno. Em
resumo, os dois tipos de cinema mantêm uma relação distinta com o tempo: o primeiro revela
o tempo através do movimento – uma representação empírica -, o segundo, a imagem-tempo,
apresenta-o de forma directa, pura e livre do movimento. Para o que nos interessa agora,
Deleuze (2006: 108) refere que o tempo se desdobra, se divide e se diferencia a cada instante
em presente e passado, presente que passa e passado que se conserva. O autor parte assim das
teses de Bergson sobre o tempo, considerando passado e presente não como dois momentos
sucessivos, mas antes como dois elementos coexistentes. Na interpretação que de Deleuze faz
Roberto Machado,
Enquanto que o presente não é, ou é puro devir, isto é, muda, passa, não pára de
passar, o passado não deixa de ser, não pára de ser, conserva-se em si, conserva-se no
tempo indefinidamente, como passado não cronológico, passado em geral, diferente do
passado particular de determinado presente. Enquanto uma imagem-lembrança se
conserva em nós, é psicológica, a lembrança pura conserva-se no tempo, é ontológica. O
passado não existe mais, mas não deixa de ser. Ele é a condição, o fundamento da
passagem do tempo ou dos presentes; é o elemento puro do tempo que explica que o
prente passe (Machado, 2009: 278).
A este propósito, julgo que seria bom referir a introdução ao filme de Manoel de
Oliveira, Acto da Primavera. Na cena inicial deste filme, em que um grupo de jovens
“modernos” chega de carro à aldeia, o realizador está a relacionar o tempo presente com uma
espécie de temporalidade arcaica e original para que remete o próprio Acto. O Acto trata a
história de Cristo, a questão da origem do mito central do cristianismo que acaba por ser a
temática de muitos dos trabalhos de Oliveira. Este filme, que trato detalhadamente no capítulo
3, é “fundador”, ele acaba por remeter para a própria fundação do pensamento intelectual que
40
dá origem ao acto de filmar o outro. É esse acto, e a sua relação com uma representação do
tempo, que me interessa aqui. O texto representado pelos aldeãos é a performance dessa
relação com um tempo antigo, a sua repetição em cada ano remete para a necessidade de recriar essa temporalidade de um evento da história sagrada. O filme acaba por constituir, ele
próprio, uma reflexão sobre o tempo, centrada na palavra do outro, e portanto na ideia de uma
narrativa que se manteve desde tempos antigos, sendo no entanto evidente que esta questão
não esgota a sua análise. A mais forte impressão que o filme me revelou relaciona-se com a
própria corporalidade, - no sentido proposto por MacDougall -, dos actores, as suas expressões
faciais, o modo de declamação, a pronúncia das palavras e manipulação da voz localmente e
culturalmente desenhadas. Essa contradição entre um texto sagrado e de certo modo erudito,
que é recitado mantendo a sua integridade e o seu vocabulário, e a forma como ele é
transformado em performance transmontana acaba por ser o grande mistério e fascínio deste
objecto. Ao filmar este acto, Oliveira coloca o seu cinema na atemporalidade, num tempo fora
da história, que virá a caracterizar toda uma geração de cineastas. Da mesma maneira, Deleuze
refere que, no romance, é Proust que sabe “que o tempo não nos é interior, mas nós interiores
ao tempo que se desdobra, que se perde ele próprio e se encontra em si mesmo, que faz passar
o presente e conservar o passado” (2006: 113). Roberto Machado refere, de novo a propósito
do pensamento de Deleuze, que uma das críticas que o autor de Mil planaltos faz a Bergson é a
de que, para este, “a lembrança ou o passado puros não são do domínio do vivido”, ao
contrário do que se verifica em Proust, cujo projecto de salvar o passado puro se assemelha
bastante ao do cinema moderno. Este seria então um cinema que pretende apreender o futuro
e o passado que coincidem com o presente: “ao atingir um antes e um depois que coexistem
com a imagem presente, em vez de ficar no presente, o cinema consegue dar uma
apresentação directa do tempo em que o passado é a imagem virtual do presente, que é a
imagem actual” (Machado, 2009: 279).16
Fabian, como vimos, faz justamente uma análise crítica da história da Antropologia
através da forma como esta usou a categoria tempo - o do outro, o do passado e o do futuro -,
para construir o seu objecto, centrando a sua análise na ideia de uma política do tempo. Existe
uma espécie de contradição entre a manutenção de uma Antropologia baseada no método
etnográfico e na ideia de um presente e, por outro lado, um discurso que constrói o outro em
termos de distância espacial e temporal. A presença empírica do outro transforma-se, assim, na
sua ausência, e este mantém-se sempre fora do tempo (Fabian, 1983: XI). Tal como o realizador
16
Deleuze irá assim explorar o conceito, em cinema, de imagem-cristal, uma imagem-tempo que diz
respeito á “ordem do tempo”, isto é, a “coesistência ou simultaneidade dos elementos do tempo” (2006:
130).
41
de cinema, em especial o documentarista, o etnógrafo contacta directamente as populações
num presente etnográfico; não obstante, muito do que é produzido é essencialmente
anacrónico. O autor nomeia assim aquilo a que chama “negação da contemporaneidade” 17
como uma “tendência persistente e sistemática para colocar o[s] referente[s] da Antropologia
num tempo que não é o do presente do produtor do discurso antropológico”, ou seja, “ a need
to steer between such closely related notions as synchronous/simultaneous and contemporary”
(1983: 31). Como veremos no capítulo 6 desta tese, em que trato a modalidade poética, esta é
uma característica que vai também marcar um certo cinema português, de tendência
etnográfica. Existe uma espécie de disjunção entre experiência, por um lado, e a ciência,
pesquisa ou escrita por outro: “the temporal conditions experienced in fieldwork and those
expressed in writing usually contradict each other. Productive empirical research, we hold, is
possible only when researcher and researched share Time” (Fabian, 1983: 71). Aqui, e porque
estou a falar de tempo, torna-se pertinente colocar a seguinte questão: existirá, para o período
que estou a trabalhar, um cinema histórico, melhor dito, que fala da História? Ao contrário do
antecedente, como veremos, não parece existir neste cinema claramente produtos históricos, aquilo a que os anglo-saxónicos chamam heritage film -, que, em geral, reconstituem o suposto
legado da memória do país. Em vez disso, encontramos um cinema atemporal, não historicista,
mas que remete, como verificámos, para o passado, que usa e manipula um tempo cíclico ou
mitológico. Mesmo quando a abordagem é mais claramente etnográfica e científica, o tempo é
manipulado com base na ideia de reconstituição, - de uma técnica, de um saber, ou de uma
tradição que já não existem. As excepções de filmes que trabalham sobre o presente podem-se
encontrar no cinema revolucionário e, para o que nos interessa aqui, nalguns filmes de António
Campos, como Rio de Onor (1974) em que uma mulher da cidade visita a aldeia para confirmar
se o modo de vida descrito por Jorge Dias se mantém, e mesmo em Vilarinho das Furnas, filme
que, apesar de não poder ser incluído numa escola de documentário que toma o aqui e agora
como centro, trabalha um certo presente etnográfico: a construção eminente da barragem e os
conflitos em torno dela.
Especificidades do trabalho com imagem. Cinema Rural
Uma das dificuldades imanentes ao meu gesto teórico-metodológico é a de produzir uma
articulação coerente entre discursos vindos de territórios académicos muito diferentes,
17
O termo no original é “denial of coevalness”, sendo que “coeval covers both of same age, duration, or epoch”.
42
especialmente quando, como é o caso, se opera com conceitos fortes trabalhados e
constantemente re-trabalhados no seio da Antropologia, como os de cultura e de cultura
popular e visual, de identidade, sociedade, paisagem, etc. Em certos momentos, saímos da
Antropologia e entramos no campo dos estudos literários, ou da chamada cultura visual, uma
derivação contemporânea dos estudos culturais americanos que toma da ciência antropológica
o relativismo cultural e pretende olhar para além das subdivisões académicas para o chamado
pictorial turn que sofreram as sociedades ocidentais (Mirzoeff, 1998). Outras vezes, estamos no
terreno das discussões sobre o documentarismo como base para pensar o cinema na sua
relação com o real, trabalhando a forma historicamente definida como este género
cinematográfico foi desenvolvendo modos de representação da realidade que assumem
diferentes formas: as referidas modalidades do poético, etnográfico, ou político.
Comecei neste capítulo por discutir os critérios que estiveram subjacentes à escolha do
corpus de filmes que a tese trabalha, procurei explicitar e justificar a metodologia usada,
baseada no visionamento de arquivos seleccionados e na realização de entrevistas extensas, e
finalmente mencionei as ferramentas teóricas e conceptuais que servem de base a este
trabalho, lançando algumas pistas sobre as temáticas de fundo de que vou tratar. Falta
evidentemente sintetizar o quadro teórico da nova Antropologia Visual. O livro Rethinking
Visual Anthropology (Morphy e Banks, 1997), é um dos primeiros que trabalha, para além do
filme etnográfico enquanto objecto e método central da Antropologia Visual, os sistemas
visuais e da cultura visível, embora existam outros (como Deveraux e Hillman, 1995), que
analisam o filme e a fotografia como modos de representação. Tratando o contexto global da
arte indígena, mas apenas com breves referências ao cinema, é também importante o trabalho
de Marcus e Meyers (1995). Para entender esta démarche recente na produção antropológica,
uma espécie de rejeição do filme etnográfico (Martinez, 1990, 1992), convém ter em conta as
discussões sobre o lugar da visão e do visual no desenvolvimento da cultura ocidental, em
especial aquilo que veio a ser denominado o seu ocularcentrism (Levin, 1983) e, por outro lado,
na própria Antropologia (Clifford, 1988). Estes debates ocupam-se de modo central da natureza
construída das representações visuais a partir do uso de determinadas técnicas, como os usos
da perspectiva, de enquadramentos e composições construídas e constrangidas. De facto, a
natureza construída dos textos (Clifford e Marcus, 1986), e a ideia do trabalho de campo como
método em que o importante é estar ali e não ver, i.e. uma prática visual (Clifford, 1986: 11),
podem explicar o sucesso que o filme fez a partir de certa altura na história da Antropologia,
especialmente na primeira metade do século XX.
De qualquer modo, convém ter em conta a história e o desenvolvimento do filme
43
etnográfico, não só pelo lugar central na sub-disciplina de que tratamos aqui, mas também
porque abordo em detalhe, mais à frente, a história do filme etnográfico na Europa e EUA e as
particularidades do filme etnográfico português. Para isso, é importante a perspectiva de Paul
Henley (1985) para o contexto britânico desta história. Para outras análises nacionais, em
especial a alemã, muito importante pela colaboração entre o Instituto do Filme Científico
alemão de Göttingen e a equipa do Museu de Etnologia, remetemos para Peter Fuchs (1988),
que trata a história e as especificidades do filme etnográfico com influências folcloristas, e
vários ensaios que se encontram coligidos por Collette Piault (1992)18.
Esta tese abre para abordagens fora do campo disciplinar da Antropologia, em especial
as que trabalham questões ligadas à imagem, por exemplo, a partir da fotografia. Refiro-me a
autores como John Tagg (1988), que faz uma crítica a Roland Barthes no seu livro Camera
Lucida, uma das obras basilares da análise do meio fotográfico, em conjunto com o livro de
Susan Sontag, On Photography (1971). Fundamentalmente, para Barthes, há uma conexão
existencial entre o objecto ou pessoa real que foi colocado perante a lente e a imagem
fotográfica, uma co-naturalidade da fotografia com o seu referente - aquela coisa esteve ali -,
uma realidade que existiu mas que não se pode mais tocar. A fotografia possui, deste modo,
para o autor, uma evidência e o seu testemunho é, não apenas, o de um objecto, mas o de um
tempo. Para Barthes, do ponto de vista fenomenológico, na fotografia, o poder de
autenticidade excede o poder de representação. A partir desta ideia, John Tagg (1988) trabalha
a questão de saber que prática social esteve por detrás de cada fotografia e Kevin Robins
(1996), ajuda neste debate, explorando a forma como as imagens e as tecnologias da imagem
se ligam ao modo como conhecemos, experenciamos, sentimos e respondemos ao mundo,
referindo a “essential ambivalence of images, which exist in the dual sense of both
representation and misrepresentation, both reliable appearence of a real and mere chimera,
both reflection and fiction” (cit in Sharatt, 1989: 35). As análises que David MacDougall faz da
fotografia, em especial no seu livro Corporeal Image (2006), devolvem-nos estas reflexões e
ajudam-nos a estabelecer fronteiras teóricas entre a imagem do mundo empírico e o mundo
empírico ele mesmo. Para tratar teoricamente o corpus de filmes desta tese, recorro, ao longo
do texto, a esta ideia de representação de um mundo empírico.
18
A ter em conta também os escritos sobre os aspectos práticos e metodológicos do filme etnográfico (Rollwagen,
1988) e o seu lugar dentro da Antropologia Visual. Também é importante relacionar o filme etnográfico com o
documentarismo enquanto género cinematográfico com o seu projecto próprio. Aqui, os trabalhos de Eric
Barnouw (1983), Bill Nichols (1991) e Brian Winston (1988), são fundamentais para entender o lugar do filme
etnográfico no contexto do documentário, visto por autores de fora do campo disciplinar da Antropologia.
44
Mick Gidley (1992), no seu Representing Others, White Views of Indigenous Peoples,
parte justamente deste conceito de representação na sua relação com os usos do realismo, ou
seja, a ideia de que algumas formas ou meios de representação oferecem uma maior
aproximação à realidade do que outras.19 O poder ilusório das representações constitui a
agenda de investigação do autor, que não quer com isto dizer que estas funcionem como
símbolos de algo mais importante, mas antes como uma realidade para as culturas que as
produziram e que as consomem. Por isso insiste em falar do poder das imagens (Freedberg,
1989). Nesta distinção entre uma entidade denominada realidade e outra representação talvez
a última possa ser substituída pela noção de discurso, de prática discursiva: quando falamos de
representação falamos de representação política, da relação entre aquilo a que Mitchell chama
“things that stand for other things” e “persons who act for other persons”. Deveria ser claro, diz
Mitchell, “that representation, even puraly aesthetic representation of fictional persons and
events, can never be completely divorced from political and ideological questions” (cit in
Gidley: 1992: 2). É este portanto o ponto de partida para trabalhar, no cinema português de
1960 e 1970, as representações do povo e da cultura popular, aqui tomadas enquanto
discursos sobre a nação, sobre o país.
Existe, ainda, um corpus de textos que trabalham especificamente esta relação do
cinema com o mundo rural, especialmente vindos do território da crítica cinematográfica
francesa20, mas também dos film studies americanos e europeus, que reflectem sobre
temáticas do cinema e da representação do rural, da terra e da paisagem, e as relações destes
territórios com visões da nação e nacionalismo, como o de Pierre Sorlin (1998) em torno das
imagens do rural no cinema francês nos anos cinquenta, ou o de François Bretèque (1992) em
torno das representações da Provença, e em especial trabalhos como o de Scott Macdonald
(2001), cujo título The Garden in the Machine: A Field Guide to Independent Films about Place,
retoma o do livro de Leo Marx. Na verdade, podemos dizer que a obra de Macdonald se refere
a um conjunto de filmes experimentais americanos, em geral realizados por artistas, mas que
retomam, e em certos casos quebram radicalmente, com a imagem do mundo rural americano.
A colectânea de textos Representing the Rural. Space, Place and Identity in Films about
the Land, editada por Catherine Fowler e por Gillian Helfield em 2006 reúne um conjunto de
19
Para um maior desenvolvimento desta questão ver, entre outros, Pitkin (1967: 63-115), Becker (1986: 121-35), e
W.J.T. Mitchell (1990: 11-22).
20
Para esta pesquisa efectuei uma estadia em Paris, entre 25 de Junho e 15 de Julho de 2008, com o apoio pontual
da F.C.T, convidada pelo Centre de Recherche sur l'Ethnologie et de l' Image (Paris) a participar, nos seus trabalhos
e seminários. Para além da pesquisa (na biblioteca, videoteca e centro de documentação) efectuada na BiFi,
Bibliothèque du Film (http://www.bifi.fr/public/index.php), fiz uma apresentação dos trabalhos em curso no
âmbito do meu doutormento no seminário organizado pelo professor Jean Arlaud (Professeur Émérite
d’Ethnologie, Université de Paris 7 Denis-Diderot).
45
trabalhos que, vindos dos film studies, trabalham sobre conjuntos de filmes agrupados com
diferentes critérios: cinema de temática rural, mas que pode ser de um país ou de uma região,
de um determinado período, baseado nos livros de um autor, no cinema de um realizador
específico. As categorias, que partilho neste trabalho de análise do cinema português, e que
operam nas análises compiladas no livro de Flower e Helfield, são as de terra (land),
camponeses (peasants), paisagem (landscape), rural e nação. Comece-se pela de terra, partindo
da distinção anglo-saxónica entre “land” e “landscape”, ou seja, por um lado, a terra do ponto
de vista dos que nela trabalham e habitam, e, por outro, no sentido de paisagem que se
contempla à distância. Dentro das análises que operam a partir desta categoria, temos aquelas
que focam a forma como algum cinema escapou ao landscape e filmou a terra, como os filmes
baseados nas novelas de Thomas Hardy, entre eles Tess, de Roman Polanski, ou os filmes de
Albert Tessier, que tratam da relação física dos habitantes com a paisagem rural.
Finalmente, em termos do uso da categoria landscape, são tidas em conta as diferentes
conotações feitas a partir da terra, do solo. Os filmes discutidos a partir desta categoria usam a
paisagem como “an index to cultural identity”. Nestes filmes,
Geography is taken to an ideological level: the land upon which the inhabitants depend
for their physical survival is also key to their cultural survival and social cohesion. Thus
‘landscape’ becomes ‘ethnoscape’21. Also in these films, key contrasts between
landscape and cityscape do not emphasize differences between center and periphery
but rather between present and past. The rural landscape takes us back to a relatively
innocent, mythic time that nonetheless has contemporary resonence and value (Fowler
e Helfield, 2006: 183).
Tal é o caso da análise dos cenários do cinema escocês, com os seus “lugares encantados”, ou a
de Roy Arme do cinema magrebino, que aparece na Argélia, Marrocos e Tunísia por volta
meados dos dos anos 1960, de um “desertplace as a locus of rebellion and timeless tradition”
(Fowler e Helfield, 2006: 183).
A última categoria em que se podem agrupar os estudos do cinema e ruralidade é a do
rural e nação. Os filmes em análise consideram o espaço rural como espaço nacional o que
contrasta com o paradigma dominante da modernidade que olha o espaço urbano como o
lugar primário da mudança social. Em diferentes análises (cinema húngaro ou chinês,
representações do Iowa no cinema americano, etc) o uso do espaço rural é enquadrado na
agenda política e histórica da nação em questão. As diferenças na representação da ruralidade
21
Note-se que o termo “ethnoscape” é aqui usado num sentido diferente do que Appadurai disseminou.
46
remontam, deste modo, à visão que cada nação tem do seu passado como um “glorified site of
nostalgia or a site of primitivity and barbarity”.22 Nesta colectânea, mais uma vez, a obra de
Raymond Williams, The Country and the City (1973), apesar de vir do território dos estudos
literários (a novela inglesa), é a chave que abre portas para a análise de filmes. Embora seja
tentador, muitas vezes, estabelecer um contraste linear entre o modo como se representa o
rural e o urbano no cinema, estes estão mais ligados como pontos de tensão do que de
contraste:
Underlying all rural cinema is a contemporary consciousness that complicates yet also
specializes its apparent attachement to the past, while at the same time drawing it
nearer to the concerns of urban cinema: the expression of ongoing conflicts within a
rapidly changing society or culture and the need to maintain a connection to a pure
cultural or national identity, lost through urban assimilation and the dissipation or
abandonment of traditions and rituals that in the rural context had kept this identity
alive. Even where it is deemed anachronistic or dismissed folklore, rural cinema
frequently plays an important role as a conservator of the culture and a kind of archival
entity that, however retrogressively, serves to inform and preserve the perception of
the nation’s cinema and thus keep the cultural heritage alive [...]. Whereas the urban
milieu defines ‘the national’ in terms of technology, progress and forward development,
the rural milieu provides its own definiton, via its depiction of traditional folkways and
mores and its evocation of continuity despite the march of time and change (Flower e
Helfield, 2006: 2-3).
Foi em França e, como disse antes, no campo da crítica cinematográfica, que encontrei
um importante conjunto de textos que trabalham especificamente sobre o chamado cinema
rural.23 Neste encontram-se múltiplas pistas a partir das quais podemos trabalhar, no plano dos
conteúdos, o conjunto de filmes seleccionados para esta tese, e portanto revisitarei estas
reflexões, nomeadamente no referente às recorrências temáticas na forma de olhar o rural,
que nem sempre se aplicam ao caso português. No entanto, outras, como a relação com a
natureza e a paisagem, a representação dos núcleos familiares e da casa, a estética da pobreza
22
No caso do cinema húngaro, por exemplo, analisado por John Cunningham, o cinema vai recorrendo, a partir
dos anos 1920, às mitologias da identidade nacional conforme a agenda política da elite intelectual baseada em
Budapeste (Fowler e Helfield, 2006: 259-260).
23
Os exemplos do cinema francês e inglês que trago para esta tese devem-se mais ao facto de existir, nestes
países, uma maior reflexão sobre estes aspectos da representação do povo, do que à especificidade destas
cinematografias. Michel Cieutat (1986), defende que enquanto que em França não existe uma verdadeira tradição
de filme rural, tal como ela aconteceu nos EUA. Na América, desde a nascença política do país em finais do sec.
XVIII, existe uma tradição cultural agrária e anti-urbana que foi desenvolvida quer pelos ideólogos quer pelos
autores de ficção literária, pictórica ou cinematográfica. Os filmes de Benton, Pearce, Rydell, Ritt relevam desta
tradição de tratamento de temas bucólicos que têm como matriz An Arcadian Maid, 1910, filme de Griffith, a que
se seguem os Westerns, o Road Movie, etc.
47
crónica e fatídica, o olhar romantizado enfatizando a inocência camponesa, são pistas
fundamentais para um olhar crítico sobre os materiais que trabalhamos aqui.
Por outro lado, a ideia de que nestas imagens existe uma ambiguidade na
representação do rural, um conflito e uma coexistência entre as suas virtudes e as suas
misérias, a pastoral e a contra-pastoral (Leal, 2000), - e por isso o título do livro francês de
1990, Champs et contrechamps -, será também uma base da tese. Há um conjunto de leituras
que permitem analisar a forma como a crítica francesa das décadas de 1950 a 70 tratou a
temática do cinema e do mundo rural, ou do cinema paysan, em especial sob a forma de
artigos em revistas de análise cinematográfica como a La Revue du Cinéma, Image et Son,
CinemAction, e os Cahiers de la Cinemathéque.24 Estas leituras permitem enquadrar as
reflexões sobre uma cinematografia nacional e regional francesa na história do cinema
europeu, particularizando o caso deste país por ser aquele em que mais assumidamente se
usou, designou e criticou um território específico do cinema, o que trata o mundo rural. 25 Existe
também uma cinematografia mais recorrente noutras tradições nacionais, como a inglesa,
marcada pelo cinema de época, ou, como se vulgarizou para o cinema inglês, o heritage
cinema,26 que se pode distinguir do cinema tratado nesta tese na medida em que, apesar de
usar também o mundo rural e o povo como modelos da identidade nacional, e ambos
representarem ou recriarem costumes e tradições praticadas em meio rural, situa o filme
claramente num passado histórico da nação. Este cinema que narra episódios históricos, o
chamado cinema de época não foi, em Portugal e para o período definido, muito desenvolvido.
Os filmes rurais portugueses que trabalham a partir da cultura popular, e muitas vezes com
uma grande escassez de meios ao nível da produção, situam-se num tempo que pode ser
presente mas que tende a ser representado, veremos, como atemporal.
Uma das características consideradas recorrentes no heritage film é a ideia de nostalgia,
retorno a uma idade de ouro, assim como a de uma relação harmoniosa do homem com a
natureza e dos membros de uma comunidade entre eles, o que não é necessariamente verdade
24
Para além de vários artigos soltos, na La Revue du Cinéma, Image et Son (nº294, 1975) existe o dossier Cinéma et
monde paysan ; na revista CinémAction, encontrei numeros temáticos : Cinémas paysans. (nº 16, 1981) Cinemas
des regions (nº 12, 1980), Images d’en France (nº 18/19, 1982), e finalmente Cinéma et monde rural (nº36, 1986).
Nos Cahiers de la Cinémathéque (nº75, 2003), encontrei um número temático intitulado Le monde rural au
cinéma. Por fim, a síntese fundamental que é a obra organizada por Hennebelle e Oms (1990).
25
Para uma listagem detalhada dos filmes franceses que tratam ou abordam temas rurais desde as curtas
metragens (films de constat ou de carácter etnográfico e filmes de intervenção/ militantes), às longas metragens
de ficção ver CinémAction, Cinémas Paysans. Dossier reunido por Christian Bosséno (1981a).
26
O termo Heritage Film refere-se a um movimento do cinema britânico de finais do séc. XX que tendia a
representar de modo nostálgico a Inglaterra dos séculos anteriores. Inclui uma vaga de filmes baseados nas peças
teatrais de Shakespeare ou nas novelas de Jane Austen. Este movimento pode ser visto no contexto da
revitalização de conceitos de “património” como suporte para um modo romantizado de representar o passado.
48
para o cinema rural, em que muitas vezes se representa o camponês oprimido, subjugado à
terra. Mas os filmes que tratam a ruralidade nem sempre são puramente nostálgicos, podendo
incorporar o melhor e o pior das memórias nacionais do passado. Os camponeses podem ser
representados como figuras nobres que representam uma certa pureza e continuidade cultural,
como em Les Iles de Albert Tessier, por exemplo, ou podem ser figuras pobres, trágicas
associadas com um modo de vida duro e arcaico, - por exemplo Fabiano, o personagem de
Barren Lives, de Nelson Pereira dos Santos- que representam a estagnação cultural (Fowler e
Helfield, 2006: 6). Esta duplicidade e aparente contradição, já referida a propósito da ideia da
pastoral e da contra-pastoral, irá ser explorada mais à frente.
Embora muito diverso e difícil de transformar num género cinematográfico específico, o
cinema rural vindo de diferentes contextos nacionais tem com o referentes algumas categorias:
o contexto - o meio rural e os seus habitantes; o tema – o espaço rural tomado como espaço
nacional; o universo retratado – os arquétipos rurais; e finalmente a estrutura narrativa marcada por conflitos e dicotomias tais como a que existe entre o rural e o urbano, tradicional
e moderno, agrário e industrial, ou utópico versus distópico. O termo rural, ou pastoral, ou
agrário, é usado aqui em vez de camponês para designar este cinema, na senda da literatura
anglo-saxónica. De facto, o termo cinema paysan é uma designação mais usada em França:
Whereas rural, pastoral, and agrarian all describe primarly the kind of lanscape and way
of life (including livelihood, customs, and cultural/religious beliefs) that are tied to and
derive from the land, the term peasant has economic and cultural associations (Flower e
Helfield, 2006: 2).
As várias leituras permitem, por outro lado, uma aproximação à forma como foi tratada
pela história do cinema e pela crítica a especificidade europeia da cinematografia do mundo
rural, com algumas recorrências temáticas encontradas pelos autores nestes filmes. A questão
da atribuição ou descrição de um cinema nacional é complexa especialmente porque há uma
heterogeneidade na produção de algumas indústrias cinematográficas, para além de que a
atribuição de uma ideia de nação a certas cinematografias nasce muitas vezes da ideia de
centro e periferia, como refere Bill Marshall (2001).
No mais antigo artigo que encontrei que trata a especificidade do cinema rural, datado
de 1959, Chevallier, um crítico de cinema, apresenta uma série de considerações sobre a
tipificação do personagem do camponês no cinema, a propósito do filme Le Beau Serge, de
Claude Charbol, uma ficção com elementos documentais mas que acaba por ser um retrato do
mundo rural, com os planos das ruelas, do bistrot, ou a cena do baile. De cerca de 50 filmes
49
sobre temática rural feitos entre 1945 e 1953, poucos foram os que trataram realmente os
problemas “reais” dos camponeses, diz o autor, que faz um retrato daquilo a que chama o
agrícola filmicus, o homem rural tipo e estereotipado retratado no cinema, “un personnage
hors nature qui n’entretien avec le réel que des rapports assez lointains” (Chevallier, 1959: 5).
Mais tarde, em 1975, Christian Bosseno apresenta alguns resultados da sua análise de
150 filmes franceses de temática rural, pondo em relevo alguns aspectos recorrentes, que
demonstra exemplificando sempre as suas interpretações a partir de um conjunto de filmes. O
primeiro é a ideia do isolamento rural como lugar privilegiado da dramatização, isolamento
este que é físico mas também moral, em filmes que privilegiam o lado marginal e diferente da
ruralidade, usando por vezes elementos dramáticos como as superstições, malefícios ou
feitiçaria, cuja utilização seria dificilmente aceite num filme rodado em meio urbano. O
segundo aspecto evidenciado é o dos perigos da cidade, em que o camponês é o bom
selvagem, o marginal: “le cinéma se plaît à redouter l’influence des villes sur la mentalité
‘simple’ et ‘naive’ du ‘brave’ paysan. La ville est le lieu privilégié de la corruption et de la
tentation. Seul le citadin sait déjouer ces pièges où le paysan succombe” (Bosséno, 1975: 19).
Elabora depois um retrato cinematográfico do paysan françês com os seus defeitos, alcoolismo, violência, brutalidade, incultura, sensualidade bruta - e as suas virtudes: o gosto
pelo trabalho, a força e a dureza, a tradição de honra e de patriotismo, o sentido da família
patriarcal, a obstinação, a esperteza, especialmente a do pastor, e a fidelidade, que pode levar
ao sacrifício (cf. Bosseno, 1975: 23). René Allio, ele próprio cineasta,27 introduz o tema do
cinema rural a partir de uma dicotomia entre aquele que está em frente à câmara (o rural) e o
que está por detrás dela (o citadino). Michel Duvigneau (1986: 8) desconstrói a noção de
“mundo rural” e prefere a expressão “povo”. O autor propõe um dicionário dos estereótipos do
filme rural. Finalmente, para uma reflexão detalhada sobro o modo como o cinema de temática
rural tratou as regiões francesas existem algumas publicações. Na revista CinémAction, em
número dedicado ao Cinemas des Regions, cada capítulo trata uma região28: a Bretânia, a
Occitania, o Norte, a Flandres, a Córsega, etc. Para cada região, um dossier faz uma análise
histórica da sua representação cinematográfica, num tom por vezes quase panfletário. Esta
literatura que trabalha a partir de regiões é pertinente aqui, após a constatação da presença
27
Realizador de Moi, Pierre Rivière (1976), dos mais discutidos filmes de ficção sobre o mundo rural francês
partindo de um fait-divers passado na Normandia em 1835, segundo o qual um jovem camponês de 20 anos tinha
assassinado parte da sua família. A força do filme de Allio tinha a ver com o facto de ter filmado com os
camponeses. Em 2006 o realizador Nicholas Philibert, que tinha sido assistente de Allio em 1975 filma Retour en
Normandie. Trinta anos depois, Philibert evoca essa aventura com os seus protagonistas.
28
Ver CinémAction, Cinemas des Regions, Dossier reunido por Alain Aubert et al. (1980). Dois anos mais tarde
publica-se CinémAction, Images d’en France (Cinemas des regions II), (Aubert et al. 1982). Este número é mais
centrado nos modos de produção locais e regionais, assim como na constituição de arquivos locais.
50
fortíssima da paisagem transmontana no cinema português. Como disse antes, o enfoque desta
tese, que marca também a selecção do corpus a trabalhar, acaba por ser na forma como se
produziu uma representação do país construída a partir de determinada imagem da ruralidade
que os realizadores acreditavam que Trás-os-Montes materializava. Acabo assim por privilegiar
filmes que usam o cenário geográfico e humano da paisagem transmontana, território mítico
deste cinema, arquétipo do que é visto como arcaico, autêntico, matriz da memória do povo.
Relembro aqui esta perspectiva:
A descoberta cinematográfica do Nordeste Transmontano começou com Pedro Só e
Festa, Trabalho e Pão em Grijó de Parada. Depois de 1974 outros filmes viriam inscrever o
fascínio dessa zona do nosso país no percurso do cinema português: Máscaras, Trás-osMontes, Veredas. Máscaras é o primeiro dos três, convém que se diga. Realizado por uma
mulher, Noémia Delgado, este filme colhe alguns dos costumes populares arcaicos que o
Nordeste conserva em certas regiões, devolvendo-nos uma tradição cultural que vem do
fundo dos tempos e se articula num quotidiano agreste, numa geografia rude. Exibido
quase só em festivais e em sessões especiais, Máscaras é um cinema etnográfico que não
se destina a salas de cinema comerciais, via pouco trilhada pelo cinema português,
lamentavelmente. É um filme muito belo, talvez um pouco longo, um exemplo de
documentarismo modesto de meios mas rico de intervenção e encantamento. É pena que
não haja um museu destinado a produzir e a divulgar este género de cinema. Um cinema
que guardasse a memória de um povo, enquanto é tempo (Ramos, 1989).
Será que a recorrência de tratamento de uma região que encontrei tem equivalentes
noutros países? Mais à frente nesta tese avançarei com algumas hipóteses comparativas,
nomeadamente com a representação do Sertão no cinema brasileiro. Segundo Hennebelle e
Oms (1990), em França, tal como em toda a Europa, exceptuando a Itália, há pouco interesse
dos cineastas pelo mundo rural, há uma abundância de clichés, uma ignorância da realidade
profunda do modo de existência rural. O caso português, tratado por um autor francês, Michel
Cadé, parece surgir como uma excepção no panorama europeu: se contarmos as obras sobre
pescadores e gente do mar, o equilíbrio entre os grandes sectores de actividade da população
portuguesa e a sua representação no cinema encontra-se, se não respeitado, pelo menos
satisfatório. Segundo Michel Cadé, o filme rural não tem uma significativa importância nos anos
1950 e 60, mas sim nos anos 1970, marcado pela efervescência e desilusões da revolução dos
cravos. O autor considera o verdadeiro percursor deste cinema de 1970 Oliveira, com O Acto da
Primavera (1962), filme que inicia aquilo a que chama o ciclo Trás-os-Montes:
Cette province du Nord, aux paysages sévères, où la vie rural est plus qu’ailleurs au
Portugal marquée par l’archaisme et les structures communautaires traditionnelles,
allait désormais devenir le sujet de films situes à mi-chemin entre le documentaire
ethnographique et le reportage sociologique, non sans, à l’occasion, intégrer un part de
51
fiction. Se réclamant du cinema-vérité inspiré de Jean Rouch, les films consacrés à la vie
rurale dans la province de Trás-os-Montes jouent sur la nostalgie d’une sorte d’Eden
patriarcal en voie de disparition, tout en déplorant, surtout après la Révolution du 25
Avril, les dures conditions de vie, l’horizon tragiquement bouché des paysans de cet
ailleurs au-delá des monts [...]. Oscillant entre fiction et cinema-vérité, lyrisme et
sévérité, les films du cycle du Trás-os-Montes forment un ensemble d’admirables
témoignages sur un monde qui fut et qui, tout doucement, sombre dans les brouillards
de l’histoire. Seule, parfois, les déchire la nostalgie, impuissante à lutter contre une
modernité essentiallement sentie comme exterieure, hier Lisbonne, demain l’Europe. A
cet univers, dominé par le sentiment d’une ‘saudade’ três portugaise, s’oppose celui né
des luttes pour la possession de la terre qu’entraina la revolution du 25 Avril dans la
rude et claire plaine de l’Alentejo (Cadé, 1990: 69-70).
Como vemos, foi curiosamente no contexto da crítica francesa que encontrei, pela
primeira vez, de forma explícita, a ideia de que o cinema rural português se pode dividir,
basicamente, em dois universos regionais, que representam dicotomias importantes: Trás-osMontes e o Alentejo (Cadé, 1990: 69). Esta ideia, a que volto no final da tese, é recuperada por
Joaquim Pais de Brito, que refere esta dicotomia observando que Trás-os-Montes surge no
cinema “como a arca das tradições, das raízes, das referências identitárias […]”, enquanto que
no Alentejo “há uma clara busca do futuro […], fazem-se filmes sobre ocupações de terras,
fazem-se filmes sobre o modo como o futuro estava a ser construído” (Cit. in Leal et al., 1993:
104). Será que vamos encontrar, de facto, uma geografia simbólica do país correspondendo a
diferentes representações do Norte e do Sul nestes filmes? E nesse caso, existe ou não um
discurso sobre a paisagem na restituição do universo camponês? Estarão a representação
romanticizada do modo de vida camponês, a procura da relação harmoniosa com a natureza, a
procura de formas de organização social e sociabilidades arcaicas presentes nos filmes que
trabalho? Existirá uma valorização do colectivo em detrimento do indivíduo? A busca do
exotismo da vida camponesa será perspectivada como marginalidade, e ligada ao isolamento?
Estas são algumas das questões que se podem, desde já, colocar.
No caso brasileiro, o já referido livro Cineastas e Imagens do Povo (2003) de Jean-Claude
Bernardet, professor na escola de cinema de São Paulo, e que analisa alguns documentários
brasileiros dos anos 60 e 70, permitiu fazer alguns paralelos com o caso português, mais
especificamente no que toca ao documentário mais politizado do pós 25 de Abril. No entanto, a
escassez de reflexão, - em especial fora do discurso da crítica - sobre este tipo de temática em
relação ao cinema português foi constatada desde logo neste trabalho, com algumas excepções
que importa recuperar. Em relação ao contexto nacional, sobre a questão da identidade
nacional portuguesa e sua relação com a cultura popular, no campo da Antropologia destaca-se
o catálogo Olhares sobre Portugal (Leal et al., 1993), uma síntese pioneira que trabalhou a
52
vocação etnográfica de um conjunto de documentários portugueses. É talvez nesse evento que
consigo identificar o meu interesse e curiosidade por esta temática. Pelo seu lado, o livro
Etnografias Portuguesas (1870-1970): Cultura Popular e Identidade Nacional, de João Leal
(2000), propõe a distinção, como já vimos, fundamental, entre grandes grupos de protagonistas
no trabalho sobre a cultura popular, alguns dos quais com ligações ao documentarismo: a
etnografia do Estado Novo, a etnologia do grupo de Jorge Dias e a etnografia construída em
torno da crítica ao Estado Novo. Recentemente este autor reflectiu também sobre a relação
entre os usos da imagem e a história da etnografia portuguesa (Leal, 2008b). Há um conjunto
de textos, ainda neste território da Antropologia portuguesa, em Vozes do Povo (CasteloBranco e Branco, 2003), especialmente o estudo de Catarina Nunes sobre o documentarismo
português, com que se deve contar, assim como com o trabalho de Paulo Raposo (1998 e 2002)
sobre os processos de folclorização do teatro popular por etnógrafos, intelectuais e artistas
também eles ligados ao cinema. Todas estas reflexões têm focado a cultura popular na sua
relação com processos de objectificação do povo e também com a produção de imagens e
outras formas de representação da identidade nacional, ou em certos casos, da identidade local
ou regional. De referir, por exemplo, os trabalhos de António Medeiros, que tratam da
produção de discursos e iconografia sobre o Minho e das representações estereotipadas de
“costumes” ou “tradições” (Medeiros, 1995). Por fim, salientem-se as reflexões, já
mencionadas, de Joaquim Pais de Brito sobre questões de interpretação das imagens (cf. Leal et
al., 1993) e também acerca da relação entre a equipa de Jorge Dias e a obra cinematográfica de
António Campos (Brito, 2000). No entanto, a maioria dos estudos sobre a representação da
cultura popular em Portugal baseia-se em produção escrita, mais do que em imagem em
movimento e som.
Concluindo, esta tese trata o cinema documentário e ficcional de vocação etnográfica
na sua ligação com a representação da cultura popular de matriz rural e a identidade nacional.
Uso aqui a palavra etnografia no sentido mais lato, para referir “qualquer empreendimento
que, propositadamente ou não, contribua para produzir uma representação da cultura”
(Vasconcelos, 1997: 213). Pretendo portanto tornar visível este cinema de vocação etnográfica,
quer na história da etnologia portuguesa, revalorizando a importância da etnografia
espontânea, quer na história do cinema português. O objecto é portanto o questionamento da
fixação deste cinema nos conceitos de ruralidade, pastoralismo, tradição, raízes e
autenticidade, partindo dele enquanto produtor de um discurso de objectificação da cultura
popular portuguesa, e de uma ideia do país, ou da memória do país, cuja homogeneidade vou
aqui questionar. Comum a todos eles é o facto de fazerem um cinema que se imagina
politicamente e ideologicamente próximo do povo. Mas interessa-me sobremaneira questionar
53
se este cinema fez, realmente, como tem sido afirmado, um corte com o anterior, com o
cinema das encenações e recriações folcloristas do Estado Novo. Este último foi enquadrado
pelo SPN-SNI como forma explícita de propaganda, usando em especial as actualidades e o
chamado documentário como canais de divulgação das obras do regime. Interessa também
interrogar nesta tese a ideia, aceite genericamente pelos historiadores do cinema português,
de que existiu um cinema produzido à margem do regime. Este cinema tem sido visto como
marcado pela viragem, que acontece em especial a partir de D.Roberto, de Ernesto de Sousa
(1962), e de Verdes Anos, de Paulo Rocha (1963), para uma linguagem mais independente, de
autor, e uma representação do país mais verdadeira e autêntica. Como veremos, não só
existiram continuidades no cinema que se foi fazendo, apesar das mudanças no regime, mas
dentro do próprio cinema de autor, independente e marginal de que falamos aqui havia
rupturas e diferenças. Tentarei perceber aqui, para além das especificidades dos olhares, a
existência de um movimento, ou de diferentes movimentos de um cinema que caracterizo, em
geral, como tendo uma missão etnográfica, num momento em que “um sector muito
significativo dos trabalhadores de cinema decidiu intervir na recolha de toda uma memória
cultural do nosso povo prestes a ser varrida pelos moldes uniformizantes da cultura de massas”
(Coelho, 1983: 70). Como veremos, estes movimentos usam a matéria da cultura popular para
veicular discursos distintos quando não mesmo contraditórios.
54
55
CAP 2 Contexto histórico internacional
As diferentes representações do povo aparecem como expressões transformadas
(em função das censuras e normas de formalização próprias de cada campo) de
uma relação fundamental com o povo, que depende tanto da posição ocupada no
campo dos especialistas quanto da trajectória que conduziu a essa posição
(Bourdieu, 2004: 183).
A minha geração nasceu para o cinema sob a égide de três realismos: o neorealismo italiano, o realismo documental inglês e o realismo poético francês (Pina,
1984).
História e cinema
Neste capítulo quero identificar e discutir a génese e o desenvolvimento do cinema de raiz e
inspiração etnográfica e documental que trata a cultura popular, a partir do contexto histórico
internacional. Como Luís de Pina explicita nesta frase que cito no início do capítulo, não
podemos isolar os filmes que analiso na tese, realizados em Portugal – em especial o cinema
produzido a partir de 1962 – das influências de correntes e tendências de outras
cinematografias. Interessa-me aqui, mais do que buscar uma linearidade histórica, efectuar um
trabalho sobre o discurso da história e da crítica cinematográfica veiculado pelos protagonistas
que construíram, e ainda constroem, uma identidade do cinema português. Por isso tentei
enquadrar aqui, para além de uma síntese das leituras feitas sobre o contexto histórico
internacional, também o que foi escrito por autores portugueses acerca de cinematografias
produzidas extramuros. Mesmo quando escrevem sobre outros, os teóricos e críticos estão,
implicitamente, a falar daquilo que lhes interessa, o seu cinema. É impossível separar os dados
trabalhados pela história factual e crítica do cinema de um discurso e das suas escolhas, daquilo
que se considera que deve ou pode ser o cinema. Como qualquer discurso artístico faz-se
sempre a partir e no interior de uma tradição anterior, de determinadas influências. Um dos
principais papéis de quem escreve sobre o cinema, a partir da história ou da crítica, é encontrar
e imaginar as raízes e a genealogia de um realizador ou de uma geração de realizadores.
Antes de mais, gostava de interrogar as possibilidades de fazer uma análise de
conteúdos a partir da construção histórica de um conjunto de filmes. Dentro do terreno mais
vasto a que os anglo-saxónicos chamam film studies há, para além da história, a teoria do filme
e a crítica cinematográfica, que trata das qualidades particulares de certos filmes ou grupos de
filmes, a partir de uma valoração estética. Na realidade, estas três vertentes (história, teoria e
56
crítica) misturam-se nos textos que trabalho neste capítulo. A produção teórica do campo do
cinema enquanto ciência da comunicação, como se diz na actualidade, é uma produção que
remete constantemente para a ideia de crítica, o que nos coloca num território do
conhecimento muito distinto da Antropologia. A abordagem histórica ao cinema, por outro
lado, trata o modo como o filme enquanto arte, tecnologia, força social ou instituição
económica se desenvolveu ao longo de um tempo ou funcionou num determinado período do
passado. De um modo geral, os historiadores trabalham com as mudanças que ocorreram no
cinema mas também com os aspectos que resistiram a ela. A teoria do filme, enfim, estuda a
natureza, qualidades e funções do filme em geral. 29
Mas qualquer definição da história do cinema tem que reconhecer que o
desenvolvimento do cinema envolve mudanças que devem ser vistas por vários ângulos. Em
primeiro lugar, a história estética do filme que trata o passado do cinema como uma forma de
arte, o que pode passar pela identificação, descrição e interpretação dos masterpieces da arte
cinematográfica, mas pode também estar associado ao “estudo das formas que a tecnologia do
cinema usou para dar prazer sensitivo (estético) criando um sentido para as audiências”, por
exemplo o estudo de certas formas de narrativa no cinema (Allen e Gomery, 1985: 37). Em
segundo lugar, a história material do filme, que estuda as origens e desenvolvimento das
tecnologias do filme e suas implicações. Em seguida, a história económica do filme, que trata
dos sistemas de produção, distribuição e exibição dos filmes. E finalmente, para aquilo que me
interessa mais, a história social dos filmes, que tenta perceber quem faz e quem vê certo tipo
de cinema, mas também pode tratar o conteúdo de determinados filmes como um reflexo de
valores e atitudes sociais, o que deve ser feito em várias dimensões: “os filmes são,
certamente, documentos sobre a cultura, mas aquilo que eles documentam é a relação
complexa entre a audiência, o texto fílmico, o autor, e a cultura” (Allen e Gomery, 1985: 167).
Procurar pistas na história do cinema, é também ver no cinema uma fonte para falar de
um determinado período. Trata-se da distinção que Marc Ferro faz entre dois grandes eixos a
partir dos quais se pode interrogar a relação entre cinema e história: por um lado (e é neste
eixo que enquadro este capítulo), a leitura histórica do filme e, por outro, a chamada leitura
cinematográfica da história, que abarca os capítulos mais analíticos da tese. Para cobrir as duas
perspectivas, o trabalho do historiador passa, segundo Ferro, por olhar não só as actualidades
cinematográficas, e o documentário, mas também a ficção, o imaginário (cf. Ferro 1977: 18 e
91).
29
Ver Histoire dês théories du cinema, Cinemaction, (nº 60, Julho 1991), para uma abordagem actual ao que foram
as teorias do cinema.
57
O movimento de aproximação à cultura popular, elaborado pelo cinema português a
partir de 1962, pode ser entendido, antes de mais, numa leitura histórica e contextualizado de
acordo com um conjunto de influências. As características que este movimento apresenta têm,
no seu contexto internacional, em parte, a sua origem. Como veremos ao longo da tese, alguns
realizadores e cineastas acabam por se demarcar mais ou menos das influências de outros
cinemas feitos à época noutros países. Na realidade, à medida que fui seleccionando os filmes e
realizadores mais interessantes para tratar o tema da representação da cultura popular, ia
constatando que a escolha recaía sobre aqueles que, de certo modo, fizeram um cinema à
margem das grandes influências cinematográficas da época, como António Campos, António
Reis, ou César Monteiro. Quanto ao cinema etnográfico de arquivo, ou o revolucionário,
veremos como o facto de a sua linguagem e escolhas estéticas estarem condicionadas e
subjugadas a um discurso científico, ou político, determinam também o seu afastamento das
cinematografias internacionais mais experimentais e radicais. No entanto, parece-me
importante destacar daquilo que acontecia nesse período no cinema, os sinais centrais e
determinantes de um espírito novo no cinema, quer enquanto marca do modo como se
constrói o ethos do cineasta, o modo como este vê o seu papel, ou a sua missão, enquanto
cineasta, - em especial no que toca à atitude documental, ou realista -, quer enquanto
linguagem, forma de ver o mundo, em particular o povo e a sua cultura.
Começo assim por fazer uma resenha do panorama internacional do cinema na época
considerada, cruzando vários territórios geográficos e cinematografias, tendo em conta, por ser
tão importante para o caso português, a forma como se constituiu a identidade do cinema
europeu de autor, em especial do francês. Finalmente, abordo questões que atravessam o
cinema espanhol e brasileiro e que se cruzam com temas centrais ao cinema nacional. O
interesse por estes contextos partiu das leituras e entrevistas feitas aos protagonistas destas
mudanças, os realizadores. Fernando Lopes, um dos mais marcantes cineastas portugueses da
geração que se inicia na película na viragem da década de 1950 para a de 60, elo de ligação do
grupo do Cinema Novo, pioneiro no olhar documental da verdade e do som directo, (com o seu
Belarmino), afirmava, em entrevista a José Navarro de Andrade:
Em Portugal, a geração do cinema dos anos 50 estava em descrédito, ou seja, não era
possível o Perdigão Queiroga, ou o Constantino Esteves, por exemplo, continuarem a
fazer aqueles filmes. Por outro lado, era uma época de grande transformação do cinema
em todo o mundo. Não havia só o Cassavettes, a Shirley Clark e o Leacock nos Estados
Unidos, havia também o Cinema Novo no Brasil, que estava a aparecer, e havia
sobretudo a Nouvelle Vague em França. Quer dizer que ouve um movimento
espontâneo, eu diria à escala mundial, que fez com que aparecessem cinemas e
cineastas independentes. E muito inspirados nos princípios morais do neo-realismo
58
italiano e em teorias do Rosselini. A ideia de “câmara na mão, pé no chão” do Glauber
Rocha, pegou-se a toda a gente. No fundo, o que é preciso é ter alguma película, uma
câmara ligeira e saber o que é que se tem para dizer. E o que se tinha para dizer nessa
altura eram princípios morais e estéticos, ou seja, vamos sair dos estúdios, vamos sair
para a rua, - e isto faz-se com meia dúzia de tostões (Andrade, 1997: 68).
Nesta citação de Fernando Lopes estão condensadas as pistas que perseguimos: a
procura e a identidade de um cinema europeu, (mesmo quando ele vem da América, com
Cassavettes), as ligações com a cultura francesa, o nascimento da ideia de um cinema
independente e de autor, uma moral construída a partir da proximidade com o povo e a
pobreza (o neo-realismo italiano e Rossellini) e, finalmente, a tensão entre um cinema com
uma visão mais onírica e poética e uma mais realista e documental. Este vasto conjunto de
influências animava as polémicas e conversas da elite intelectual que cresceu para o cinema na
década de 60, numa Lisboa que, sendo pequena, concentrou uma geração em que a troca de
ideias levou a contaminações e gerou uma alteridade relativamente ao sistema político do
autoritarismo, posicionando-se-lhe como alternativa.
Um cinema europeu, um cinema de autor
Os protagonistas desta tese são objectificadores da cultura, como lhes chamámos antes, são
personalidades que, na sua geração e no seu tempo, assumiram uma atitude que entendiam
ser inovadora no gesto de filmar, ou de escrever sobre este gesto de filmar, a cultura popular.
Seguindo as pistas lançadas por Fernando Lopes, começo por enquadrar a corrente portuguesa
do Cinema Novo no contexto de um discurso sobre o cinema europeu, baseado na ideia de que
a Europa inventou o tipo de cultura cinematográfica que eleva o cinema à categoria de arte.
Antes ainda da primeira Guerra Mundial, autores como Boleslaw Matuszewski na Polónia,
Ricciotto Canuto (autor da expressão sétima arte) em França ou Emilie Altenloh na Alemanha,
publicaram textos analíticos, poéticos e reflexivos sobre o cinema. Foram seguidos pelos
teóricos franceses dos anos 1920, como Louis Delluc e Jean Epstein. Nos anos 1930 e 1940
aparecem os pioneiros da história do cinema, Siegfried Kracauer e Lotte Eisner na Alemanha,
Jean Mitry, Robert Brasillach, Maurice Bardèche e Georges Sadoul em França, Paul Rotha em
Inglaterra e ainda os modernos teóricos do cinema: Rudolf Arnheim, Béla Balázs e André Bazin.
Em meados de 1910 surgiu na Europa, segundo Richard Abel (1985), a primeira vaga do
cinema de arte e avant-garde, dando início à chamada tradição do cinema europeu: o filme de
arte ou autorenfilm, feito a partir de adaptações literárias, e desenvolvido especialmente em
59
França, Alemanha e Dinamarca; os filmes modernistas e experimentais, de autor, realistas, em
que ficção e documentário se misturam. Os cineclubes ganharam importância em toda a
Europa e as elites intelectuais marcadas pelo surrealismo e pelo futurismo tomaram
seriamente o cinema como expressão artística, em grupos como os Les Amis du Septiéme Art
em França, ou como o que deu origem ao jornal Close Up na Suíça, desenvolvendo uma
reflexão intelectual activa e crítica a partir dos filmes. Para o dizer de forma sintética, se o
cinema foi inicialmente marcado por uma ideia de entretenimento, com um público
eminentemente popular, rapidamente acedeu ao estatuto de arte, num movimento que teve
como embrião as ideias centrais que os realizadores portugueses acolhem décadas mais tarde.
A grande tradição cinematográfica europeia tem as suas escolas: montagem soviética,
expressionismo alemão, movimento britânico do documentário, realismo poético, neorealismo, escola polaca, as novas vagas francesa inglesa e checa, cinema negro
jugoslavo, novo cinema espanhol e alemão, etc. Mas o chamado european art cinema –
tal como ficou, de modo talvez redutível, denominado - tem, para além das diferenças,
traços comuns, especialmente nas suas manifestações do pós-guerra: narrativa lenta,
montagem com um ritmo vagaroso, forte voz autoral, investimento no realismo e na
ambiguidade, desejo de chocar, provocar, um gosto por finais não- felizes, ou como diz
Antoine Compagnon, em especial é europeu o gosto pela ‘transgressão, blasfémia,
pluralidade de sentidos’ (Vincendeau, 1995: XIV).
O cinema europeu artístico ou de autor, acedeu assim, em especial a partir da década
de 1950, a um estatuto importante, ao ser colocado pelos historiadores de arte e pela crítica a
par da pintura e da literatura: os seus temas, a sua visão do mundo, o seu aspecto de
engajamento político e filosófico opunham-se ao escapismo de Hollywood, e a sua vertente
artesanal contrastava vivamente com a dream factory americana. O cinema europeu foi sendo,
como no caso português, resistente aos regimes políticos conservadores, fazendo-o muitas
vezes de um modo indirecto, numa espécie de efeito de espelho do cinema realista, como nos
documentários de Storck sobre as aldeias mineiras da Bélgica, ou no cinema de Rossellini, em
que os filmes promoveram indirectamente as paisagens, eventos, artefactos culturais, ou
heróis da sua nacionalidade. A questão de um cinema europeu remete, também, para uma
outra que nos interessa aqui explorar, a da identidade nacional, visto que “paradoxalmente, a
visão subjectiva dos autores individuais fez parte da formação de uma identidade nacional,
fornecendo um garantia de autenticidade e de pertença e uma refracção pessoal aos modelos
culturais da cultura dominante”. Os autores europeus tiveram um papel fundamental na vida e
continuidade dos seus cinemas nacionais, assegurando fundos, atraindo a crítica de revistas
cinéfilas e festivais. Alguns realizadores, como Bergman ou Oliveira, tornaram-se mesmo
60
símbolos do seu país (Vincendeau, 1995: XIV).
Entretanto, podemos afirmar, de modo mais concreto, que foi o contexto do cinema
europeu dos anos 1960, em especial a Nouvelle Vague francesa,30 com repercursões
internacionais que marcou, de forma decisiva, o cinema português. Paulo Rocha afirmou,
quando o entrevistei, que era em Paris que os jovens cinéfilos aprendiam tudo sobre cinema, e
Bénard da Costa falava dos anos 60 como “os anos que toda a gente conheceu ou porque os
viveu, ou porque gostaria de os ter vivido” (1984: 29). A ligação da geração do Cinema Novo à
Nouvelle Vague será tratada no capítulo 3, de modo mais detalhado, mas veremos, já aqui,
como uma das razões para esta emblematização dos anos 60 esteva relacionada com a nova
vaga cinematográfica francesa. Este movimento foi iniciado quando vários críticos que
escreviam e colaboravam no periódico Cahiers du Cinema, cujo primeiro número saiu em 1951,
começaram a fazer filmes eles mesmos. Realizadores como François Truffaut, Jean-Luc Godard,
Alain Resnais, Claude Chabrol, Jacques Rivette ou Louis Malle, rejeitaram o velho cinema
francês renovando a sua linguagem, influenciados em especial por Howard Hawks, Hitchcock,
Nicholas Ray, Charles Chaplin e, entre os franceses, por Jean Renoir, um caso singular. Este
último realizador era, com efeito, visto como marcando individualmente e de forma
espontânea o filme, usando a câmara ao serviço da expressão pessoal, e foi reivindicado por
tudo isso como uma espécie de pai do cinema de autor. Alguns exemplos de filmes da época,
casos de Tirez sur le pianiste, (1960) ou Jules et Jim (1961), de Truffaut, Vivre Sa Vie (1962),
Pierrot-le-Fou (1965), de Godard, Les Bonnes femmes (1960), de Chabrol ou Paris nous
Appartient, (1960), de Jaques Rivette, mostram como se privilegiava então o uso de cenários e
iluminação naturais, como se flexibilizava o trabalho de câmara, como se desconstruía a
montagem assumindo o uso de jump cuts, como se valorizava a citação literária, assim como as
referências ao cinema clássico.
Esta ruptura criada pela Nouvelle Vague é referida por autores que a estudaram
profundamente, como Philippe Mary (2006), como uma ruptura entre dois cinemas. Por um
lado, havia o velho cinema, de equipa, bem organizado, um cinema de profissionais, com os
seus mestres de décors e de iluminação, caracterizado também por ser um cinema de
argumentistas de renome, como Prévert ou Jeanson, que adaptam os clássicos da literatura, e
por viver das vedetas, ou seja, submetido a uma lógica de indústria. Por outro lado, o novo
30
O movimento da Nouvelle Vague é normalmente situado entre o ano 1959 (ano de Les Quatre Cents Coups ou
de Á Bout de Souffle) e o ano de 1962, data que fecha o ciclo sinalizando um fim hipotético (Catálogo Nouvelle
Vague, Cinemateca Portuguesa, pp. 19). Só em 1960, 18 realizadores franceses fazem a sua primeira obra
cinematográfica de sempre. Em 1962, os Cahiers du Cinéma fazem um número dedicado à nova vaga e listam 162
novos realizadores a trabalhar em França. (cf. Bergan [et al.]2000).
61
cinema, uma jovem cinematografia que inverte a tradição anterior, com orçamentos pequenos,
produtores que conheceram o cinema de avant-garde, influências do documentário artístico,
em que as rodagens eram rápidas, feitas em décor natural, com equipas ligeiras e técnicos
muitas vezes sem formação. Os guiões eram escritos pelo próprio realizador, com uma dose de
improviso, e os seus actores, geralmente, jovens. Os filmes mostravam uma vida que se
assemelhava à dos realizadores, também eles jovens, e aos seus quotidianos. Na passagem dos
anos 1950 para os anos 1960, esta mudança pode ser vista como uma ruptura que
autonomizou o cinema, que fez dele uma outra coisa:
La rupture qui a lieu au début dés années soixante peut se concevoir comme un
ensemble d’actions ou d’opérations par lesquelles le champ du cinéma a pu conquérir
son autonomie véritable. La rupture n’est pas illusoire ou surfaite. On a bien passé d’un
état du champ à un autre état. L’espace a changé de structure. Ce qui a lieu dans le
monde du cinéma est la même chose que ce qui a eu lieu dans l’espace de la littérature
et de la peinture au XIX siècle. Le monde du cinéma connaît un nouvel état. Il a conquis
une plus grande autonomie. [...] Il y a toujours un cinéma commercial, un cinéma de
vedettes, un cinéma de décors ou d’effets spéciaux, un cinéma de genre. Mais il y a
aussi un cinéma qui s’oppose à ce cinéma et qu’on appelle depuis le cinéma d’auteur.
Ce n’est pas un genre, c’est une force symbolique qui tend la structure pour qu’elle
épouse la forme des champs autonomes (Mary, 2006: 16-17).
No Brasil, como veremos mais longamente neste capítulo, o movimento do Cinema
Novo, influenciado pela vaga francesa, foi protagonizado por Glauber Rocha, com filmes
radicais como Deus e o diabo na terra do sol (1964) ou António das Mortes (1969). Em 1963, o
realizador publica a obra Revisão crítica do cinema brasileiro. O livro articula-se em torno da
noção de autor como baluarte do novo cinema, que se constituiu em oposição ao chamado
“cinema industrial”. Para Glauber, “o autor é o maior responsável pela verdade: a sua estética é
uma ética, a sua mise-en-scéne é uma política” (Ramos, 1987: 352). Para o historiador do
cinema Robert Allen (1985), na verdade, aquilo que aconteceu em toda a Europa foi o
nascimento da teoria do autor, uma formulação crítica e teórica centrada na ideia do artista, e
que, vinda desta geração de críticos e cineastas franceses nos anos 1950, foi abraçada pelos
teóricos da história do cinema americanos e ingleses da década posterior, como Andrew Sarris.
Este historiador toma como ponto de partida no seu ensaio The American Cinema, publicado
logo em 1968, a ideia que o trabalho de autor europeu deve ser visto, antes de mais, como um
método histórico que se pode também aplicar ao cinema americano. Escolhe assim os
realizadores que impuseram a sua visão, o seu olhar e ponto de vista. A partir do momento em
que é publicado este livro, a história do cinema americano é um “rank-ordering of those
62
american directors who have been the true authors of their works, despite their having to work
within a production situation, - the Hollywood studio system -, that militated against the
expression of a single intelligence and imagination in films” (Allen e Gomery, 1985: 72) 31.
Em França, o surgimento desta teoria do cinema de autor relaciona-se, de forma óbvia,
com a situação em que estava o cinema anterior à geração da Nouvelle Vague, caracterizada
por produzir filmes a partir da fidelidade a um texto ou novela, num sistema que via o
realizador como um técnico, mero tradutor do meio verbal para o cinemático. Truffaut, tal
como outros cineastas, criaram então a noção de um cinema pessoal, “um cinema em que o
realizador, e não o argumentista, é visto como a força controladora por detrás de um filme” e
por isso definiram uma política dos autores que tinha por base a centralidade do realizador na
criação artística do filme, e a importância da expressão pessoal como critério para a valorização
crítica dos filmes” (Allen e Gomery, 1985: 72). Um pouco por todo o mundo, o cinema parecia
estar em mudança. Em Itália, para além da corrente do Neo-Realismo que, como veremos terá
grande influência na formação da crítica portuguesa, tudo começa com a apresentação no
festival de Cannes, em 1960, dos filmes L’Avventura, de Antonioni, e La Dolce Vita, de Fellini.
Ambos quebravam convenções narrativas do cinema, e o tema tratado era o da queda e
alienação de uma sociedade que era vista como sendo essencialmente materialista. Em
Inglaterra, a nova vaga, com a chamada escola do Free Cinema, pende para o documentarismo,
e as suas ideias são veiculadas na revista Sight and Sound, patrocinada pelo British Film
Institute, a partir de filmes como Saturday Night and Sunday Morning, de Karel Reisz (1960), A
Taste of Honey (1961), The Loneliness of the Long Distance Runner (1962) de Tony Richardson,
ou This Sporting Life, (1963) de Lindsay Anderson. A maioria destes filmes lidava com a vida do
operariado e a paisagem industrial, contendo uma crítica ao governo conservador da época. De
acordo com a futura nova vaga, era preciso fazer um corte com o velho cinema, e nada haveria
“de mais chato, de mais anti-cinematográfico, do que o impossível cinema inglês”, como
escrevia o realizador Alain Tanner no título de um artigo publicado no nº 89 dos Cahiers du
Cinéma, em Novembro de 1958” (Costa, 1984: 12).
Na Checoslováquia, o período político da Primavera de Praga permitiu uma vaga de
filmes, usando não actores e a chamada técnica do cinéma vérité, como Peter and Pavla (1963),
31
Nos EUA há também uma nova geração vinda do movimento contra a guerra do Vietnam, e com esta geração
um cinema de baixo custo, orientado para a juventude, como The Wild Angels (1966), de Roger Corman, The Trip
(1967) e The Graduate, de Mike Nichol, ou Stanley Kubrick com Dr. Strangelove (1963), e finalmente Arthur Penn
com Alice’s Restaurant (1969). Trata-se de filmes que abordam a repressão na escola, a contra-cultura hippie, a
música, as drogas e a violência, que começa aqui a ter um papel muito importante no cinema americano, como se
vê no plano final de Bonnie and Clyde, de Arthur Penn (1967), em que o tiro que mata o casal é mostrado seguindo
as balas em câmara lenta (cf. Bergan [et al.] 2000: 492).
63
de Milos Forman, Daisies, de Vera Chyltilova (1966), ou Intimate Lighting, de Ivan Passer
(1965). Esta liberalização leva na URSS a uma vaga com novos e antigos realizadores, de que
são exemplo Mikhail Romm, Andrei Tarkovsky com Ivan’s Childhood (1962). É neste contexto
que cresce a geração que em Portugal começava a filmar, mas também aquela que escrevia a
história do cinema ou que se dedicava à crítica cinematográfica em finais dos anos 50, uma
geração muito ligada ao que se estava a viver na capital francesa, quer em termos sociais,
políticos como cinematográficos. Em 1958, Ernesto de Sousa escrevia, na revista Imagem, a
propósito do novo cinema que vinha de França:
São filmes que constroem mais do que destroem, que pouco ou nada se preocupam
com a crítica, a não ser relativamente a coisas que ainda não existem, ‘aquilo que ainda
não tomou uma forma concisa’; podemos afirmar que é com... nada que o cinema puro
constrói o futuro. Que é como quem diz: com vazios, com uma inteligência das coisas
que não chegou a exteriorizar-se. Com subtilezas impalpáveis, intuições, fatalidades.
Assim, o cinema será verdadeiramente livre, absolutamente moderno. Não haverá mais
problemas com produtores, censuras, inércias comerciais.32
Mas enquanto por toda a Europa se faziam, numa pequena escala, filmes produzidos
por produtoras independentes que atraíam a juventude cinéfila, os grandes estúdios continuam
a produzir um cinema para toda a família, com grandes produções e cada vez mais
investimento. Tal como em Portugal, esta tensão entre um cinema minoritário e independente,
e um cinema industrial e de entretenimento, será fundamental para a criação de um discurso e
de uma retórica em torno da importância do cinema para falar de uma nação e de uma cultura.
Mas mais do que isso, as vagas europeias e americana não chegavam todas a Portugal da
mesma maneira. Parece-me, no entanto, que os historiadores do cinema em Portugal
reivindicavam para si a tradição poética e literária da nova vaga francesa, mais do que a
tradição inglesa de realismo. Esta dicotomia entre o que Luís de Pina, como vimos na citação
inicial, denomina o “realismo documental” inglês e o “realismo poético” francês está presente
de uma outra forma em João Bénard da Costa, que vê no cinema inglês de 60 “uma arte do real
ilustrando apenas as páginas de bons scripts e não conferindo existência imaginária a
personagens confiados a excelentes actores, enfeudados, porém, a códigos de representação
teatrais” (Costa, 1984: 14). A tensão entre uma visão onírica e poética, e uma outra mais
realista e documental, que se começa a delinear, é replicada também a partir das tipologias que
estes dois cinemas representam: no primeiro caso, os personagens da literatura conotados com
a burguesia e, no segundo caso, o povo. Como ainda explicita Bénard da Costa, que assume o
32
Em Catálogo da Cinemateca, Nouvelle Vague, (1999: 497).
64
seu ataque ao cinema inglês no título do artigo, que denominou “Fire over british cinema,
esboço de cronologia comentada”,
No título preveni que a artilharia apontava para o cinema inglês (mas) estou pronto a
trocar amantes de tenentes franceses por almoços de lavradores. Embora, no cinema
inglês, me tema mais destes que daquelas. Fui sempre mais romântico do que realista.
Porque é que quem teve, na literatura, os maiores românticos, fugiu para o lado
oposto? É uma pergunta para a qual ainda não encontrei resposta (Costa, 1984: 33).
Julgo que a influência da cultura francesa, muito para além da tradição poética e
literária da nova vaga francesa, é uma marca para entender o que se passou em Portugal a
partir de 1962, nomeadamente em termos políticos, com a influência das lutas estudantis na
crise académica que teve lugar esse ano, para dar apenas um exemplo. Logo no segundo ano
de vida dos Cahiers, podemos ler, de José Augusto França, a “Lettre de Lisbonne”, uma carta
sentida e cheia de subentendidos em que se critica a censura e se reivindica Manoel de Oliveira
como esperança de um Cinema Novo. Diz França, “j’aimerais que Aniki-Bobo puísse passer à
Paris et Jeux Interdits à Lisbonne (l’impossible, quoi!). De l’un à l’autre, peut-être, on pourrait
alors faire circuler notre besoin de rêve, notre appétit de réalité, ses besoins qui ne font qu’un
comme seul le cinema l’a démontré” (França, 1952: 41). Mas antes de entrar mais
detalhadamente no caso português gostaria de explicitar, por razões diferentes, alguns traços
distintivos que marcam a cinematografia espanhola, e a brasileira. Escolhi estes dois contextos
comparativos pela proximidade geográfica e cultural, no caso de Espanha, e pela influência e
proximidade linguística com Portugal, no segundo. O Brasil funciona aqui também como um
contraste, por ter dado origem a intensas reflexões sobre o cinema e o povo, que possibilitam o
cotejo e a identificação de diferenças relativamente ao caso português. Do ponto de vista da
comparação, trata-se de dois contextos que poderão fornecer pistas para pensar o que terá
caracterizado o gesto de filmar o povo, em Portugal, a partir de 1962. Embora as cronologias
sejam diferentes, podemos encontrar alguns paralelos na forma como estas diferentes
cinematografias nacionais (i) criaram um cinema mais ou menos veiculado aos respectivos
regimes políticos, (ii) trabalharam a oposição campo-cidade, ou a ideia de nação, (iii)
procuraram a autenticidade do seu povo e, nesta demanda, descobriram novos modos de
produção, (iv) resolveram a tensão entre uma visão onírica e poética e uma outra de tipo
documental e etnográfico.
65
O caso espanhol
Para o cinema espanhol, podem definir-se, segundo a historiador Emmanuel Larraz (1986),
quatro períodos distintos compreendidos respectivamente: entre 1896-1930, com o
nascimento e desenvolvimento do cinema mudo; entre 1931 e 1939, caracterizado pela criação
de uma infra-estrutura de cinema industrial e que coincidiu com a Segunda República e abarcou
a guerra civil; entre 1939-1975, marcado pela lenta evolução em curso ao longo do reino da
ditadura militar, o franquismo; entre 1975-1985 a “aprendizagem da liberdade” na Espanha
democrática (Larraz, 1986: 11) Em Espanha, tal como no caso português, os anos 1950 foram
marcados pela censura. Para dar um exemplo, o filme de José António Nieves Conde, Surcos
(1951), esteve interdito. Influenciado pela corrente neo-realista, esta película mostrava os
bairros pobres de Madrid, os desenraizados dos campos que emigravam, a prostituição e o
problema moral que se colocava a estes desenraizados. Tratava-se ainda assim de uma visão
conservadora, em que os camponeses eram idealizados, vistos como a vertente saudável da
nação, detentores dos valores exaltados pelo franquismo: sentido de hierarquia, religiosidade,
moral social muito estritas, unidade familiar em torno da figura do pai (Larraz, 1986: 123). Aqui
podemos detectar a oposição campo/cidade comum à cinematografia do período que se
avizinha, construída na base de determinados arquétipos:
L’homme-nature en contact direct avec les choses, l’homme-instinctif opposé au
décervelé dégénéré des nécropoles urbaines, l’humanité a ses débuts contre les
individus de la décadence. Si le bien n’est pas toujours à la campagne, le mal, lui, est
certainement à la ville. A la nature sa morale et à la ville sa raison (Prédal, 1986: 19).
O primeiro filme neo-realista espanhol é, no entanto, considerado Un hombre va por el
camino de Manuel Mur Oti (1949) que declarava fazer “um cinema eminentemente simples em
que os actores agem com naturalidade, podem estar sujos, abatidos, anti - fotogénicos”
(Larraz,1986:124). Estes filmes eram rodados no exterior, com meios reduzidos, tentando
separar-se das grandes produções históricas ou melodramáticas rodadas em estúdio. As
intrigas mostravam as classes operárias humildes, com excesso de tristeza, falta de trabalho e
grande número de filhos. O melhor exemplo é Segundo Lopez (1952) de Ana Mariscal, mulher
cineasta que faz uma rodagem essencialmente pelas ruas de Madrid, contando a história de um
homem solitário que chega à cidade e faz amizade com uma criança. Mas a censura existia e
várias cenas são retiradas (Larraz, 1986: 124).
66
O escândalo que se seguiu à passagem do filme de Buñuel Viridiana (1961), em Cannes,
demonstra bem o que estava em causa neste período. Luís Buñuel encontrava-se fora de
Espanha desde a Guerra Civil e quando regressou negociou com o director geral da
cinematografia o guião do filme. Este foi rodado e montado em França, onde se fizeram as
misturas de som, passando a cópia directamente, sem ser vista pela censura, para o festival de
Cannes onde ganharia um prémio. Logo a seguir, foi interditado em Espanha e anulada
retroactivamente a autorização de rodagem e a nacionalidade do filme. Só dois anos depois de
Franco morrer, em 1977, se viu este filme em Espanha (Larraz, 1986: 127).
Quase duas décadas antes, o filme Las Hurdes (Tierra Sin Pan), de 1932, do mesmo
realizador, estava implicado em dar visibilidade ao horror do subdesenvolvimento rural: como
afirma Prédal, “Luis Buñuel montre la misère, la mort, les idiots, les malades, les chèvres qui se
tuent en tombant des rochers, les ânes qui trébuchent et se font attaquer par les essaims
d’abeilles, des chiens affamés qui se ruent sur des charognes dégoûtantes […]. Sans atteindre
un tel niveau dans l’atroce, Lés Émigrants et Le Nouveau Monde (Utvandrarna), de Jan Troell
(Suède, 1973) se situent eux aussi à mi-chemin entre l’ethnologie et le récit symboliste ”. Para
este autor, “la beauté du décor ne cache jamais la misère des existences et les désillusions de
la vie. La nature n’est pas bonne: elle demande un immense labeur pour produire les maigres
fruits, souvent détruits par des catastrophes naturelles” (Prédal, 1986: 21-22). Las Hurdes é, de
facto, um filme central por antecipar e servir de influência a uma atitude anti-pastoral (Leal,
1999) que só duas décadas mais tarde se alargará a outras cinematografias nacionais. Por outro
lado, trata-se de um cinema politicamente implicado na demonstração de como se vive nas
zonas rurais do país, mas que o faz numa dupla atitude: documental e realista, ou etnográfica,
por um lado, e radical, na sua abordagem estética da pobreza influenciada pelo surrealismo,
por outro. O próprio Glauber Rocha, teórico e realizador do cinema da nova vaga de esquerda
brasileira falará, anos mais tarde e em relação ao seu cinema, de uma estética da fome,33
expressão que se aplica de forma bastante explícita a Las Hurdes.
Mas estes exemplos são minoritários, e dizem respeito a um cinema à margem. De
facto, no período em análise a maioria dos filmes espanhóis era de propaganda religiosa e
política, um cinema encomendado e institucional, em que o grosso da produção eram os filmes
de divertimento, as comédias ligeiras ou os melodramas de entretenimento. Os filmes ditos
folclóricos proliferaram, a partir dos anos 1950, e, tal como em Portugal, tenderam a escolher
para a sua visão nacionalista determinadas regiões, uma certa geografia, como é o caso da
Andaluzia encenada enquanto ícone da nação. O realizador Edgar Neville era talvez o único que
33
Uma Estética da Fome é o nome de um manifesto de Glauber Rocha datado de 1965.
67
saía desta visão da Andaluzia, realizando um documento sobre o canto e a dança flamenco,
Duende y Mistério del Flamenco (1953). Tal como em Portugal, até ao final da década de 1950,
o cinema espanhol é caracterizado pela ascensão de actrizes populares como Lola Flores, Sara
Montiel, ou pelos filmes de Joselito. Mas em finais desta década, começa a surgir o “cinema
como testemunho, um cinema de esquerda, engagée”, e um documentarista, Carlos Saura,
realiza filmes como Cuenca (1958), documentário de uma hora, com fortes imagens das
procissões da semana santa, e o som muito trabalhado” (Larraz, 1986: 150).
Durante o período de 1962-1969, marcado pela importância do ministro da Informação
e do Turismo, Manuel Fraga Iribarne, mantém-se ainda um cinema tradicional em Espanha:
“filmes optimistas em que a pobreza, quando evocada, é para ser rapidamente ocultada pelo
talento, ou por uma boa estrela” (Larraz, 1986: 157). Durante este período, os realizadores
críticos dos anos 1960 como Javier Bardem, Garcia Berlanga e Fernan Gomez têm cada vez
maior dificuldade em trabalhar em cinema, mas dão mesmo assim origem à chamada Nova
Vaga espanhola, ligada à escola de Madrid e também à de Barcelona, esta mais preocupada
com a pesquisa formal do com o “realismo crítico” dos outros realizadores.
O grupo de Barcelona declarava-se unido pela “renúncia radical à análise sociológica da
sociedade”, privilegiando a subjectividade do criador. Admiradores de Godard e do cinema
underground americano, afirmavam que Madrid colabora com o regime, propõem o autofinanciamento, e, tal como no período revolucionário português, as cooperativas de produção,
e realizam uma série de filmes experimentais. Afirmando que não era possível falar livremente
da realidade espanhola, escolhem evocar o seu imaginário. Estes filmes circulam nas pequenas
salas e cineclubes, acabando por influenciar todo o cinema espanhol, impondo um “novo
realismo” fora do “realismo social” vigente. A primeira longa metragem da escola de Barcelona
é Dante no es unicamente severo (1967), de Jacinto Esteve Grewe e Joaquin Jordá, filme ensaio,
sem história ou narrativa. Pedro Portabella, Carlos Durán e Ricardo Bofill, arquitecto e
realizador, são outras figuras importantes da escola de Barcelona.
Em finais dos anos 1960, com o fim da Direcção Geral de Cinematografia, inicia-se um
período de crise no cinema espanhol, mas surge um novo grupo de cineastas, com filmes como
Los desafios (1969), com três curtas sobre a violência rodados por Claudio Guerín, J.L.Egea e
Víctor Erice. À margem do franquismo, há também um grupo que reclama a utopia, “ a criação
de um cinema livre e independente de toda a estrutura industrial, política ou burocrática”,
cujos membros começam a rodar em 16 mm, uma forma de trabalhar independente e de autor
(Larraz, 1986: 192). Franco morre em 1975, depois de uma lenta agonia do fascismo, e surge
um período marcado pelo ministro católico e ultra conservador Alfredo Bella que sucede a
68
Iribarne. Esta é a fase do chamado turismo cinematográfico, em que os espanhóis vão para
Biarritz e Perpignan assistir a filmes interditos no seu país. Alguns jovens realizadores recusam
o jogo da integração comercial e realizam filmes independentes, quase clandestinos. No
importante encontro Semana do cinema de autor, que decorre em Benalmádena, em 1969,
chamado “mostra de cinema independente”, decide usar-se antes o termo cinema
“alternativo”, definido como “aquele que propõe uma mudança face à ideologia dominante,
apresentando uma alternativa clara de ruptura com a cultura que esta ideologia implica e com
as estruturas habituais de produção e de distribuição este tipo de cinema”. Em Novembro de
1974 funda-se em Barcelona a Central del Curt, e começam a realizar-se filmes sobre temas da
actualidade como emigrantes africanos, ou os grupos de extrema direita. Começava a surgir o
cinema falado em catalão, em galego e noutras variantes regionais, pondo em causa valores
defendidos durante 40 anos pela ideologia franquista. Só em 1977 surgiu a nova lei do cinema,
que estabelecia a liberdade de expressão cinematográfica e a supressão da censura. As grandes
correntes do cinema da Espanha democrática eram marcadas, antes de mais, pela revisão da
história, especialmente em filmes sobre a guerra civil que recuperam documentos e
depoimentos (Larraz, 1986: 241).
A partir de 15 Junho de 1977, com o regime democrático, reconheceu-se o direito à
autonomia das diferentes nacionalidades e regiões de Espanha, especialmente a Catalunha, o
País Basco e a Galiza. Criou-se o Instituto do Cinema Catalão, que realizava “actualidades”
sobre questões políticas e urbanas. A urgência de filmar um mundo rural que acabava e a
influência do pensamento etnológico espanhol originaram a uma vaga de filme etnográfico.
Iñaki Nunes, realizador basco, fez uma série de filmes como Vera, Un Ensayo de Arquitectura
Popular (1976), e Pio Caro Baroja produziu, com o etnólogo Julio Caro Baroja, o filme
Guipuzkoa, um longo documentário sobre esta província de agricultores e pescadores. A
identidade do filme etnográfico, como veremos para o caso português, terá que ser lida na sua
especificidade e no cruzamento entre a história do cinema e a história ou a tradição teórica da
sua antropologia. No entanto, tal como entre nós, os etnólogos desta época centram o seu
olhar sobre as comunidades rurais.
Em termos genéricos, no caso espanhol, a passagem de um regime autoritário para a
democracia reflectiu-se, em termos da sua cinematografia, na afirmação de um cinema
marcadamente nacionalista, em que as identidades culturais e linguísticas eram reafirmadas,
como ainda hoje acontece, pelo seu cinema e pela sua televisão. Notaremos que, comparado
com Espanha, em Portugal parece, apesar de tudo, existir uma linha de maior continuidade
entre o período do Estado Novo e o pós-revolução, na forma como se representava o país. No
69
entanto, esta pequena passagem pela história do cinema no país vizinho permite perceber a
importância que tem para o estudo das cinematografias a questão da representação de
determinadas regiões, às quais correspondem certas paisagens, um povo, uma língua, objectos,
artefactos e acções codificadas.
O novo cinema brasileiro
O caso do cinema brasileiro é também revelador das questões enunciadas e ajuda a aprofundálas. O intenso debate histórico que se seguiu à vaga do Novo Cinema brasileiro e o trabalho de
historiadores do cinema como Isamel Xavier (2007) ou Jean Claude Bernardet 34 além dos
escritos panfletários de realizadores como Glauber Rocha, permitem pensar questões
fundamentais para esta tese. Trata-se, aliás, de uma influência muito marcante para toda a
geração do Cinema Novo em Portugal, formada em especial pela personalidade e o carisma de
Glauber Rocha, que manteve contactos intensos com realizadores portugueses, em especial
Paulo Rocha, Fernando Lopes e Alberto Seixas Santos. Para o cinema brasileiro, os anos 60
foram um momento privilegiado. De facto, “o binómio nacionalismo-modernidade encontra
nessa década condições para se expandir, e a componente nacionalista do discurso que exala o
grande salto dado pela actividade industrial brasileira no pós-guerra traz à tona diversos
elementos que seriam mais tarde trabalhados pelo grupo que fez o novo cinema no início da
década de 1960” (Ramos, 1987: 301).35
Em 1955 Nelson Pereira dos Santos, realizador que mantinha vínculos com o
movimento comunista brasileiro, realizou Rio, 40 graus, um filme sobre o quotidiano da cidade
que mantinha grande proximidade com as pessoas da camada mais pobre da população,
trabalho muito lembrado mais tarde pelos cineastas do movimento do Cinema Novo, pois
mostrava que era possível produzir fora dos grandes estúdios. Uma das marcas do tipo de
cinema que estou a tentar aqui delimitar, parece ser a forma de o fazer, de o fabricar, ou seja,
34
Refiro-me aqui em especial ao impacto que teve a sua obre Brasil em Tempo de Cinema (1967), consolidada em
Cineastas e Imagens do Povo (1985).
35
Existem antecedentes que ajudam a explicar este movimento no Brasil, que partiu de um grupo de jovens
frustrados com a falência das grandes companhias cinematográficas de S. Paulo e resolveu lutar por um cinema
mais próximo da realidade e com menor custo. Para este movimento, e para perceber as discussões à época sobre
as possibilidades de uma produção nacional independente, foram importantes, o I Congresso Paulista de Cinema
Brasileiro e o I Congresso Nacional do Cinema Brasileiro, ocorrido no Rio de Janeiro, em 1952.
70
um certo tipo de produção, tal como vimos em relação ao Free Cinema inglês, à Nouvelle Vague
francesa, ao cinema alternativo de Barcelona, etc. Em termos de produção, Rio, 40 graus foi
uma experiência mais radical, sendo dirigido sob a forma de uma cooperativa com os próprios
actores, pago com o trabalho de técnicos e artistas (76 pessoas) e quotistas (59 amigos). A
equipa do filme, segundo a imprensa da época, abrigava-se num apartamento de dois quartos,
coabitando numa espécie de república cinematográfica, num método colectivo fora dos
esquemas de produção industriais e mesmo alternativos (Ramos, 1987: 305). A câmara de
filmar foi recuperada de uma velha máquina deitada fora, tal como no filme Dom Roberto, de
Ernesto de Sousa, segundo o relato do seu director de fotografia, em sessão recente na
cinemateca. De facto, este sistema de produção, na medida em que o realizador não se
encontra directamente vinculado às necessidades de retorno financeiro, promove uma grande
liberdade do autor em relação à narrativa cinematográfica e à temática tratada. Para além do
sistema de produção, os conteúdos trabalhados têm similitudes com o Cinema Novo
português:
O filme (Rio, 40 graus) se articula em torno de meninos vendedores de amendoim, cujas
histórias não evoluem linearmente mas motivadas por causalidades independentes. Ao
mesmo tempo sente-se a preocupação constante do filme em mostrar a favela, a
imagem do povo e - traço que pode ser considerado estrutural no primeiro Cinema
Novo - a oposição com a burguesia abastada e mau-caráter. A imagem do popular, do
povo da favela, é realçada para provocar o sentimento de compaixão no espectador
através de sua oposição brusca com elementos emocionais inversos que cercam o
universo burguês (Ramos, 1987: 306).36
Esta contraposição referida pelo autor entre povo e burguesia, cercada de elementos
ficcionais armados para detonar a compaixão do espectador, vai-se repetir de forma marcante
em filmes de toda a primeira fase do Cinema Novo e constitui “a forma característica com que a
representação do popular se dispõe na narrativa em forma de ficção” (cf. Ramos, 1987: 306).
Interessa aqui salientar a influência, para o cinema em geral, do grupo que começava a reunirse nessa época (1957-58), e que dois anos mais tarde faria as primeiras curtas metragens na
senda daquilo que viria a ser chamado, também no Brasil, Cinema Novo, fortemente marcado
pelos sucessos do neo-realismo italiano e, em segundo plano, pelos primeiros passos da
Nouvelle Vague francesa. Ainda em 1957, logo após a conclusão de Rio, Zona Norte (1957),
Nelson Pereira dos Santos produziu, em São Paulo, O Grande Momento (1957), com direcção
de Roberto Santos, feito com um sistema de produção precário e rompendo com as
perspectivas industriais do cinema brasileiro, que os sectores ligados à esquerda nutriam ainda
71
no início da década. Esta era então uma actividade marcada pela preocupação com a temática
nacional, mais perto daquilo que será o popular no Cinema Novo brasileiro, com uma direcção
de actores e um esquema de produção influenciados pelo neo-realismo. A imagem do povo que
será desenvolvida pelo Cinema Novo, e que estava já presente nas duas primeiras longasmetragens de Nelson Pereira dos Santos, era a do “povo brasileiro, mulato, dançando samba,
jogando futebol, desbocado e malandro…”. Não estava, portanto, no horizonte deste realizador
o “aproveitamento criativo da precariedade”, uma das propostas centrais de Uma Estética da
Fome, manifesto de Glauber Rocha de 1965 (cf. Ramos, 1987: 310-13). Para Glauber Rocha, a
chamada estética da fome era, antes de mais, uma prática que transforma em linguagem “o
que até então é dado técnico”. Na realidade, “a fome não se define como tema, objecto do
qual se fala. Ela instala-se na própria forma do dizer, na própria textura das obras. Abordar o
Cinema Novo do início dos anos 60 é trabalhar essa metáfora que permite nomear um estilo de
fazer cinema” (Xavier, 2007: 13).
Em 1959, Paulo César Saraceni com Mário Carneiro realizaram Arraial do Cabo, tido
como um dos precursores do Cinema Novo, um filme que retratava a vida social de uma
comunidade de pescadores inteiramente dissolvida a partir da instalação de uma indústria nas
redondezas. Apoiado pelo Museu Nacional, este foi um projecto importante por ser
considerado o primeiro que valorizava um certo tipo de representação do popular:
A narrativa contrapõe a indústria ao universo natural da pesca, onde os pescadores
aparecem em idílio com a natureza. O habitat é mostrado através de uma câmara quase
em êxtase com a actividade detalhada dos pescadores… Os últimos planos mostram
uma festa popular depois do trabalho da pesca. A alegria pura e verdadeira do povo
enche os olhos da câmara e é transmitida com toda a intensidade. A volúpia diante da
representação do popular e a exaltação a partir de uma ótica particular, do universo
que não é o dos cineastas, surgem nesse filme pela primeira vez no cinema brasileiro
(exceptuando-se algumas passagens de Nelson P. Santos) (Ramos, 1987: 317).
De referir ainda dois outros documentários importantes nos primórdios do Cinema
Novo: Arraial do Cabo e Arunda (1960) de Linduarte Noronha, este último filmado na serra do
Talhado, Paraíba:
O filme aborda a vida rural numa comunidade de antigos negros escravos perdida no
interior da Paraíba… É apresentada a vida da comunidade e o artesanato que garante a
sua sobrevivência. As imagens nuas e cruas do nordeste, captadas por uma câmara sem
filtros que revelam toda a intensidade solar do Sertão, talvez sejam os principais
aspectos do filme responsáveis pela grande repercussão que obteve na época do seu
lançamento. A precariedade de meios aparece como uma das suas principais
72
qualidades. Realizado por mãos quase amadoras, revela a imagem autêntica do Brasil –
de um Brasil que vai ser especialmente caro à geração cinema - novista: o do Sertão
nordestino (Ramos, 1987: 319).
Tal como na história do cinema português, com a paisagem transmontana, os
movimentos de representação e hibridização cultural do popular corresponderam no Brasil,
nomeadamente com a representação do sertão nordestino, a uma geografia que não era
apenas a da paisagem - onde se moviam as personagens - mas em que a paisagem era ela
mesma uma personagem. Trata-se aqui da representação não só da ideia de aridez e de
pobreza, mas também do isolamento e da distância da cidade. O realizador Linduarte Noronha
é exemplo disto:
Aruanda aparece como lugar ideal para a exaltação do homem e de seu trabalho ainda
em estado ‘puro’, sem haver sido tingido pelo resto da sociedade brasileira e pelas
exigências do capital industrial. São exaltados a forma artesanal de produção e o
relacionamento com a natureza desvinculado do capitalismo industrial (Ramos, 1987:
320).
No entanto, é o trabalho de Glauber Rocha37 que mais nos pode servir nesta tese
para pensar o cinema português das décadas de 1960 e 1970. As questões que esse cinema nos
coloca têm, no entanto, um contexto particular e devem ser enquadradas de acordo com os
discursos que o pensaram. Ismail Xavier (2007) trata os dois filmes de Glauber, anteriores ao
golpe de 1964 – Barravento, e Deus e o Diabo na Terra do Sol – a partir de uma questão central
na experiência brasileira do Cinema Novo: a da relação entre o diálogo com a herança
modernista e os imperativos de uma militância de efeito político imediato na conjuntura dos
anos 1960. Glauber Rocha, tal como outros artistas e intelectuais da sua geração, assumia o
carácter ideológico do trabalho que produzia, “ideológico no sentido forte, de pensamento
interessado e vinculado à luta de classes”. Tratava-se de uma comunidade que “afirmava o
desejo de consciencializar o povo, a intenção de revelar os mecanismos de exploração do
trabalho inerentes à estrutura do país e a vontade de contribuir para a construção de uma
cultura nacional-popular, linhas de força que se manifestavam no cinema, na música, no
teatro” (Xavier, 2007: 15). Mas a crítica à cultura popular como factor de “alienação”, colocava
já o filme Barravento, de Glauber Rocha (1962), em sintonia com a especificidade do ambiente
ideológico da década de 1960. Logo no início do filme Barravento pode ler-se:
37
O seu documentário-manifesto pode ser visto em
http://www.youtube.com/watch?v=b1giGZkln_0&feature=related
73
No litoral da Bahia vivem os negros puxadores de ‘xaréu’, cujos antepassados vieram
escravos da África. Permanecem até hoje os cultos aos deuses africanos e todo esse
povo é dominado por um misticismo trágico e fatalista. Aceitam a miséria, o
analfabetismo e a exploração com a passividade característica daqueles que esperam o
reino divino. ‘Iemanjá’ é a rainha das águas, a ‘velha mãe de Irecê’, senhora do mar que
ama, guarda e castiga os pescadores.
A recepção a este filme levantou o debate em torno da alienação religiosa do povo
brasileiro e a ideia correlata de que as crenças religiosas eram o grande obstáculo para a luta de
libertação do jugo económico a que estava submetido. Barthélémy Amengual recordaria que,
“em 1962, o cinema político tem ideias simples e claras: o bem é a razão, a solidariedade, a
consciência de classe; o mal é o irracional, a religião, a tradição, a resignação” (cf. Xavier, 2007:
24). A tese central de Xavier, que tentava explicitar como o Cinema Novo representava a
cultura popular, é assim a seguinte:
A década de 60, no seu conjunto, corresponderia ao momento do que se poderia
chamar “crítica dialéctica” da cultura popular, marcada pela presença da categoria da
alienação no centro da sua abordagem da consciência das classes dominadas; a década
de 70 corresponderia a um gradativo deslocamento pelo esforço de “compreensão
antropológica”, tornada possível através de um recuo do cineasta, que resolve pôr entre
parênteses os seus valores – em alguns casos a visão marxista do processo social e da
ideologia - e renuncia à ideia da religiosidade popular como alienação. Abre-se espaço
para uma política de adesão que privilegia, nas representações dadas, uma positividade
quase absoluta, que as torna intocáveis porque testemunho da resistência cultural
frente à contaminação e afirmação essencial da identidade (Xavier, 2007: 25).
Apesar de Barravento, como conclui ainda este autor a partir de uma análise detalhada,
não poder ser visto apenas como “um discurso unívoco sobre a alienação dos pescadores na
sua miséria [...], todo o filme se contorce para que nele desfile a oscilação entre os valores da
identidade cultural – solo tradicional da reconciliação, da permanência e da coesão – e os
valores da consciência de classe – solo do conflito, da transformação, da luta política contra a
exploração do trabalho” (Xavier, 2007: 25 e 51). A representação do universo do popular
reflecte a emergência de toda uma ideologia em torno das classes “populares”, que irá
permear o cinema brasileiro principalmente em 1960-1962, mas que terá igualmente os seus
reflexos até ao golpe militar de 1964. “Um dos principais interesses do Cinema Novo foi, com
efeito, o de analisar uma sociedade agrícola que esteve sempre subjugada às contradições da
cultura de subsistência face às plantações de produtos de exportação” (Prédal, 1986: 27). Esta
concepção é, no caso brasileiro, marcada por um misto de idealização do povo com a ideia de
74
que nele existe, também, uma alienação manifesta na sua própria cultura.
Com o passar do tempo e das mudanças políticas, a enorme atracção pela imagem de
um Brasil arcaico e distante acabou por dar origem a uma série de filmes que tiveram como
núcleo temático recorrente uma forma de banditismo denominada cangaço, existente no
Nordeste durante primeira metade do século XX.
De um lado temos o fascínio pela realidade social e cultural do ‘outro’, do universo
distante da realidade quotidiana vivida pelo produtor cultural, a qual é renegada. Este
fascínio por um ideal que se busca na cultura do povo ainda permanecerá com vigor no
cenário do nosso cinema até finais da década de 1970. No entanto, no outro lado da
moeda do contexto ideológico de Barravento, está a face que apenas alguns anos mais
tarde seria veementemente negada e se constituirá na grande bandeira dos cultores da
elegia deste universo popular. Trata-se da crítica ao conceito de alienação que nesta
época costuma aparecer junto à análise das manifestações religiosas, política e culturais
do dito “povo”. A visão do mundo popular evolui da postura de desprezo inicial para
uma elegia laudatória (Ramos, 1987: 329- 30).
Assim, a partir de 1963, filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963), de Glauber
Rocha, eram marcados por uma “representação de um Brasil remoto e ensolarado, onde se
vislumbram conflitos de cunho político” (Ramos, 1987: 348), conflitos esses cada vez mais
importantes no cinema de Rocha:
On ne peut pas mieux dire les racines rurales de ce cinéma symbolisé par le Sertão aux
genêts d’un jaunne pâle rompant seuls la grisaille d’une herbe séche, comme décolorée.
Barravento (1962) est situé dans une village […] Mais les deux autres sont ruraux et
l’intolérable situation agraire du Nordeste constitue même le sujet unique du Dieu noir
et le diable blond puis d’António das Mortes (1964, 1969), ce dernier étant l’histoire
d’un ignoble vieux propriétaire terrien qui refuse la réforme agraire […]. On retrouve là
des schémas sociologiques proches de ceux expliquant l’émergence du banditisme dans
les sociétés rurales du sud italien. Le Cangaceiro est né de la terre et ne vit que par les
paysans qui fondent littéralement son existence (Prédal, 1986: 25).
O fim dos anos 60 viu aparecer um novo movimento chamado Cinema Marginal ou
Udigrudi (underground), como definiu Glauber Rocha. Os cineastas do Cinema Marginal, casos
de Rogério Sganzerla e de Júlio Bressane, fizeram obras irreverentes e anárquicas, de baixos
orçamentos e que tinham uma linguagem cinematográfica não-convencional. Em São Paulo,
esse movimento ocorreu na chamada Boca do Lixo, um dos maiores núcleos de produção
cinematográfica do Brasil. Curiosamente, o que vemos acontecer neste processo é a
75
instauração de uma nova centralidade: a representação do camponês e do operário no
primeiro Cinema Novo cedeu lugar a personagens como bandidos, traficantes e prostitutas.
O período posterior ao golpe de 1964 correspondeu a uma forte auto-crítica ao modo
como se estava a filmar o país, e no final da década o cinema preocupou-se fundamentalmente
em representar o Brasil e a sua história. Sintomático desta crise de representação do popular é
o livro Brasil em Tempo de Cinema, de Jean-Claude Bernardet. Escrito em 1965 e publicado em
1967, abordava de forma contundente a produção do Cinema Novo brasileiro da primeira
metade da década de 1960, afirmando que, para este, não se tratava absolutamente de
apresentar uma produção sobre o “povo”, mas sim “de uma classe média em busca de raízes”,
em diálogo com as elites dirigentes. A tomada de consciência de que as tentativas de
aproximação e de representação do universo do popular não passaram da expressão da
angústia e deslumbramento dos próprios cineastas gerou, na época, o que poderíamos chamar
uma crise ética. Se, na tentativa da expressão da “verdade da realidade” não se foi além da
representação dos próprios dilemas íntimos da burguesia, todo o projecto do Cinema Novo se
encontrava pois questionado (cf. Ramos, 1987: 358).
Esta consciência de que se estava a fazer uma construção do outro levaria a uma série
de novos filmes sobre o universo da burguesia. Mais uma vez, e tal como vimos para a
dicotomia entre o cinema inglês e o francês, o mundo da classe média foi criticamente
retratado na ficção, e o do povo, sempre acessível e pronto a receber os cineastas, sobretudo
no discurso do documentário. Um dos temas preferidos do Cinema Novo de ficção era, assim, a
burguesia depravada38 (Ramos, 1987: 339). Esta correspondência ficção-universo urbano e de
elite, de um lado, e documentário-universo popular, do outro, permite fazer algumas
comparações com o mundo cinematográfico português. No entanto, e de forma muito distinta
do que viria a acontecer entre nós, a corrente documentarista brasileira tinha uma forte
identidade, com grande influência das ideias geradas em torno do Cinéma Vérité em voga na
Europa no final da década de 1950. Nomes como Jean Rouch, Chris Marker, François
Reichenback, Richard Leacock ou Mario Ruspoli eram constantemente citados como autores de
um novo estilo (Ramos, 1987: 362). Este, que em Portugal, como veremos no capítulo 7 da tese,
terá sido mais usado nos anos revolucionários, marcado pelo uso do 16mm, pelo som directo e
pelo trabalho de câmara ao ombro, teve, pelo contrário, grande impacto na geração do cinema
brasileiro da década de 1960.39
38
O tema da burguesia depravada está presente em vários filmes, desde Manoel de Oliveira em O passado e o
presente, a Fellini em La Dolce Vita ou Buñuel em A Viridiana.
39
Para uma abordagem detalhada às especificidades do documentarismo brasileiro ver Teixeira (2004).
76
A introdução das técnicas do Cinéma Vérité no Brasil ocorreu no núcleo do Cinema Novo
do Rio de Janeiro através de um seminário, de 1962, a cargo do reconhecido documentarista
sueco Arne Sucksdorff, que ensinava as técnicas do cinema e do som directo, e organizado pela
Unesco. A partir daqui, entraram em cena no cinema brasileiro os gravadores Nagra. No âmbito
deste seminário, em que se experimentavam as possibilidades da gravação do som directo, foi
realizado o filme Marimbas (1962), “tido por alguns como o primeiro documentário brasileiro
com tomadas, ainda não sincrónicas, em som magnético”. O filme tratava os “pescadores que
ainda sobreviviam no posto 6 da praia de Copacabana” e foi construído “em torno de
entrevistas, procedimento estilístico que marca o cinema verdade” (Ramos, 2004: 86). Os
contactos com os cineastas americanos do Direct Cinema, o impacto da projecção do filme de
Jean Rouch e Edgar Morin Chronique d’un Été, em 1962, e as influências da escola
documentarista argentina explicam a eclosão de toda uma geração de documentaristas no
Brasil. De salientar, nove anos mais tarde, a produção de uma série de 19 curtas metragens
intitulada A condição Brasileira, que tinha por missão filmar as várias regiões brasileiras e os
seus costumes. A primeira e única série que viria a ser feita retratava o Nordeste:
O objectivo dos documentários é claro; divulgar e registar tradições da cultura
nordestina, em vias de desaparecimento. O tom das curtas gira em torno da
importância da preservação das tradições e costumes. O documentário e sua forma
narrativa aparecem como veículo próprio a este objectivo, mantendo-se, em geral, uma
voz over objectiva e assertiva que esclarece a importância e a dimensão das tradições. A
maior parte dos filmes trabalha com entrevistas e som directo, misturando-os à voz over
mais clássica (Ramos, 2004: 93).
Concluindo, relativamente ao documentário brasileiro nascido desta matriz mais
etnográfica, podemos afirmar que bebe nitidamente da escola do cinema directo americano e
do Cinéma Vérité francês a marca do seu estilo. De notar que o filme etnográfico científico
brasileiro também conta com idêntica influência. No entanto, esta modalidade começaria
muito antes, associada aos trabalhos fotográficos e depois cinematográficos do Museu
Nacional do Rio de Janeiro, com filmes que tratam as expedições às terras da Amazónia, como
Rondônia (1912), feito por Roquette Pinto. Até aos anos 1950, o filme etnográfico brasileiro
centrou-se nos diversos grupos étnicos dos índios da Amazónia, com destaque para os
trabalhos realizados por Claude e Dina Lévi-Strauss, nos anos 1930, e pelo alemão Harald
Schultz que colaborou, tal como os etnólogos portugueses, com a Encyclopaedia
Cinematographica do Instituto Alemão de Göttingen. Embora a formulação de uma
Antropologia Visual no final dos anos 1960 já apresentasse resultados na produção inglesa,
77
francesa ou americana, no Brasil o filme etnográfico estava ainda “primordialmente vinculado
aos estudos de sociedades indígenas, à sua cultura material, festas e tradições”. Só nos anos 80,
com Terence Turner a filmar os Kaiapó, com o projecto Vídeo nas aldeias e com Eduardo
Coutinho,40 se abriram caminhos novos no filme etnográfico brasileiro (Monte-Mór, 2004: 109).
Quanto ao Cinema Novo brasileiro, que tratava a cultura popular de modo mais
ficcionado, podemos dizer que, na sua representação do povo, fez fundamentalmente um
duplo movimento. Num certo sentido, representou e inspirou-se em retratos do povo e em
narrativas populares, para, num outro, querer chegar a um público que era visto pelos
ideólogos deste cinema como sendo igualmente popular: “o Cinema Novo vai buscar inspiração
na forma narrativa das manifestações culturais tipicamente populares. Visto que a expressão
popular não tinha no Brasil tradição no sentido do drama clássico, Glauber Rocha defendia uma
aproximação que escapava simultaneamente da linguagem ‘ditatorial’ do cinema norte
americano e se aproximava do povo, e portanto do grande público” (Ramos, 1987: 374). Como
verificaremos, esta atitude aproximava-se da dos cineastas revolucionários portugueses, que
tinham uma preocupação central de chegar ao público popular, o que a meu ver explica o forte
uso de uma narrativa em off e de um comentário que tendia a ser explicativo e pedagógico.
Sintetizando, para além da especificidade de um trabalho histórico sobre o cinema, que
discuti no início, este capítulo destacou alguns aspectos e recorrências na passagem de uma
“velha” para uma “nova” atitude na forma de olhar a cultura popular. Em primeiro lugar,
realcei a forma como o cinema português que me interessa estudar criou a sua identidade em
torno de uma teorização que partiu, em França, da chamada política de autor. O realizador
deixou de ser alguém cuja função era eminentemente técnica – passar à prática um argumento
baseado numa obra literária - para ser concebido com autonomia artística e um olhar que
comanda e determina a economia do filme. Esta é a primeira ruptura a assinalar, que
autonomizou o cinema, ou um discurso sobre ele, e que seria assimilada pelos cineastas e
críticos portugueses.
Em segundo lugar, sobrevoei as escolas europeias de cinema que podem servir-nos aqui
de referência, a fim de perceber as afiliações e influências sofridas pela geração
correspondente em Portugal. Busquemos aqui, então, alguns traços comuns. Antes de mais, a
importância do cinema feito nos anos do cinema mudo – notadamente o russo - e a forma
40
Eduardo Coutinho nasceu em 1933 e é importante mencionar o seu projecto de 1961, que foi interrompido pelo
golpe militar, sendo toda a equipa presa. Em 1981 Coutinho encontrou a película e terminou o seu filme Cabra
marcado para morrer (1981), iniciando a carreira de realizador aos 50 anos, embora pertença à geração do Cinema
Novo. Realizaria depois outros filmes importantes como Santa Marta: duas semanas no morro (1987) e Boca do
Lixo (1993). Sobre este realizador, ver a síntese feita em Lins (2007)
78
como este foi recuperado e actualizado à luz das novas noções artísticas e estéticas do cinema
de autor, em especial o que olhava para a relação do homem com a natureza, procurando
integrá-lo numa paisagem. Durante a década de 1960, a circulação cinematográfica e as
contaminações com a produção de outros países, sobretudo a francesa, não dependiam apenas
da contemporaneidade. Com efeito, muito do cinema que havia sido feito nos anos 1920 e
1930, nomeadamente o anterior ao sonoro, foi recuperado e actualizado à luz das novas
noções artísticas e estéticas em torno da noção de autor. Assim, este movimento de um novo
cinema é, ao mesmo tempo, de transformação, renovação e de reabilitação das
cinematografias anteriores.
É importante notar, por exemplo, como existe algo no gesto de filmar o rural e a
natureza que pode ser encontrado neste reatamento com o cinema mais antigo e com pouca
visibilidade. Prédal refere, por exemplo, a grande circulação da produção da URSS que
antecipou esta vaga, um tipo de cinema da terra e da “sinfonia pastoral”, que influenciou
cineastas e cineclubistas como, para o nosso caso, António Campos. Exemplo disso são as obras
de Eisenstein, como Staroye i novoye (1929), ou de Alexandre Dovjenko, filho e neto de
camponeses, que fez Dès Zvenigora (1928), filmado na Ucrania, obra experimental, onde se
misturam épocas, símbolos e níveis de leitura, e Zemlia (1930), uma obra que “vibre ainsi à
l’unisson du travail agricole magnifié dans sa dureté mais aussi sa grandeur” (Prédal, 1986: 29).
A circulação deste cinema pode explicitar e dar pistas para perceber o fascínio por um certo
tipo de representação da ruralidade, e em especial da paisagem rural, a que assistimos na
época.
A l’opposé de ces films ou le combat entre les hommes se double d’un affrontement
encore plus redoutable avec une nature toujours violemment hostile, la représentation
du monde paysan dans le cinéma soviétique est quasiment indissociable de l’exaltation
du culte de la nature. Mais s’il y a toujours dans les films russes des bouleaux qui
dansent et des fleuves qui dégèlent au Printemps, ce panthéisme ne doit pas se
confondre avec une analyse du monde rural, d’autant plus que les images de renouveau
de la nature sont généralement utilisées à des fins métaphoriques pour suggérer autre
chose : la terre, c’est la nation ; les récoltes sont le fruit du travail ; le printemps, c’est le
renouveau ; la débâcle d’un fleuve impétueux, le triomphe de la révolution (Prédal,
1986: 27).
De notar, também, que a recepção cultural do cinema neo-realista italiano em Portugal
aconteceu em especial na década de 1950 através do movimento cineclubista, como
79
demonstra na sua tese Christel Henry (2006).41 No entanto, tudo se passou como se, no
discurso da crítica, e apesar das variações, a recepção do filme italiano, em especial o neorealista, servisse de alegoria, de instrumento, para se expressar o que não podia ser dito sob
um regime repressivo. Assim, as influências das outras cinematografias, nomeadamente a
italiana, foram por vezes mais sentidas na forma como se escrevia sobre os filmes do que na
forma de filmar. Christel Henry refere que, em conversa com Alberto Seixas Santos, este lhe
confessou: “creio que não houve cinema neo-realista em Portugal, o nosso neo-realismo foi o
movimento cineclubista” (2006: 21). Trata-se aqui da diferença entre aquilo que os realizadores
de cinema faziam, o que o público da elite cultural consumia e o modo como recebia o cinema
vindo do estrangeiro, guiado, em grande parte, pela crítica e pela intelligentzia da época. O
espírito do neo-realismo, não tendo podido concretizar-se na película, por razões políticas e
históricas, exceptuando alguns casos que vou referir mais adiante, passou pelo espírito
construtivo, batalhador, e formador de consciências operado pelo cineclubismo, tão forte em
Portugal.
Este movimento não foi, no entanto, uniforme no nosso país, tendo existido cineclubes
mais implantados num ambiente popular, como o do Barreiro, e outros mais ligados às elites
lisboeta, como o Cineclube Imagem, ou portuense, caso do Cineclube do Porto. Havia, também,
os cineclubes alinhados com a política cultural do salazarismo, como o de Rio Maior, que
rejeitou o cinema italiano. Assim, como afirma Henry, “o neo-realismo foi para os intelectuais
portugueses de esquerda mais do que um acontecimento cinematográfico sem igual na história
do cinema, um ponto de partida para um discurso periférico que mais tinha a ver com a
ideologia e a política na sua acepção mais vasta, mais do que com a própria arte
cinematográfica”. Se olharmos os programas dos cineclubes portugueses, vemos como o neorealismo italiano está presente até uma época bastante tardia, ou seja, até finais dos anos 60,
mantendo-se como uma espécie de luta indirecta, uma “mensagem de protesto e de espírito
contestatário” (Henry, 2006: 422 e 24).
O cinema acaba, assim, por ser pretexto para um discurso que pouco tinha a ver com os
filmes: para os críticos portugueses Itália tornava-se “um espaço mental, um lugar que não
existia”, “um país quase imaginário onde o cinema tão desejado pelos críticos portugueses”
podia “finalmente concretizar-se, dada a impossibilidade de pôr em prática um cinema neo41
Esta tese trabalha com um conjunto de filmes italianos que passaram nos circuitos dos cineclubes entre 1945 e
1965, exceptuando aqueles que parecem pertencer à “modernidade” dos anos 60, ou seja, inclui todos os filmes
considerados neo-realistas pela comunidade crítica internacional e todos os filmes que deles derivam quer se trate
dos novos autores, como Antonioni ou Fellini ou de Rossellini da segunda fase, ou ainda dos produtos abarcados
pelo “neo-realismo cor-de-rosa” que mantém todavia um conteúdo social e uma relação com a realidade (Henry,
2006: 25).
80
realista em Portugal” (Henry, 2006: 430). O cinema neo-realista antecipava, por outro lado,
uma aproximação à ruralidade, à ideia de autenticidade por que, talvez os críticos antes dos
cineastas, se ansiava. Como escreveu em 1951 o meu avô Henrique Alves Costa:
É preciso vir um De Santis, com uma serra como as nossas, uns pastores como os
nossos, um sol e um folclore como os nossos, fazer um filme que podia ser português. O
Marão, a Estrela... vamos vê-las... na Itália! E lá nas fragas do Lindoso e de Arouca, todos
os dias, tantos acontecimentos, tantos caracteres, tantos usos e costumes à espera dum
De Santis nacional. Triste verdade! Enquanto que as nossas fitas se desenrolam num
mundo falso, com fantoches com que ninguém se pode identificar, é em A porta do céu
ou em Não há paz entre as oliveiras que vamos encontrar-nos em nossa casa, com seres
autênticos, como nós, que conhecemos, que poderiam ser qualquer um de nós. 42
Se a concretização do neo-realismo se deu em Portugal fortemente na literatura,
quando passamos para o domínio do cinema, e exceptuando experiências pontuais como a de
Ernesto de Sousa ou Manuel de Guimarães, este movimento apareceu associado e centrado
nos guiões, nos conteúdos, na crítica escrita; não tanto na realização. Henry nota como a
crítica portuguesa, cujo discurso vai citando detalhadamente, passou de uma escrita fechada
em dogmas marxistas, para, já nos anos 1960, dar lugar a um discurso expurgado de ideologia
e, sobretudo, moderno na abordagem que fazia aos filmes.
De notar, também, a forma como algumas revistas de cinema serviram de veículo ao
discurso, tantas vezes politizado, da crítica. Isto é verificável em especial tanto na revista
Imagem, dirigida por Baptista Bastos, e, a partir da segunda série, por Ernesto de Sousa, como
também nas Visor e Celulóide, dirigidas por Fernando Duarte. A partir de 1959, surge também a
Filme, dirigida por Luís de Pina com uma “neutralidade bem intencionada” (cf. Henry, 2006:
439). Estes suportes permitem perceber, de modo mais detalhado, a forma como era recebido,
criticado e apropriado o cinema que era visto quer nos circuitos mais comerciais, quer nos mais
alternativos. Por outro lado, detectam-se divisões entre uma esquerda marxista e uma
humanista, presentes na 2ª série da revista Imagem, mas também entre revistas como a
Celulóide ou a Visor, que se integram numa política de direita, sem incorporar, mais uma vez, as
teorias da cultura do espírito de António Ferro.
Para perceber as influências sofridas pela geração de 1960 – e para além da
cinematografia russa dos anos 20 ou da literatura crítica ao cinema neo-realista italiano –
encontrei um traço comum às cinematografias internacionais da época. Trata-se das mudanças
nos meios de produção, com a valorização de filmes feitos em pequena escala e com poucos
42
“Caminhos errados” em Imagem 1ª série, nº 12, Outubro de 1951.
81
meios, resgatando cineastas do domínio antes considerado amador, para um cinema visto
como alternativo e de elite. De facto, os meios de produção em cinema não se podem separar,
como vimos para o caso brasileiro com a ideia de uma estética da fome, do contexto intelectual
e do ethos dos seus intervenientes, nem tão pouco da procura de uma linguagem
cinematográfica singular. Como nos lembra mais uma vez Ismael Xavier, quando se trabalha a
partir de filmes, nem sempre se escolhe com total liberdade os temas a trabalhar, visto que não
se pode ignorar os debates que estes já transportam consigo: cada filme e cada autor tem
associado a si uma crítica que já tinha seleccionado e destacado certos temas, apesar de um
debate necessário e directo com os filmes (cf. Xavier, 2007: 16).
Finalmente, há que ter em conta a divisão entre um cinema de raiz realista mais documental,
radicado essencialmente em Inglaterra, e um cinema realista de raiz poética, francês, mas com
derivações europeias, a que os críticos portugueses, na tentativa de identificação do seu
cinema, parecem ligar-se mais. Este facto está relacionado com a importância que teve para a
geração de 1960 a relação com o universo intelectual francês de esquerda. Foi em Paris, no
IDHEC, que Paulo Rocha conheceu Cunha Telles, que viria a ser seu produtor, e Costa e Silva,
futuro director de fotografia e realizador, de que falarei mais à frente. Como conta Paulo
Rocha, “era o princípio de uma pequena máfia cinéfila, a sonhar com revoluções lisboetas. Paris
estava cheio de refugiados políticos futuramente ilustres, os cafés do Quartier falavam
português” (Andrade, 1997: 23). Fernando Lopes, vindo de Londres e portanto mais
influenciado pelos movimentos do documentário, começava a trabalhar como montador para a
televisão. Segundo afirma, dando uma pista sobre o tipo de discussão que acontecia entre os
cinéfilos deste período:
Acabámos por travar conhecimento e como vivíamos todos próximos uns dos outros
acabou por nascer uma relação de amizade, com cumplicidades estéticas, embora eu
tivesse sempre imensas discussões com o grupo, particularmente com o António-Pedro
Vasconcelos e com o Alberto Seixas Santos – mais ainda do que com o Paulo. Eu era
considerado o montador e acreditava na montagem, e eles, como era óbvio naquela
altura, só acreditavam na mise-en-scéne, que era a grande questão que tinha sido posta
pelos Cahiers du Cinéma: tudo o que se passa passa-se dentro do plano, a montagem
está dentro do plano (Andrade, 1997: 68).
Mais tarde, na década de 1970, Portugal recebeu as influências tardias do que tinha
acontecido no cinema brasileiro, com a vinda de Glauber Rocha para Portugal, e
fundamentalmente com o fim da censura que permitiu que se visse todo o cinema brasileiro e
da América Latina.
82
Destaquei, pois, neste capítulo, para além da influência europeia, e depois francesa, a
história do cinema espanhol e do brasileiro, por neles encontrar importantes pistas
comparativas para pensar o cinema português e em especial a imagem que este deu do país.
No caso espanhol, o corte de um cinema do regime para um cinema neo-realista permite
aceder a uma ruptura na forma como se olhava o mundo rural, por relação ao urbano, em
muito semelhante ao caso português. Como vimos, encontramos em Buñuel, já nos anos 1930
e com o filme Las Hurdes (1932), uma referência essencial para entender o modo como se
desenvolveu uma atitude anti-pastoral, em que a miséria ocupava um lugar de destaque e cujas
raízes se podem encontrar no movimento surrealista. O paralelo com as teorias de Glauber
Rocha em torno da estética da fome, embora surgidas duas décadas depois, confirmam, por
comparação, que em Portugal não parece ter existido, pelo menos no período da ruptura, ou
seja, a partir de 1962, e de forma tão marcada, um cinema, e em especial um pensamento ou
uma teorização, que trabalhasse a cultura popular a partir da visão da contra-pastoral.
Podemos ainda distinguir o caso português do brasileiro, em que o campo - em especial na
passagem da personagem do cangaceiro para a do camponês - passou de espaço arcaico, a
partir do qual se pode fazer a crítica do atraso, para ser visto como um paradigma moral bom
para criticar a civilização (cf. Leal, 2000: 163).
No contexto do cinema espanhol quis ainda reforçar as características da passagem de
um cinema que não só era centralizado como tratava a nação como um todo – e a Andaluzia
surgia por excelência como a região que representa a nação – para um cinema que trabalhava,
na produção, a nível regional. A dicotomia Madrid-Barcelona permite pensar sobre a forma
como o cinema servia de arma política para olhar uma região, mesmo quando esse olhar partia
do seu próprio imaginário e, para isso, criava as suas estruturas de produção. Em Portugal,
nunca se construíram durante este período estruturas de produção, por exemplo, no Porto ou
em Coimbra. O cinema brasileiro, pelo seu lado, e em contraste com o da Península Ibérica,
parecia trabalhar mais claramente o gesto de filmar o povo, que se opõe ás classes médias,
associando esta dicotomia povo/ burguesia à dicotomia documentário/ ficção. O corte feito
pela geração do novo cinema brasileiro apresenta traços comuns com o caso português. Mas a
visão politizada daquela cinematografia – em termos de conteúdo e pelo modo como pretendia
chegar a uma audiência popular – chegaria a Portugal mais tarde, já nos anos 1970. Embora as
temáticas da cultura popular fossem semelhantes, os ambientes e as personagens mudavam.
No entanto, trata-se da mesma procura do outro, da interioridade de um país, e de um
universo distante daquele do realizador.
83
CAP 3 Contexto histórico nacional
Cada geração, literária ou não, articula a consciência de si que a distingue e a sublima,
em volta de duas experiências. A primeira é a invenção de uma personalidade liderante,
de um foco de energia vital e moral, um “par inter pares” que polariza uma atenção
suplementar e a quem os outros, seus camaradas e seus iguais, acordam uma
importância que a todos define e une. A segunda é a revelação pessoal, o contacto
igualmente “vital”, se assim se pode dizer, não com a morte em geral, mas com um
morto da mesma geração que realiza antes de todos a experiência emblemática
suprema.
Eduardo Lourenço (2007: 99).
O ano da ruptura
Já traçadas algumas pistas para pensar questões que atravessam todo o cinema da época que
marca o gesto cinematográfico em estudo aqui, a partir de um contexto internacional, gostava
de fornecer agora outras tantas para pensar o contexto histórico português, central a esta tese,
e em especial o caso do cineasta que, como diria Eduardo Lourenço, realiza antes de todos a
experiência emblemática suprema, Manoel de Oliveira. Não pretendo fazer um contributo para
uma nova história do cinema português, para a qual considero que existem já análises
fundamentais, mas antes apontar, dentro desta história, algumas linhas que nos indiquem o
caminho para entender o contexto histórico de um cinema de vocação etnográfica na sua
ligação com a representação da identidade nacional, tendencialmente ligada à cultura popular
de matriz rural. Parti da ideia de que este tipo de cinema produz um discurso sobre a cultura
popular portuguesa, uma ideia do país, ou da sua memória, cuja homogeneidade quero
questionar. Na literatura sobre cinema português existem alguns estudos que reflectem,
implicitamente, acerca da relação entre este cinema, as suas especificidades e a identidade
nacional. Estes trabalhos, que incidem essencialmente sobre o cinema de ficção, ajudam a
estabelecer uma cronologia que define um período fundamental da história do cinema
português, de 1962 ao final da década de 70, em que, penso eu, podemos observar uma
representação
do
povo
como
universo
qualificado
e
valorizado
esteticamente.
Independentemente do género cinematográfico preciso pode observar-se neste período uma
tendência documental, etnográfica, ou uma atitude que incorpora a ideia de etnografia, mais
ou menos espontânea.
Existe uma história instituída, consensual e aceite do cinema português, que repete
nomes e filmes, excluindo outros como veremos, por exemplo, para o caso do cineasta de
84
inspiração neo-realista Manuel de Guimarães. Esta literatura detecta tipologias e define
cronologias similares. As mais importantes contribuições para a história do cinema português
são, sintomaticamente, as dos três consecutivos directores da Cinemateca Portuguesa43: Felix
Ribeiro com o livro Filmes, Figuras… dedicado aos anos 1869-1949 (1983), Luís de Pina, que
escreveu Panorama do Cinema Português (1978), e História do Cinema Português (1986) e,
finalmente, Bénard da Costa, autor de Histórias do Cinema Português (1991). Temos depois
dois autores que escreveram sínteses fundamentais: Alves Costa, com a sua Breve História do
Cinema Português 1896 a 1962 (1978) e, a dar-lhe continuidade, o pequeno livro de bolso de
Eduardo Prado Coelho Vinte Anos do Cinema Português que trata o cinema entre 1962 a 1982
(1983). Outras duas importantes monografias sobre o cinema sonoro e especialmente de crítica
ao Estado Novo são O Imperialismo e o fascismo no cinema, de Eduardo Geada (1977), e
Portugal um Retrato Cinematográfico (2004), de Nuno Figueiredo e Dinis Guarda. Os
prontuários de José de Matos-Cruz (1989, 1998, 1999, entre outros) e os dicionários de Jorge
Leitão Ramos (1989, 2005) inventariam, datam, e completam fichas técnicas. Foram publicados
recentemente três livros que, de certo modo, marcam uma nova forma de escrever sobre o
cinema português, no sentido em que preferem aprofundar e tratar algumas obras e
realizadores, e não tanto fazer uma resenha pormenorizada de todos os filmes importantes
para determinados períodos. Trata-se de O Cinema da Não Ilusão, de João Mário Grilo (2006),
de O Cinema Português através dos seus Filmes, uma colectânea de textos que tratam, cada
um, um filme, editado por Carolin Overhoff Ferreira (2007) e, por fim, a reedição do livro de
2001 O Cinema sob o Olhar de Salazar (2011) coordenado por Luís Torgal. De referir, ainda,
algumas teses académicas, que reflectem sobre a adaptação literária, o movimento dos
cineclubes, o cinema colonial e o cinema novo. As de mestrado são de Fausto Cruchinho, sobre
Manoel de Oliveira, de Paulo Cunha (2005) Os filhos bastardos: Afirmação e reconhecimento do
Novo Cinema Português 1967-74, e de Paulo Granja (2008), As Origens do Movimento dos
Cineclubes em Portugal, 1924-1955. As dissertações de doutoramento de salientar são as de
Chistel Henry, já referida, A Cidade das Flores: Para uma Recepção Cultural em Portugal do
Cinema Neo-Realista Italiano como Metáfora Possível de uma Ausência,44 de Paulo Filipe
Monteiro (1995) Autos da Alma: Os Guiões de Ficção do Cinema Português entre 1961 e 1990, e
de Maria do Rosário Lupi Bello (2005) Narrativa Literária e Narrativa Fílmica: O caso de “Amor
43
Isto para a época em questão aqui. Em relação ao cinema português primitivo, antes ainda da invenção dos
irmão Lumiére, ver Santos (1990).
44
Publicada na colecção "Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas" da Fundação Calouste Gulbenkian.
Todos estes autores estão ligados ao Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de
Coimbra - CEIS20 que congrega investigadores de diversos domínios científicos e de várias instituições.
85
de Perdição”. Manuela Penafria escreveu também uma tese de doutoramento publicada em
2009 e intitulada O Paradigma do Documentário. António Campos, Cineasta.45
Os autores fundamentais da história do cinema português definiram, portanto, os
marcos cronológicos ou a datação de períodos, mais ou menos consensuais, especialmente a
partir de Alves Costa (1978), que considerava um grande período entre 1896 e 1962 e, dandolhe continuidade, Prado Coelho identificou subsequente cobrindo os anos de 1962 a 1982. Luís
de Pina (1986) assumiu os seguintes períodos: pré-história (1896-1919); cinema mudo (19191930); do sonoro até à lei da protecção (1931-1948); da crise dos anos 1950 ao novo cinema
(1950-1962); cinema novo e cinema velho até Abril (1962-1974); finalmente, o cinema de Abril
(de 1974 até ao ano de publicação do livro em 1986).
João Mário Grilo (2006) definiu, para o cinema português, e utilizando uma outra
terminologia, três períodos: os começos (1896-1930), um cinema de actores (1930-1950) e, por
último, um cinema de autores (1960-1990).46 Como vimos antes, a própria ideia de “cinema de
autor” foi fundamental para a identidade do cinema europeu e de toda uma geração ligada aos
movimentos da Nouvelle Vague e dos Cahiers du Cinema. Esta classificação por tempos, ou
escolas é mais interessante para mim do que, como vimos no capítulo inicial quando referi os
critérios de escolha do corpus em análise, uma classificação por “género cinematográfico”, pois
permite o cruzamento com outras classificações temporais vindas da história da arte ou da
antropologia. A primeira constatação fundamental é a de que 1962 é um ano considerando,
consensualmente, como um ano de transição. Há um antes e um depois de 1962:
Se há que buscar um momento de ruptura, de mudança na nossa cinematografia só o
encontraremos em 1962, quando uma geração de cineastas formada no cineclubismo,
na crítica, e que havia passado, em geral, por cursos em França e Inglaterra, chega à
longa metragem. Anunciado por dois filmes de charneira (Pássaros de Asas Cortadas de
Artur Ramos e Dom Roberto de Ernesto de Sousa), iniciado sem fragor por uma curta
metragem de Fernando Lopes (As Pedras e o Tempo), o Cinema Novo tem em Verdes
Anos o seu primeiro momento de fôlego. A história do cinema português desde então é
45
Publicado por LabCom, 2009, Covilhã. De referir ainda o livro entretanto publicado, e que produz algumas
sínteses sobre o Cinema Português por Leonor Areal (2011). Esta autora realizou uma tese de doutoramento em
Ciências da Comunicação/Cinema, em 2009, na FCSH-UNL, intitulada Um País Imaginado - Ficções do real no
cinema português.
46
Falta aqui ainda uma última cronologia. Eduardo Geada defendeu que a produção cinematográfica dos anos
1930 e 1940 se dividiria entre a comédia populista (por exemplo, O Pai Tirano, de António Lopes Ribeiro, 1941), o
folclore rural (Lobos da Serra, Jorge Brum do Canto, 1942), o nacional-canconetismo (Fado, História d’uma
Cantadeira, Perdigão Queiroga, 1947) e, finalmente, o filme histórico-patriótico (Inês de Castro, Leitão de Barros,
1945). Este último é designado pelo autor como “um filme de exaltação nacionalista, não raro baseado em
biografias romanceadas de heróis exemplares, cuja missão suprema consistiria em relançar, aos olhos dos
portugueses e do mundo, através da grandiosidade dos feitos, dos cenários e do guarda roupa, a iconografia
romântica da alma lusíada e da sua missão civilizadora e cultural” (Geada, 1977: 78).
86
a da implementação dessa geração (ainda hoje dominante na prática e no poder das
instituições do cinema em Portugal) e do estertor rápido dos cineastas de 50. Quando
chegou a Revolução de Abril já nada havia a resolver nessa disputa: a lista de subsídios,
anunciada poucos meses antes, pelo Instituto Português de Cinema criado por Marcello
Caetano, era clara no reconhecimento de que, mesmo para o poder de então, o cinema
português era o cinema Novo, apesar de não afecto ao regime (Ramos, 1989: 12).
Gostaria de começar por colocar algumas questões. Por um lado, fará sentido
considerar que, de facto, a partir de 1962, alguma coisa muda no modo como se filma em
Portugal? Julgo que é importante, para tal, perceber os antecedentes deste cinema, e é isso
que quero fazer agora, para poder então passar a uma pergunta mais específica: será que
podemos identificar o momento em que se dá o advento de uma certa maneira de olhar o
povo? E terá ela traços semelhantes aos que observamos no cinema espanhol (a visibilidade do
subdesenvolvimento rural, as ligações da etnografia com o surrealismo, os modos de produção
experimentais) ou no brasileiro (o cinema como testemunho, a procura da interioridade como
prova de autenticidade)? Quais serão as origens desse gesto, a sua raiz, a génese do cinema de
carácter etnográfico? Para responder, procurarei saber se essa raiz pode ser encontrada no
filme a que Grilo (2006) chama “matricial”, o Acto da Primavera, de Manoel de Oliveira, pai
fundador de uma escola cujas regras parece antecipar. Parto da ideia de que a vertente
documental e etnográfica serve para referenciar esta relação do cinema com o povo, para
depois, ao longo da tese, alargar as fronteiras dos géneros cinematográfico e poder prosseguir
com a análise de alguns movimentos mais radicais e de fronteira do cinema português.
A génese: dois filmes fundadores
O flash back que faço aqui deve-se à necessidade que senti de perceber o exacto momento em
que a vontade de produzir uma outra representação do país começa a ser problematizada e
pensada. Para isso recuo aqui aos finais dos anos 1920. É importante, julgo eu, ir aos
antecedentes do Acto da Primavera, feito em 1962, e tentar perceber onde começa a veia
documental, um gesto que remonta a dois filmes, correspondendo também a dois olhares
sobre o povo, e que importa contextualizar: o filme de Leitão de Barros (1896-1967), Nazaré,
Praia de Pescadores, filmado em 1927, com estreia em 1929,47 e Douro Faina Fluvial, datado de
1931, de Manoel de Oliveira. Estes são, nas palavras de Luís de Pina (1977b: 11),
47
A datação dos filmes é feita com base no ano de estreia, e não de rodagem. O critério usado será este, sempre
que nos encontramos perante situações destas.
87
respectivamente, “o nosso primeiro documentário digno desse nome e o clássico do nosso
documentarismo”. Em embrião, encontramos já nestes dois filmes uma veia documental,
realista e preocupada com os universos populares, neste caso o dos pescadores da Nazaré e o
da zona ribeirinha do Porto, que serão plenamente desenvolvidos mais tarde, na década de
1960. É esta veia, reveladora de uma atitude que em muito se distinguia daquela do cinema
oficial, que interessa aqui identificar e de certo modo resgatar, para esta análise da tendência
etnográfica do cinema português.
O filme de Leitão de Barros surge ligado ao arquétipo de um certo documentarismo
desta época que trata a relação do homem com a natureza, observada através de uma
simbiose, tal como encontramos em Nanook, o Esquimó de Robert Flaherty (1928).48 O filme de
Oliveira, pelo seu lado, funda-se num outro eixo do documentarismo da época, em especial na
série de sinfonias urbanas que começa com Walter Ruthman, Joris Ivens (The Bridge) e Dziga
Vertov (O Homem e a Câmara de filmar). O paralelo com Flaherty e o romantismo americano,
por um lado, com Vertov e o desconstrutivismo soviético, por outro, considerados os dois
movimentos fundadores do género cinematográfico que mais tarde se denominou
documentário, faz sentido para pensar as bases do corpus de filmes que trata esta tese. No
filme Nazaré, praia de pescadores sobressai a relação do homem com a natureza, no Douro
Faina Fluvial a relação com a civilização, a máquina, embora num universo ainda rural, com os
carros de bois a ajudarem no trabalho dos desembarques portuários. Em ambos, um olhar
sobre o povo que privilegia e valoriza a ideia de faina, o trabalho, a sobrevivência, uma certa
dureza ligada a um quotidiano que depende dos recursos quer da natureza, quer da civilização.
Estamos portanto no período que vai de 1919 a 1930, correspondente ao cinema mudo
e ao aparecimento da chamada “geração de 30”, uma nova geração de cineastas nascidos do
modernismo, cujo contexto é necessário explicitar aqui. O primeiro sinal deste movimento é o
referido Nazaré, Praia de Pescadores, de Leitão de Barros, que nos anos 1930 se transformaria
num representante ideológico do regime salazarista. Bénard da Costa afirmou que o filme é
“plasticamente admirável e talvez nunca mais tenha voltado a ser conseguido um cinema com
tanta força e pureza, na obra do autor” e ainda que, depois de Manoel de Oliveira, este é “o
maior cineasta dos nossos anos 30 e 40” (1991: 42). Dois anos mais tarde, Leitão de Barros faz
um outro documentário romanceado, Maria do Mar, e com ele transformou-se no herói de
uma nova geração de cineastas (de que fazem parte Jorge Brum do Canto, Chianca de Garcia,
Lopes Ribeiro e Cotinelli Telmo) que “rejeitava o que tinha sido feito nos anos 20 e admirava as
48
Curiosamente, o primeiro filme sonoro difundido na sua versão integral, em Portugal, foi White Shadows in the
Souht Seas (1929) de W.S. Van Dyke e Robert Flaherty, no dia 5 de Abril de 1930, no cinema Real de Lisboa (Costa,
1991:47)
88
obras dos soviéticos e da vanguarda francesa” (Barnier, 2007: 20). Nitidamente influenciado
pela onda cinematográfica europeia, designadamente a soviética, Leitão de Barros construiu
um filme documental seguindo uma “concepção de cinema puro, que a luminosidade e o
recorte a preto e branco de Costa de Macedo acentuavam no plano plástico”. A Nazaré e as
suas gentes são, de resto, “um tema a preto (os fatos, as sombras, as redes) e branco (as casas,
a areia, o céu) e o cineasta, também pintor, compreendeu-o perfeitamente. Mas acrescentou
aos elementos descritivos o toque lírico, aqui e além reforçado pela pura invenção
cinematográfica” (Pina, 1986: 59). Quando escreveram sobre este filme, os autores insistiam
nas ideias de “realidade”, “verdade” e “documento etnográfico”. Surge aqui portanto uma
noção de que algo de novo acontecera no cinema português a partir deste filme e que, ao
contrário de muitos documentários posteriores, Leitão de Barros criava um “ambiente verista”
que, “mesmo em tom de crónica fugidia, não deixava de acentuar contrastes, de dinamizar
conceitos visuais”. Os críticos e historiadores perceberam o filme de modo diferente do
público, “um público snobe e lisboeta que reagiu mal àquele primeiro filme de saloios, o
mesmo público do S. Luís que reagiu mal aos Lobos, de Rino Lupo”. Mas, continuava Luís de
Pina, “a crítica e os entendidos repararam que talvez tivesse nascido ali um possível cinema
português. Era um caminho, que viria a ser trilhado por alguns, e que teve sempre a vantagem
de fugir às ilusões realistas pela via do lírico e, porque não, do sentimental” (Pina, 1986: 60).
O uso do termo etnográfico aparece no discurso da crítica associado ao retrato de uma
verdade, em que os rostos têm rugas, a pobreza é mostrada, e a realidade é “brutal” :
José Leitão de Barros não esqueceu que devia o seu reconhecimento no público aos
documentários[...]. As imagens de uma quinta e dos seus pobres habitantes aproximam
o filme da Nazaré e dos seus espectadores. Os rostos são marcantes, filmados com
grandes planos. As mulheres são enrugadas, sem idade. Por momentos pensa-se num
documentário etnográfico com uma música simples, bela e grave em vez de qualquer
comentário. Esta quinta é filmada sem nenhum folclore e não possui camponeses bem
nutridos e felizes. É a realidade brutal da vida do campo” (Barnier, 2007:23).
As ligações que podemos estabelecer com o realizador clássico que, para muitos, funda
o documentário, Robert Flaherty, são muitas. Esta relação com o cineasta americano foi
reafirmada quando comparada “a força do início do filme” às “mais bonitas passagens dos
documentários de Robert Flaherty ou Joris Ivens, filmados na mesma época.” (Barnier, 2007:
24). A ideologia romântica do cinema de Flaherty pode na verdade ser, e em certa medida,
aplicada a este filme:
89
All Flaherty’s films are variations on one ideal : happiness exists when man is free and
lives simply and harmoniously with nature. Inevitably, however, there must be conflict
and, in order to affirm the ascendancy of the human spirit, Flaherty concentrates on
conflicts between man and nature rather than those between men. Nature thus serves
both as a central motif and as a main character, symbolized by the animal and natural
forces that co-exist with man but are also his antagonists (Barsam, 1992: 7).
O segundo filme “fundador” que me interessa referir ainda no período mudo do cinema
é Douro, Faina Fluvial (1931) de Manoel de Oliveira, feito por um “jovem desportista
portuense, cinéfilo sincero e amigo das coisas da cultura [...], empregado na fábrica paterna,
que usou uma pequena Kinamo de corda” (Pina, 1986: 67). O filme contrasta com o retrato dos
pescadores da Nazaré, ainda marcado pelas tipologias pitorescas nacionais, e mais uma vez, em
Oliveira, se percepciona aquilo a que Grilo chama já de uma etnografia: “onde a etnografia de
Oliveira revelava constantes e surpreendentes passagens para um idealismo estético, de
vocação universal e modernista, a de Leitão de Barros expunha, na segurança de um saber
técnico de escola [...] uma menor inquietação formal e um maior interesse no recenseamento
sistemático, analítico e, muitas vezes, pitoresco, dos tipos portugueses” (Grilo, 2006: 13). Mais
uma vez, o uso da palavra etnografia aparece conotada com o cinema, mas desta feita não
tanto no sentido de se tratar de um filme que transporta uma análise, mas sim que transporta
um universo, um mundo próprios. A crítica acentua portanto, mais uma vez também, o modo
como o filme revela algo que tinha estado fora do cinema português desse período: uma
“humanidade pobre, suja, suada pelo esforço” e com ela “a força sensual dos corpos” (Pina,
1986: 68). A representação do povo neste filme de Oliveira não é só diferente por ressaltar
estes aspectos da pobreza e do trabalho, mas porque a este conteúdo alia um modo de filmar,
uma linguagem que a ele se adequa:
O ritmo do trabalhador ribeirinho é captado pela câmara do cineasta em ordem a uma
montagem que o sintetiza nas suas horas mais típicas, colocando o esforço do homem
em constante paralelismo com o ritmo das máquinas e a função dos objectos. Assim,
Douro ganha uma extraordinária força visual, pois nenhuma imagem é supérflua, todas
integram um significado comum [...]. O esforço do homem é captado pela câmara de
Oliveira em imagens cruas, intensas, recortadas, que fazem lembrar alguns dos planos
de Nazaré, mas sempre inseridas numa espécie de narrativa interior, simbólica, que
acentua o contraste entre o Homem e a Máquina, o passado e o futuro. A visão deste
contraste, sobretudo a forte expressividade das estruturas da ponte ou das máquinas
no cais, traduz o vanguardismo estético da época (Pina, 1986: 67).
O percurso deste autor atravessa, para aquilo que nos interessa aqui, quatro décadas:
90
dos anos 1930 aos anos 1960. Retirando os projectos falhados e os filmes menores, 49 temos
assim, nos anos 1930, dois documentários: Douro Faina Fluvial e Hulha Branca; nos anos 1940
um documentário, Famalicão e uma ficção, Aniki-Bóbó; nos anos 1950, O pintor e a Cidade; nos
anos 1960, finalmente, entre o documentário e a ficção, Acto da Primavera, A Caça, e O Pão.
José Augusto-França localiza os primeiros gestos cinematográficos de Oliveira na
“cultura que nos anos 30 se desenvolveu em Portugal a partir da Presença coimbrã ”, entre o
Douro Faina Fluvial (1930) e o Aniki-Bóbó (1942) ou entre o salão dos “Independentes” (1930) e
o surrealismo de António Pedro e António Dacosta (1940), uma cultura que tinha o seu reverso
oficial nos salões do SPN/SNI e na Exposição do Mundo Português (1940) ou no domínio do
cinema no Pátio das Cantigas (1940), pólos de “nacionalismo e populismo” (França, 1981). Não
cabe aqui detalhar o enquadramento do contexto intelectual e social das obras primeiras de
Oliveira, uma vez que nos iremos situar, como disse antes, no período que decorre entre 1961
e os finais da década de 70 do séc. XX. Mas é necessário explicitar a excepcionalidade e, de
certo modo, a solidão do cinema de Oliveira, a sua unicidade. É também preciso perceber
continuidades e influências que este cineasta recebeu à época, quer vindas de movimentos
artísticos e literários nacionais, quer as marcas deixadas pelo cinema que viu fora de portas. Ao
tentar identificar o que provoca o primeiro cinema de Oliveira, do Douro Faina Fluvial, AugustoFrança afirma que as raízes são as da “liberdade moral e psicológica oposta ao regime vigente”,
“raízes líricas e confessionais de um mal-viver português”, um “romantismo liberal que se
procurava a si próprio”. Segundo este autor, terá sido essa “gente da Presença” que defendeu
os filmes que o público terá pateado na estreia, em nome da sua “mensagem de ingenuidade e
poesia” (França, 1981: 9). Henrique Alves Costa,50 pelo seu lado, situa o interesse de Oliveira
pelo cinema nesse “notável ambiente cultural da cidade do Porto, a que dera impulso a sua
Faculdade de Letras, que rodeia o gosto e os projectos do moço Oliveira com um carinho não
isento de curiosidade, mas sem paternalismo”. Tal ambiente era uma excepção. Neste final dos
anos 20, “apogeu estético do filme mudo, com o surgimento de vanguardas culturais de sinais
contrários – idealismo e materialismo, ou, se quisermos, modernismo e realismo” encontramos
em Portugal um cinema “conformado e decadente.” Segundo este autor o filme Douro, Faina
Fluvial é “simultaneamente realista (na revelação dos contrastes e motivações do povo
observado) e expressionista” (Costa, 1981: 11 e 13). O formalismo de Douro, com o seu
expressionismo imediato dentro duma estética imaginada como uma aculturação europeia, um
49
Por exemplo, Miramar, Praia das Rosas, de 1938 é um filme perdido, ou O Palco dum Povo (1959) com texto de
Régio, que não chega a ser terminado.
50
O próprio Alves Costa fazia parte do grupo ligado à revista Movimento, que apareceu nos anos 1933 ou 1934, de
que era director o seu cunhado, Armando Vieira Pinto. Outros intelectuais e artistas como José Régio, José
Martinho ou Álvaro Ribeiro “faziam grupo nos cafés Majestic, Sport, Palladium” (Costa, 1981: 14).
91
romantismo liberal, serve a ideia cultural da Presença. Por isso, perante um público incapaz de
ler o filme à sua estreia, foi a gente do grupo coimbrão que mais o defendeu –como, aliás, pela
mesma altura defendeu o salão dos artistas “independentes” onde Júlio (pintor nos anos 1930
e irmão de José Régio) expunha pinturas expressionistas que desencadeavam o riso do mesmo
público. O movimento da Presença (1927-1940) era encabeçado por José Régio, cúmplice de
Oliveira, sendo o presencismo basicamente defensor de uma visão subjectiva do trabalho
poético, ou psicologismo, em conflito, a partir de certo momento, com o movimento neorealista. Foi este o contexto intelectual e a corrente estética que marcaram este cineasta.
Mas como é que tudo começou, apenas com a câmara como instrumento e sem
nenhum apoio financeiro? Como fazer cinema sem actores, sem decors, sem estúdio? O
verdadeiro elan para a realização de Douro, Faina Fluvial foi dado a Manoel de Oliveira pelo
filme alemão Berlin, Symphonie d’une Grande Ville, de Walter Ruttman, que viu e reviu no
cinema Trindade do Porto. Neste filme assistimos a 24 horas da vida da cidade de Berlim. De
facto, trata-se de um filme fundamental na história do documentário por estar associado às
chamadas sinfonias urbanas de Joris Ivens e outros (cf. Barnow, 1983 [1974]), assim como a
todo o período da passagem dos anos 1920 para os anos 1930 em que o documentário se
afirma na sua identidade de género. Mas o Douro, Faina Fluvial e o Berlim são filmes muito
diferentes: Oliveira interessava-se mais pelas pessoas, e não apenas pelo movimento delas (cf.
Parsi, 2002: 59). Alves Costa (1981: 13) também considera que “esta mistura de realismo e
expressionismo, recusando um possível formalismo cinematográfico, distingue o filme de
Berlim, Sinfonia de uma Capital, e o aproxima mais da escola inglesa ou da escola russa”. A
ligeireza dos meios com que foi feito convinha a um principiante como Oliveira. Assim, aliou
esta forma de trabalhar a um olhar sobre a sua cidade, o Porto. Convidou António Mendes,
fotógrafo amador, para trabalhar consigo e o pai ofereceu-lhe uma câmara, uma Kinamo com
objectivas, 40, 75 e 130mm, e o material necessário á revelação do filme. Oliveira tinha 20
anos. A rodagem levou dois anos, pois o seu companheiro trabalhava na banca. O filme é, antes
de mais, um filme de montagem, feita por Oliveira, pacientemente e ao longo de meses, em
casa, servindo a sala de bilhar de atelier e estúdio.
Seria pertinente, julgo eu, comparar este olhar ao do cinema de propaganda, aos
denominados documentários culturais, como os de Adolfo Coelho Festa Vindimaria (1938) e
Vida do Linho (1942), os de António Lopes Ribeiro, e ainda aos documentários do SPN/SNI.
Excelente documento é, por exemplo, o muito citado Exposição do Mundo Português de
António Lopes Ribeiro, onde se percebe que o conceito de Nação esteve na origem de toda a
teoria e prática do período do salazarismo. A lição nacionalista seria actuante na medida em
92
que conseguisse transportar no seu interior um modo particular de percepção da realidade. E
era, afinal, a conversão organizada dos espíritos pela anulação de propostas alternativas que
por aqui se começava a formular (Ó, 1999: 44). O poder político criou para tanto um organismo
central, o Secretariado de Propaganda Nacional.51 Para dirigir o SPN foi nomeado em 1933, e
durante 15 anos, António Ferro. Este tinha convivido com a geração do primeiro modernismo
português de cujo órgão – a revista Orpheu publicada no ano de 1915 - fora editor, a convite de
Mário de Sá Carneiro, e a partir de meados dos anos 20 destacou-se como repórter
internacional numa declarada admiração pelos fascismos nascentes na Europa.52
Segundo Grilo, Douro Faina Fluvial era totalmente diferente do documentarismo oficial
dos anos 30, constituindo “o primeiro contacto do cinema português com um verdadeiro
programa de autor (coisa que o sistema não lhe perdoou), uma pequena obra-prima
pessoalíssima e singular” (Grilo, 2006: 12). Como vimos antes, a afirmação de um cinema
nacional baseado na singularidade dos cineastas vistos como autores fez parte de um discurso
recorrente ligado à procura da identidade do cinema português. Este facto talvez explique que
um filme tão longínquo em relação à vaga do cinema novo, como era o Douro Faina Fluvial,
tenha sido recuperado por autores e críticos a partir dos anos 1960 e até à actualidade.
O aspecto inovador destes dois olhares fundadores, o filme de Leitão de Barros Nazaré,
Praia de Pescadores, estreado em 1929, e Douro Faina Fluvial, de 1931, de Manoel de Oliveira,
só pode ser plenamente entendido se estes forem contextualizados. São dois filmes que
contrariam, de certo modo, a imagem associada à época áurea do cinema português, ou seja, o
período que começa com o cinema sonoro, em 1931, e se estende até 1948. De facto, nessa
imagem, perde-se de vista uma veia que quero resgatar, ligada a um olhar documental, realista
e fortemente estético e ressalta-se apenas um cinema institucional ou de entretenimento.
51
O SPN transforma-se, a partir de 1944, em Secretariado Nacional da Informação Cultura Popular e Turismo (SNI).
As dotações do SPN/SNI só viram interrompida a sua marcha ascendente durante a crise trazida pela II Guerra
Mundial, mas após 1945 este transformou-se num verdadeiro Ministério, como mostra o elevado nível de
funcionários – na sua maioria intelectuais – que nele trabalhavam. Jorge Ramos do Ó estuda a partir do Orçamento
Geral do Estado as dotações orçamentais do SNI/SPN entre 1935 e 1956, verificando-se, em especial nos anos
1947 a 1950, que existiram grandes dotações para a realização de filmes e a partir de 1948 para o Fundo do
Cinema Nacional (Ó, 1999: 56- 57).
52
Sobre este assunto ver ainda (Ó, 1999: 102).
93
O cinema do regime
As décadas de 1930 e 1940 são consideradas em Portugal o período áureo da propaganda
política, de um cinema virado para a ficção e o artifício, apogeu da comédia popular, da
tendência “histórico-literário-melodramática e folclórica-rural” (Pina, 1986: 93). Neste cinema
mais ficcional, de entretenimento, interessa contextualizar o que era, á época, a política de
censura, de certo modo encapotada, do Estado Novo, numa espécie de laxismo vigiado, sem
propaganda directa, tal como caracterizada por Luís de Pina:
Um Estado ético em que a intervenção, por via corporativa, procurava não tanto criar
uma indústria cinematográfica, que deixasse liberdade aos agentes produtores, mas um
condicionamento que correspondia, no plano económico, ao condicionamento cultural
exercido pela Censura. Dava-se estímulo a filmes de produção privada apoiados em
valores ‘nacionais’, ‘populares’, para lá dos filmes produzidos directamente pelo Estado,
que entre nós representaram a transformação política, cultural e material do país por
Salazar (A Revolução de Maio), a importância do império ultramarino para a
conservação da paz lusitana e de uma ideia eterna de Portugal (Feitiço do Império) e a
grandeza das nossas tradições populares, a força moral do nosso povo (Ala Arriba), sem
esquecer o apoio fornecido a Camões, síntese da História de Portugal (Pina, 1986: 113).
No fundo, aquilo que Pina defende aqui é que o Estado apoiava, mas não suportava
directamente o cinema, o que fazia com que este, que “atingiu o máximo da sua qualidade
expressiva nestes primeiros vinte anos de sonoro”, fosse “mais livre, apesar da censura, que o
cinema subsidiado posterior” (cf. Pina, 1986: 113). Para além da mencionada vertente ficcional,
convém referir a importância da criação de uma primeira indústria cinematográfica, que servia
também o Estado, e em especial as suas concepções de nacionalismo e nação. Sobretudo os
filmes de António Lopes Ribeiro (1908-1995) actualizam, depois de A Canção de Lisboa (1933),
de Cotinello Telmo, e de Gado Bravo (1934), um novo modelo, mais ambicioso. Trata-se do
modelo com temáticas nacionais e ambições internacionais. Para isso, foi necessário criar um
forte dispositivo de objectificação que, de certo modo, artificializa os items da cultura popular,
descontextualizando-os.
Uma temática reconhecidamente nacional é trabalhada para que a sua origem
permaneça visível, mas, ao mesmo tempo, é convertida em algo universal para garantir
a sua exportação. A origem nacional é geralmente expressa através do folclore (trajes,
canções, paisagens, festas, prédios) e a ambição internacional através de um alto nível
técnico (efeitos especiais, câmara, som, cenografia)[...]Uma vez mais, o cinema funciona
como folheto de propaganda para o turismo (Hagener, 2007: 32).
94
Assim, o Estado Novo, na sua esteticização da cultura popular, integrou as práticas e os
discursos etnográficos ao serviço da sua retórica nacionalista. Este processo, como refere Vera
Alves (1997: 237 e 240), incluía a promoção de concursos de ranchos folclóricos, a edição de
obras de etnógrafos e em especial, as exposições de arte popular, em que “não era a arte
popular que dava lições de “bom gosto” à elite, mas sim o “bom gosto” da elite que era
projectado na arte popular, seleccionando, recriando e encenando os seus produtos, depois
apresentados como cenário da portugalidade”.
Tiago Baptista, num texto não publicado que me cedeu,53 reflecte sobre os primórdios
do filme etnográfico, no seu sentido mais restrito, de recolha e registo, referindo-se ao trabalho
de Santos Júnior, etnógrafo que registava as danças tradicionais, realizador do primeiro filme
português considerado “etnográfico”: Dança dos pretos, Moncorvo, 1930. O autor trata em
detalhe, para o que me interessa aqui, o filme A aldeia Mais Portuguesa de Portugal, sobre
Monsanto, feito em 1938 por António de Meneses. O filme, produzido pelo Secretariado de
Propaganda Nacional no âmbito do concurso organizado pelo regime em 1938 para determinar
qual a “aldeia mais portuguesa”, fazia parte da avaliação a que o júri, que integrava os
etnógrafos Manuel Cardoso Marta e Luís Chaves, devia submeter as aldeias. Como afirma
Baptista, vendo o documentário, sentimos que a aldeia de Monsanto foi encenada, numa mise
en scène de si própria para o filme:
The images of the villages shown on the contest’s official documentary clearly present
us with a process of cultural objectification of peasant life and culture. The fundamental
criterion for selecting those cultural manifestations that may or may not be reified in
this way is their potential exhibition value, i.e., their potential as a self-contained and
repeatable spectacle. More often than not, as in this particular case, this objectified
culture becomes the centrepiece in a discourse of national identity, providing readymade national symbols that can be presented endlessly until they become accepted as
such (Baptista, s/d: 15).
Na pesquisa elaborada por Jorge Ramos do Ó (1999) sobre o “dispositivo cultural
durante os anos 1933 a 1949”, marcado pela chamada política do espírito de António Ferro, o
autor demonstra que o que a propaganda do Estado Novo fazia era cooptar os seus membros
no interior de sectores encarregues da fabricação do conhecimento, da produção e do
espectáculo, exprimindo-se por intermédio de quem estava investido para o fazer. O aparelho
53
Artigo escrito em inglês, e apresentado numa conferência em Ljubljana.
95
propagandístico devia socorrer-se, trabalhando sobre as várias linguagens e técnicas plásticas
em uso, de todas as formas utilizadas na produção dos bens culturais. Assim, convoca-se “o
universo mediático tal qual se encontra instituído – a imprensa, a edição, a conferência, a festa,
o teatro, a radiodifusão, o cinema - e com essa enumeração o Governo não mais fazia que para
essa área transferir o importante encargo de operar a dominação ideológica” (Ó, 1999: 47).
Quando lemos o que António Ferro (1950) escreveu sobre cinema, discursando para os
seus agentes, acedemos directamente ao pensamento do homem que conseguia conquistar os
intelectuais modernos da época em questão. Para Ferro,54 preocupado em defender o cinema
português, a sua “alma” e o seu “carácter”, era necessário ultrapassar determinadas
características populistas do mesmo, como o abuso do “pitoresco, do regional”. Como
afirmava, “não se deve cair evidentemente no ora-vai-tu, no excesso da cantiguinha e do
bailarico. Mas longe de considerar inútil, prejudicial esse género de filme, considero-o benéfico,
útil, óptimo elemento de propaganda, desde que seja convenientemente racionado” (1950:
51). Ferro tinha consciência, e claramente demonstrava-o, que existia um cinema para o povo,
marcado pelo “mau gosto”, mas ao qual se dirigia a propaganda. No entanto, exercia uma
crítica dura ao cinema, em especial o anterior à referida Lei de protecção ao cinema nacional,
afirmando que os produtores cinematográficos poderiam aproveitar o auxílio do Estado de dois
modos: ou servindo, obedientemente, pela “lei do menos esforço, o chamado gosto do
público”, ou procurar lançar as bases de um cinema nacional “com uma certa elevação, fugindo
do reles, do corriqueiro, do vulgar até quando fosse necessário fazer rir, até à gargalhada, ou
comover até à lágrima” (1950: 63).
Ferro classificava os filmes em diversas categorias. Para além dos filmes históricos, em
que os realizadores “melhor se têm movido”, dos documentários, uma “tendência saudável do
cinema português”, dos policiais, dos extraídos de romances, critica os regionais ou folclóricos,
em que por vezes “os bailaricos, as cantigas e (o seu fado à mistura) são nitidamente metidos a
martelo”, defendendo que “os bailaricos e as canções populares devem constituir ilustrações
no lugar próprio, simples vinhetas, caminho mas não chegada, a igreja ou a dança que se
encontram na estradas mas que não se fazem encontradas, e a propósito e não a
despropósito”. Acerca dos filmes de natureza poética, verifica a sua carência absoluta “se não
nos lembrássemos dum filme delicioso de Manuel de Oliveira, Aniki-Bobó, que passou
completamente despercebido” (1950: 64). Nos seus discursos, salienta que os filmes cómicos
são o “cancro do cinema nacional”, que têm “infelizmente, um grande público”, “onde se
54
Discursos pronunciados no SNI, nas festas de distribuição dos Prémios de 1944 e 1945, em 12 de Agosto de
1946, e também no de 1947, que teve lugar em 30 de Dezembro desse ano.
96
procura fazer espírito com a matéria, com o que há de mais inferior na nossa mentalidade, com
gestos, ditos e expressões que não precisam, sequer, de ter pornografia para serem grosseiros,
reles e vulgares.” Ao criar o Fundo Cinematográfico Nacional, Ferro quis mudar o rumo do
cinema português, afirmando que podiam recorrer ao fundo produtores e realizadores destas
categorias, explicitando, para o caso dos filmes regionais ou folclóricos que é importante que
“as suas planificações não sejam mesquinhas, catitas, demasiado vestidas ‘à moda do Minho’
sem ofensa para o Minho, que não é volúvel, que não tem moda” (1950: 67). Nos discursos
analisados, são portanto referidos dois nomes: o de Oliveira, e o de Lopes Ribeiro em parceria
com Leitão de Barros, “inteligência multiforme de superior transformista, imaginação criadora
para o qual o sonho só interessa na mediada em que pode ser acção” (1950: 74).
Perante a previsivelmente auto-alimentada querela tradicionais/modernos, Ferro
escolhera os segundos, preceituando que urgia aproveitar “a alma dos novos”. Jorge Ramos do
Ó nota que a Sociedade Nacional de Belas Artes era uma montra do academismo, da
reprodução naturalista do objecto, da conversão da pintura aos géneros do retrato e dos tipos
populares, numa procura do “histórico” ou da paisagem rural e seus “pitorescos” elementos.
No entanto em 1930 aí se realiza o 1º Salão dos Independentes, com artistas do “movimento
moderno”, única alternativa credível ao naturalismo. Duas razões foram justificando a
protecção dispensada pelo Secretariado aos praticantes da arte moderna: “a percepção de que
o necessário ‘equilíbrio de maturidade’ seria filho da ‘saudável audácia dos vinte anos’ e que a
arte viva muito mais facilmente se prestaria à divulgação das coisas. Os interesses do poder
estariam na base dos apoios dispensados às vanguardas” (Ó, 1999: 152).
Interessa neste ponto tentar descobrir de que modo operou um trabalho cultural de
oposição, de confronto organizado. Este não aconteceu, durante este período, no cinema, mas
parece, de acordo com a análise do historiador citado, ter antes ocorrido na produção escrita
que se assume, desde meados de trinta até inícios dos anos sessenta, pelas “vanguardas que
pretenderam imiscuir-se no pulsar da existência colectiva, assim ultrapassando os estritos
limites do literário”. Segundo afirma, dois vectores fundamentais percorreram os movimentos
literários significativos do período, do presencismo, neo-realismo e surrealismo: “um
correspondente à tentativa de ligação às grandes transformações sociais e outro caracterizado
pela intervenção provocadora e iconoclasta em nome do futuro, da inteligência e da exploração
das zonas profundas da psique”. Facto de alcance histórico será a constante saliência do
primeiro, com a inserção do político de forma directa e segura nas práticas textuais. O neorealismo, eufemística designação do realismo socialista, de clara “aspiração filosófica marxista”
e assim possuído de uma atitude ideológica que obcecadamente privilegiava a “eficácia da
97
comunicação”, encetou por meados dos anos trinta uma luta simbólica pela conquista do poder
no campo literário. Os temas prevalecentes nas obras eram a condição económica do
proletariado, a sua consciência de classe ou, inversamente, o grau de manifesta alienação, a
opressão dos extractos sociais superiores, sendo que a acção decorria sobretudo em espaços
rurais (Ó, 1999: 216). Voltaremos ao tema das influências do neo-realismo na representação do
povo mais à frente, no capítulo 5, a propósito do modo como este movimento artístico
contribuiu para a criação de um olhar duplo sobre o povo: documental, em primeiro lugar, e
com uma missão etnográfica, em segundo lugar.55
Apesar do crescendo do neo-realismo na literatura e dos discursos elitistas de
cooptação dos intelectuais elaboradas por Ferro, para a política do Estado Novo era importante
recusar aquilo que podia mostrar a pobreza do povo, salvaguardando, entre outros elementos,
a imagem idílica do camponês. Estes seriam elementos a transpor para o cinema. Alguns
exemplos de filmes como Gado Bravo, A Revolução de Maio, Rapsódia Portuguesa ou a Aldeia
da Roupa Branca podem exemplificar um cinema contra o qual a geração que tratamos aqui
quer, duas décadas mais tarde, filmar.
Hagener analisa o filme Gado Bravo (1934) em termos do seu conteúdo, dando algumas
pistas para pensar o modo como o país era retratado neste tipo de cinema. A rodagem foi feita
em Valado do Ribatejo, em ambiente rural, remetendo para as figuras centrais populares do
campino. O Ribatejo e este estereótipo, assim como o Minho e a mulher minhota, eram parte
de uma “geografia” a que correspondiam determinados “personagens” deste cinema do Estado
Novo, e iriam ser substituídos, como veremos, pelas novas geografias a partir dos anos 1960:
Trás-os-Montes e o Alentejo. Voltando ao filme de 1934 Gado Bravo, para além do enredo
principal,
O filme possui um sub-enredo, constituído por diversas cenas sobra a vida dos pastores
de bois, mostrando-os no seu trabalho, na sua luta, a comer ou em festa. Estas cenas,
que poderiam ser chamadas de lírico-documentaristas, apresentam os trajes e costumes
tradicionais e demonstram a beleza e variedade da paisagem portuguesa: a amplitude
do horizonte, a terra poeirenta, o sol quente, mas também os vales verdes, o contraste
entre o movimento das manadas de bois e a paisagem estática. A cena da tradicional
luta dos pastores com bastões, ‘jogo-do-pau’, tornou-se famosa. É de ressaltar que,
devido à falta de uma verdadeira indústria que pudesse fornecer os cenários
necessários em grandes estúdios, essa junção entre cenas documentaristas e cenas
encenadas é uma constante no cinema português (Hagener, 2007: 32).
55
O trabalho de José Neves (2010) mostra, veremos, as relações do movimento neo-realista com o nacionalismo e
comunismo em Portugal, contribuindo para estabelecer alguns elos que ficam aqui incompletos, e que
retomaremos mais à frente.
98
O autor refere este filme como usando uma retórica de publicidade “agressivamente
nacionalista”, uma tentativa de fazer um protótipo português (Hagener, 2007:36). Aquando da
sua estreia, em Agosto de 1934, no cinema lisboeta Tivoli escreveu-se: “Gado Bravo vai fazer
por todo o mundo a propaganda da nossa terra, das nossas belezas, dos nossos costumes, e a
propaganda bem feita de Portugal é motivo de gratidão para todos os portugueses”. No préprograma foi mostrado Douro, Faina Fluvial (1931) de Manoel de Oliveira, com uma nova
música de Luís de Freitas Branco. No entanto, “o retrato da cidade do Porto de Oliveira é, hoje
em dia, uma obra canonizada da vanguarda clássica, enquanto Gado Bravo parece pertencer ao
mundo melodramático da cultura de massas” (Hagener, 2007: 37).
O filme A Revolução de Maio (1937), de António Lopes Ribeiro, é sem dúvida a obra
mais significativa, em termos de cinema, da propaganda do Estado Novo de Oliveira Salazar (cf.
Torgal, 2001). De resto, tirando os documentários, depois inseridos na série Jornal Português
(1938), pode dizer-se que outros filmes tiveram um sentido ideologicamente marcado, tal
como o filme “folclórico” Rapsódia Portuguesa (João Mendes, 1958), patrocinado pelo
Secretariado Nacional de Informação e integrado na lógica de “propaganda de Portugal”, um
filme referido no Cinéfilo (1937)56 como servindo o cinema português, o público português, a
“propaganda de Portugal”, “as mais lindas paisagens, os nossos mais belos trajos, grandes
artistas nossos, a obra formidável do Estado Novo, o nosso Exército, a nossa Marinha, a nossa
Esquadra, a nossa Aviação” e, finalmente “a política de Salazar”.
A política de António Ferro assumia que o cinema podia ser uma importante ferramenta
para chegar ao povo. O argumento do Rapsódia é mesmo (sob pseudónimo) da autoria de
António Ferro e Lopes Ribeiro e conta a história de uma conversão ao regime de Salazar que se
passa em várias zonas e ambientes. Nele é retratado o Minho, com as suas romarias e festas
populares, “em particular o primeiro de Maio, que, em vez de ser uma jornada de luta dos
trabalhadores, é agora, em Barcelos, o reencontro com a romaria popular das cruzes,
convertida também em festa corporativa do trabalho e de vivas ao regime” (Torgal, 2007: 42).
Emblemático desta ideia do povo e da cultura popular é o filme A Aldeia da Roupa
Branca (1938), de Chianca de Garcia (1898-1983). Trata-se de um filme passado numa aldeia
nos arredores de Lisboa, na zona saloia, onde duas famílias lutam pelo controlo do transporte
das lavadeiras da aldeia. A maior parte da acção tem portanto lugar numa aldeia humilde, uma
típica aldeia saloia (construída num terreno ao lado do estúdio da Tobis), em que se pretendia
56
“Os quatro pontos cardeais de A Revolução de Maio”. O Cinéfilo, Ano 9, nº 459, 5 de Junho de 1937.
99
transmitir o carácter e a realidade nacionais através da recriação dos pormenores da vida rural.
Podemos afirmar que este filme faz parte da tradição de comédias populares, da chamada
“comédia à portuguesa”, “filmes optimistas e inocentes, servindo como reflexo de uma
sociedade ordeira e respeitosa, e dos tão alardeados brandos costumes do povo português”,
“uma visão utópica do Portugal contemporâneo, onde tudo acaba bem”. Como dizia Chianca de
Garcia, “não se deve procurar no cinema aquilo que existe no cinema estrangeiro”; “no cinema
nacional procure-se aquilo que tiver carácter e realidade nacional”; “o cinema português deve
contar-nos histórias que o povo sinta, compreenda e viva [...]. Foi este pensamento que me
guiou a executar A Aldeia da Roupa Branca” (cit. in Shaw, 2007: 48). Claramente, a dicotomia
campo-cidade, está presente neste filme:
O contraste entre a vida do campo e a da cidade constituiu o tema dominante de A
Aldeia da Roupa Branca [...]. O mundo rural parece um paraíso, cujos habitantes não
suportam a ideia de mudar para a capital. Esta utopia campestre é simbolizada pela
presença de animais, particularmente dos cavalos, que puxam as carroças e accionam o
moinho, em forte contraste com os transportes motorizados e barulhentos de
Lisboa[...]A oposição campo-cidade chega ao seu apogeu na cena em que uma
montagem de imagens de Lisboa (os carros na rua a buzinar, uma fadista a cantar e os
aplausos do público, os modernos eléctricos a passar) é sobreposta a uma cena de
harmonia bucólica (a beleza natural das vinhas e o movimento lento e tranquilo de um
cavalo a accionar um moinho) […]. Do mesmo modo, o filme faz uma crítica cómica do
analfabetismo rural, através dos erros de ortografia nos letreiros publicitários que as
duas famílias expõem na aldeia. Em última análise, o filme valoriza o mundo rural, mas
insinua que certos avanços tecnológicos, por exemplo o camião motorizado e a máquina
de lavar, podem até melhorar essa vida simples e harmoniosa (Shaw, 2007: 49-50).
O filme foi de certo modo sempre valorizado pela crítica. Segundo Luís de Pina, “duas
excelentes sequências de cinema (a corrida de galeras e a batalha das bandas rivais) e a
azougada Beatriz Costa trazem às nossas telas a frescura de um povo sem folclore, a pintura de
uma aldeia em que se não procura o bonitinho mas a vida real que o cinema dinamiza” (1978:
25). Esta ideia do contraste entre campo e cidade, que, veremos ao longo da tese, atravessa
todo o cinema português até ao início dos anos 1980, acaba por ser transposta, neste período,
para uma espécie de aldeia dentro da cidade. No filme O Leão da Estrela (1947), de Arthur
Duarte, “o universo social dos protagonistas corresponde, em grande medida, ao da pequena e
média burguesia urbana que constituía o público das salas de cinema”, mas “é verdade que
também reencontramos a apologia conservadora da felicidade na pobreza quando Anastácio,
ao regressar à sua casa com Carlota, desabafa ‘até que enfim, a nossa casinha. Mesmo pobre,
sempre é a nossa casinha!’” (Granja, 2007: 55 e 57). Quanto ao seu território, O Leão da Estrela
100
já não reproduz a oposição entre o urbano e o rural, transpondo, como na restante “comédia”,
os valores imobilistas da sociedade camponesa para o espaço fechado do bairro ou do pátio
lisboeta. O Bairro da Estrela, a que se refere o título, referenciado pela basílica no genérico
inicial, é mais um indício do estatuto social a que os Silva aspiram do que ‘a pequena aldeia’, no
interior da cidade, onde se perpetua a ordem dos valores tradicionais na calma do mundo
rural” (Granja, 2007: 58). Como afirma João Mário Grilo, “o universo da ‘comédia de Lisboa’ dos
anos 30 e 40 é um universo de actores” que se entregavam “à composição de retratos célebres
e instantâneos de uma sociedade lisboeta irónica, mas invariavelmente confiante e
estereotipada” (Grilo, 2006: 16).
E entretanto, o que faz Manoel de Oliveira? O filme Hulha Branca (1932), pouco citado e
que Oliveira assina com o pseudónimo Cândido Pinto, é sobre a central hidroeléctrica do Ermal,
em que trabalhava o seu pai. Este filme faz parte de uma série de pequenas encomendas de
documentários, tal como, em 1940, Famalicão, filme comentado por Vasco Santana,
institucional, com imagens desta cidade e uma voz off que conta a história desta vila. O filme
incorpora umas notas de humor, como a cena do burro que põe gasolina na bomba e parte “a
cem á hora”, num registo cómico e pitoresco. As cenas rurais, e o trabalho do campo surgem
ordenados e rapidamente registados porque não era obviamente o que mais interessava ao
realizador, enquanto o narrador fala do “ambiente poético do século passado, por onde
passaram figuras como Eça”. O filme trata do tempo e do progresso, de uma Famalicão que se
modernizou, registando as indústrias locais: as fábricas Fiação de Tecidos Silva Pereira, Fábrica
de Botões e a Fábrica de Relógios, ficando longamente nesta última, com planos de vários
relógios, metáfora do tempo e do progresso. Neste período aquilo que fascinava o autor era,
ainda, o progresso industrial. Mas não deixa de focar o regional e o pitoresco, com elementos
como, por exemplo, as imagens das vindimas, os homens e mulheres vestidos com trajes
típicos, remetendo para um folclorismo encenado nos sorrisos das camponesas que dançam ao
som de uma música tradicional orquestrada. As malhas são também encenadas, nas camisas
brancas, chapéus pretos, calças pretas, com todos vestidos de igual. Percebe-se, na imagem,
que existe um público, de fato e gravata, a assistir. Os tocadores e a presença do vinho indiciam
imagens típicas da estética dos anos 40 mostrando um povo ordenado, feliz, com gargalhadas
sobre a música. Vemos um plano geral da feira de Famalicão e o narrador explica que de tudo
se encontra aqui: “este cavalo exibe o seu cigano… quer dizer este cigano exibe o seu cavalo”,
diz a voz off, em tom jocoso. O filme termina outra vez na bomba de gasolina com a frase “e
aqui tem Famalicão: não basta passar na rua principal”.
Neste período, existe no cinema de Oliveira uma clara continuidade com um certo
101
cinema do regime, e exceptuando o seu filme inaugural, Douro Faina Fluvial, o realizador não
tinha ainda libertado esse gesto que fará do seu cinema uma grelha única e nova de olhar o
país. Este facto pode ser explicado não apenas com a censura, mas com o facto de ter estado,
durante este período, a trabalhar num regime de encomenda mais ou menos institucional.
Parece, mesmo, acontecer aqui o que referi a propósito do cinema brasileiro, em que o campo em especial na passagem da personagem do cangaceiro para a do camponês - passou de
espaço arcaico, a partir do qual se pode fazer a crítica do atraso, para ser visto como um
paradigma moral bom para criticar a civilização: é isto que vai acontecer ao cinema de Oliveira.
Este faz, mais tarde, Aniki-Bóbó (1942), que Georges Sadoul considerou um filme neo-realista
avant la lettre, mas o realizador descarta esta etiqueta sublinhando o que o filme é poético e
simbólico, e não político, como as obras neo-realistas. Mas as condições, os cenários naturais, o
pequeno orçamento e o uso de actores não profissionais remetem para algumas das
características mais imediatas deste cinema. O filme é mal recebido em Portugal, visto como
imoral. Os anos que se seguiram foram os piores para Oliveira, que em 1946 pensa abandonar
o cinema. O peso do SNI não permitia este cinema, que considerava pessimista e
desmoralizador. Trabalha então com o irmão na fábrica que era do pai, dedica-se à agricultura
no Douro. Escreve o projecto Angélica, que não chega a realizar, e decide começar do zero, tira
um curso da Agfa e compra material para filmar a cores, em 35mm e começa com o projecto O
Pintor e a Cidade, em que é ele próprio chefe operador, função que vai ter até ao filme O
Passado e o Presente. O filme foi mal recebido em Veneza, visto como um filme que vinha de
um país fascista e profundamente religioso (Parsi, 2002: 59).
Sem entrar em detalhes, importa perceber como o apoio estadual ao cinema funcionava
e o ano de 1948 traz mudanças importantes.57 O Fundo de Cinema, administrado pelo SNI, foi
criado neste ano, no contexto da Lei nº 2027 de Protecção do Cinema Nacional, a primeira
deste género, com a finalidade de “proteger, coordenar e estimular a produção do cinema
nacional”. Neste sentido, o Fundo concedia subsídios para cobrir parte dos custos de produção
de um número limitado de filmes. De acordo com a lei que as criou, entre as condições para a
concessão de subsídios, o Fundo privilegiava filmes representativos “do espírito português, que
traduzam a psicologia, os costumes, a tradições, a história, a alma colectiva do povo” (Azevedo,
1951: 93-94). Alguns autores, como Pina, defendem que esta lei “não veio salvar o cinema
português, mas antes prolongar-lha a agonia”. Constituiu, de certo modo, o “nascimento da
figura do subsídio directo”, a “tendência do cineasta para se tornar funcionário público”, “o
princípio da centralização”. Conclui-se, portanto, que tudo conduziu “a uma crise do cinema
57
Para detalhes sobre a relação do salazarismo com a cultura, ver Jorge Ramos do Ó (1992).
102
português, uma crise que duraria até ao 25 de Abril, quando a nova lei, publicada um quarto de
século depois desta, começou a dar frutos”. Para este historiador do cinema português, “os 40
filmes do Fundo realizados entre 1950 e 1962 não deixam de reflectir os gostos e as tendências
dominantes da produção anterior, mas os seus autores não igualam o saber, o entusiasmo, a
própria intuição fílmica dos cineastas mais velhos: o convencional é mais convencional, o
sentimento transforma-se em pieguice, o humor vira chalaça, os personagens cedem o lugar
aos ‘tipos’, a História é puro cenário” (Pina, 1986: 114 e 124).
Os anos 50 amadorismo e neo-realismo
Como vimos antes, em toda a Europa a tensão entre um cinema minoritário e independente e
um outro industrial e de entretenimento foi fundamental para a criação de um discurso e de
uma retórica em torno da importância deste meio para falar de uma nação e de uma cultura.
Notámos também como, na década de 70, os historiadores e críticos do cinema em Portugal
reivindicavam para si a tradição poética e literária da nova vaga francesa, mais do que a
tradição inglesa de realismo. Se considerarmos o ano de 1962 como o ano charneira para o
surgimento de um novo cinema português, coincidindo com a geração de jovens cineastas
formados na crítica, no cineclubismo, no Estúdio Universitário de Cinema, em escolas
estrangeiras, no cinema amador ou em diversos sectores da produção nacional, compreenderse-á que a sua gestação ocorreu durante a década de 50. Veja-se, por exemplo, o caso de
António Campos, que realiza duas curtas ficções em que o universo do popular é representado
de um modo expressionista: em 1958 Um Tesoiro e em 1959 O Senhor, filmado este na Praia da
Vieira e misturando actores de teatro amador com personagens locais. Estes filmes viriam a
influenciar Paulo Rocha, como veremos, a fazer o seu filme Mudar de Vida.58 Campos foi
apoiado de forma intensa mas quase clandestina pelo amigo cineclubista Henrique Alves
58
Esta questão será aprofundada no cap. 5. No entanto é de notar que Paulo Rocha está no cruzamento de uma
série de redes de pessoas e sociabilidades. Em 1953, após ter concluído o ensino secundário, ingressa no Curso de
Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desenvolvendo actividade como dirigente cineclubista.
Abandona a Faculdade de Direito e, entre 1959 e 1961, parte para Paris onde frequenta o IDHEC (Institut des
Hautes Études Cinematographiques), diplomando-se em realização de cinema. Trabalha como assistente de
realização estagiário de Jean Renoir em Le Corporal Épingle (1962). Em Portugal é assistente de realização de
Manoel de Oliveira em Acto da Primavera (1963) e A Caça (1964). Estreia-se na realização em 1962 com Verdes
Anos, produzido por António da Cunha Telles. É director do Centro Português de Cinema de 1973 a 1974. Entre
1975 e 1983 é adido cultural da Embaixada de Portugal em Tóquio, onde estuda a vida e obra de Wenceslau de
Moraes, tema do seu filme seguinte, A Ilha dos Amores (1982).
103
Costa.59 Existia assim um cinema “oficial” mas uma outra vertente ia despertando, com sinais
de excepção.
Os anos 1950 são considerados anos de crise do cinema português. Os filmes nacionais
não solicitam a vertente documental e etnográfica, e quando o fazem, para falar dos
acontecimentos do país, é segundo uma determinada óptica de propaganda ou daquilo a que
se chamou “acatitamento formal”. Segundo o discurso veiculado pela história do cinema e seus
escritos, o “verdadeiro Portugal” não se vê, escondido atrás de documentários técnicos
“exaltantes das respectivas actividades, de jornais de actualidades inaugurativos e
propagandísticos, de filmes turísticos acatitados e para ver vistas, escondido ainda em fitas de
fundo onde se vão aproveitar os restos da comédia, os novos ídolos desportivos ou cantores, o
sangue e os toiros, o fado e o folclore” (Pina, cit. in Cunha, 2007:83).
Para o período entre a chamada crise dos anos 50 e o novo cinema, ou seja, o período
de 1950 a 1962, interessa-me, em especial, chamar a atenção para a obra de Manuel de
Guimarães, e alguma discussão teórica que, a partir dos seus filmes, se fez na altura sobre o
neo-realismo enquanto movimento. Para João Mário Grilo, o período que vai de 1948, data da
primeira lei de protecção ao cinema nacional, que consagrava a acção do Fundo do Cinema, até
ao início da década de 60, é decepcionante. Esta perspectiva parece ser consensual. A
oficialização dos apoios acarretou uma desmobilização total da produção, e apenas dois filmes
são considerados por Grilo excepções às atmosferas “despreocupadas por tradição e patrióticas
por obrigação”: Saltimbancos (1951)60 e Nazaré (1952),61 de Manuel Guimarães (2006: 17).
Para o mesmo período, Manuel de Pina, sempre numa perspectiva de crítico cinematográfico,
salienta a qualidade de Chaimite, de Brum do Canto, Saltimbancos de M. Guimarães, e Frei Luís
de Sousa, de Lopes Ribeiro. Apesar de algumas reticências, o autor acaba por falar de Manuel
de Guimarães (1915-1975) como uma excepção à regra na década de 1950, a propósito do mito
do realismo em especial no seu filme Nazaré, de 1952. Este tem argumento e diálogos escritos
por Alves Redol, escritor ligado ao movimento neo-realista, e foca, mais uma vez, a “paisagem
59
Segundo José Manuel Costa, foram Alves Costa e Paulo Rocha, (que me confirmou este dado), que lutaram,
desde sempre, por tentar exibir os filmes de Campos, muitas vezes de forma caseira, e amadora.
60
Saltimbancos estreia a 25 de Janeiro de 1952 no cinema Éden, com o seguinte argumento: “o universo
subterrâneo e exótico do Circo Maravilhas, pequeno e decadente, tristonho e dramático na sua miséria, nos
conflitos e fatalismo dos velhos artistas, na coragem da veterana trapezista, no trilhar errante duma aventura
inusitada, onde o afecto e o companheirismo rasgam, no horizonte, uma esperança inextinguível.”
61
Nazaré estreia na mesma data no cinema Éden. Segundo o seu Argumento o filme trata “a existência árdua mas
heróica duma comunidade piscatória, seus conflitos e sentimentos individuais sobressaindo do drama colectivo,
sempre com o mar como holocausto ou origem fertilizadora. O ciclo nascimento-vida-morte é traçado através de
várias personagens, de entre as quais se relata a história de dois irmãos, António e Manuel Manata, um forte e
valente, o outro fraco e covarde”.
104
nazarena”. O realizador é criticado por Pina, que fala do “erro do neo-realismo”, por se
esquecer que “a seriedade ou a qualidade do cinema nada tinham a ver com escolas, receitas,
ou etiquetas, mas com o mérito objectivo do produto, fosse ele qual fosse. O erro era igual, no
fim de contas, ao de António Ferro, ao querer, para a sua política do cinema, votar ao
ostracismo o cómico, o musical e valorizar o histórico-literário, o poético, o documentário”
(Pina, 1986: 126). Vejamos, no entanto, o que parecia estar aqui em questão. Na noite de 12 de
Dezembro de 1952 estreava no cinema Éden este filme. No início do genérico do filme diz-se:
Este filme é dedicado à gente humilde da Nazaré, às mães que choram os filhos que o
mar um dia lhes levou, às noivas que sofrem angustiadas a luta dos homens com as
ondas, aos pescadores endurecidos que buscam no seio das águas o sustento dos seus
lares […]. Nada do que ides ver é irreal ou puramente arquitectado, não procuramos
efeitos espectaculares para vos impressionar, tempestades fantásticas ou naufrágios
arrepiantes, tudo se resume a um conflito humano de almas singelas, vivido na
intimidade das campanhas e na contemplação interrogativa do mar traiçoeiro da
Nazaré, esse mar em cuja brandura aparentemente se ocultam as garras gélidas da
morte.
Este texto, que recupera a ideia documental, de autenticidade, em que nada é
provocado “para impressionar” e tudo é “vivido na intimidade” mostra como, mais uma vez, o
universo dos pescadores, e em especial os da Nazaré, representava um arquétipo de um país
sempre que se queria inovar a fórmula cinematográfica para falar do povo. Assim, é como se o
filme de Guimarães nos remetesse para o início dos anos 1930, quando Leitão de Barros, com
Nazaré, Praia de Pescadores e Maria do Mar, relançou o debate acerca das possibilidades de
um estilo cinematográfico português, debate este em que, à semelhança do que aconteceu
com a literatura, ou a pintura, se procurou nacionalizar um estilo. Esta questão é recorrente
quando se fala do cinema português, e nele se reclamam características originais e inéditas que
pudessem ser consideradas exclusivamente nacionais. O então designado “verismo português”
(expressão aportuguesada do francês vérité) assimilou este espírito, atingindo uma maioridade
criativa inédita no nosso cinema. Enquanto fórmula de conciliação entre o documental e o
ficcional, este ‘estilo’ fílmico usava o documentário como veículo ideológico para observar o
sentido humano e social. (cf. Cunha, 2007: 81).
Começa assim, nestes anos 1950, a desenhar-se a ideia de que uma aproximação
documental seria a única possibilidade de alcançar o autêntico pais. É esta veia que
conseguimos detectar, um caminho paralelo ao oficial, ao institucional, e que realizadores
como Leitão de Barros ou Oliveira revelavam já, numa “atitude de ruptura e recusa do passado
recente, uma ideia redentora e regeneradora” (Cunha, 2007: 82). Para além da discussão sobre
105
a existência ou não de uma escola de documentarismo em Portugal, a linha de inspiração
etnográfica foi fazendo o seu caminho, e o povo sendo recuperado como uma espécie de
redenção relativamente ao universo politicamente fechado e marcado da vida citadina.
Podemos assim observar que existe uma sequência de filmes sobre a vida dos
pescadores, e até propor que esta figura, ou a da comunidade piscatória, tenha servido para
falar de uma certa dimensão do popular. Essa sequência começa, como vimos, no início dos
anos 1930, com Nazaré, Praia de Pescadores e Maria do Mar, de Leitão de Barros, mais tarde,
nos anos 1940, com Alla Arriba. Em ruptura com este olhar, estão Nazaré (1952), de Manuel
Guimarães e Almadraba Atuneira (1960), de António Campos, abordagens estas que vão
culminar com Mudar de Vida (1966), de Paulo Rocha. Trata-se de filmes em que a dependência
do mar caracteriza um certo olhar que se radicaliza, revelando uma forma de vida vista como
quase de subsistência. A esta ideia associa-se a de comunidades que dependem das agruras da
natureza e são por isso representadas com um discurso sobre a força e a coragem. 62 Por outro
lado, a figura do simples e honrado pescador é valorizada pelo discurso e ideologia oficiais do
regime, numa atitude de representação épica da grandeza marítima do passado. Como diz
Leitão de Barros, “os poveiros são os representantes actuais dos povos marítimos anteriores à
fundação da nacionalidade. Foram eles os construtores das caravelas henriquinas” (Cunha,
2007: 82).
Há portanto como que uma coincidência, no cinema português até aos anos 1960, entre
este olhar etnográfico e a realidade representada, em que a vertente documental é sinónimo
de vida de pescadores, da mesma forma que, na década seguinte, exceptuando filmes do
Centro de Estudos de Etnologia ou Gente da Praia da Vieira (1974), de António Campos, a veia
etnográfica anda a par da ruralidade, da agricultura e das paisagens das regiões interiores, mais
do que do litoral. O facto de, na prática, ser mais difícil, ou quase impossível de encenar o
quotidiano de trabalho da faina piscatória, ao contrário da vida rural que pode ser fragmentada
em décors mais delimitados, pode explicar em parte este facto. Paulo Cunha segue um pouco
este raciocínio, detectando justamente esta procura de um universo popular que é apropriado
e reapropriado por diferentes facções, ao referir a valorização da figura do poveiro:
Estrategicamente, em 1942, o Estado Novo financiara e aplaudira Ala Arriba!, uma
realização do veterano Leitão de Barros. Com o alto patrocínio de António Ferro e do
seu Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), pretendia-se um documentário
ficcionado de pesquisa etnográfica e folclórica que transmitisse os valores do universo
62
Francisco Oneto (1999), a partir do trabalho que elaborou sobre a pesca da xàvega fala da importância do
“aleatório” na vida das comunidades de pescadores, cuja dimensão religiosa se liga ao medo do naufrágio.
106
popular que foram adoptados pelo discurso ideológico, ou seja, que valorizasse um
povo simples, honesto, religioso e trabalhador (Cunha, 2007: 82).
O pescador foi portanto, desde cedo, uma espécie de arquétipo da marginalidade do
português, do povo e da ideia de uma ligação ancestral ao mar, mas teve apropriações
diferentes consoante os períodos. Nesta passagem dos anos 1950 para um esboço da corrente
neo-realista, um movimento artístico e ideológico que exerceu uma importante contestação ao
regime, de que o filme Nazaré parece ser um bom exemplo, há uma alteração no olhar sobre
estas comunidades.
Mais tarde, a partir de meados de 1960, cada vez mais o cinema vai voltar-se para a
ruralidade. O processo parece ser bastante semelhante ao que aconteceu com a etnologia dos
pescadores na Europa. José Fernandez procura explicar porque é que a partir de um
determinado momento os próprios etnólogos voltam costas ao trabalho sobre as comunidades
piscatórias. Os camponeses eram o legítimo objecto de estudo do etnólogo baseada numa
visão culturalista que os permitia assimilar “com as sociedades primitivas com base no conceito
de sociedades folk, o que não se aplicava tão bem aos pescadores, vistos como comunidades
com grandes contactos com o exterior, com actividade comercial, corrompidos pelo turismo
que alterava a vida tradicional que se queria representar” (Fernández, 1999: 334).
Durante o período do Estado Novo, no entanto, e como vimos, os filmes que tratavam
dos pescadores eram sempre eles próprios marginais à imagem e aos arquétipos do país muito
mais centrados, por exemplo, na figura do campino:
A generalidade dos filmes produzidos nas décadas de 1930-40 concorria ao título de
‘filme mais português do cinema português’, reivindicando a conquista do ‘gosto
popular’. Estes filmes reproduziam as fórmulas que os órgãos oficiais do Estado Novo
procuravam definir como imagem-tipo do ‘ser português’, construída a partir das
referências da chamada ‘cultura popular’ e reelaborada dentro do ideário do regime,
tendo em conta as noções de ordem, cidadania e sociedade. O Minho rural oitocentista
retratado nos romances de Júlio Dinis e as peripécias marialvas dos campinos
ribatejanos serviam convenientemente a estratégia propagandística oficial de
construção de um mundo rural culturalmente estático e socialmente acomodado como,
por exemplo, nos filmes: As Pupilas do Senhor Reitor (Leitão de Barros, 1935), Os
Fidalgos da Casa Mourisca (Arthur Duarte, 1938) […], José do Telhado (Armando
Miranda, 1945), Um homem do Ribatejo (Henrique Campos), Aqui Portugal (também
Armando Miranda, 1947) (Cunha, 2007: 82).
Como se pode confirmar, e apesar deste gosto cinematográfico dominante, surgiram
107
“fora desta estratégia de uniformização cultural (salazarista), uma plêiade de intelectuais de
diferentes orientações ideológicas que tentou por diversas ocasiões propor alternativas aos
programas oficiais” (Cunha, 2007: 83). Embora pareça haver alguma continuidade nas
temáticas tratadas, começa a defender-se e valorizar-se um cinema diferente, longe do
artificialismo e populismo dominantes. Este caminho apontava para um regresso à vida real e
ao quotidiano. O movimento neo-realista, embora pouco presente, ou pouco significativo, no
cinema, é importante para perceber que aquilo que muda é a perspectiva. A concepção do usos
da película enquanto arte eminentemente social, atenta às transformações da sociedade,
desenvolveu-se no contexto do debate acerca da responsabilidade social das artes, defendida
pelos intelectuais neo-realistas.
Ao longo da década de 50, o cinema português conheceu algumas adaptações de
romances neo-realistas ou a colaboração de autores neo-realistas dos quais as obras de
Manuel de Guimarães são as mais significativas. Em ideias gerais tanto Saltimbancos
(1951) como Nazaré respeitam as grandes linhas de força do discurso programático do
neo-realismo: uma grande atenção ao mundo social e económico, bem como ás
distorções que o sistema capitalista nele agudiza; a configuração de um novo
humanismo, justamente constituído em função de uma forte preocupação com as
condições sociais da existência humana; a valorização dos componentes de conteúdo da
obra literária, em detrimento de preocupações de ordem formal; o privilégio da
narrativa como veículo preferencial de representação das contradições que preocupam
o neo-realismo (Reis, 1999: 598).
Assim, apesar do conteúdo e da realidade retratada serem, significativamente, os
mesmos, a abordagem proposta por Guimarães é diferente da de Leitão de Barros. Ao contrário
do que sucede em Maria do Mar ou Ala Arriba!, onde predomina a exposição dos usos e
costumes locais sob uma perspectiva folclórica contemplativa, Nazaré dá maior destaque aos
aspectos sociais segundo uma óptica neo-realista, deixando transparecer e valorizando o
conflito de classes e a desigualdade social. Havia neste período uma luta desigual da oposição
neo-realista contra um regime de censura e opressão ditatorial institucionalizado. Em 1951,
num ofício do SNI chamava-se a estes “intelectuais da miséria”, “aos quais nunca são estranhas
intenções políticas e sociais em arte e literatura”. No entanto, Nazaré não parece ter
conseguido fazer o corte. Apesar de recusar o habitual folclore e de ser um filme de ruptura
como se anunciava e era esperado, denota diversas semelhanças com o tipo de filme populista
tão desenvolvido nas décadas de 1930 e 1940. Mais uma vez, e curiosamente, Nazaré relançou
e acalorou o debate acerca das possibilidades de existência de um cinema neo-realista
produzido em Portugal. Um dos críticos de referência das décadas de 40 e 50, Roberto Nobre,
108
incluía em 1964 esta obra entre os equívocos neo-realistas que “nasceram da precipitação de
alguns entusiastas e da necessidade de renovação da cinematografia nacional” (Cunha, 2007:
85-86).
Ninguém parece aceitar este movimento neo-realista, nem os próprios historiadores e
críticos de cinema, estando Guimarães e a sua obra no centro do debate, que é antes de mais o
da legitimidade intelectual para representar cinematograficamente o país. Bénard da Costa e
Luís de Pina fazem referências breves e pouco abonatórias à obra de Guimarães, não hesitando
em aproximá-lo dos “meios de esquerda” e dos “intelectuais de esquerda”, desvalorizando a
originalidade da sua cinematografia (Costa 1991: 108). É de notar que existiam aqui
posicionamentos políticos relativamente diversificados, desde gente relativamente próxima do
PCP até católicos de esquerda, no grupo de intelectuais a que estava ligada a crítica
cinematográfica, e que não cabe aqui discutir. Autores menos divulgados e mais preocupados
com a importância da acção cineclubista do que com a crítica pura, como Henrique Alves Costa
(1978: 104), lembram Manuel Guimarães como “um homem simples, modesto, sincero,
honesto, que não ignorava nem escondia as suas limitações, que aguentava com estoicismo os
seus desaires, na esperança sempre adiada de um dia poder dar a medida total das suas
capacidades” (Cunha, 2007: 87). Na verdade, a história de Guimarães, como veremos, parece
semelhante à de António Campos, também ele filmando já nesta altura mas de modo amador,
por sua conta e risco, com um trabalho sem grande visibilidade.
Por seu lado, Guimarães, devido às fortes dificuldades financeiras e às mutilações
sofridas pela censura oficial, acabou por ceder ao mercado: “senti-me perdido, desorientado,
vencido, desmoralizado”; “sofri uma enorme depressão, uma terrível angústia”; “ninguém
sonha hoje os sacrifícios e o heroísmo que eram necessários para se fazer um filme
independente e sem apoios financeiros (cit in. Alves Costa, 1978: 106).
Na sua análise da poesia neo-realista, Eduardo Lourenço sintetiza, numa reflexão que
tem um paralelo com as críticas que foram elaboradas acerca das parcas tentativas de um
cinema neo-realista em Portugal:
O mundo enquanto ordem (ou desordem) social é posto em questão, mas não a
linguagem através da qual a contestação tem lugar. É aqui que se vê como uma poesia
destinada a manifestar a má-consciência de um mundo é ela mesma, no seu mais
original impulso, fruto de uma boa-consciência radical que é bem mais funda que a
simples boa-consciência ideológica [...]. Lendo-a, estudando-a de perto, como tentámos
fazer, podemos ressentir-lhe a nobreza, a seriedade, a gravidade, a beleza mesmo, um
patetismo ou uma veemência líricas que nos tocam, mas não a fulgurância sem nome
que abisma em nós as certezas e as constelações oferecendo-nos uma nova terra e um
109
novo céu (2007: 253).
Mas o cinema neo-realista de Guimarães é a excepção à regra. Em 1935, o
aparecimento do cinema ambulante assinala um marco na difusão da produção oficial. Existe,
neste período, uma numerosa produção de documentários sobre o presente, em especial o
Jornal Português, as Imagens de Portugal, o documentário militar, o documentário de arte, o
turístico e o industrial, que vêm ocupar o lugar das Actualidades dos períodos anteriores. Tratase de filmes informativos, com uma vertente pedagógica e institucional, que resumem os
principais acontecimentos políticos e sociais da época em que se vivia. Mas a predominância de
temas folclóricos, de imagens do campo ou de lugares históricos é uma constante na produção
de documentários em Portugal (cf. Paulo, 2011: 109). Muitos realizadores fazem, portanto,
encomendas ou publicidade como forma de ganhar a vida. Os serviços Agrícolas continuam a
fazer filmes técnicos e há uma vasta produção, a partir de 1952, ligada à Campanha Nacional de
Educação de Adultos, com documentários científicos e educativos. Paradigmática desta acção,
e estudada por Cristina Barcoso (2011), são os filmes da série do Zé Analfabeto, que “ilustram a
história de vida de um homem rural que se estabelece na cidade”, e em que se procura “ilustrar
as dificuldades e problemas, enganos e ironias de que o analfabeto era alvo, as desvantagens
de ser analfabeto”. A autora trabalha as “unidades frásicas” ligadas ao analfabetismo, conotado
com categorias como: ignorância, vergonha, preguiça, engano, ingenuidade, etc. A figura do
analfabeto nestes filmes de cariz pedagógico e cívico aparece sempre ligada ao de um homem
rural, um “vulgar camponês, de calças, camisa desabotoada com mangas arregaçadas e chapéu
preto” e que quando visita Lisboa passa a “casaco branco, camisa e boné”, iniciando-se o seu
processo de alfabetização e de afastamento da imagem rural (2011: 182 e 188). 63
O segundo aspecto que quero mencionar, para além do neo-realismo de Guimarães, a
propósito do nascimento e da origem do movimento de sessenta, relaciona-se com as verbas
oficiais do Fundo, que, apesar dos subsídios a dois filmes de Oliveira, são basicamente aplicadas
no fomento do documentário, na formação de técnicos, nos subsídios a formação (Estúdio
Universitário de Cinema). Um dos acontecimentos mais significativos foi o come back de
Oliveira, que, depois de vários projectos falhados, estagia na Alemanha para rodar ele próprio
em agfacolor o filme O Pintor e a Cidade, seguido em 1959 por O Pão, subsidiado pela
Federação Nacional de Industrias de Moagem. Em 1954 o Cineclube do Porto, (o amigo Alves
Costa) tinha-lhe feito uma homenagem, e Oliveira “tornava-se um símbolo para o sector
63
Esta abundante produção documental não cabe no âmbito deste trabalho porque toma o período anterior ao
que analiso aqui, mas também porque não se trata de um cinema de autor, critério definido à partida, com tudo o
que possa ter de escorregadio, para a escolha dos filmes apresentada no início.
110
cultural, nomeadamente para os novos cinéfilos que despontavam.” (Pina 1986: 139). É neste
período que convém perceber que existe todo um sector da sociedade portuguesa que com um
claro espírito de resistência à orientação geral começa a tentar mudar: nos cineclubes, nas
revistas de cinema, em páginas de jornal. Aos poucos, este sector passa a ideia clara de que há
que fazer um corte com o antigo cinema e retomar, como a geração dos anos 1930 fez, os
movimentos cinéfilos europeus.
Há uma conjugação de factores que leva a um cenário de mudança, de contestação e ao
mesmo tempo de aceitação do regime, que no cinema se projectarão na actividade da crítica e
dos cineclubes, com o ambíguo e correlativo reconhecimento da obra de Oliveira que obtém
apoios do Fundo para rodar A Caça e O Acto da Primavera. Há uma inflexão assinalável na
política do SNI, que administrava os dinheiros do Fundo. Ferro afirmava já em 1947 que “nas
próprias misérias do cinema português se podem descobrir as suas grandezas, o que há de
engenhoso, de improvisação inteligente, de dedicação sem limites, de heroísmo surdo, de
esforço perseverante, à prova de todos os desânimos, num grupo de rapazes, alguns já hoje
com cabelos brancos, que ficará histórico nos anais do cinema nacional” (1950: 48). Mas se em
1949 o SPN/SNI dava 12 prémios a cinema, em 1959 dá apenas um (Ó, 1999: 125). Na
literatura, a crítica social assume-se em obras como Gaibéus (1939) e nas artes plásticas, o
Movimento de Unidade Democrática cria, em 1946 e nas instalações da SNBA, as anuais
Exposições Gerais de Artes Plásticas, que se afirmavam como força artística politizada.
Em relação à política de Ferro, que foi, como vimos, estruturada a partir de mecanismos
que asseguravam e valorizavam o vanguardismo da viragem dos anos vinte, esta estava, duas
décadas transcorridas, falida. Jorge Ramos do Ó mostra como inclusivamente muitos dos
artistas que apoiara se terão passado para as fileiras do inimigo. Nestas duas décadas, passou a
existir “atrás do palco idílico da política do espírito”, um “mundo de funcionários da tesoura e
do lápis azul”, e Ferro treinou-se “nas artes da polícia do gosto”. Mas entretanto “na literatura
e nas artes plásticas o neo-realismo hegemonizou, recrutou praticantes em nome de
imperativos igualmente políticos” (Ó, 1999: 225 e 234).
Entretanto, os cineclubes são, como vimos relativamente ao impacto do neo-realismo italiano,
fundamentais para perceber a forma como toda uma geração aprendeu a ver e fazer cinema,
criando uma identidade de cinéfilos, que eram eles próprios muitas vezes realizadores
amadores, e fomentando algum protesto. Parece ser o Cineclube do Porto 64 que propõe a
64
Segundo relato de Jorge Campos Tavares (Plateia, nº 694 de 18 de Maio de 1974), a 13 de Abril de 1945, a
poucos dias do final da 2ª Grande Guerra, nasceu o Clube Português de Cinematografia (CPC), criado por um grupo
de amigos do Liceu Alexandre Herculano. A 23 de Março de 1946 o C.P.C. faz a sua primeira apresentação.
Decorreu no salão do “Grupo dos Modestos”, em sessão privada para os sócios de ambas as colectividades. O
111
melhor actividade pedagógica, incluindo uma inovadora colecção de livros de cinema (os
cadernos Projecção saídos a partir de 1949), mas em Lisboa existia o ABC, o Universitário, o
Imagem, com uma revista particularmente crítica onde escrevem diversos nomes ligados ao
movimento dos cineclubes, alguns futuros cineastas. Existia também o Centro Cultural de
Cinema, de inspiração Cristã, ligado á JUC do início dos anos 1950 e, já no final da década o
Cineclube Católico, dependente do Secretariado do Cinema e da Rádio de Acção Católica (cf.
Pina 1986: 140). O movimento cineclubista teve o seu I Encontro Nacional em 1955, em
Coimbra e para aí convergem os diferentes grupos. Registe-se, uma vez mais, a acção do
Cineclube do Porto e o filme amador Auto da Floripes por ele produzido, com o auxílio do
Fundo do Cinema Nacional. Este foi rodado em 1959, mas a sua exibição pública só teve lugar
em 1963 no Cineclube do Porto. Em carta a Alves Costa, Manoel de Oliveira elogia este filme
como sendo “honesto”, “amador” no bom sentido, num caminho que indica o “futuro do nosso
cinema, a base experimental de expressão diversa e não académica nem convencional, préfabricada, unilateral ou tendenciosa [...] Este é que é o nosso cinema. Não é o neo-realismo
italiano, ou a escola documentarista inglesa, ou a nova vaga francesa, etc. Já recebemos deles
toda a boa lição, mas também temos alguma coisa de nosso a dizer. Qualquer coisa de
particular que ninguém senão nós poderá revelar”. O cineasta salienta, ainda nesta carta, que o
filme “é um documento precioso de um auto antiquíssimo, cuja tradição em perigo de perderse num futuro breve, é, pode dizer-se, desconhecida de toda a gente moderna.”65
programa composto por filmes de formato reduzido, consistia no desenho (filme animado) “Automania”de Servais
Tiago, “Pesca do Sável”e “Marrocos”de Mateus Júnior (filmes amadores premiados), tendo como filme de fundo
uma cópia em 9,5 mm do “Fausto”, de Murnau — um filme clássico, mudo, com Emil Jannings no papel de
Mephisto.
65
Esta carta foi publicada no Boletim do Cineclube do Porto, (n. 420, 1963: 8-9), e é referida por Paulo Raposo.
Para um contexto deste encontro entre o grupo de amigos de Alves Costa com o auto popular da Floripes, ver o
artigo deste autor (1998: 207). Raposo refere que o filme de Oliveira O Auto da Primavera foi influenciado por
estes amadores. Em conversa privada com Manoel de Oliveira, em Janeiro de 2010 este contou-me que falara a
Henrique Alves Costa da Curalha e do Auto da Paixão, numa altura em que faz répérage para o seu filme O Pão, e
que este o terá “imitado”.
112
Fig. 3. Henrique Alves Costa (do lado esquerdo) e a equipa do Cineclube
do Porto, 1958. Arquivo pessoal
Vemos aqui, no discurso de Oliveira, como existia, por parte dos cineastas, cineclubistas
e intelectuais de um certo circuito – a tal “gente moderna” – uma ideia de que a procura do
cinema nacional passava pela via documental, por um lado, e pela via etnográfica pelo outro.
Outra grande contribuição para esta renovação vem de alguns colaboradores da Radiotelevisão
Portuguesa que aí vão fazendo outro cinema, como Baptista Rosa, Fernando Lopes, etc. Por
último, de referir que em 1961 é inaugurado o Estúdio Universitário de Cinema Experimental,
da Mocidade Portuguesa, com o apoio do Fundo do Cinema Nacional e do Ministério da
Educação, presidido por Fernando Garcia e dirigido por Cunha Telles, estabelecimento por onde
vão passar muitos dos novos cineastas, embrião igualmente da futura Escola Superior de
Cinema.66 Nesse mesmo ano começa também a rodagem de D. Roberto (1962), com uma
equipa de gente nova, dirigida por Ernesto de Sousa. Entretanto, o Fundo do Cinema Nacional,
perante a estagnação total da produção, começa a atribuir bolsas de estudo para o estrangeiro,
que incluíam Fernando Lopes e Cunha Telles. Já Paulo Rocha tinha estudado a expensas dele
em França, no IDHEC, e Fonseca e Costa havia estagiado em Roma, como assistente de
Antonioni. Em Abril de 1959, a revista Imagem avança com a subversiva ideia de criar uma
Cooperativa do Espectador com o propósito de financiar um projecto de Ernesto de Sousa –
Dom Roberto, o que viria mesmo a acontecer. Assim, “a entrada na década de 60 traz ao
moribundo cinema português uma transformação radical e imparável”: os bolseiros regressam,
Fernando Lopes roda o primeiro documentário, As Pedras e o Tempo, em ruptura com o
discurso turístico da época, e Cunha Telles lança-se na direcção do I Curso de Cinema, com o
66
Para uma reflexão detalhada do ensino do cinema em Portugal, nomeadamente o nascimento das ideias que
dão origem ao Conservatório, ver o trabalho de Paulo Cunha (2005).
113
patrocínio do SNI. Por este passa um extenso número de futuros realizadores e técnicos do
Cinema Novo, como Elso Roque e Acácio de Almeida, os irmãos Fernando e João Matos Silva,
Teresa Olga, Alfredo Tropa, etc. (cf. Grilo, 2006: 18).
Onde começa o Cinema Novo?
Quanto ao início do Cinema Novo, momento em que se começa a formar o corpus geral de
filmes a trabalhar nesta dissertação, as opiniões divergem.67 Apesar de ser também em 1960
que pela primeira vez Benjamim Pereira pega na câmara de 16 mm para rodar A Dança das
Virgens, em Lousa, filmes como este provêem de outra tradição de trabalho com a imagem,
que não o cinema, e serão portanto tratados no capítulo que se segue. Embora possamos dizer
que tanto o cinema como o filme etnográfico de arquivo se inserem num movimento geral de
procura e objectificação da cultura popular, prendendo-se com a ideia de que é necessário
documentar a tradição, a rudeza e pobreza, e ao mesmo tempo a autenticidade e engenho do
povo, os dois tipos de imagem têm todavia estatutos muito diferentes. A discussão em torno do
advento do primeiro (o Cinema Novo) é importante para perceber o seu carácter, o modo como
se formulou enquanto gesto que tentava cortar com algo que vinha do passado, e que, no
entanto, terá inevitáveis continuidades com este. Para Grilo, “o arranque ‘protocolar’ do
Cinema Novo fica a dever-se, sem dúvida, ao início da actividade das produções Cunha Telles e,
particularmente, à produção da primeira obra de Paulo Rocha: o ‘belíssimo’ Os Verdes Anos
(1963)”. Este filme é considerado aqui como o primeiro do Cinema Novo, também pela forma
como foi feito. Todos os que nele trabalhavam faziam o seu primeiro filme, enquanto que Dom
Roberto, também do mesmo ano, e nas palavras do próprio Cunha Telles, era devedor de
“estruturas de produção e estruturas técnicas que vinham do cinema português anterior”. O
filme resulta da “radicalidade ‘inocente’ de Paulo Rocha, a “primeira resposta global a um
cinema do passado” (Grilo, 2006: 19). Por seu turno, para Luís de Pina Dom Roberto (1962), de
Ernesto de Sousa, apesar de ter sido publicitado como Cinema Novo, e pesem as circunstâncias
inéditas da sua produção, não terá ido mais longe que os filmes de cariz neo-realista de
Guimarães:
67
Ao mesmo tempo que o Estado desmembra os cineclubes, passa a gerar uma série de medidas para fomentar o
cinema português de autor, como a criação da Cinemateca Portuguesa (1958) e do Fundo do Cinema, que atribuía
estas bolsas. Sobre estas medidas e as posteriores, dos chamados ‘anos Gulbenkian’, e a fundação em 1969, do
Centro Português de Cinema, escreveu Paulo F. Monteiro (2011). Sobre a política cinematográfica do Estado Novo
no período entre 1962-1971, ver Fausto Cruchinho, (2001; 2011).
114
O Cinema Novo (ou ‘o outro cinema’ como disse Alves Costa) terá começado na noite de
30 de Maio de 1962, no Cinema Império, quando ali se estreou, no meio de geral
expectativa, o filme Dom Roberto [...] uma decepção, apesar da evidente humildade do
projecto, da cinefilia e da cultura dos autores [...] um filme já datado na sua origem,
vindo de um certo ‘neo-realismo’ pobre e miserabilista [...] um universo parecido com o
de Guimarães, parentes chegados, quase irmãos (Pina, 1986: 144).
Mais uma vez, vemos como a produção de um discurso crítico sobre o cinema
português, que resgata certos filmes e critica outros, transporta uma ideologia que, em tudo,
renega as influências, mesmo que tardias, do neo-realismo. Como defende Paulo Filipe
Monteiro, e para compreender bem o significado do triunfo dessa nova geração, há que frisar
que este se concretizou sobre as cinzas dos movimentos mais politicamente perigosos para o
Estado Novo, como o cineclubismo e o neo-realismo. De certo modo, o chamado ‘novo cinema’
controlava, muito antes do 25 de Abril, todos ou quase todos os lugares da instituição cinema,
“tendo nas mãos o poder de produzir, ensinar e criticar, apesar do seu alinhamento político à
esquerda” (cf. Monteiro, 2011: 307).
Assim, em geral, este discurso considera que a ruptura com o “velho cinema” se deu
com Os Verdes Anos. Paulo Rocha, nascido em 1935, no Porto, amigo e colaborador de Oliveira,
era igualmente companheiro de Cunha Telles no IDHEC parisiense, e nas sessões cinemateca
francesa de Henri Langlois, que considerava a sua “verdadeira escola”. Rocha realiza Os Verdes
Anos, a primeira produção em que Telles investiu a sua fortuna pessoal, para dar
oportunidades de realização aos novos cineastas, após o seu financiamento ter sido recusado
pelo Fundo de Cinema Nacional. Trata-se de um “filme confessional, contando com pudor,
como que a pedir desculpa, o choque entre a aldeia pura e a cidade corrupta, ou se, quisermos,
o choque entre o fim da adolescência e a entrada no tempo adulto” (Pina, 1986: 146). Julgo que
vale a pena determo-nos um pouco nele, e tentar perceber em que é que rompe com uma
certa imagem do país, e poder assim voltar neste texto a uma das questões que o atravessam, a
da dicotomia entre o campo e a cidade.
O filme conta a história do amor frustrado de dois jovens, Júlio e Ilda. Ele chega da
província a Lisboa para morar com o tio e tentar a sua sorte como sapateiro. Apaixona-se, e por
se sentir rejeitado pela amada e desamparado na grande cidade, mata-a. O conflito do filme
resume-se “à dificuldade de lidar com a cidade moderna e os seus usos e costumes que se
opõem aos seus valores provincianos”. O filme começa com uma panorâmica do campo
cultivado e um riacho, donde se avista ao longe Lisboa, um espaço limite, na margem da
cidade, com resíduos de ruralidade. Este é o ponto de vista da personagem na sua chegada à
cidade; e o ponto de vista do filme é o de “um olhar saudoso para o campo, ameaçado pelo
115
moderno” em que vemos “a representação da cidade como uma aglomeração de prédios que
ameaça o campo, cheia de pessoas pouco confiáveis [...] um lugar inóspito, de valores
duvidosos, senão perverso” (Ferreira, 2007a: 104-105). Para Prado Coelho, este é um filme do
campo contra a cidade.
A cidade é perversa porque propõe os objectos como objectos desejáveis ao mesmo
tempo que institui entre nós e esses objectos uma distância intransponível. E toda a
narrativa, todo o enredo que se trava entre Ilda e Júlio, até a recusa final de Ilda em
casar com Júlio, é apenas a modulação deste tópico: há um desejo que se incentiva e se
interdita, e esse double bind só pode resolver-se num gesto demente de violência
(Coelho, 1983: 19).
Retomarei esta questão do contraste entre campo e cidade no filme de Paulo Rocha.
Mas, voltando ao tema da fronteira temporal que aqui delimitei, a de 1962, um outro filme, O
Acto da Primavera (1962), aparece, feito no mesmo ano, a colocar novas questões sobre a
identidade deste novo cinema, que não parece ser apenas geracional. Para alguns, o filme de
Oliveira determina o momento a partir do qual se pode dizer que há uma ruptura, talvez por ter
sido feito por um realizador de uma outra geração. De acordo com Alves Costa (1978: 117), O
Acto da Primavera deve ser também mencionado neste contexto pois “ousava dizer, por subtis
linhas travessas, o que ninguém, entre nós, ousara dizer por linhas tortas ou direitas”. Seria
interessante retomar a discussão sobre o início de um cinema novo português, nesta
perspectiva (cf. Ferreira, 2007: 103). Para o argumento que estou aqui a desenvolver, de que a
partir deste momento o gesto de filmar o povo se altera, e de que este passa a radicar no olhar
etnológico e no registo documental, tal perspectiva é também interessante. Apesar de Os
Verdes Anos se fundar no contraste entre o campo e a cidade, é um filme que parte de um
universo eminentemente urbano, uma ficção construída com actores e cenários. Quanto a D.
Roberto, é verdade que a continuidade com o cinema anterior em termos de linguagem, como
referia Eduardo Lourenço ao falar da poesia neo-realista, é bastante clara. Já Fausto Cruchinho
afirmou que, sendo o neo-realismo a corrente estética dominante entre a crítica, os cineclubes
e os espectadores, “não foi ele que triunfou no movimento de renovação do cinema nacional
do pós anos 60”. Por outro lado, e “sendo Ernesto de Sousa a mais importante figura da
modernidade nas artes plásticas pós anos 60, ele foi também o autor do mais ‘velho’ filme
dessa nova geração” (Cruchinho, 2001: 239). O filme de Oliveira é diferente, e visto hoje em
perspectiva, teve uma grande influência no cinema que fala da cultura popular, mais do que
qualquer outro aqui mencionado. Se, como vimos, para João Mário Grilo o que conta é a
passagem de um cinema de actores para um outro de autores, O Acto da Primavera acaba por
116
fundar justamente esta ideia dos não actores, ou da não ilusão defendida pela escola autoral
portuguesa. Neste filme, radicaliza-se a ideia neo-realista de utilização de não actores, ao filmar
os camponeses que actuam na paisagem natural o seu Auto da Paixão tradicional. Entremos
assim no personagem de Oliveira, cujos antecedentes poderão contextualizar o modo como a
forma de representar a cultura popular no Acto irá marcar todo o cinema posterior.
Em Maio de 2007 visionei, no ANIM, toda a obra de Oliveira até 1978, ou seja, Douro
Faina Fluvial (1931), Famalicão (1940), Aniki-Bóbó (1942), O Pintor e a Cidade (1956), O Pão
(1959), Acto da Primavera (1963), A Caça (1963), As Pinturas do meu irmão Júlio (1965), O
Passado e o Presente (1972), Benilde ou a Virgem mãe (1975) e Amor de Perdição (1978).
Interessava-me em especial O Acto da Primavera, em que os habitantes de Curalha, em Trás-osMontes, representam um Auto da Paixão, mas pareceu-me impossível separar esta obra de um
percurso de autor, por um lado, e de um contexto social, cultural e biográfico, pelo outro. A
literatura sobre a obra de Manoel de Oliveira é dispersa e não existe até ao momento uma obra
de síntese,68 pelo que recorri também a publicações de cineclubes, especialmente do Cineclube
do Porto, textos estes que muitas vezes reuniam e sintetizavam a crítica que ia aparecendo nos
jornais e revistas de cinema. Para centrar a temática aqui abordada, e procurar as raízes de um
cinema de inspiração etnográfica, e que olha o povo, Oliveira é a figura primeira.
Oliveira, o Acto fundador
No ano charneira e de mudança para um novo cinema português, em 1963, Paulo Rocha
apresentava Os Verdes Anos e declarava:69 “Manuel de Oliveira é um primitivo genial:
sinceridade ofuscante, força, inocência, enraizamento. Pela virtude puramente cinematográfica
das imagens e da linguagem, o poder criador da cor, o virtuosismo do som - as suas obras
explodem sobre o écran com um vigor que apenas encontramos entre os maiores” (cit. in
França et al, 1981: 7). Oliveira, nascido em 1908, e portanto já com 55 anos quando realiza O
68
Para além das contribuições dadas nas variadas histórias do cinema português [Costa, A., 1978; Pina, M., 1978,
1986; Coelho, P., 1983; Costa, B. ,1991; Grilo, J.M., 2006 ; Ferreira, C. (ed.), 2007], encontramos, para a
constituição de uma cronologia, várias contribuições (em especial Pina, s.d.). Para uma análise de conteúdos dos
seus filmes existem algumas reflexões dispersas, mas com importantes dados, nomeadamente biográficos
(Catálogo da Cinemateca, AAVV, 1981; França et al, 1981; Lardeu, 1988; Lemiére, s.d; Parsi, 2002). Existe uma
colectânea de entrevistas com pormenores biográficos interessantes [Baecque; Parsi (1999)] Na cinemateca
portuguesa encontra-se alguma documentação. Para uma cronologia ver Pina, Luís de (s.d, s.ed.), Em termos de
análise, Tancelin, P. e Parsi, J. (1988). Finalmente, para uma análise do acolhimento pela crítica francesa da obra de
Oliveira ver Lemière, Parsi (s.d, s.n.). Ver ainda o recente Fernandes, 2008.
69
No texto “Homenagem a Manuel de Oliveira”, (Programa nº 427 do Cineclube do Porto), numa sessão sobre este
cineasta no cinema Trindade, Porto, no dia 13 de Outubro de 1967.
117
Acto da Primavera, era na década de 1960 alguém que pertencia à geração do velho cinema,
mas que foi sempre tomado como estando à frente do seu tempo. Fazia um caminho solitário e
único. Do conjunto de autores lidos, em especial aqueles que o conheceram de perto, como
Alves Costa, António Reis ou mesmo Augusto França, sobressai a ideia de uma genialidade
associada a uma certa inocência, a uma reflexividade, uma assunção total do artificialismo do
acto de filmar, um cinema de não-ilusão (Grilo, 2006), devolvendo a ideia original do plano fixo
e da palavra teatralizada ao cinema. O próprio realizador, em entrevista, explicava: “condeno
aquilo que simula a própria realidade e que induz o espectador a assistir a um espectáculo que
o envolve como se fosse a própria realidade, quando não é! Filmar é constituir uma realidade
cinematográfica que por sua vez representa uma outra realidade [...]; o que aconteceu é aquilo
que lembramos e que cada um de nós viu de pontos de vista diferentes.” (AAVV, 1981: 34) Por
outro lado, vemos um percurso árduo, sem apoios, com uma grande inventividade, uma
genuína e voluntariosa vontade de fazer cinema.
Por isso julgo que devemos tratar este realizador como um caso à parte na história do
cinema português até aos anos 1960, não só pelo seu percurso singular mas também pelas
apropriações que foram sendo feitas do seu cinema por gerações diferentes de cineastas,
críticos e teóricos. Em 1959 Oliveira realiza O Pão. É nesta rodagem que conhece por acaso a
aldeia de Curalha, ao pé de Chaves, encontrando pessoas vestidas para o Auto que iria
acontecer no dia seguinte. Assim, O Pão e O Acto da Primavera foram concebidos ao mesmo
tempo, e julgo que fazem parte desse gesto de libertação relativamente a uma linguagem
anterior. Temos que nos deter um pouco sobre este primeiro filme, em que, como referi antes,
Oliveira revela e trabalha sobre o fabrico e a circulação do pão, marcando um contraste entre o
modo de produção e consumo artesanal, ligado ao mundo rural, e o fabrico industrial, ligado ao
mundo urbano. O filme alterna permanentemente sobre estes dois universos. Veja-se algumas
notas que tomei:
O título “O Pão”, um cante alentejano no som, seguido da legenda “Documentário
patrocinado pela Federação nacional dos Industriais de Moagem FNIM” e ainda, sobre o
negro:
“O pão de cada dia
obriga a um esforço
constante de que o
homem sai dignificado”.
O filme começa com um casamento rural. Segue-se uma sequência de montagem
experimental, um grande plano de um arado na terra, a lavra, a colheita do cereal. Uma
debulhadora vermelha corta o cereal e no plano seguinte estamos numa pintura de uma
118
Ceia de Cristo, “Tomai e comei, isto é o meu corpo”, ouvimos em off. Continuando a
descrição [...]. Voltamos à máquina de debulha, ao ensacar, ao transporte do cereal em
cavalos. Chegam os sacos, são abertos, entram num sistema industrializado, e daí
passamos a imagens de laboratórios com máquinas e temperaturas monitorizadas.
Numa espécie de flash-back, vemos um velho camponês a peneirar à mão, um moinho
de vento a funcionar. Voltamos à fábrica, com a entrada dos trabalhadores, a farinha no
laboratório, de novo ao moinho (1 plano) e à fábrica (1 plano). Vemos o escritório, o
trabalho com papel e dinheiro que circula, uma reunião da direcção numa grande sala.
Segue-se uma montagem em paralelo que alterna entre cenas da reunião com imagens
dos sacos na fábrica. Voltamos ao burrinho, à azenha, uma mó num velho moinho,
entra uma mulher do povo e fala com o moleiro. O filme mergulha depois na ruralidade.
De um plano geral da aldeia com casas de pedra, passamos ao grande plano de uma
mão de mulher a pôr fermento na farinha e em off, com pronúncia transmontana: “a
que é semelhante o reino dos céus, o reino dos céus é semelhante ao fermento”. O filme
continua neste registo comparativo, da mulher do campo que amassa o pão na maceira
para a máquina que amassa pão ao som de tambores e jazz. Jovens dançam ao som de
uma música frenética. De novo o fogo no forno, o fazer pão na fábrica: pães pequenos,
amassados pela máquina, cozidos no forno da fábrica, pão retirado para análise, pão no
cesto sai para a grande cidade. Toca, - “Padeiro!”.
Em síntese, Oliveira está a falar neste filme do contraste entre dois modos de fazer o
pão, o industrial e manual. Mas o fascínio parece estar, ainda, do lado do industrial e por duas
ordens de razões. Por um lado, é este o mundo dele, da sua origem familiar e social. Por outro,
o trabalho de montagem muito elaborado vive neste filme da passagem de um tempo lento, o
do pão feito manualmente, para a velocidade industrial, conotada com o urbano.
Neste filme, Oliveira trata o ciclo do pão oscilando entre a industrialização e o processo
artesanal, o contraste entre o pão do burguês e o pão do povo. Refiro-me à cena que começa
no restaurante, com uma mesa a ser posta, um grande plano do guardanapo onde se lê “Ritz” e
daí passa para o plano de um banco velho de madeira com pão em cima. Um homem obeso,
rico, cheio de anéis, come no restaurante e, em paralelo, uma criança pobre espreita pão numa
montra. Vemos depois uma mulher que deixa cair um pão, e a criança apanha-o do chão.
Oliveira é talvez aquele que trabalha de forma mais explícita este contraste usando imagens
correspondentes a marcas de classe social extremamente afirmativas. Na cena inicial de O Auto
da Primavera (1962), (ver DVD 1, anexo), filmado em Trás-os-Montes, um grupo de jovens
citadinos e burgueses usando óculos escuros e luvas comenta, de dentro do carro, um
Chevrolet, a representação do Mistério da Paixão que se inicia:
- “ Ena pá que giro não podemos perder isto
-
Que treta, a vida de Cristo!
-
É giro, é bestial”
119
O exagero no uso de marcas presentes e trabalhadas na aparência, no modo de vestir e
na linguagem funciona por contraste com uma representação do povo pobre e faminto. A
ladainha no moinho contrasta com o jazz que contextualiza o mundo do outro pão. O rural,
associado a uma aldeia ou lugar no Norte do país, contrasta com o urbano, assimilado a prédios
de andares ou a ruas com carros. O primeiro é o universo do manual, o segundo do industrial, à
força do vento e da água sobrepõe-se a força da electricidade, à escassez a fartura, aos pobres
os ricos. Finalmente, ao rural associa-se um grande pão que todos partilham e ao urbano o
individualismo dos pequenos pães distribuídos pelo padeiro de porta em porta. E conclui esta
grande diferença, esta dicotomia extrema quando estilhaça um vidro no som e nos mostra uma
imagem da Guernica de Picasso. Este filme indicia um caminho,
Apesar de ser uma encomenda,70 o filme é de um lirismo intenso. O pão é visto como fio
condutor de um grande fresco sobre o Portugal de então, da cidade e do campo, nas
suas diferentes componentes sociais. A vontade de filmar de novo deu asas à
imaginação do realizador [...] é uma visão de um Portugal imemorial [...]. Diz Oliveira,
que ‘pessoalmente, gostaria de sugerir, no documentário, uma certa transcendência
para a vida espiritual, filmando os acontecimentos correntes de forma três plate’.
Adivinhamos já na expressão ‘trés plate’ a ideia de que este cineasta não quer os efeitos
fáceis, brilhantes. Respeita a realidade sem manipulação, sem poeira nos olhos, sem
efeitos técnicos (Parsi, 2002: 92).
O Acto da Primavera (1962) foi o filme seguinte, o único em que Oliveira recebeu apoio
do Estado – tratava-se afinal de filmar uma Paixão de Cristo popular.71 Este facto mostra
como existia a possibilidade de um cinema alternativo anterior à revolução de Abril de
1974. Concebido como um documentário no início, o projecto vai acabar por ser, ao
longo do tempo, uma ficção, visto que Oliveira recompõe e recria à sua maneira o
espectáculo que dão cada ano os habitantes de Curalha. O Auto era demasiado longo,
evocando várias figuras do Antigo Testamento, e o cineasta decide ficar só com a
Paixão. A rodagem decorreu entre 1961-1962, ao mesmo tempo que filmava O Pão.
Estreia no dia 2 Outubro de 1963, no cinema Império, em Lisboa.
70
Este foi um filme de encomenda, de certo modo, patrocinado pela Federação Nacional dos Industriais de
Moagem FNIM.
71
De notar que se trata de um filme extremamente actual quando é feito. O Acto da Primavera precede O
Evangelho Segundo São Mateus, de Pasolini. Os italianos perceberam desde cedo os seus méritos e o seu carácter
percussor, dando-lhe a Medalha de Ouro do Festival de Siena, em 1964 (cf. Pina, 1986).
120
Fig. 4. Rodagem, O Acto da Primavera. Arquivo Cinemateca Portuguesa.
Fig. 5. Rodagem, O Acto da Primavera. Arquivo Cinemateca Portuguesa.
121
Manoel de Oliveira teve a colaboração de José Régio, nome ligado à Presença, como consultor
intelectual, José Carvalhais, como consultor religioso e, ainda, de António Reis – que mais tarde
iria tornar-se, como se verificará mais à frente, num dos mais importantes realizadores do
cinema português – na qualidade de assistente de realização. Paulo Rocha foi responsável pela
selecção de actualidades e António Lopes Ribeiro pela versão francesa. Por razões técnicas foi
necessário dobrar o filme. Dado que o apresentador do Auto tinha, entretanto, emigrado, foi o
próprio Manoel de Oliveira quem o dobrou.
Na sinopse do filme, podemos ler:
Representação popular do Auto da Paixão, segundo o texto medieval de Francisco Vaz
de Guimarães, apresentando a atmosfera duma comunidade que, para além das fainas
e dos ritmos quotidianos, se transfigura em seus rituais ingénuos mas sinceros. Ao
espectáculo, celebrado pela Páscoa e de iniciativa própria, assistem as gentes das
aldeias vizinhas, sendo antecedido por uma apresentação, em que se enumeram as suas
diversas fases.
No meu caderno de notas, escrevi:
2ª bobine (14:11:08): Um primeiro fade-out a representar a passagem do tempo.
Grande plano de Cristo falando com Deus e olhando para cima. Interessa a cena no meio
do campo, um ermo sem casas à vista e com poucas árvores e arbustos. Surge um anjo a
Cristo, tem cachos no cabelo e asas brancas, está com um cálice na mão e fala com
Cristo. Contra-campo de Cristo ajoelhado, levanta-se e sai de campo/entra em campo. A
montagem é bastante linear, não existem saltos no eixo, tudo é marcado pela acção, os
soldados que chegam, o rufar dos tambores [...].
Soldados prendem Cristo com uma corda, de mãos atadas, a um poste. Tem os olhos
vendados e os soldados dizem “falso profeta, andas a enganar o povo” (risos), um rapaz
que fala com ele dizendo “vai-te enforcar” transforma-se subitamente em diabo… [...]
O que fascina no filme são as expressões exageradas, dramáticas dos populares e o
modo de falar e gestos estilizados. A câmara faz poucos planos subjectivos ou de corte e
está a seguir estritamente os diálogos. Os planos são fixos mas fazem-se acertos se o
personagem se move – parece existir, apesar de tudo, uma margem de improviso no
trabalho de câmara, não existem marcações e ensaios prévios muito detalhados, e
talvez seja por aqui (visível num gesto de incerteza que por vezes se sente na câmara)
que se pode falar do carácter documental destes filmes. De resto, tudo parece
extremamente encenado.
A primeira dimensão a discutir a partir deste filme é a da representação da realidade
através de um olhar de cariz documental. Já Alves Costa referiu que tanto O Pão como O Acto
da Primavera se desviam “do documento para a representação, da realidade para a ficção, ou
se quisermos, para uma ficção inserida na realidade”. Ambos são totalmente realizado em
122
exteriores, com intérpretes locais, e no Acto da Primavera o filme não pode ser considerado
“uma representação filmada de uma versão completa daquela Paixão de Cristo, mas sim uma
representação de uma filmagem da Paixão de Cristo por uma equipa de cinema naquele preciso
tempo e lugar. Figura aqui uma ideia de distanciação (vê-se durante o filme o realizador à
câmara, dando as suas ordens, assiste-se à preparação dos actores, a representação popular é
cortada por cenas do quotidiano, etc) que destrói o fingimento convencional” (Costa, 1981: 24).
Esta reflexividade remete, assim, para a ideia do próprio cinema enquanto acto subjectivo de
construção de uma realidade. Como dizia Oliveira a Paulo Rocha “’o trabalho do realizador não
é propriamente o de transpor processos de teatro mas antes, vencê-los, destruí-los para de
novo refazer de um modo cinematográfico’” (cit. in Costa, 1981: 25). Este é, talvez, o
ensinamento fundamental de Oliveira aos jovens críticos e cinéfilos, para quem seria, apesar da
recepção do público ser negativa (o que era valorizado, como veremos), o pai-fundador. Como
exprime João César Monteiro, “Manoel de Oliveira filma não o artifício da realidade, mas a
realidade do artifício” (cf. Pina, 1986: 166).
Alves Costa (1981: 25) reflecte sobre as intenções de Oliveira, referindo que os
problemas de recepção do filme por um público que não o entendeu não tinham tanto a ver
com a pronúncia nortenha, que levou à legendagem dos diálogos, mas antes com a ausência da
chamada dicção de actor, o que causa uma certa preocupação no espectador, “como se a
liberdade de interpretar as palavras do diálogo acentuando a representação fosse a
característica pretendida pelo autor”. Em termos do “sentido profundo do filme”, o realizador
avisa o público, continua Alves Costa, “que não pretende explorar o pitoresco do auto, mas
tentar penetrar nos sentimentos que levam o povo a representar a paixão de Cristo e imbuir-se
do seu espírito. O auto está no povo e o povo representa-o, mas entenderão verdadeiramente
as pessoas a mensagem de Cristo?”
Manuel de Oliveira foi fiel ao texto clássico, revelando um “português arcaico muito
curioso, com ressaibos galegos (a Curalha fica perto da Raia de Espanha), como esse “Ai
dolor, dolor” pronunciado pela Virgem Maria aos pés do seu filho. Todo o auto nos é
dado na pureza da sua representação, conservando os anacronismos, as ingenuidades,
os excessos declamatórios, a pronúncia local. A este respeito o Acto da Primavera é o
primeiro filme português realmente etnográfico (‘romântico’ como em definição
extraordinariamente acertada lhe chamou António Reis), onde não houve um mínimo
de arranjo, de ‘mise-en-scène’ para tornar pitoresco, para embelezar, como se a carga
tradicional, como se a verdade do povo não fosse suficiente (Costa, 1981: 26).
A rude e antiga fala transmontana passa inteira para a banda sonora do filme, na
riqueza da sua oralidade espontânea, as cores da fotografia registam esses tons fortes,
lindíssimos, que a paisagem acastanhada, parda, neutra, vem reforçar. É um filme de
123
certo modo fora do tempo, oposto a quaisquer folclorismos, um filme ‘romântico’,
como lhe chamou o poeta António Reis, mais tarde cineasta, aqui assistente de
realização (Pina, 1986: 163).
Matos-Cruz declara, desde logo, que este filme está no âmbito de uma Antropologia
Visual, traçando um caminho que se seguirá com António Campos e António Reis, de que
iremos falar, e considerando este filme “uma das obras contemporâneas do cinema etnográfico
praticado por Jean Rouch e, nesse contexto, obra inovadora em Portugal no domínio da
antropologia visual, que já tinha e viria a ter importantes contribuições de gente que também
por coisas dessas se deixariam seduzir e que também iriam filmar (António Campos, António
Reis, Ricardo Costa e outros mais)” (Matos-Cruz, 1999: 89). Independentemente do
questionamento ao uso do termo ‘antropologia visual’, julgo que para perceber a dimensão
documental deste filme, teríamos de entender, para além da leitura do filme em si mesmo, a
forma como este foi feito. Em entrevista, e quando lhe perguntam até que ponto existiu, neste
filme uma ‘direcção de actores’, Oliveira responde que o processo passou por “entender bem o
que eles pretendiam fazer com determinadas cenas e depois arranjá-las de acordo com o seu
teatro, mas preparado por mim” (AAVV, 1981: 34). 72 E continua,
Para fazer o documentário precisava de várias máquinas, dispô-las no terreno, e cingirme ao tempo da representação que eram umas cinco ou seis horas. Isso não me seduziu
e fiz um contrato com eles. O filme demorou dois anos a fazer. Assim, aluguei o terreno,
arrumei as barracas, contratei-os pelo preço que eles ganhavam por dia, arrumámos
cena por cena, bocado por bocado, plano por plano e fui obrigado a esperar pelo tempo
bom (era preciso manter uma certa luz) e pela disponibilidade deles.73 Eram dirigidos.
Eu sempre distingui entre o que é o documentário (em que respeito uma realidade em
que não posso tocar) e a ficção, que é uma realidade cinematográfica, arranjada por
mim, que não é a ‘realidade real’ como no documentário (AAVV, 1981: 34).
João Bénard da Costa, ao interrogar Oliveira, afirma que “alguns realizadores aceitam
que o real pode ser captado”, há um cinema realista e um cinema idealista que “não acredita
72
AAVV – Manoel de Oliveira. Catálogo da Cinemateca Portuguesa, Lisboa, Cinemateca Portuguesa, 1981.
Numa entrevista a Georges Rouquier, intitulada “ On ne voit jamais les fermiers travailler dans les westerns ”a
propósito do seu filme Farrebique (1945), e do uso de actores não profissionais, o realizador fala desta mesma
questão, e das suas dificuldades: “Quand on tournait, ils ne pouvaient pas travailler et au bout d’un mois, ils en
avaient un peu assez. On venait demander le grand-père, - ‘il n’est pas ici, il est partie là-bas garder les moutons’.
“Mais on lui a pourtant dit qu’on avait besoin de lui maintenant!” [...] On a partiellement résolu le problème en
‘louant’ deux prisionniers allemands qui venaient du camp du lazarc et qui ont pu aider à la ferme” (Rouquier,
1981: 76-77). Em inúmeras entrevistas a realizadores, especialmente aqueles que ficcionam e encenam filmes de
carácter etnográfico e rural, encontramos esta questão prática, mas fundamental, de que os sujeitos filmados
estão basicamente num ambiente de trabalho quotidiano, interrompido abruptamente pelas filmagens. Farrebique
é um documentário com cenas ficcionadas, considerado o filme chave da ruralidade francesa, em que os aldeãos
de Goutrens são actores dos seus próprios papéis.
73
124
na realidade mas acredita no olhar sobre essa realidade” (AAVV, 1981: 35). A conversa que se
segue deriva para a ideia de que o cinema da transparência decorre da manipulação: quanto
mais manipulação mais transparência. A ideia da representação, do teatro, do texto dito é uma
marca de todo o cinema português daqui para a frente. Filmando teatro de um modo teatral,
submetendo-se a um imperativo, Manoel de Oliveira fará do Acto da Primavera um marco no
modo como se filmaria, a partir daí, no país. O uso de não actores que dizem um texto, aliado
ao uso de actores de teatro em que a teatralidade, a dicção e a entoação são acentuados vão
ser uma marca do cinema nacional. Nesta tendência, os cineastas retomam a ideia de que, ao
clarificar – através de um efeito de declamação – que o actor é actor e diz um texto, a relação
de verdade com o filme ganha forma, assumindo-se como representação, falsificação e
manipulação de textos, rejeitando uma representação naturalista, realista, a fingir que
representa um qualquer mundo real. Para José Manuel Costa existe em Oliveira esta tensão, ou
mesmo mistura do real com o artifício. Segundo afirma, “Oliveira olha o povo e quer devolvê-lo
com uma dimensão superior. A um tempo é atraído pelo que vê (descreve a geografia) e
carrega tudo da sua metafísica [...] Logo que pode controlar iluminação e cor multiplica os
efeitos. [...] Se há planos serenos do povo (a belíssima despedida dos dois homens ao sair da
barraca, no O Pão), não deixa de haver o seu exacto oposto (a gargalhada do trabalhador no
mesmo filme). Para Costa, o gosto de explorar a realidade reclama, em Oliveira, uma
sobrecarga de manipulação” (AAVV, 1981: 50).
Fig. 6. O Acto da Primavera. Arquivo Cinemateca Portuguesa.
125
Em termos cinematográficos, esta manipulação passa não apenas pelo modo como se
diz um texto, mas pelo plano e pelo seu tempo. Interessa notar que a noção de espaço-tempo
fílmico muda no Acto. No registo do auto trata-se de um olhar ultra-realista, enquanto que nas
cenas iniciais havia uma aceleração das acções e uma reflexão que tenta enquadrar num tempo
e num espaço de forma cinematográfica: a notícia da ida à Lua e as imagens rápidas da enxada,
do rebanho, etc, com uma voz off que reza. O próprio filme levanta essa questão de dois
tempos: o tempo real, o momento histórico, e um tempo longo em que se inscreve toda a cena
do Auto, que no início se apresenta como uma performance para um público, mas rapidamente
perde este estatuto e começa a ser uma realidade fílmica, ou para o filme. Para Grilo (2006:
129), o tempo, nos filmes de Oliveira, “é sempre um trabalho de mortificação sobre a época,
uma forma de dar à época um tempo novo e mesmo [...] um não – tempo” ou ainda “o seu
tempo não é o tempo do que neles passa, mas o tempo que neles fica. Nada acontece. Tudo
é.”74
Fig. 7. Cartaz Acto da Primavera.
Arquivo Cinemateca.
Ao não-tempo alia-se, neste filme, uma não geografia, embora identifiquemos
claramente a paisagem montanhosa e selvagem do nordeste transmontano, com as suas
pedras e imensidão. Como diz José Manuel Fernandes, que escreve aquando da grande
exposição e homenagem que foi feita a Oliveira pelo Museu de Serralves, “os montes
74
in João Mário Grilo, Revista Instituto Camões, nº 12-13 Janeiro-Junho de 2001.
http://www.instituto-camoes.pt/revista/revista12j.htm.
126
transmontanos substituem os montes da Judeia, contribuindo para essa intemporalidade da
representação que faz destes camponeses intérpretes convincentes do texto que dizem e
representam à sua maneira” (2008: 17). Em termos da trama teórica com que trabalhamos
aqui, o Auto da Paixão representado no filme é uma expressão objectificadora de um modo de
apreender a cultura popular, emblematizando-o, retirando-lhe o contexto, o seu espaço e o seu
tempo, colocando-o na interioridade selvagem do país, tornando-o numa manifestação,
embora só aparentemente, “desmonumentalizada”, da cultura popular (cf. Branco e Leal,
1995). O filme produz um discurso sobre o popular, que emerge e que valoriza, como vimos na
carta que Oliveira escrevia a Alves Costa, os aspectos naif da cultura, um saber que é urgente
resgatar. O Auto não é emblemático, não é um património folk que se quer monumentalizar
como acontecia com a forma como alguns objectos, coisas e rituais ligados ao popular eram
representados até aí; é portanto des-monumentalizado pelo cineasta. Paulo Raposo refere,
relativamente ao processo semelhante sofrido pelas apropriações do auto da Floripes por
etnólogos, intelectuais e artistas interessados pelas “coisas do povo”, que se assiste “a uma
espécie de apropriação das formas e soluções populares, com algumas pretensões erudizantes,
por parte de uma elite artístico-intelectual que se propõe restituir em performance teatral uma
imagem de um ‘texto cultural’ que poderá passar a ser seu também. O espectáculo ou o acto
criativo, se é sempre uma reescrita, instala também neste caso uma reorganização entre
formas, temáticas e agentes culturais” (Raposo, 1998: 214).
Como vimos, para a maioria dos autores e historiadores do cinema que escrevem sobre
Oliveira, o referente é o povo, olhado com genialidade pelo mestre do artifício. Para Leitão
Ramos, a partir de O Acto da Primavera, “Oliveira não mais teria esta instintiva e desarmada
verticalidade, a completa ausência de rede num voo magnífico pelo palco do povo” (1989, 12).
José Gomes Ferreira, afirmava, acentuando claramente aquilo que o atraiu no filme, que o
cinema de Oliveira traz uma marca: o seu “amor pelo povo” e, continuava, “não pela palavra
abstracta Povo. Mas pelo povo-povo, de carne e osso, que cheira a suor, fala português, ama,
odeia, curva-se e canta como aquela espantosa Verónica do Acto da Primavera. Isto no meio da
total indiferença do mesmo povo que o desconhece. Não importa Manoel de Oliveira!
Continue. Filme mais e mais! Os artistas nasceram para esse destino. Para descobrirem,
corajosos, as breves eternidades do presente e esperarem pelo futuro (de que cada vez todos
temos mais saudades!).”
75
Ao filmar o Acto da Primavera, descontextualizando-o, Oliveira
abandona uma ideia de um passado que é possível reconstituir, ficcionando-o, como fazia o
cinema ligado ao Estado Novo, ou de um passado cujas tradições são passíveis de ser
75
Semana do Novo Cinema Português: Programa. Cineclube do Porto, 1967. Pag.35.
127
resgatadas, como faz o cinema etnográfico, abandonando essa procura da tradição, do
tradicionalismo. Localizando claramente o auto na contemporaneidade, na cena inicial do filme,
e mostrando como ele é uma performance que, independentemente do sentido que faz para o
que os representam, pode ser transformada e colocada num espaço-tempo deleuziano, Oliveira
transforma e reinventa uma tradição exclusiva ao discurso cinematográfico. Como diria
Gibbons, o tradicionalismo olha para a história para encontrar uma continuidade, mas o neotradicionalismo (ou a invenção da tradição, podemos dizer), abole não só a continuidade mas a
história ela mesma (1996 : 89).
Se realizadores como Leitão de Barros ou Brum do Canto, e em especial Manuel
Guimarães ou António Campos, podem se considerados casos únicos no cinema anterior a este
filme, Manoel de Oliveira é a excepção absoluta, quer em relação aos temas, quer em relação à
forma, trabalhando, como vimos na breve análise do seu filme O Pão, num quadro de absoluta
independência. Toda a sua obra anterior parece consagrar uma concepção de cinema com
predomínio absoluto da imagem, situação que é visível até à A Caça, de 1963 – uma curtametragem de enredo quase no limite das possibilidades expressivas do cinema, como um
verdadeiro filme mudo –, mas depois deste filme Manoel de Oliveira vai tornar-se ainda mais
radical do que os novos cineastas, transformando por dentro, como afirmam em uníssono os
autores que sobre ele escrevem, a linguagem cinematográfica. Para além do contexto
internacional, com a criação e o desenvolvimento do cinema de autor e independente por toda
a Europa, mas também em casos paradigmáticos como o brasileiro, e para além do contexto
nacional, de renovação cinematográfica elaborada por uma nova geração de criadores, teremos
então esta “singularidade” de Oliveira. Este cineasta parece cruzar diferentes gerações na sua
persistência de experimentação, por isso o podemos identificar como personagem em que a
génese de uma forma que, veremos, talvez seja particular ao nosso país, só pode ser
totalmente entendida quando cruzada com contaminações vindas de outras áreas,
nomeadamente da própria etnologia. Oliveira não reitera em nada a propensão do etnólogo
para o registo puro e objectivo, mas em tudo reproduz a sua propensão para pensar o real a
partir desse registo, transformando-o e dando-lhe uma visibilidade particular, corpórea e
sensorial.
Conclusões
Como disse no início do capítulo, tratava-se aqui de identificar e discutir a génese e
desenvolvimento deste cinema política e ideologicamente visto como próximo do povo, um
128
cinema de raiz etnográfica e documental que trata a cultura popular, e que nos interessa
identificar como fazendo parte dos discursos de “imaginação etnográfica da nação” (cf. Leal,
2000: 19). Para João Leal, no período entre 1930 a 1970, período politicamente coincidente
com o Estado Novo, existem três grupos de protagonistas deste tipo de discurso. Primeiro, os
etnógrafos ligados ao Estado Novo, com a importância da etnografia e do folclore. A acção do
SPN/SNI sob a direcção de António Ferro foi decisiva na forma como se constituiu e formou um
certo cinema, apoiado na importância dada a “procedimentos de estilização da cultura popular
em exposições, espectáculos, edições e outras iniciativas”. Em segundo lugar, temos o grupo de
Jorge Dias, de cujas influências e trabalho com imagem falarei no próximo capítulo. Por último,
o discurso cuja génese trabalhamos neste capítulo, de uma etnografia construída em torno da
crítica ao Estado Novo por um “conjunto de intelectuais ligados de forma menos sistemática à
etnografia e à antropologia mas que, a partir de posições críticas da etnografia do Estado Novo,
tiveram incursões relativamente significativas nessas áreas. Com formações muito variadas –
artistas, arquitectos, músicos – e com posicionamentos políticos também relativamente
diversificados – desde gente relativamente próxima do PCP até católicos de esquerda – este
grupo de intelectuais convergiu entretanto na preocupação de construir um contra discurso ao
discurso etnográfico do Estado Novo” (Leal, 2000: 40). As grandes constantes ou aquilo que é
comum a todos estes olhares sobre a cultura popular portuguesa são a importância da
ruralidade e um olhar descontemporanizador sobre a mesma, sobre um passado que há que
“reconstruir em termos interpretativos, registar antes que desapareça, preservar,
eventualmente ‘purificar’” (Leal, 2000: 41). Mas que diferenças existem, no cinema, em termos
da imagem que se tem do país a partir de 1962?
Neste capítulo, foram lançadas algumas hipóteses para perceber como nasceu esta
ruptura, para o caso português, começando por identificar aquele ano em que, segundo os
historiadores e críticos do cinema português, há uma mudança de atitude. Para tentar
confirmar esta tese, comecei por identificar em Leitão de Barros e Oliveira indícios, na
passagem dos anos 1920 para os anos 30, de uma atitude de encenação do povo que, embora
influenciada pelas escolas de cinema da época, se desviava, em termos técnicos e de conteúdo,
do cinema standartizado e de entretenimento que usava como matéria o popular. Em relação
ao cinema dos anos 1930 e 40 salientaram-se algumas características de um olhar da exaltação
nacionalista, da iconografia romântica da alma lusíada, do folclore, do Ribatejo e da figura do
campino, do Minho e suas festas e romarias, em que a ruralidade é valorizada mais do que tudo
na sua “moralidade” inocente e pura. Para a década de 1950 as pistas que levanto ajudam a
perceber como cresce e nasce uma nova geração, em especial tratando dois contextos.
Primeiro, a associação dos protagonistas da mudança ao movimento neo-realista, em especial
129
com Manuel de Guimarães e António Campos, a que voltarei no capítulo 5, com um cinema que
valoriza os aspectos sociais resgatando o universo das comunidades piscatórias. Segundo, a
importância quer da formação quer da “cinefilia” aprendida nos cineclubes, e em especial o
exercício prático que o Cineclube do Porto levou a cabo ao filmar em 1959 em Barroselas, na
festa de Nossa Senhora das Neves, um auto popular, o auto da Floripes.
A discussão que se segue, na disputa entre o filme que protagoniza a mudança – entre
Ernesto de Sousa, Paulo Rocha e o Oliveira de O Acto da Primavera – permite entender não só
as circunstâncias históricas e o contexto desta mudança, mas também aquilo que estava em
causa nesta mudança, ou seja, uma nova imagem do país. Esta é, julgo eu, radicalizada em
especial no filme de Oliveira, que propõe uma reflexão sobre o tempo, resgata a palavra
erudita associada ao povo e à paisagem rural desabitada, e que pode por isso ser visto como
um gesto novo na forma de olhar o povo. Trata-se de um filme que, saindo da imagem unitária
do país que o Estado Novo propunha, trabalha na pequena escala da performance, acentuando
a diferenciação e a clivagem e finalmente inaugurando uma nova geografia simbólica do país
cujos traços vamos seguir.
Assim, o percurso singular de Oliveira e as breves análises que fiz de O Pão e de O Acto
da Primavera, surgem como que a alinhavar os retalhos soltos que permitem construir este
novo cinema: por um lado, um cinema de autor, um olhar sobre a cultura popular, por outro, e
finalmente um cinema que é apropriado como fonte, ao mesmo tempo como condensado que
permite projectar um futuro que abre para experiências cinematográficas a partir da matéria
do real, o povo português. Julgo que a especificidade do movimento cinematográfico que
caracterizei foi possível porque, como afirma Eduardo Lourenço na epígrafe inicial, existiu uma
geração que inventou uma “personalidade liderante” que “a todos define e une”, que “realiza a
experiência suprema e única”. Podem existir diferenças neste cinema que trabalha a
imaginação etnográfica da nação relativamente aos modos de definição da cultura popular,
mas, como vimos, a cultura popular acaba por ser sempre o fundamento da identidade
nacional.
130
131
CAP 4 Filme etnográfico de arquivo em Portugal
If the notion of “culture area” framed the filmmaker’s gaze, filmmakers then reinscribed
that category in their own narratives, thereby completing the circle of seeing and
believing (Morris, 1994: 8).
On n’est dans le vrai qu’en obéissant aux régles d’une ‘police’ discursive qu’on doit
réactiver en chacun de ses discours (Foucault, 1971: 37).
Introdução
No capítulo anterior tentei identificar uma corrente que, desde os anos 1920, revelava um
gesto cinematográfico que em muito se distinguia do estabelecido pelo cinema oficial,
resgatando para a análise central a esta tese a tendência etnográfica do cinema português. Até
ao momento, cruzei o cinema de cariz etnográfico com a história geral do cinema e das suas
correntes, e viu-se como se encontram. Notou-se também como a crítica e os historiadores do
cinema aplicam o termo “etnográfico” quando se querem referir a um universo que é tomado
como real, verdadeiro, autêntico. Neste capítulo, entro no primeiro corpus a trabalhar aqui em
detalhe: os filmes etnográficos de arquivo realizados pela equipa de Jorge Dias a partir de 1961,
data em que Oliveira se encontrava em Curalha a filmar o “seu” auto popular. Ao tratar os
filmes etnográficos, elaborados pela equipa do Centro de Estudos de Etnologia a partir de 1961,
recorro à História da Antropologia e não à do Cinema, como até aqui, o que se deve ao facto de
não existir uma produção escrita significativa sobre o cinema etnográfico em Portugal. Os
filmes que abordarei doravante foram produzidos num momento histórico em que a etnologia
e o cinema, enquanto territórios de partilha de um discurso aliado a uma prática, pareciam
andar de costas voltados.
A opção de tratar apenas os filmes feitos no âmbito da equipa de Jorge Dias exclui, como
expliquei antes, uma produção amadora de filmes etnográficos76 e, por outro lado, o período
anterior aos anos 1960. Para o caso dos realizados no âmbito deste grupo de etnólogos, a
estreita ligação que estes mantinham com a pesquisa de âmbito científico e museológico
coloca-me aqui num outro quadro teórico, com ligações menos estreitas ao mundo do cinema
com o qual lidámos até ao momento nesta tese: para contextualizar, por exemplo, os filme O
Pão, ou O Acto da Primavera, recorri ao discurso dos historiadores de cinema e críticos e em
76
É o caso do filme Apúlia, de 26 minutos, de Fernando Carneiro Mendes, feito nos anos 50 sobre a apanha do
sargaço, que me foi mostrado por Benjamim Pereira como um caso exemplar de um filme-documento.
132
especial os que tratam do cinema enquanto manifestação artística, e nunca enquanto
manifestação científica e arquivística. Mesmo quando usam as denominações “etnologia”,
“antropologia” ou “recolha” estes autores não se referem a uma tradição disciplinar, mas sim a
uma preocupação com a atitude de fixar a cultura popular. Entramos portanto num outro
domínio discursivo, numa outra ordem do discurso, a que correspondem uma história e
influências distintas das tratadas até aqui.
Os personagens principais, neste capítulo, são os etnólogos e museólogos com um
discurso construído a partir do campo teórico e metodológico da etnologia, e não os da
“etnografia espontânea”, esteja ela ao serviço directo do Estado e da propaganda nacionalista
ou na contra-corrente de influência neo-realista. Não se trata de estabelecer uma hierarquia
entre os dois discursos, mas antes de constatar que estes, embora partindo de materiais muitas
vezes semelhantes, são apropriados e trabalhados de modos diferentes, num paralelo entre
aquilo que na antropologia americana se chamaram os folklorists, por relação aos popularizers.
Os primeiros mantiveram uma distância dos segundos, cujo defeito pior, segundo estes, era o
de tomarem uma série de liberdades nos usos que fazem da tradição, transformando
antologias de folclore em musicais de sucesso, produzindo festivais de folk e, acrescentaria,
filmes de inspiração etnográfica em que os usos da tradição são imaginados (cf. KirshenblattGimblett, 1995: 367).
Começo assim por tratar o contexto geral da produção teórica e museológica destes
etnólogos. Seguidamente, explicito as influências do filme etnográfico alemão nos registos
visuais por eles realizados. Finalmente, faço uma análise da articulação destes arquivos visuais
com a produção de outras imagens, em especial o desenho e a fotografia, centrando-me para
isso em casos específicos, a partir de uma análise do ficheiro do Centro de Estudos de
Etnologia.77 A partir de exemplos dentro deste corpus de filmes, sem me perder em descrições
que só os próprios nos podem devolver, quero aqui tratar as discussões em torno da própria
definição do filme etnográfico, um território que se institucionalizou em torno de publicações e
festivais, o que, julgo, permitirá perceber as especificidades e ao mesmo tempo os
anacronismos do caso português. Na verdade, em cada capítulo da tese volto a esta mesma
questão, clarificando aspectos que me parecem centrais aos filmes com que trabalho. Aqui, em
particular, faço uma revisão da literatura e das teorias que permitem dar pistas para entender a
forma como a Antropologia tem pensado, à luz das suas teorias e da sua história, esta atitude
aparentemente simples de usar uma câmara de filmar com a finalidade central de registar o
77
Agradeço a colaboração de Joaquim Pais de Brito, director do Museu Nacional de Etnologia, na consulta deste
ficheiro, que fiz em Maio de 2010.
133
real. Por estarem umbilicalmente ligados ao discurso interior e disciplinar de uma certa
etnologia, estes filmes vão servir para, no final do capítulo, fazer um ponto da situação da
relação entre antropologia e cinema.
Michel Foucault, ao valorizar o aspecto restritivo e constrangedor do que denominou de
“práticas discursivas”, acentua que a existência de uma disciplina, um ramo do saber, funciona
como um princípio de controle da produção da linguagem, fixando os limites do que pode ser
dito. Como afirma, “il faut concevoir le discours comme une violence que nous faisons aux
choses, en tout cas comme une pratique que nous leurs imposons”. Nesta linha de
pensamento, a análise dos discursos dispõe-se segundo dois conjuntos. Por um lado o “crítico”,
que procura “cerner les formes d’exclusion, de la limitation, de l’appropriation, montrer
comment ils se sont formés, pour répondre à quels besoins, comment ils se sont modifiés et
déplaces, quelle contrainte ils ont effectivement exercée”, e, por outro lado, o “genealógico”,
ou seja, “comment se sont formés, au travers, en dépit ou avec l’appui de ses systèmes de
contraintes des séries de discours; quelle a été la norme spécifique de chacune, et quelles ont
été leurs conditions d’apparition, de croissance, de variation” (Foucault, 1971: 55 e 62).
Tentarei abordar o discurso subjacente a estes filmes de acordo com estes dois critérios: o
genealógico e o crítico, começando pelo primeiro, e terminando o capítulo com o segundo.
Caracterização geral do corpus a trabalhar aqui
Como vimos antes, existe uma tendência na etnologia portuguesa, enquanto saber disciplinar
sobre a cultura, para tomar o popular e a sua matriz rural como objecto. Vimos também que,
de acordo com a cronologia estabelecida por João(2000) para o período entre 1930 e 1970,
politicamente coincidente com o Estado Novo, um dos grupos que protagoniza um discurso
específico sobre a cultura popular portuguesa é o de Jorge Dias (1907-1973) que, regressado de
Munique em 1947, forma uma equipa de trabalho com Ernesto Veiga de Oliveira (1910-1990),
Fernando Galhano (1904-1995), Benjamim Pereira e Margot Dias (1908-2001)78. Esta equipa
constitui-se e trabalha primeiro no Porto e, a partir de 1956, em Lisboa onde produz e realiza o
primeiro grupo do corpus de filmes a trabalhar nesta tese, a que chamei filme etnográfico de
arquivo.
78
Para um contexto mais detalhado e algumas reflexões sobre a importância desta equipa que funda a moderna
Antropologia portuguesa, ver, entre outros, Lupi, (1984) Pereira (1989) Pina-Cabral, (1991) e Leal (2000). Para um
historial dos usos da imagem – incluindo fotografia e desenho na etnologia portuguesa existe o texto de Leal
(2008a).
134
São filmes, ou deveremos dizer antes, “registos visuais” que se cruzam directamente com
a etnologia enquanto campo disciplinar, marcados pela atitude do registo e, retomando a
expressão de Bosseno, de constatação, em que a cinematografia se cola à ideia de observação
não mediada do real. Trata-se de filmes curtos ou unidades de registo visual, realizados por
Benjamim Pereira (que operava a câmara) e Ernesto Veiga de Oliveira entre 1960 e 1980. São
no total 27 unidades, com a seguinte distribuição: 1960 (1), 1962 (3), 1976(2), 1977(2),
1978(6), 1980 (7). Deste conjunto, como veremos mais à frente, 14 foram feitos em 1970 em
colaboração com o Instituto do Filme Científico79 de Göttingen, na Alemanha, cujas equipas
técnicas trabalharam com os etnólogos portugueses. Os filmes cobriam o território português
de Trás-os-Montes e Barroso à Serra Minhota, passando pelo Litoral Minhoto, Beira e Alentejo.
O tempo de cada um ronda entre os 5 e os 40 minutos, sendo 10 deles produzidos em película
a cor e 17 a preto e branco. Todos tratam da cultura popular e centram-se na sua
materialidade. Quanto às temáticas, embora com um peso diferente, agrupam-se em três
núcleos: primeiro, as tecnologias tradicionais agrícolas (malhas, debulhas, apanha de sargaço,
pastoreio, lavras), o ciclo do linho e os engenhos (de serração, do linho, teares, azenhas,
moinhos); segundo, as tecnologias tradicionais ligadas à cultura material, também designadas
por “artesanato” (cestaria, olaria); terceiro, o ritual (danças, festas, bênção do gado)80. De
acordo com a terminologia do arquivo do Centro de Estudos de Etnologia, os filmes
enquadram-se em diversas temáticas, em detrimento de outras que, tendo ficado de fora do
registo em película, foram tão importantes para estes etnólogos, como a arquitectura popular.
Aquilo que se filmava era aquilo que incorporava uma dinâmica, um movimento, gestualidades
e, a partir de 1970, também sonoridades, que só o filme permitia resgatar. Do mesmo modo
que a arquitectura, por exemplo, parecia solicitar o uso da fotografia e desenho, o ritual ou as
tecnologias complexas – como as ligadas ao linho, por exemplo – instava ao uso da imagem em
movimento. Assim, no conjunto dos filmes temos destaques diferentes dados a temáticas
também distintas: a religião popular (com 7 filmes), a fiação e tecelagem (com 5) seguidamente
a olaria (com 5 também), seguindo-se a debulha (com 3) e a agricultura (com 2). O sargaço, a
cestaria, as azenhas, os moinhos, o moliço, o pastoreio, a pesca, as feiras, as touradas, o jogo
(jogo do pau) seguem-se com apenas um exemplo de filme. Para alguns deles, como aquele
que regista uma “cozedura do pão”, não consegui enquadrar a temática na classificação préexistente.81
Em termos de conteúdo, e em geral, todos indiciam a procura da tradição e das
79
Institut fur den Wissenschaftlichen Film em Göttingen, Alemanha, a partir daqui denominado IWF.
Apenas o filme Jogo do pau em Tabuadela (1970) parece estar fora destas modalidades gerais.
81
Ver quadro 3, anexo 2.
80
135
tecnologias mais arcaicas, relativas a actividades que se imaginava estarem em mutação ou em
desaparecimento, ou seja, da cultura popular na sua diversidade geográfica e ao mesmo tempo
na sua unicidade: a ruralidade, ou a pesca. Se observarmos todo o conjunto de filmes, vemos
algumas constantes: uma unidade de lugar e de tempo, um uso do tempo real, sem cortes, com
a manutenção da cronologia dos acontecimentos, um olhar distanciado, que não faz nunca um
grande plano, que privilegia a dimensão de conjunto e não a individual, e, finalmente, um
modo controlado e sistemático de filmar, com uma câmara sempre assente no tripé. Mesmo
quando o filme se centra numa só pessoa, esta é registada em função daquilo que faz – um
cesto, um pote de barro, uma dança – e representa o saber comum a uma comunidade não se
estabelecendo, por exemplo, uma relação com a respectiva história individual ou familiar.
Para discutir a natureza desta forma de filmar, de uma modalidade de discurso que
levou à criação de um ramo que se denominou Antropologia Visual, e cuja genealogia gostava
de estabelecer, é necessário, como dizia antes, perceber que estamos num território do uso da
imagem construído fora da matriz do que se denominou chamar cinema, na sua acepção mais
restrita. Podemos todavia afirmar estarmos no “campo do cinematográfico”, no sentido em
que estes filmes etnográficos de arquivo obedecem, também eles, a processos de construção a
partir da matéria do real, usando regras e metodologias específicas ao uso da imagem em
movimento. Este terreno, o do registo etnográfico, foi aquele que levou mais longe a procura
ou a crença na verdade da imagem. Existe, nestes filmes, aquilo que foi, para Deleuze, o ponto
de partida para caracterizar todo o cinema, ou seja, que este é um pensamento e um discurso
que se apresenta a partir de um trabalho do que é especificamente cinematográfico: a imagemmovimento e a imagem-tempo. Tomemos, de momento, o seu conceito de récit – uma
instância que se distingue da descrição e da narração, por se ligar á relação sujeito-objecto –,
instância esta em que o modelo da verdade toma a sua expressão maior. Por convenção, diz
Deleuze, “chamamos objectivo ao que vê a câmara, e subjectivo àquilo que vê o personagem”.
Quando é a mesma câmara que revela o personagem e aquilo que ele vê, podemos chamar
récit a este desenvolvimento dos dois tipos de imagem, subjectivas e objectivas, numa relação
que varia, e que pode até ser de antagonismo, mas que deve dar origem a uma identidade,
“identité du personnage vu et qui voit, mais aussi bien identité du cineaste-caméra, qui voit le
personnage et ce que le personnage voit” (Deleuze, 1985: 182 e 193).
Nestes filmes de arquivo existe essa omnisciência da câmara e, claramente, aquilo que
vemos não incorpora, cinematograficamente, o ponto de vista de algum personagem mas
apenas o do etnólogo. Neles não existem planos subjectivos, ou seja, que se refiram ao que
aquele que é filmado vê. O próprio tempo do plano é o necessário à demonstração de uma
136
acção e nunca à pura contemplação, por exemplo da paisagem envolvente. O espaço exterior
ou natural, muito presente – excluindo excepções como Cozedura do Pão em Perafita que
decorre numa cozinha – funciona mais como setting, espaço onde decorre uma acção, do que
como paisagem, ao contrário do que acontece no cinema a que chamei onírico. Esta distinção
está presente na reflexão de Lefebvre que define um modo narrativo e um modo espectacular
de tratar o espaço natural (2006: 24-29). De facto, a paisagem no cinema requer que o espaço
tenha uma autonomia na narrativa, em termos de tempo – ele corresponde a um tempo morto
em relação à acção - e de um espaço que se autonomizam da acção. Ou seja, serve de referente
para o aspecto emocional ou estético. Nestes filmes, mais do que uma paisagem, que pode ser
contemplada, aquilo que parece existir é um território que é vivido, ou seja, um espaço natural
que tem uma correspondência directa com uma actividade humana, seja ela um trabalho, um
ritual, um uso de um objecto, etc.
It is necessary to recognize that ‘setting’ and ‘landscape’ are not the only predicates
which account for our experience of either real or depicted space. While settings
concerns narrative representation, and landscape aesthetic representation, it is equally
possible to represent space in more ‘anthropological’ terms. Indeed, space may be
represented as pertaining to lived experiences other than narrative or aesthetic. This is
the case, for instance, with ‘identity’ and ‘belonging’ and the myriad ways of engaging
with space that both can entail. This is where the notion of ‘territoriality’, of space
represented as a territory, becomes useful. For territory is space seen from ‘inside’, a
subjective and lived space (Lefebre, 2006: 53).
O estatuto discursivo destes filmes pode assim ser visto tendo em conta, desde logo,
esta ideia de que a uma narrativa se substitui um récit e a uma paisagem um território. Para o
perceber melhor precisamos de lhes dar um contexto histórico, metodológico e de os
enquadrar teoricamente. Para isso, vou tratar aqui dois grupos distintos de filmes: o primeiro
inclui os filmes feitos no âmbito do Centro de Estudos de Etnologia, a partir de 1960 até aos
anos 1980; o segundo o dos realizados em 1970, ainda neste âmbito, em colaboração directa
com o Instituto de Filme Científico de Göttingen, na Alemanha.82
82
No anexo 2 estão os quadros 1 e 2 que sintetizam estes dois conjuntos. Os elementos constantes dos quadros
apresentados foram retirados da Lista dos Filmes do Arquivo Geral e Arquivo Parcial do IWF, do Centro de Estudos
de Antropologia Cultural, manuscrito. Os filmes do quadro 2) e surgem com a autoria de F. Simon, E.V de Oliveira e
B. Pereira. Existe no actual Museu Nacional de Etnologia uma grande colecção destes filmes do IWF (o mais antigo
é de 1948, o mais recente é de 1973, são filmes de temáticas etnológicas da Europa, África, Ásia, Austrália,
América).
137
Os filmes do Centro de Estudos de Etnologia
Os filmes do Centro de Estudos de Etnologia caracterizam-se por serem realizados e montados
apenas pela equipa da instituição, em especial Benjamim Pereira, que sempre fez o trabalho de
câmara. São um total de 27 unidades, com a seguinte distribuição por anos: 1960 (1) 1962 (3)
1976 (2) 1977(2) 1978(6) 1980 (7).83 A colaboração do próprio Benjamim Pereira para a
informação contida neste capítulo foi fundamental, revelando-se incansável e disponível para
responder a questões e clarificar os locais, datas e circunstâncias em que foram feitos os filmes.
Os primeiros apontamentos filmados são de 1960. “Nós compramos” – confidenciou-me
Benjamim Pereira – “em 1960, uma Payard a um homem, um engenheiro que me deu umas
luzes iniciais, não foi através da Margot (Dias), que já usava nessa altura o filme, mas ela estava
em Lisboa e nós estávamos no Porto”. E acrescentou: “nós [ele e Ernesto Veiga de Oliveira]
começamos, portanto, a usar a câmara independentemente da Margot e do Jorge Dias, e
fizemos uma primeira experiência de filmar a cestaria [em Ílhavo]. Isso foi na Primavera, e no
Verão fizemos o filme da Debulha de Centeio a Trilho (Terras de Miranda, Paradela), ao mesmo
tempo que fotografávamos para a Alfaia Agrícola.84 Nesta altura ainda não se recolhiam
objectos para o museu”. E enquanto visionávamos este filme, sobre a debulha, dizia-me:
“Sabes, isto ainda era o Trás-os-Montes do trigo, foi a primeira vez que usei a câmara, mas
tinha conhecimentos de fotografia, o que ajudava. E depois isto era um desafio tão
espectacular, sabes, isto tem uma verdade, quando penso naqueles filmes do Giacometti! 85 tão
encenado! Isto fazia parte (referindo-se ao interregno do trabalho com as pessoas a comer), foi
mesmo assim que aconteceu. Aqui filmámos porque se fôssemos a descrever estas coisas, por
escrito, nunca explicávamos tudo”.
Apesar de, como vemos, estar já inteiramente integrado na equipa, Benjamim tomou
oficialmente posse como auxiliar de investigação no Centro de Estudos de Etnologia Peninsular
no Porto, em Maio de 1963. A sua actividade inicial era a de dactilógrafo; não obstante, Jorge
Dias encarregá-lo-ia da elaboração da compilação da bibliografia analítica da etnografia
portuguesa, participando no entanto das idas ao terreno, das recolhas, da fotografia e das
escassas filmagens. Benjamim Pereira referia, em entrevista, que “Jorge Dias tirava bem
fotografias, mas eu tinha outra ambição, gostava de fazer sequências como se se tratasse de
um filme. E a partir de uma certa época, quando foi possível comprar a Payard comecei a fazer
83
ver quadro 1 do anexo 2.
Benjamim refere-se ao livro Alfaia Agrícola Portuguesa, de 1976.
85
Refere-se aqui à série feita para a RTP Povo que Canta, realizada por Alfredo Tropa (1970-1973), uma revisitação
dos terrenos de Giacometti com o próprio como protagonista.
84
138
pequenos filmes”, sempre que se julgava “pertinente o registo, dependendo da existência dos
meios necessários”. A película era um bem escasso, e por isso aproveitada no seu todo, sempre
que possível. E afirmava, “nós aproveitávamos quase tudo o que filmávamos. A montagem já
estava ali, todos estes apontamentos são reveladores de um conhecimento que eu detinha
sobre aquela matéria. A objectiva nunca era surpreendida por cenas insuspeitadas. Eu
antecipava o plano seguinte.” A planificação e antecipação da acção a filmar são uma das
chaves para entender estas unidades de imagem.
Além disto, estes filmes não possuem som, embora ele exista parcialmente em bobines
do gravador Nagra do Museu Nacional de Etnologia.86 Deve notar-se a este respeito que as
técnicas de som e imagem da época permitiam já um trabalho mais sofisticado. Na realidade,
este foi o período da revolução do cinema directo. No entanto, o seu eventual
desconhecimento, assim como a falta de meios e de um elemento que fizesse o som, levou a
que se trabalhasse com técnicas vulgarizadas décadas antes, com a imagem fixa no tripé e sem
som. Em toda a Europa, a partir de 1962-1963, com a chegada da câmara Éclair 16 mm e do
gravador Nagra, técnicas do cinema de ficção como a montagem sincopada, e do documentário
directo, como a subordinação da câmara na mão à movimentação em cena, os planos mais
longos e as filmagens sob luz natural, influenciaram-se mutuamente, sintetizando-se numa
nova forma de fazer cinema: o cinema directo ou cinema vérité.
Como sabemos, há um sistema de produção que, em especial neste primeiro grupo de
filmes, é marcado pela escassez absoluta de meios, “decorrentes da exiguidade das dotações
do Centro e do baixo nível do equipamento técnico” (Pereira, 1992: 125). Conta Benjamim que,
em relação á fotografia, “não se gastava um negativo a recolher outra imagem da qual já
tínhamos um elemento.” Desde o início, quando a equipa trabalhava para o Centro de Estudos
de Etnologia Peninsular, o programa de Jorge Dias de criar um sector de etnografia era mais
ambicioso do que os meios de então o permitiam:
A falta de instalações era apenas um aspecto da crónica falta de verbas do Centro, que
obrigou, embora na maior boa vontade e entusiasmo, a equipa de Jorge Dias a palmilhar
o pais todo muitas vezes a pé, ou com meios de transporte inconfortáveis, vivendo e
dormindo e comendo da mesma pobreza das aldeias, e tendo como aparelhagem
apenas uma máquina fotográfica [...]. E o programa de Jorge Dias era cumprido, à letra
(Lupi, 1984: 35).
86
Em 2009 aquando do Congresso de Antropologia da APA foi feita uma homenagem a Benjamim Pereira. No seu
âmbito, e com a ajuda de um técnico do Museu sonorizámos parte do filme dobre o ciclo do Linho. O som revelou
uma dimensão escondida e fundamental daquela situação de trabalho conjugada com folia, nas sementeira e
arrinca do linho.
139
Em 1960, após a morte de Mendes Corrêa, Jorge Dias assumiu a direcção deste Centro
e, em Maio de 1963, reuniu-se o grupo todo em Lisboa, onde se instalaram, desligando-se da
Faculdade de Ciências do Porto e deixando cair do nome do centro o termo “peninsular”. O uso
do filme era considerado por todos, pelo menos no início, como um meio de registo com vista a
estabelecer um arquivo, mais do que como modo de comunicação ou um auxiliar para as
exposições e o ensino. Segundo me contou igualmente Benjamim: “O Ernesto estava comigo na
montagem mas nunca queria cortar nada, para ele era tudo importante, e eu às vezes apeteciame [...] assim, fazer uns cortes mas não podia.” A diferença entre material em bruto de
pesquisa e um filme montado está aqui em causa e revela uma questão central, que é a de
saber até que ponto o filme foi usado como um produto que, apesar de complementado,
funciona como um discurso sobre aquilo que regista, ou, inversamente, se o filme foi usado
tendo em vista o arquivo de todo o material registado (e que não tivesse problemas técnicos,
desfoques, etc.). Como se perceberá, os filmes eram vistos na segunda acepção descrita, como
uma técnica de registo e não como um meio com possibilidades de expressão próprias. Outro
aspecto importante a notar é a que, sobretudo a partir do momento em que no horizonte se
situou a criação de um Museu, por volta de 1962, o filme, apesar de ser um meio de registo, se
torna fundamental para um discurso museológico que queria devolver aos objectos a vivência
primeira das situações vividas no terreno, a sua compreensão. O Museu de Etnologia foi, na
base, concebido por Jorge Dias como “uma instituição conservadora dos testemunhos da
herança social do povo português, provida de um quadro de investigadores dedicados à
pesquisa e à divulgação do seu acervo” (Lupi, 1984: 39).
Uma outra personalidade importante para contextualizar estes filmes é Margot Dias, de
nacionalidade alemã, mulher de Jorge Dias, a quem se deveu o incentivo e estabelecimento dos
primeiros contactos para a colaboração com o Institut fur den Wissenschaftlichen Film em
Göttingen (IWF) e a realização de um conjunto de filmes em 1970.87 Recuando mais de uma
década ao Verão em que a equipa de Göttingen veio a Portugal, podemos perceber de que
modo a figura de Margot Dias, embora muitas vezes considerada periférica neste grupo de
etnólogos, foi tão importante para o arranque de uma agenda de investigação que implicava o
uso da imagem em movimento. Terá sido Margot Dias, etnóloga e etnomusicóloga que
adquiriu, pela primeira vez dentro desta equipa, uma máquina de filmar em película de 16mm e
também quem a usou de forma sistemática a partir de 1958 em Moçambique e Angola.88 Mais
tarde, Benjamim viria a utilizar os restos de película a cores, reversível, que haviam sobrado das
87
Ver quadro 2.
Ao todo trata-se de 31 pequenos filmes realizados em Moçambique e Angola. Entre Junho e Novembro de 1996
realizei uma série de entrevistas a Margot Dias, e elaborei uma pesquisa sobre estes filmes (cf. Costa, 1997).
88
140
missões em África. Durante os seus primeiros 40 anos de vida, embora interessada pela
Etnologia, Margot Dias havia sido pianista, tendo obtido o diploma (Meisterklasse) do Curso
Superior de Música da Academia Nacional de Música em Munique. Em 1940, conheceu em
Munique o seu futuro marido, Jorge Dias, na altura leitor na Universidade de Munique e que
começava a interessar-se pela etnologia enquanto disciplina científica autónoma. Depois de se
terem casado, ainda antes do final da guerra, vieram para Portugal. Em 1948, Margot principiou
uma extensa actividade científica na qualidade de bolseira do Instituto de Alta Cultura (IAC),
adstrita à Secção de Etnografia do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular. Aquando do
regresso a Portugal, os dois fizeram trabalho de campo no Minho e em Trás-os-Montes do qual
resulta a publicação das monografias sobre Vilarinho das Furnas e Rio de Onor. Aqui Margot
Dias assinou os respectivos cancioneiros.
Em 1956, Jorge Dias acedeu ao convite de Adriano Moreira e, com Margot Dias e
Manuel Viegas Guerreiro, constituiu a Missão de Estudos das Minorias Étnicas do Ultramar
Português, da qual resultou, já na década de 60, a publicação em quatro volumes da
monografia Os Macondes de Moçambique. Durante estes anos, divididos por variadas
campanhas em África, o trabalho de campo de Margot Dias resultou na elaboração e escrita de
parte da monografia, em registos de imagem realizados com a câmara de filmar 16 mm, na
constituição de um arquivo fotográfico e na recolha de objectos etnográficos.
Fundamentalmente, esta etnóloga, cuja atenção às práticas musicais vinha da sua formação e
actividade como pianista, foi sempre, nas diversas idas a Moçambique, recolhendo dados sobre
música, dança e instrumentos musicais.89 Como dizia numa das entrevistas que lhe fiz: “Em
1957, a primeira vez que fomos (a Moçambique) só tínhamos uma máquina fotográfica Leica e
uma Retina (nossa). Eu achava muito importante ter uma máquina de filmar. Mesmo com o
António (Jorge Dias) era uma luta muito grande, ele achava que isso ‘era uma coisa de outros
países’. Mas no segundo ano conseguimos um aparelho de filme e deram-nos um dinheiro para
a película. Era a última oportunidade. Tínhamos consciência que […] tudo ia mudar.”90
Margot Dias dedicava-se essencialmente ao estudo das tecnologias tradicionais,
especialmente a olaria e cestaria, assim como à pesquisa dos rituais de iniciação entre os
rapazes e raparigas Maconde, abordando também questões do parentesco, que viria a
89
Estes dados viriam a ser compilados numa obra cuja publicação levou 20 anos, por razões de carácter pessoal e
talvez alguma falta de incentivo só resolvida pelo amigo e etnólogo Gerhard Kubik. Trata-se do livro Instrumentos
musicais de Moçambique, uma obra escrita entre 1961 e 1962, só aparecida em 1986, e que apresenta “o primeiro
dos estudos sistemáticos, elaborados até hoje, abrangendo os instrumentos musicais de Moçambique” (Kubik cit.
in Dias, M, 1986: 15).
90
Catarina Alves Costa (1997), Guia para os filmes realizados por Margot Dias em Moçambique 1958/1961, Museu
Nacional de Etnologia e IPM.
141
desenvolver mais tarde, em 1961. Foi no âmbito desta missão que Margot Dias pediu para ser
adquirida uma câmara de filmar, consciente da importância da imagem como registo de um
mundo que era urgente preservar e, por outro lado, da importância do filme enquanto
instrumento de registo de tecnologias demasiado complexas e intrinsecamente ligadas aos usos
do corpo e do gesto.91
Para além das influências que Jorge Dias trazia da aprendizagem da etnologia alemã, a
sua mulher é uma peça fundamental para entender a manutenção das relações com este país.
A origem alemã de Margot Dias, assim como os seus anteriores interesses e curiosidade pela
etnologia do seu país, fizeram com que esta contactasse e criasse uma proximidade com o
Instituto de Göttingen. Margot e Jorge Dias, ainda antes da existência do Centro, haviam
adquirido um conjunto de filmes da Enciclopaedia Cinematographica de Göttingen que serviam
para um trabalho de investigação comparativo, e eram usados por ele nas suas aulas da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Quando estes se começaram a degradar,
Margot contactou o Instituto, onde acabou por se deslocar levando os filmes já feitos no Centro
de Etnologia. No seguimento desta ida, Benjamim Pereira foi convidado para um estágio
naquele centro, estadia esta que depois veio a concretizar-se na realização de um conjunto de
filmes em Portugal.
Assim, os filmes que haviam já sido feitos pelo Centro, e que Benjamim Pereira e
Ernesto Veiga de Oliveira levaram para a Alemanha, cumpriam já essa função de registo,
arquivística. Benjamim salienta, porém, na entrevista que me concedeu, que a motivação inicial
não era apenas arquivística, referindo-se à “questão estética”, de “devolver ao objecto a sua
profundidade, o sentido que só pode ser dado pelo contexto de produção”. Segundo este
etnólogo, o filme parte de um gesto que, não sendo do domínio do artístico, não é igualmente
apenas de registo, mas de devolução e fixação de uma experiência vivida no terreno. Benjamim
valoriza, por vezes, e nas conversas que tivemos, o seu próprio passado rural, quando
trabalhara no campo e participara de muitas das actividades que viria mais tarde a filmar. No
caso, por exemplo, do filme sobre a lavra do campo no trabalho do linho, Benjamim Pereira
contou-me o modo como participou do evento, pegando no arado, num caso, aprendendo a
urdir uma teia, noutro. O projecto inacabado de filmar o ciclo do linho é de todos o mais
ambicioso, tendo contornos que relevam de uma narrativa complexa no plano da construção
91
Mas Margot Dias realizou também, em 1960, trabalho de terreno em Angola, na zona congolesa, onde se
dedicou ao estudo da tecnologia específica de preparação da farinha de mandioca.
142
cinematográfica e mostrando que, de certo modo, se tivesse tido condições Benjamim Pereira
poderia ter desenvolvido a sua apetência para realizar.92
Interessa-me agora perceber de que modo este conjunto de filmes de temática rural,
centrado nas tecnologias e no ritual e que parece, noutra perspectiva, obedecer a um modo de
fazer – o uso do tempo, o não uso de montagem, a linearidade, a descontextualização – se liga
aos objectivos metodológicos e teóricos deste grupo. Qual será a origem teórica e histórica
deste modo sistemático de usar a imagem na pesquisa etnológica? Aqui, como disse no início,
vou trabalhar em três frentes. A primeira está ligada ao contexto geral da produção teórica e
museológica destes etnólogos. A segunda às influências directas do filme etnográfico alemão,
apesar das dificuldades que senti em detectar aquilo que era influência directa dos contactos
com o filme etnográfico alemão e aquilo que era comum à etnologia portuguesa e alemã,
previamente a estes contactos. A formação de Jorge Dias no contexto germânico não pode ser
descurada, pois explicita de modo mais preciso esta questão. A terceira frente em que quero
trabalhar liga-se a uma análise mais detalhada do arquivo de fichas do Centro, onde procurei
perceber a articulação dos filmes com a produção de outras imagens (desenho, fotografia,
mapas) e dos textos da equipa. Só assim conseguimos discernir diferenças fundamentais entre
os diferentes filmes, ligados a diferentes estratégias e agendas: a comparação, a extensive
survey, a recolha de objectos e, acrescentaria, a curiosidade e fascínio que certas actividades da
cultura popular exerciam.
De modo geral, as ambições interpretativas do projecto antropológico que enquadra
estes filmes passavam pela constituição de tipologias e pelo estabelecimento da origem étnica
dos diferentes elementos da cultura popular portuguesa (cf. Leal, 2000; 2004). Em termos
teóricos, e para o que nos interessa aqui, as influências deste grupo são o difusionismo pósevolucionista de inspiração alemã, em especial no estudo sobre os arados (1948) e sobre os
espigueiros (1963). De toda a maneira, o que talvez seja mais importante e determinante para
o uso do filme é o facto de a cultura popular portuguesa ser vista como um testemunho de
qualquer coisa que, apesar de ameaçada – e em breve a fazer parte também do passado –,
ainda é observável. (cf. Leal, 2000: 52).
92
Os 14 filmes realizados por Benjamim Pereira e Ernesto Veiga de Oliveira são unidades fechadas sobre si
próprias em termos de temática e de espaço e tempo. Não existe continuidade entre eles. No entanto, destacamse os filmes sobre o ciclo do linho, divididos por: a planta (29 min.), a fibra (31 min.), o fio (24 min.) e o tecido (32
min.). Em 2010 comecei a trabalhar com Benjamim na montagem dos materiais referentes ao ciclo do linho com
vista à constituição de um filme único, tarefa que interrompemos entretanto. Como se perceberá no último
capítulo da tese, conheci e trabalhei de perto com este etnólogo tendo confirmado o seu saber e a sua força no
que respeita ao trabalho de realização cinematográfica.
143
Sabemos que, com Jorge Dias, emerge uma concepção da cultura popular em que o
lugar central é ocupado pelas tecnologias tradicionais, numa acepção com raízes que
remontam à etnologia europeia do segundo pós-guerra, dominada por grandes projectos de
cartografia etnográfica centrados em elementos da vida material. Por outro lado, os elementos
da cultura tradicional são vistos como “ameaçados pelas transformações tecnológicas e sociais”
e dele fazem parte objectos “mais tácteis do que propriamente visuais”, sendo por isso
“reiteradamente contextualizados por referência ao modo de vida rural que lhes conferia
sentido e que nessa medida deveria ser exaustivamente documentado” (cf. Leal, 2000: 50).
Podemos ainda acrescentar que Jorge Dias e os seus colegas de grupo reintroduziram, na senda
de Rocha Peixoto, uma certa diversidade na investigação com tópicos como o estudo das
comunidades de montanha do Norte de Portugal – Vilarinho das Furnas em 1948 e Rio de Onor
em 1953 – a arquitectura popular, ou as festividades cíclicas.
No entanto, o filme é aqui usado, tal como a fotografia, o desenho ou os mapas, como
mais uma ferramenta de registo e acumulação extensiva de dados. Em termos metodológicos,
esta forma de actuar liga-se à extensive survey, quer dizer, à preocupação com uma cobertura
equilibrada e representativa do país, apoiada em estudos curtos mas numerosos realizados nas
diferentes áreas cobertas pela investigação. Esta linha de trabalho foi extensamente utilizada
no país pelos etnólogos mais ligados ao acto de filmar, nomeadamente Veiga de Oliveira e
Benjamim Pereira. Paralelamente, Jorge Dias escreveu as suas duas monografias, em Vilarinho
das Furnas e em Rio de Onor, consideradas como primeiras aproximações ao terreno “à la
Malinowsky”, com “estadias mais ou menos prolongadas de investigação que procuram cobrir a
totalidade dos aspectos da vida cultural e social das populações estudadas” (Leal, 2000: 51). Em
relação aos filmes feitos por esta equipa, enquadram-se na primeira acepção metodológica, e
não na segunda, que será resgatada por António Campos. Ver-se-á, já no próximo capítulo, que
este cineasta realizaria, colado ao livro de Jorge Dias, o filme Vilarinho das Furnas (1972) depois
de Paulo Rocha lhe ter falado do seu fascínio por este estudo, e mais tarde Falamos de Rio de
Onor (1974), também ele baseado no livro de Jorge Dias. Mas Benjamim Pereira e Ernesto
Veiga de Oliveira, a dupla que mais se ocupou das filmagens, não tinha ambição de construir
filmes transversais que representassem a complexidade de um estudo de comunidade como o
fazia António Campos, Noémia Delgado e, mais tarde, também Manuel Costa e Silva. Em geral,
estes filmes aliavam a escassez de meios a uma urgência de filmar o mundo rural português
que desaparecia. Como diz Benjamim Pereira
Sentíamos que sobre o país se estavam a abater mutações profundas, que modificavam
de forma decisiva o seu rosto cultural e, realmente um instrumento tão extraordinário
como o filme continuava, afinal, devoluto. No Centro de Etnologia as dotações eram de
tal modo ínfimas, o equipamento era de uma fragilidade tão confrangedora, que pasmo
144
como nós pudemos fazer alguns filmes com uma Paillard de bobines de trinta metros,
com corda de segundos que, a cada passo, ficava sem acção (Pereira em Leal et al 1993:
54).
Por outro lado, os filmes dependem de um contexto que é fornecido pela agenda de
prioridades das recolhas que estão a ser feitas a nível nacional, organizadas estas em livros
monográficos e em colecções museológicas. No entanto, não configuravam nem um projecto
autónomo e ambicioso, nem um conjunto coeso, organizado e sistemático de materiais. Apesar
das recorrências temáticas e de linguagem, os filmes surgem como que por um acaso que em
muito dependia de quem estava no terreno, da existência de película ou de um fascínio
particular por uma situação que normalmente já havia sido estudada e se conhecia bem.
Vejamos alguns exemplos que mostram como os diferentes filmes estavam ligados a outras
tantas estratégias e ao uso das diferentes ferramentas visuais: desenho, fotografia e filme.
Alguns tratam a cultura material registando, de forma bastante linear, modos de fazer: a
cestaria em verga, a cestaria de madeira rachada, o tear de esteiras, a feitura de uma crossa em
juncos ou a olaria sem torno, nem roda. Desta série, destacamos Olaria Primitiva em Malhada
Sorda (Beira Alta) por incluir uma introdução que não era comum a estes filmes: longa
panorâmica, mostrando em plano geral a aldeia e ficando depois no alinhamento dos muros,
descobrindo enfim uma ruela. Em todos os outros, por regra, o plano fixo inicial permite ver a
acção central, que aí se inicia, sem nenhum preâmbulo.
Fig.8. Olaria Primitiva em Malhada Sorda. Museu Nacional de Etnologia.
Fig.9. Ilustrações do artigo de Jorge Dias (1965 a)
Quando visionei com Benjamim Pereira este filme, contou-me que se tratou de uma
145
rodagem em que, ao contrário das outras, estava também Jorge Dias, que insistiu neste
enquadramento inicial. Benjamim não se mostrou satisfeito com o resultado, a tentativa
“completamente falhada” que tinha por objectivo mostrar, num plano geral, que “a aldeia
espelha duas realidades”. Segundo me afirmou, “o bairro dos oleiros situa-se de uma forma
perfeitamente marginal, ao lado [...]; foi-lhes permitido apenas construir as habitações naquele
espaço esquelético, como se não fizessem parte da comunidade.” No artigo sobre este assunto
(Dias, 1965a) encontramos não só as fotografias feitas na mesma situação, 93 mas também os
desenhos de Fernando Galhano. Este investigador foi um elemento também importante para a
equipa e cuja função era representar o mundo que só o desenho deixa discernir: o interior das
coisas, o pormenor invisível, a tridimensionalidade, a textura. Jorge Dias explica que “em 1963
uma parte da equipa do nosso Centro visitou esta pequena aldeia beiroa (Malhada Sorda) para
estudar alguns aspectos da sua cultura e para filmar as técnicas oleiras. O nosso colaborador
Benjamim Pereira tomou a seu cargo a filmagem, enquanto nós outros fazíamos fotografias e
registávamos observações” (1965a: 26).94 Antes de mais, a explicação para o facto de este filme
incorporar um tipo de registo que quer falar de uma complexidade maior, ou não tão visível, da
vida social, tem a ver, segundo o próprio Benjamim, com o facto de Jorge Dias se interessar
pelo “contexto mais social”, ou seja mais totalizante.
Nalguns casos, como no deste filme, Benjamim Pereira explica claramente que
decidiram fazer, no seu seguimento, novo filme sobre o mesmo tema – o Olaria sem torno e
sem roda – pela “necessidade de dominar o conhecimento sobre uma determinada realidade”,
ou seja, esboçar uma estratégia, que não chegaria todavia a ser completada, de filmar uma
mesma actividade, mas com o uso de técnicas diferentes. No próprio artigo de Dias, a
conclusão explicita aquilo que move esta cooptação de diferentes ferramentas para tratar um
elemento da cultura que parece ter ficado cristalizado desde tempos imemoriais: “Os dias de
Malhada Sorda estão contados, como os dias de tudo o que representa diversidade ou
variedade. Enquanto não for tudo igual nesta Terra, o Homem não terá parança” (1965a: 29).
Existem depois filmes que têm uma outra estratégia: estão ligados ao objecto que se vai
musealizar e que se quer registar ainda em funcionamento, como é o caso do filme Engenho do
linho de tracção animal Ordins, Penafiel, que regista um objecto que pode ser visto na colecção
das galerias da vida rural no Museu Nacional de Etnologia. Aqui, a motivação, mais do que
93
As figuras 11, 12 , 13, 14, 17 e 18 são fotografias nitidamente tiradas na mesma situação do filme.
No artigo, Jorge Dias começa por falar das origens do torno e Galhano faz um esquema mostrando a “provável
evolução da roda até se tornar torno” e também desenha os vários tipos existentes. Jorge Dias trata ainda da
divisão sexual do trabalho e descreve detalhadamente a técnica “do rolo” que o filme e as fotografias
exemplificam.
94
146
arquivística, é de comunicação para um público da vida anterior do objecto que, retirado do
seu contexto de utilização, dificilmente recupera vida, movimento, e função. Os engenhos do
linho de tracção animal encontravam-se ainda em uso especialmente numa área centrada nos
concelhos de Paredes, Penafiel, Paços de Ferreira e Santo Tirso. Eram utilizados para fracturar
as palhas do linho e considerados “um dos pontos altos do desenvolvimento tecnológico rural
neste campo”.95 Na origem, o filme sobre o engenho do linho foi feito pelo Benjamim Pereira
em Ordins, Penafiel. Mais tarde, o engenho seria incorporado nas colecções do Museu. Os
desenhos96 foram produzidos, portanto, a partir do espécimen do Museu, montado nas suas
reservas. No livro Tecnologia Tradicional Portuguesa. O Linho, de Ernesto Veiga de Oliveira,
Fernando Galhano e Benjamim Pereira (1978) há também umas fotografias deste engenho.
Aqui, as imagens revelam ainda uma outra dimensão: a da luz, sombras, ambiente e textura dos
materiais.
Figs. 10. Fotografias 20 e 21 de Oliveira et al. (1978)
95
Galhano, 1985, legenda “texteis”.
Desenho 206 (Galhano, 1985). Segundo a legenda do desenho: Paços de Ferreira, Reigadas, Engenho de linho de
tracção animal.
96
147
Quanto aos desenhos, retirados do mesmo livro, revelam um pormenor do engenho, assim
como um corte seu com escala e vista lateral. Aqui observamos então o interior do engenho,
aquilo que vai para além da dimensão do visível e da percepção imediata. Há, portanto, um
percurso que parte da percepção do engenho em uso, no seu estado puro, no terreno (o filme),
passando pela imagem congelada e
sintética (a fotografia) e chegando ao
interior, ao invisível.
Só
com
este
ferramentas
complexo
visuais
de
podemos
entender, naquilo que era prioritário
para estes etnólogos, como era o
aspecto da roda motora, o edifício
onde está instalado o engenho do
linho ou a planta do edifício. É nesta
teia
de
diferentes
imagens
obtidas
ferramentas
que
com
se
consegue chegar a um plano da
representação mais complexo e que
no documentário etnográfico – por
exemplo o de Campos ou o de Reis –
é fornecido através da linguagem
cinematográfica:
o trabalho de
câmara e de som, a montagem, os
efeitos, os discursos em off, etc.
Fig. 11. Desenho 206 in Galhano, 1985.
Um novo exemplo de filme que pode
ser articulado com outras ferramentas visuais é Cestaria de Madeira Rachada, Tecla, Celorico
de Bastos, de 1977. No entanto, neste caso, a estratégia mudou, uma vez que o filme é feito
posteriormente ao livro com os desenhos correspondentes. O objectivo é, portanto, outro:
registar um processo tecnológico. A cestaria é uma das temáticas chave destes filmes, talvez
pela sua complexidade, com duas técnicas fundamentais: no noroeste e zona transmontana,
assim como no interior beirão, o cesto é quadrangular, de madeira rachada em tiras “lavrada
no banco e encanastrada”. No Leste transmontano e Litoral Central e Sul do Tejo é redondo e
de varas flexíveis. Em 1961 Fernando Galhano publica Cestaria de Entre Douro e Minho, livro
148
centrado nos cestos e suas formas tradicionais, “uns em pleno uso e agrado do povo, outros já
arredados por inúteis” (1961: 257). Nesta obra, o texto de Galhano comenta o desenho, que o
antecede e que é, de certo modo, o discurso central.
De facto, a descrição escrita e a visual oscilam entre si, de acordo com as necessidades e
os meios à disposição na pesquisa destes etnólogos. Ao consultar a pasta de desenhos
originais97 constatei a existência de um grande número de esquissos que mostram que, no caso
da cestaria, Galhano pensava ao desenhar, servindo o desenho de ferramenta para melhor
alcançar os detalhes do objecto e assim fazer a chamada descrição etnográfica. Os desenhos
das ferramentas do cesteiro, os pormenores da urdidura do cesto, os gestos e a postura do
corpo, tudo serve para complementar esta descrição, entrecruzando-se com ela. Vejamos um
exemplo deste tipo de descrição, a que chamo visual: “se o cesteiro trabalha sozinho, não
prepara geralmente madeira para mais de dois cestos, para evitar que ela volte a secar. Passa
então a tecer o fundo, dispondo as talas e as asas sobre uma ponta de tábua, segundo a
disposição que se mostra no desenho,98 ajoelhando sobre elas ou calcando-as com o pé, para
as segurar” (1961: 261).
Outros filmes, como Pastoreio no Barrosos, Monte das Maçãs (1976), derivam de outra
estratégia, diferente das anteriores. Aqui, não há uma relação directa com uma pesquisa
concreta, nem com uma tecnologia particular, a não ser o interesse genérico pelo pastoreio, e
em particular pela transumância. Para esta temática, não existe nenhuma ficha, nem nenhuma
publicação, havendo apenas o texto de Jorge Dias sobre pastoreio (1965b), que, não se
referindo em particular a esta situação, não ajuda na compreensão do filme, feito uma década
depois, por Benjamim Pereira. Ao invés do que acontecia noutros trabalhos, aqui seriam a
observação, o trabalho de campo e as próprias anotações a dar origem ao filme, e não o
contrário. O filme não está a constatar o que se conhece mas a descobrir uma realidade. Tratase de um registo que foi feito, segundo Benjamim Pereira, por ser uma actividade “muito
interessante”. Como me relatou:
Era um costume de alguns concelhos de Cabeceiras que vão levar os gados a pastar às
terras do Barroso, de Montalegre, por um direito muito antigo e que tem gerado
conflitos ao longo dos séculos, resolvidos a favor das gentes de Cabeceiras. Isto acontece
quando se fazem as culturas do milho, e desde que os campos são agricultados, o gado
não tem o que comer. É portanto na Primavera, e andam uns dez quilómetros. A gente
de Cabeceiras vai com o gado, que fica à guarda de um pastor, que fica lá o tempo todo,
97
Consultei a pasta 38, intitulada “Cestaria”, feitos para o livro Cestaria de Entre Douro e Minho de Fernando
Galhano.
98
Desenho 3a (Galhano, 1961: 263)
149
cerca de três meses, com o gado de todos. É muito impressionante, o pastor tinha um
ajudante, que tratava como um escravo, o rapaz tinha que acender a sua própria
fogueira para cozinhar, não podia usar a fogueira do outro. No filme vê-se os donos que
levam o seu gado. Isto chegou a ter muita importância. Estes terrenos eram chamados a
chã do Monte das Maçãs. O Ministério da Agricultura e das Florestas chegou a tratar
este terreno muito bem. O gado era pesado quando entrava e quando saía daqui, para
se terem em conta os benefícios. O terreno era de Montalegre, mas a partir de uma
certa altura proibiam a entrada de pessoas, para que os pastos ficassem mais
suculentos.
Apesar da diferença de conteúdo, e deste filme específico constituir uma unidade
autónoma, menos dependente de outros elementos – textos, descrições, desenhos ou fichas –
a abordagem da câmara ao terreno mantém-se. No entanto, revela ainda uma outra estratégia.
Assim, e como temos estado e notar, não parece haver uma uniformidade metodológica na
forma como estes etnólogos usavam a imagem e só um trabalho depurado, feito caso a caso
com a ajuda do ficheiro do centro de Estudos de Etnologia pode contribuir para o
conhecimento de um conjunto de filmes que parece caótico.
Os filmes feitos com o Instituto de Göttingen
Quanto aos filmes feitos em colaboração com os alemães de Göttingen, o segundo grupo do
corpus geral que trabalho neste capítulo, a técnica usada era a do cinema directo, embora o
constrangimento e regras de uma filmagem sistemática e científica não permitissem, por
exemplo, a captação de diálogos e da palavra, a não ser em som ambiente, imperceptível. Mas
ao contrário do primeiro grupo de filmes, que foi acompanhando de modo não sistemático e
aleatório incursões ao terreno, pesquisas comparativas e extensas, ou registos de objectos a
recolher, os feitos em colaboração com os alemães, apesar de reflectirem as mesmas temáticas
e a mesma abordagem, seriam rodados numa campanha intensiva, organizada previamente.
Em vinte dias, durante o Verão de 1970, Benjamim Pereira e Ernesto Veiga Oliveira organizaram
e acompanharam intensamente a rodagem de 14 documentários que decorreram em Trás-osMontes, do Barroso à Serra Minhota, no Litoral, Beira e Alentejo, todos feitos com película de
cor e som síncrono. Os dois etnólogos definiram, à partida, quais seriam os locais e as situações
que deveriam ser filmadas, contactaram quando possível os locais, tendo feito um calendário
de rodagem apertado e organizado.
Para isso, tomaram-se as romarias como pontos fixos, com uma data certa, e em torno
150
da mesma região aproveitou-se para filmar tecnologias consideradas importantes. A partir da
romaria de Salvador do Mundo, foi possível filmar a cozedura de pão em Perafita, a pisoagem
do burel em Tabuadela e o jogo do pau em Celorico de Basto. A partir de S. João d’Arga e S.
Bartolomeu do Mar, a apanha do sargaço, do moliço, e a pesca da xávega. A partir da tourada
em Forcalhos, filma-se a olaria em Malhada Sorda, que já tinha sido registada anos antes por
Benjamim. Do Alentejo ficou documentada, apenas, uma tourada em Cuba. Em termos de
conteúdos, todos os filmes tratam a cultura popular e quanto à distribuição geográfica,
privilegiaram-se as zonas nortenhas, quer do interior quer do litoral. Do Algarve, por exemplo,
não consta nenhum registo.99 A selecção temática, segundo afirma o próprio Benjamim Pereira,
“subordinou-se sobretudo ao critério de “etnografia de urgência”. Na verdade, alguns dos
temas registados são já documentos de práticas culturais que se extinguiram, designadamente
o sistema de debulha do centeio, filmado numa aldeia de Celorico de Basto e a pisoagem do
burel, num pisão da serra do Barroso (1992: 125). Tratava-se, portanto, de fazer uma
reconstituição encenada de uma situação anterior, à semelhança de toda uma série de
realizadores de filme etnográfico, como Asen Balicki, que reconstitui a vida dos inuit para fins
pedagógicos, como Flaherty havia feito com uma motivação romantizada.
Benjamim Pereira mencionou-me alguns problemas que fazem com que estes filmes de
colaboração com o IWF não correspondam totalmente àquilo que eram as ambições que os
portugueses tinham em mente: limites técnicos, problemas de relacionamento com o
cameramen, conceitos diferentes do que é pertinente registar num documento etnográfico.
Por outro lado, referiu-me que o seu desejo era que estes filmes fossem diferentes dos feitos
por eles, com uma “perspectiva mais envolvente e sem isolar os fenómenos de forma tão
estrita”. Os etnólogos portugueses viviam à época uma espécie de ambiguidade. No caso dos
filmes dos alemães, sentiam que o aspecto lúdico, festivo, e algum contexto sonoro, expressivo,
e ambiental, de que o filme dá conta, ao contrário dos outros materiais, ficavam a faltar. Por
outro lado, o rigor na descrição das tecnologias a que se habituaram – justamente pela
integração de texto e desenho – nem sempre era cumprido pela equipa que vinha de fora. Esta
ambiguidade esteve sempre presente na forma como o grupo usava a câmara e permaneceu ao
longo do tempo pela criação de limites artificiais e discursivos que retraíram as possibilidades
de experimentação que eram vistas como do domínio do artístico, ou do poético, e portanto
largamente reprimidas. Este facto está bem presente quando vemos aquilo que foi a tentativa
gorada de realizar o filme sobre o ciclo do linho, filme este que nunca chegou a ser sonorizado,
e para o qual Benjamim deseja, ainda hoje, realizar uma montagem mais eficiente e narrativa.
99
Para um desenvolvimento desta questão ver Leal, 1999.
151
Os dados que foram anotados no livro de registos do arquivo do Centro de Estudos de
Etnologia mostram como estes filmes funcionavam, antes de mais, enquanto unidades
descritivas:
ÍLHAVO, CESTARIA DE VERGA
COR, 9 MIN
1960
O importante é o título, que remete linearmente para o conteúdo e o local, as especificidades
técnicas e, por vezes, a data. No caso dos filmes feitos em colaboração com o IWF temos ainda
a província, unidade considerada equivalente - eventualmente para responder ao campo
“grupo étnico” da enciclopédia cinematográfica de que, como veremos, fazem parte estes
filmes.
FEIRA ANUAL E TOURADA EM
CUBA
ALENTEJO
16
MIN
1970
Estes filmes são portanto como que unidades que permitem anotar, conservar, repetir uma
imagem de modo a poder analisá-la detalhadamente. A influência directa na forma de filmar da
equipa de Jorge Dias do projecto do Instituto de Filme Científico alemão é uma questão que
deve ser ponderada. A agenda teórica e metodológica do grupo de etnólogos portugueses
adequava-se ao projecto que o IWF tinha de realizar uma enciclopédia cinematográfica. Ou
seja, existia já na forma como Margot Dias filmava em 1958, ou como Benjamim Pereira o fazia
em 1960, forma esta que fazia parte de um grande quadro teórico comum. Se, por um lado, ao
darmos aqui o contexto do filme etnográfico alemão, ele nos permite explicitar uma tendência
geral de uma certa etnologia europeia folclorista e da forma como esta utilizava os registos
visuais, torna-se por outro lado necessário particularizar a agenda bem precisa da
Encyclopaedia Cinematographica (EC). Para isso, teremos que remontar aos inícios do IWF e do
estabelecimento, no pós-guerra, da colecção.
Nos inícios de 1950 o IWF surge da sombra da instituição que o precede, o RWU
(Reichsanstalt fur Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht), que tinha funções
educacionais, produzindo filmes científicos para o ensino universitário. A ideia de que o filme
podia ser usado no ensino remonta, na Alemanha, aos anos 1915 a 1917, a partir de uma
norma curricular do Ministério da Educação. O RWU tomou no entanto, a partir de 1936, como
nova actividade a produção e realização de filmes, com um departamento dedicado
especificamente à etnografia, cobrindo os dois territórios do volkskunde/folklore e do
152
volkerkunde, tendo produzido uma série de filmes sobre costumes folk alemães, uma temática
querida do regime nazi alemão (Husmann, 2007: 385). Durante a guerra, e devido aos
bombardeamentos, todo este material acabou por ser evacuado para uma pequena aldeia
perto de Göttingen, Hockelheim, onde as autoridades britânicas, logo em 1945, permitiram que
o trabalho fosse continuado. Em 1949 o acervo seria transferido para junto da cidade
universitária de Göttingen e, finalmente, em 1956 foi nomeado IWF. O antropólogo Gunther
Spannaus, contratado pelos aliados britânicos, foi o responsável pelo filme etnográfico dentro
desta instituição desde o fim da guerra até 1960. É Spannaus que idealiza a enciclopédia e a
ideia de uma colecção de documentos em película que seriam feitos de acordo com regras
científicas estritas “transformando o filme, um meio manipulador e cientificamente suspeito,
numa metodologia exacta que servisse os estudos comparativos”. Este conjunto é então
denominado Enciclopaedia Cinematographica (EC).
Fundada em 1952, a EC trabalhava para filmes cobrindo três áreas: biologia (que incluía
a zoologia, botânica e microbiologia), etnologia e ciências técnicas, tendo sido definida no texto
inicial que a designa e caracteriza como: “um arquivo geral de filmes científicos em que cada
filme individualmente é gravado de um modo sistemático permitindo construir um sistema
complexo. A enciclopédia é planeada de forma a conter uma grande aproximação à realidade”
(Husmann, 2007: 387). As pequenas unidades poderão assim ser cruzadas entre si em
investigações comparativas, num modelo positivista que associa as ciências humanas às
naturais: num dado grupo étnico filmam-se diversas actividades, as quais podem ser
comparadas com outros grupos étnicos, e cada filme mono-temático é como que um tijolo no
edifício da enciclopédia. Esta categoria do grupo étnico ou etnia assenta na acepção usada pela
etnologia clássica, de que cada cultura, ou cada grupo a que antes se chamou um povo, pode
ser simplesmente entendida como uma unidade que era tomada como natural, internamente
indiferenciada (cf. Brumann, 1999: 5).
A secção de etnologia da EC tinha filmes feitos em todos os continentes. No vasto
arquivo de Göttingen que se encontra no MNE, visionei, por exemplo, um filme de Harald
Schultz, antropólogo que realizou entre 1962 e 1967 cerca de cinquenta registos em película no
Brasil com os índios Erigpactsá, Javahé, Kraho. Vejamos alguns exemplos: no filme Tilling a slash
and burn field (5 min, 1965), do grupo étnico Erigpactsá (Brasil, região de Juruena), um homem
e uma mulher Erigpactsá plantam um campo, fazendo pequenos buracos com os pés, onde
posteriormente deitam as sementes. No filme Fire drilling, 6 min., relativo ao mesmo grupo
étnico, vemos a produção de fogo através da fricção de dois paus. Encontramos, ainda, as
outras temáticas: ainda entre os Erigpactsá, a construção de um colar com presas de Javali, a
153
execução de um cesto de transporte de fibras vegetais entrelaçadas; entre os Javahé (1962,
Mato Grosso), a execução de uma esteira com entrançado de fibras, uma mulher que executa,
com uma agulha tipo croché, adornos para as pernas, que depois são tingidos com pigmento,
etc. Este é portanto o tipo de classificação, parcelização e tratamento da cultura que
observamos quando entramos na enciclopédia. Em relação à Europa, com registos geralmente
centrados na tradição e na ruralidade, a enciclopédia divide-se entre a Central Europe (Baden,
Bavaria, Lower Saxony, Lombardi, Tyrol), Southeast Europe (Yugoslavia, Kosovo, Romania),
Southwest (Portugal), Northern Europe.100
É portanto neste quadro internacional que se podem enquadrar os filmes feitos em
1970 pelos etnólogos do grupo de Jorge Dias, em colaboração com os alemães. Segundo o
contrato101 entre o IWF e o CEE, que encontrei no Museu de Etnologia, as despesas técnicas da
rodagem, viagens e estadia da equipa do IWF eram suportadas pelos alemães, e as viagens dos
investigadores portugueses a Göttingen para consultoria de montagem eram pagos pelo
Centro.102 Em contrapartida, este recebia gratuitamente uma cópia de 16mm de todos os
filmes podendo fazer projecções gratuitas e para fins científicos.
Desta colaboração nasceu um conjunto de trocas de filmes e de conhecimentos entre
Lisboa e Göttingen. Sabemos que, em 1971, o arquivo do Centro de Estudos de Antropologia
Cultural (CEAC) tem um total de 101 filmes do IWF, dos quais 36 foram comprados pelo centro
em 1961 e 1962. No Museu Nacional de Etnologia, encontramos uma correspondência
intensiva entre esta equipa de etnólogos e o IWF. As cartas que são, no início, entre Margot
Dias e Úrsula Steinbrecher, passam a ser a partir de 1973 entre Veiga de Oliveira e G. Wolf. É
nesse ano que Ernesto Veiga de Oliveira e Benjamim Pereira são nomeados para fazer parte do
grupo extenso dos Directores de Arquivo Parcial. Anualmente, era feito um relatório onde
constava o crescimento do arquivo, o número de filmes que se tinham emprestado, etc. O
futuro Museu de Etnologia, em embrião, estava pensado como o lugar físico de arquivo destes
filmes. Como escreve Veiga de Oliveira aos alemães, em 1973, “only after the the builiding of
the ‘Volkerkunde Museum’ of Lisbon (where the CEAC, headquarters of the Teil Archiv (arquivo
parcial) of the EC for Portugal will be installed), shall we be able to give complete satisfaction to
the obligations inherent to such arquive”.103
100
Para consulta dos estatutos da EC e detalhes da colecção ver os catálogos / índex da EC, 1971, 1974, 1976, 1983
disponíveis na biblioteca do MMNE.
101
O contrato data de 05/10/1972 (pasta do arquivo do Museu Nacional de Etnologia consultada para esta
pesquisa).
102
Os filmes eram montados na Alemanha mas com duas idas a Göttingen, como atesta a carta de Simon, 4 Julho
de 1972.
103
Esta carta tem a data de 5 de Setembro de 1973.
154
A equipa participava assim, dos Meeting of the Editorial Board and Directors of Archives
of the EC. Nas comemorações dos 20 anos da EC (1972) participaram, segundo esta
documentação, representações de 19 países, e a enciclopédia contava com 422 colaboradores
de 28 nações. Segundo testemunho colhido no relatório da deslocação a Göttingen elaborado
por Benjamim Pereira: “a despeito de se situarem fora da nossa alçada profissional, assistimos
a todas as sessões de Biologia, Medicina e Ciências Técnicas, dado o seu excepcional interesse,
e pudemos avaliar a extraordinária importância do cinema como meio de investigação e
elemento pedagógico essencial, mormente para os casos em que não se dispõe de laboratório
de pesquisa devidamente apetrechado”. Os autores do relatório enfatizam, no que se refere à
etnologia e etnografia, uma comunicação a que assistiram, na qual se preconizava “a utilização
do filme como complemento demonstrativo da função das peças expostas nos museus
etnográficos e fora de uso na vida real – que aliás nós próprios tínhamos posto já em prática
aquando da exposição ‘Povos e Culturas’, levada a efeito pelo Museu de Etnologia do Ultramar
em Abril/Junho do ano corrente”.
No encontro dos 20 anos da enciclopédia, Veiga de Oliveira e Benjamim Pereira
mostram o filme O Jogo do Pau em Basto. Segundo o relatório elaborado pelos dois etnólogos,
“todos os filmes apresentados foram, sem dúvida, de excelente qualidade técnica e científica, e
longamente aplaudidos no final. O nosso, além disso – caso único na reunião –, foi mesmo
interrompido três vezes com aplausos.” A participação de Benjamim e Ernesto nestas
conferências, segundo o relatório, “atestou a acção do Centro de Estudos de Etnologia no
‘programa de urgência’ de recolhas dos factos culturais, lançado pela EC e amplamente posto
em relevo neste certame.” Mais uma vez, os filmes eram tomados como uma componente
essencial no que respeita à possibilidade de usar diversas ferramentas de pesquisa e arquivo
com vista à constituição de colecções museológicas. Após a reunião, “e aproveitando o facto de
nos encontrarmos numa região central da Europa, deslocámo-nos, à nossa custa, a várias
cidades da Alemanha, Inglaterra e França, para visita e estudo de museus etnológicos, no que
concerne aos objectos que constituem o seu acervo, e também à sua organização, sistemas e
processos de registo, arquivo, documentação, armazenagem e conservação, e ainda materiais e
técnicas de exposição”.104
Finalmente, note-se ainda que o futuro Museu de Etnologia viria a ter um arquivo de
frio em que se guardavam as latas de película, depósito este que chegou a albergar vários
filmes de António Campos. Junto com a correspondência estavam, em folha manuscrita por
Veiga de Oliveira, especificações sobre a forma como se guardam os filmes no IWF:
104
Lisboa, 3 de Novembro de 1972, assinam, EVO e BP.
155
‘temperatura 18º’, ‘caixas metálicas pousadas horizontalmente’ etc. Quanto à metodologia e
técnica a usar nestes registos, ela estavam bem definidas à partida, por uma série de regras:
The films had to have a high scientific quality. This depended largely on the degree in
which they reproduced ‘reality’. To best do so, the filmming process had to be
‘scientifically controlled’ as much as possible : No staging or acting! No interference of
the filmmaker with the activities being filmed! Detailed documentation of all aspects of
the filming process! In the post-production, strict editing rules had to be obeyed, no
manipulation of the scenes by re-arranging chronology or adding disturbing elements
such as commentary or music was allowed. All this was done in order to gain scientific
quality, but for anthropology this meant such rules strongly limited the possible range of
film topics. As a consequence, all films of the EC deal with material culture, food
production, dancing or the visible parts of rituals (Husmann, 2007: 388).105
Este era, portanto, uma espécie de regulamento que deveria ser seguido pelas equipas
que, por todo o mundo, produziam unidades temáticas para o IWF. Um dos conceitos centrais
da EC era a ideia de responder não à pergunta que antecede a consulta de um texto “o que é
que sei sobre um objecto?”, mas antes “como posso entender o objecto, através do seu
movimento?”. Trata-se de “empregar as possibilidades da cinematografia que consiste em fixar
pela imagem fenómenos em movimento, devolvendo esses processos mesmo quando invisíveis
ao olho humano”. Geralmente, não era gravado nenhum som, para evitar uma “ambiguidade
mesmo que não intencional”, sendo usado apenas quando “forma parte integral do filme, por
exemplo, nas danças etnológicas, em sons produzidos por animais, e casos similares” (Wolf,
1972: 4-5). Esta concepção liga-se, como referimos, a uma colagem da etnologia às ciências
puras e às formas de classificação e armazenamento que o efeito enciclopédico produz.
Com o tempo, as regras começam a flexibilizar-se, em especial com Peter Fuchs,
antropólogo e realizador que se torna editor da enciclopédia a partir de 1975, até 1995. 106 Em
1972 o IWF comemora 20 anos,107 numa série de eventos onde terão participado os
105
Em 1950 Spannaus escreve as linhas gerais ou regras a que se devem submeter os filmes, partindo de um
princípio geral de que “film is a long-time preservation of kinetic activities” (para ver este regulamento cf
Husmann, 2007: 389). Outros autores escreveram sobre a história do IWF, em especial Fuchs (1988).
106
Em meados de 1980 o operador de câmara Manfred Kruger realiza com Beate Engelhbrech dois longos filmes
na Indonésia e no México, marcando um novo período. Quando estive pela primeira vez em Göttingen, em 1992
começava o festival de filme etnográfico, dirigido por Beate e onde recebi com o meu filme Regresso Á Terra,
realizado numa zona rural do pais, o prémio de melhor filme de estudante. Nessa altura visitei o instituto e os seus
“arquivos de frio”, e mantinha-se ainda a funcionar a EC. A visibilidade do arquivo, dividido por continentes e por
grupos étnicos a que correspondiam prateleiras de lata de película clarificou nessa altura para mim tudo aquilo
‘contra o qual’ falavam os meus professores de Manchester. O IWF, em finais de 1990 expulsa o festival e
transforma-se numa empresa, “from a production- to a transfer-oriented media service provider for science
http://www.iwf.de/iwf/default_en.htm
107
Em 1983 o IWF tinha 6.000 filmes e edita um último catálogo em inglês onde selecciona 250 filmes para fins
educacionais nas áreas da Biologia (Zoologia, Botânica), Física e Química, Biofísica, Metereologia, Engenharia,
156
portugueses. Na edição trilingue (alemão francês e inglês) do programa desse evento, G.Wolf
afirma:
Twenty years of work on the encyclopaedia and 2000 films can merely be the beginning.
We believe it is a good one. From time to time, scientists have called the work of the
encyclopaedia a ‘stadium generale’ in which the idea of the ‘universitas literarum’ still
lives. We should accept this recognition as a commitment for the work of the future
(Wolf, 1972: 3).
O que é fascinante no projecto da Enciclopaedia Cinematographica é o facto de nela
convergirem uma série de acepções não só do que se deve registar, mas também da forma
como se devem organizar estes registos, e, mais ainda, de como uma metodologia detalhada
deve ser cumprida na formulação de cada filme, tudo isto com vista à elaboração de um
“arquivo” que contenha o mundo físico e natural, assim como a cultura. Como compartimentos
de uma enorme câmara frigorífica, trata-se de congelar parcelas da vida humana num processo
que não tem, nunca, um fim à vista. É esta intenção de arquivo, ou seja, de produzir
documentos que assumidamente servirão para aceder a um mundo que desapareceu que se
pode discutir aqui, pois nela se inscreve, de forma explícita, o corpus de filmes que trabalho
neste capítulo. Os documentos que a EC cria só podem ser hoje olhados por nós como o
produto de uma atitude e de um trabalho sobre a cultura e não tanto como registos efectivos e
lineares do mundo. Como afirma Le Goff:
A história, na sua forma tradicional, visava ‘memorizar’ os monumentos do passado,
transformá-los em documentos e fazer falar esses traços que, por si próprios, muitas
vezes não são verbais ou dizem em silêncio coisas diferentes do que dizem. Nos nossos
dias, a história é o que transforma os documentos em monumentos e que, onde se
decifravam traços deixados pelos homens, onde se tentava reconhecer no recorte vazio
aquilo que os homens haviam sido, desdobra uma massa de elementos que se trata de
isolar, de agrupar, de tornar pertinentes, de pôr em relação, de constituir conjuntos
(1996: 546).
Apesar disto, como sabemos, e para além da origem institucional diversa dos filmes
realizados para o Instituto de Göttingen por relação aos realizados por Benjamim Pereira e
Veiga de Oliveira, existem diferentes estratégias associadas à totalidade dos filmes do corpus
que trato neste capítulo. Alguns revelam tentativas de incorporar uma maior complexidade e
Medicina, Veterinária, Psicologia e Etnologia (e aqui, as regiões do mundo: Europa, África, Ásia, Oceânia, América,
o Ártico).
157
um contexto social, outros de filmar variações de uma mesma técnica, outros ainda estão
ligados a um objecto que se vai retirar do contexto e musealizar, e que é necessário registar
antes de deixar de ser usado. Há casos de filmes onde se registam objectos que só podem ser
entendidos dentro de um conjunto de desenhos e fotografias, vários que têm um contexto
dado pela escrita e registam o que estava profusamente estudado (como o ciclo do linho).
Finalmente, vimos o caso de filmes que tentam construir um objecto autónomo, não
correspondendo a nenhuma pesquisa elaborada especificamente sobre aquele tema em textos,
desenhos ou fotografia, mas que revelam um interesse genérico por uma temática, como o
pastoreio. Embora seja difícil discernir uma estratégia unificadora, sei agora que nenhum
destes registos é fruto do acaso, da contemplação ou do registo amador. Todos são o resultado
de circunstâncias e interesses particulares dos etnólogos. No entanto, à medida que fui
tentando inserir as temáticas e o tratamento visual dos filmes nas problemáticas gerais que
ocupavam os investigadores e as suas agendas de pesquisa comecei a discernir melhor o seu
carácter e a sua importância.
Análise dos conteúdos, a partir do ficheiro do Centro de Estudos de Etnologia
A partir do cruzamento entre temáticas e ferramentas de análise usadas por este grupo de
etnólogos, a consulta do acervo do Centro de Estudos de Etnologia, com um grande conjunto
de fichas em papel arrumadas em gavetas e organizadas de acordo com temáticas específicas,
permitiu aprofundar e retirar algumas conclusões sobre os filmes que trabalho neste capítulo.
As próprias fichas, enquanto objectos que comunicam visualmente um determinado evento,
tecnologia ou ritual, são sínteses que incorporam em si uma narrativa, uma série de escolhas e
de certo modo uma “montagem” da informação que fazem delas objectos que tornam visíveis
as metodologias de recolha etnográfica do grupo de Jorge Dias. Algumas constam de uma nota
escrita a caneta com uma pequena descrição, outras podem conter 20 ou 30 cartões onde se
acumula informação, fotografias e desenhos. Este conjunto de fichas, pelo modo como está
organizado, não parece ter sido construído para ser consultado por investigadores fora do
grupo que o produziu. Trata-se antes de um arquivo em devir construtivo, ou seja, ao qual
podia ser acrescentada informação e novas temáticas de forma infinita, uma ferramenta
sempre à mão para a consulta de dados e pormenores essencialmente etnográficos e
empíricos. Quantas vezes, quando Benjamim Pereira se encontrava ainda no Museu de
Etnologia, o vi abrir uma gaveta no meio da conversa para confirmar algum nome de localidade
ou algum pormenor empírico referente ao tema sobre o qual falávamos!
158
As fichas encontram-se agrupadas de acordo com categorias diversas, arrumando e
classificando informação que ia sendo recolhida pelos elementos do grupo de investigadores.
Estas categorias são de tipo diferente, desde nomes genéricos como “agricultura” a
identificações que retém aspectos particulares como “debulha”, uma categoria separada da
primeira. Alguns exemplos da taxonomia usada para arrumação das fichas são: Fiação e
Tecelagem, de Sargaceiro, Religião Popular, Sargaço, Agricultura, Debulha, Empilhar Pedra,
Abrigos, Mascarados de Inverno (Festas de Rapazes), etc. A totalidade das temáticas cobertas,
assim como o conjunto destas fichas, permitem aceder à démarche de pesquisa que deu
origem às publicações, às exposições mas também, para o que nos interessa aqui, aos filmes.
Fig. 12. Ficheiro. Museu Nacional de Etnologia
Podemos, por outro lado, a partir deste ficheiro, datar alguns dos filmes e entender até
que ponto existia ou não um trabalho prévio sobre determinada temática e desde quando.
159
Embora não contenham referências aos filmes, as fichas mostram e referem o número da(s)
fotografia(s) que foram feitas sobre o mesmo assunto, assim como o autor das mesmas e a
data. O confronto visual destas imagens com o filme sobre o mesmo tema – identificando uma
imagem semelhante e portanto feita na mesma situação –, e uma vez que quase sempre
existem fotografias feitas aquando da filmagem, permitiu-me datar, quando não tinha esse
dado, mas essencialmente permitiu-me localizar cada filme no percurso da pesquisa sobre o
tema em questão. Por vezes, existem várias fichas sobre a mesma realidade referentes a idas
ao terreno em datas diferentes, complementando informação que faltava ou reactivando e
confirmando informação anterior. Estas podem conter informação detalhada, escrita e
descritiva, ou então informação mais visual, desenhos e fotografias criando sequências quase
cinematográficas. Temos assim, neste ficheiro, acesso ao arrumo dos materiais que iam
chegando do terreno, e que era preciso a cada momento tratar, numerar e arquivar, em
especial as fotografias e o correspondente número de rolo, bem assim como os desenhos finais
de Fernando Galhano, que sabemos antecipados por estudos e esquissos com pormenores e
tentativas de chegar a uma solução final. A partir do momento em que mergulhei neste acervo,
compreendi de forma mais clara a metodologia de trabalho, mas também a função específica
da imagem, que podia ser integrada no todo da compilação arquivística, em determinado
projecto expositivo, como complemento de uma análise escrita e suporte para a descrição
futura, etc. Sem querer fazer aqui um tratamento exaustivo, gostaria de mostrar alguns
exemplos que me parecem mais significativos e reveladores destes aspectos.
A religião popular é um dos temas mais importantes destes filmes. Se, no início, os
registos particularizam uma acção ou actividade dentro de uma festa ou romaria, em 1970,
com a equipa alemã, filmar-se-ia a totalidade e diversidade de cada romaria. Veja-se a origem e
advento deste gesto. Em 1962, embora não tenham sido os primeiros, são realizados dois
curtos registos, na Lousã: Dança das virgens e Dança de Genebres, danças de donzelas. Trata-se
de filmes sem som, em plano fixo e que precisam do seu contexto, uma vez que foram feitos no
âmbito do trabalho sobre instrumentos musicais. As Genebres, uma espécie de xilofone, que só
existe em Lousa, Castelo Branco como atributo da dança dos homens na festa da Senhora dos
Altos Céus, aparecem referenciadas no livro Instrumentos musicais populares portugueses, em
legenda de fotografia datada de 1963 (Oliveira, 1986 [1964]: 304-305). No livro encontrei
também uma referência a este instrumento musical a propósito da dança das virgens, “em que
oito donzelas vestidas de branco e com um lenço na mão executam graciosas evoluções,
também de entrada, no adro da igreja” (1986 [1964]: 123). Todas as fichas 108 que encontramos
a este propósito são datadas de 1963. No mesmo ano, a equipa realiza também um registo,
108
Religião popular, festas e romarias, Castelo Branco, Lousa 419, 420, 421.
160
também com ficha, sobre as festas do castelo, em Monsanto. Neste caso, os filmes registam
não o som mas o uso performativo de certos instrumentos musicais e era esse aspecto, e não
uma totalidade do registo da festa, que se pretendia mostrar.
Mas foi em 1970 que se realizaram filmes importantes sobre três romarias do norte: S
Bartolomeu do Mar e S. João d’Arga, no Minho, Salvador do Mundo em Trás-os-Montes.
Através da análise do ficheiro, elaborei uma espécie de genealogia do interesse por estes três
rituais, que justificam a sua escolha. Ao contrário da Feira Anual e Tourada em Cuba, no
Alentejo – que parece ter sido filmada porque era necessário dar conta de algo que dissesse
respeito ao sul do país e para a qual não encontramos nenhuma referência no ficheiro anterior
à data do filme –, nas restantes romarias existia um interesse anterior e vários registos
detalhados nas fichas. A romaria de S. Bartolomeu do Mar está muito documentada no ficheiro
do Centro de Estudos de Etnologia109, e revela uma trajectória do interesse por esta festa. No
início, os aspectos sociais e mais visíveis de uma sociedade frágil e nómada, com mendigos e
ciganos, interessavam a Jorge Dias e quando os etnólogos voltam à festa, cada ano, buscamnos.110 Quanto aos banhos no mar sagrados, profusamente filmados aquando da vinda dos
alemães, trata-se de um aspecto que nunca havia sido importante registar ou fotografar. As
primeiras fichas datam de finais dos anos 1950 e mostram, fotografados por Jorge Dias,
aspectos mais exóticos: ciganas a ler a mão, mendigos e feridos no chão, um tocador, o
carrossel. Uma década mais tarde, é feita nova ficha sobre esta festa, com uma descrição de
Veiga de Oliveira que detalha aspectos lúdicos pertinentes: “moços à luta com moças, na praia;
os rapazes empurram as raparigas, para caírem ao chão; passam-lhes rasteiras, perseguem-se
uns aos outros na brincadeira, etc.”. Em 24 de Agosto de 1969, nova ficha, desta feita com
fotografias de Benjamim Pereira, que cobrem toda a festa. Intercalada com esta, as notas de
Jorge Dias, que se complementam e pormenorizam, notando recorrências e diferenças: “já não
se vêem epilépticos ao longo do caminho.”
Mais uma vez, estes documentos não fazem nenhuma referência aos banhos de mar, o
centro do filme feito em 1970 com os alemães, registando e anotando as promessas (com os
galos pretos ao colo à volta da igreja) e a procissão. Finalmente, as fichas referentes a 24
Agosto 1970, só com fotografias, tratam a mesma situação do filme111, mas as imagens de
Benjamim Pereira focam assuntos que não estão no filme: o fotógrafo na praia, ciganas a ler a
sina, dança, homens a lutar na praia e meninos com galos pretos.
109
Fichas refª Religião popular 279-288; 290-291; 300-305.
Este aspecto foi-me referido por Joaquim Pais de Brito, em conversa.
111
Exceptuando a ficha 49 que fala da construção da nova igreja e do padre.
110
161
Figs. 13. Ficheiro. Religião Popular. Museu Nacional de Etnologia
162
Assim, quando realizam o filme em 1970, os etnólogos tinham já um conhecimento
profuso e em extensão de uma totalidade que o filme revela, mostrando imagens que nos
devolvem a ideia de uma escolha, uma montagem, uma narrativa. Quanto à Romaria de S. João
d’Arga, com a qual em especial Benjamim Pereira mantinha uma relação afectiva e de grande
proximidade, pois nos seus tempos de juventude participava, com familiares e amigos, nas
danças e sociabilidades da festa, encontramos também registos bem anteriores ao filme de
1970 112. O primeiro, só com uma descrição escrita e sem imagens, revela pormenores da festa
de S. João da Serra d’Arga com grande detalhe e poética:
Os romeiros vão descalços, com os sapatos às costas, um varão na mão para ajudar a
subida à serra, um pipo de vinho na outra; as raparigas vão também descalças, de saia
arregaçada, e levam à cabeça o cesto com o farnel para os dois dias, e as ofertas feitas
em promessa ao santo. Ao subirem a serra, e, depois, ao darem as voltas à capela,
levam esses cestos em equilíbrio sobre a cabeça, desagarrados, sem lhes porem as
mãos, e vão a cantar, bater palmas, tocar pandeiros, etc. A promessa típica e obrigatória
ao santo é: um quarto de sal e telhas. Os romeiros passam em baixo, entram na igreja se
S. Lourenço onde está a imagem de Santa Bárbara, e depois seguem para cima; no alto,
dão uma volta à capela se S. João, com as promessas; em seguida, entram na igreja, e só
no fim é que vão divertir-se. À meia noite em ponto há o fogo (Informante: Marcos
Rocha+- 30 anos, 1957).113
Finalmente, e ainda dentro desta categoria da religião popular, sobre a romaria de S.
Salvador do Mundo (Boticas, Viveiros), existe apenas uma ficha114 não datada, mas
provavelmente – pela caligafia usada –, ainda de inícios dos anos 50, com uma pequena
descrição de Jorge Dias: “na procissão vão os andores, as pessoas e os bois que vieram de
promessas. Só as mulheres dão voltas de joelho à Igreja [...] as pessoas têm que dar nove voltas
à coluna para ficarem livres das dores de cabeça [...]. Realiza-se a 8 de Agosto”. Ao contrário
das outras duas, esta romaria tinha sido menos investida de trabalho descritivo; no entanto, o
facto de encontrar uma ficha feita 20 anos antes, revela que existia um aspecto importante
notado por Jorge Dias, que um filme poderia devolver.
As actividades agrícolas e as tecnologias ligadas à agricultura são outro grande tema dos
filmes. Vejamos por exemplo a temática das “malhas”, com registos no ficheiro desde 1950, ou
seja, duas décadas antes da rodagem do filme feito com o IWF. Existem dois filmes sobre as
malhas: Terras de Basto, Malhas de Centeio (8 min, sem data)115 e Uma Malha em Tecla, Terras
112
refª Religião popular 33, 134-135; 237-264
refª Religião popular 33
114
refª Religião popular 95
115
Não visionado, porque se encontra ainda no original em película.
113
163
de Basto, Minho, feito com o IWF, em 1970, com 22 minutos. Sobre esta temática,
encontramos fichas na categoria “debulhas” e em “festas agrárias”. Nelas podemos detectar
um detalhe descritivo sobre os aspectos que se irão futuramente filmar. Na categoria “festas
agrárias” a ficha 32, por exemplo, diz respeito à “queima da anha”, uma cena presente no
referido filme feito com os alemães e que aqui tem a seguinte descrição:
Na noite da malha, depois de comerem o caldo, e se o patrão se não importa, levam uns
braçados de colmo da eira, e vão, já de noite, até um alto, onde queimam a anha. Pelo
caminho, vão em grande barulheira, com um pregador, que depois diz para que lado
tombou a anha, e qual a banda que malhou melhor. Levam uma cabaça, e bebem todos
em grande algazarra. Tem anos em que trepam ás árvores, e queimam a anha lá em
cima. Chegaram a deitar o fogo à palha quando ainda lá estava o homem, que teve de
saltar para não se queimar. Noutras terras, são outros animais (ver Caro Baroja [sic]).
Sob a referência “festas agrárias” (Celorico de Basto-Tecla, Paço-Malhadas)
encontramos também duas fichas com uma fotografia de Julho 1950, feita por Jorge Dias, o que
permite datar os primeiros registos sistemáticos das malhas, assim como uma descrição inicial:
“uma malha são duas eiradas. A primeira acaba por volta do meio dia e é então que cantam em
coro a “meio-deira”. Só cantam os homens e são eles mesmo que botam o alto”. Sob o tema da
“debulha”, as fichas mostram oito idas ao terreno, todas elas em Celorico de Basto, Tecla, no
Paço, nem todas datadas, mas pelo menos os anos de 1950, 1963 e 1970 surgem referenciados.
Este tema remete para o anterior: em Julho de 1950, Jorge Dias escreve na ficha sob a categoria
“debulha”, “as malhas são acompanhadas de costumes e ritos curiosos (ver ficha)”. Se em 1950
é Jorge Dias quem fotografa, em 1963 e 1970 é Benjamim Pereira.
No ano de 1980 é feito o filme Debulhas de Centeio a Trilho, em Miranda, Sendim. A
primeira referência a este tema remonta a 1949,116 numa curta referência a “limpando o trigo
com a pá”, fotografada por Jorge Dias. Com a data de Agosto 1962 e fotografia de Benjamim
Pereira e Ernesto Veiga de Oliveira, a ficha encontrada inclui 3 fotografias retiradas em duas
localidades (uma em Constantim, “limpando a eira”, duas em Paradela, “com uma trilha”).117
Um ano mais tarde, em 1963, com várias fotografias de Benjamim, o interesse centra-se no
objecto, a trilha do cereal de Vergílio Cristal. Neste caso, não foram encontradas fotografias
feitas no mesmo ano do filme, muito mais tardio. Este filme revela portanto uma estratégia
diferente: documentar a posteriori um objecto que fazia já parte da colecção museológica.
116
117
Ficha refª Debulha 58.
Ficha refª Debulha 55.
164
Encontrei também situações em que filme e ficha coincidem, revelando uma única e
significativa ida ao terreno que se julgou suficiente para fixar determinado evento ou
tecnologia. Por exemplo, sob o tema “agricultura” existe o filme Uma vessada no Alto Minho
feito em 1976
118
com apenas uma ficha – que tem fotografias de Benjamim Pereira, que
coincidem com o filme na temática e na data, Abril de 1976 – e ainda o Lavra em Bucos,
Cabeceiras de Basto, referenciado como sendo de 1978, mas cuja ficha, que traz a data de
1977, tem fotos de Carlos Ladeira.119
Tome-se um outro tipo de abordagem. Sob a temática do pastoreio, encontrei apenas
Pastoreio no Barroso, Vacaria no Monte das Maçãs, filme a preto e branco, de 40 minutos, feito
em 1976. Existem no entanto três idas ao terreno – em Montalegre, Serra do Barrosos, Monte
das Maçãs – profusamente fotografadas por Benjamim Pereira, segundo as anotações do
Centro de Estudos de Etnologia. Trata-se de fichas apenas com fotografias, e sem uma
descrição escrita: numa destas existe um conjunto de cartões de Junho de 1974
Junho de 1975
121
120
, outros de
e, no ano seguinte o filme propriamente dito. Estas fichas permitem perceber
até que ponto Benjamim Pereira trabalha uma sequência de imagens que escolhe, e que
preparam, de certo modo, a rodagem. Saliente-se o pormenor das fotografias tiradas ao pastor,
um aspecto que acabou por não ficar no filme. Este é portanto mais um exemplo, o último que
dou aqui, da diversidade de abordagens presentes neste arquivo de filmes: estes podem ser
sínteses de um apurado e longo trabalho de pesquisa ou o mero elenco descritivo de tudo o
que se conhece. Há nesta prática da construção do arquivo uma simultânea oscilação entre a
compactação e a acumulação.
Se encontrei diferenças de abordagem técnica e metodológica neste corpus de imagens,
há no entanto um aspecto único, particular. Trata-se do modo como ele constitui uma peça de
um puzzle maior sem a qual o quadro geral estaria incompleto, mas difícil de isolar do encaixe
geral. Apesar das diferentes estratégias descritas, o conjunto de filmes que tomo aqui é aquilo
que, por um lado, Benjamim Pereira designa como “um olhar pertinente, objectivo”, mas que,
por outro, não está a tentar “inquirir”; é “passivo” um “flash”, “uma observação de um
fenómeno”, “fixa o que está a decorrer, sem problematizar”.122 Para entender estes filmes, há
claro que cruzar a informação que contêm com outras ferramentas de catalogação e
organização do saber, como as fichas, os objectos ou as fotografias, mas também procurar a
118
Fichas refª agricultura 172 - 181
Fichas refª Agricultura 247 a 263. Trata-se da mesma situação do filme pelo que a data do filme deve ser a da
montagem e não a da rodagem.
120
Fichas refª Pastoreio 257 – 258
121
Fichas refª Pastoreio 259 – 264
122
Mesa redonda no catálogo Olhares sobre Portugal (Leal et al, 1993: 56-58).
119
165
especificidade desta ferramenta. Como afirma Benjamim Pereira (1994), “a fotografia e o
desenho foram usados não apenas como suportes ou complementos ilustrativos, mas como um
instrumento metodológico de construção e registo etnográfico que nos faculta uma intimidade
física mais profunda com as sociedades e as distintas temporalidades por estas percorridas”.
Por outro lado, para este etnólogo é claro que “um filme científico terá sempre que ter um
texto que acompanhe a imagem, no qual fiquem devidamente sublinhados certos aspectos que
são de natureza profundamente estrutural, e não podem ser perdidos por parte do espectador
[...]. O filme situa-se ao nível de uma focagem de acontecimentos num plano passivo, fixa o que
está a decorrer, não problematiza”.
123
Esta concepção, como veremos, embora tardia em
Portugal, existia um pouco por toda a Europa, em especial nos países com uma vertente
folclorista importante, e dominava a etnologia e museologia que fixava a cultura popular.
Finalmente, ela está marcada por um quadro teórico mais largo.
Numa conferência de homenagem a Benjamim Pereira, realizada em 2010, João Leal
demonstra como o difusionismo de Jorge Dias e dos seus companheiros não se relacionava
apenas com o tratamento da longa duração, centrando-se nalguns casos em intervalos
cronológicos mais breves. Mas este posicionamento tomava “a criatividade cultural como um
bem escasso”, e abrir-se-ia também ao evolucionismo:
Jorge Dias e os seus companheiros escreveram numa altura em que a antropologia se
tinha transformado há já algum tempo numa máquina de romanticização da
primitividade. O seu evolucionismo é – também por isso – um evolucionismo ao
contrário: um evolucionismo seduzido pelos tempos em que os humanos viviam nos
campos, longe da cidades e das suas convenções hierárquicas, em abrigos pastoris,
praticando o comunitarismo e ligados à natureza através de rituais sintonizados com os
seus ritmos (Leal, 2010: 9).
Regressemos ao Pastoreio no Barrosos, Monte das Maçãs (1976). Quando visionei este
filme, perguntei a Benjamim Pereira até que ponto o controle sobre este tipo de transumância
do pastoreio pelo Ministério tinha deixado de ser feito a partir da revolução, se os próprios
faziam este trabalho em auto-gestão e, em suma, se a revolução tinha afectado este aspecto
particular, ao que este respondeu, de modo bem directo: “sabes, menina, a política nunca foi
muito vivida pelo mundo rural”. Esta resposta remete para o facto de o registo que faz estar
ligado a um tempo longo, marcado por uma visão evolucionista. Mas mais do que isso, esta
forma de pensar a cultura popular continua presente nos outros conjuntos de filmes que trato
nesta tese, excluindo o cinema politizado do pós revolução.
123
(cf Leal et al, 1993:58).
166
Filme etnográfico, características comuns a outras escolas
Notou-se que a etnologia alemã enciclopedizada radicalizou a classificação do filme etnográfico
como unidade de registo das actividades humanas, criando regras ainda mais estritas do que
aquelas que, ao longo dos anos e em diferentes escolas, os antropólogos e etnólogos foram
colocando de modo a controlar os seus usos da imagem. Cabe agora perceber de que modo o
uso do filme etnográfico, em Portugal, se pode diferenciar daquilo que aconteceu noutros
países. Para isso, vou lançar algumas pistas para uma tentativa de caracterização da
especificidade do filme etnográfico no domínio disciplinar da antropologia, a fim depois de
reflectir, em termos mais gerais, acerca da importância do “visual” no interior desta disciplina.
Durante as décadas entre 1950 e 1970, segundo Peter Loizos (1993: 16), e antes das
teorias estruturalistas e da semiótica porem em causa o que estava estabelecido, existe uma
marca forte da “deriva documental”, uma inocência simplificadora na forma como se
conceptualizava o acto de filmar, sempre parcelarmente, uma determinada cultura ou
sociedade. O que se fazia eram, como vimos nos filmes de que falamos aqui, “registos”:
The dominant epistemological assumptions about how research was to be done were
empiricist and scientific in the sense that to better understand cultures it was thought
necessary to study them more intensively, to collect more data, by ever more rigorous
research methosds, after which further refinements in theory could take place. There
was a hope that ethnography would find itself to be a behavioural science, rather than
art or craft (Loizos, 1993: 16).
É necessário, antes de mais, incluir esta categoria dos “registos”, ou seja, pensar a
categoria do “filme etnográfico” no sentido de um cinema que é enformado pela disciplina que
se denominou, consoante os contextos, etnologia ou antropologia, e não como um género
cinematográfico cujas origens são únicas e que se estabeleceu como uma metodologia
universal. Nas tentativas de definição de filme etnográfico, talvez se possa dizer que uns filmes
são mais etnográficos do que outros, ou que os filmes se tornam etnográficos de acordo com a
sua apropriação social. Mas para perceber o conjunto de filmes feitos pela equipa do Centro de
Estudos de Etnologia, uma das distinções que continuam operatórias é entre ethnographic
footage e ethnographic films, isto é, entre um material em bruto, que vem do terreno e que
transporta consigo, em princípio, as preocupações da pesquisa que a ele dá origem, e um
material trabalhado e construído, ou seja, elaborado para comunicar de certa forma o caos de
dados vindos do terreno (cf MacDougal, 1998: 178).
167
Desde sempre, parecem ter existido em paralelo duas grandes formas de usar este
instrumento, a câmara de filmar: a do registo puro do real e a da construção, a partir destes
mesmos registos, de uma representação. No ano em que se inventa a câmara de filmar, em
1895, Félix-Louis Regnault, na senda dos objectivos traçados para o uso da nova técnica pelos
seus inventores, os irmãos Lumiére, filma uma mulher Wolof a fazer um pote de barro, para a
Exposition Ethnographique de l’Afrique Occidentale, em Paris. Regnault via a câmara como um
instrumento de laboratório, que podia fixar eventos humanos transitórios ou com movimento
para futura análise, prevendo que a etnografia só poderia adquirir a precisão da ciência através
deste tipo de artefactos. Alfred Haddon, em 1898, levou a sua câmara para a Expedição de
Cambridge ao Estreito de Torres e, em 1930, Franz Boas usou uma pequena câmara de 16 mm
nas suas expedições finais aos Kwaktiutl. Anos mais tarde, Marcel Griaule dirigia as filmagens
em 35mm feitas por profissionais para o filme Au Pays des Dogon (1935) e Sous les Masques
Noirs (1938). Mais tarde, Gregory Bateson e Margaret Mead usaram de forma sistemática o
filme e a fotografia nos seus estudos em Bali e na Nova Guiné. Por outro lado, num percurso
que não toca o anterior, e também desde a invenção da câmara de filmar, nasce com Georges
Meliés um cinema narrativo, que embora possa usar actores e ambientes naturais é ficcionado.
Em 1914 Edward Curtis produz uma história com actores kwakiutl, In the Land of the Head
Hunters, reconstruída no terreno, e oito anos mais tarde Flaherty estreia Nanook of the North,
um filme também ele imbuído daquilo que foi a longa estadia no terreno, com os indígenas
Inuit, do realizador mas, ao mesmo tempo, eminentemente narrativo, reconstruído.
Os trabalhos de Regnault contrastam com os de Flaherty, definindo duas tendências
documentais que persistem até aos dias de hoje. Para os que trabalham na senda de Regnault,
como os etnólogos portugueses da equipa de Jorge Dias, a câmara é vista como um
instrumento para registar e guardar dados sobre a cultura. O processo de análise destes
materiais é exterior a eles, está nos textos, nos objectos. Para os seguidores de Flaherty, o filme
fornece meios não só para registar os comportamentos humanos, mas também para levar
quem os vê a entrar em contacto com estes de acordo com uma lógica de comunicação própria
ao meio cinematográfico (cf. Mac Dougall, 1998: 179).124 No caso da primeira tendência, a que
associamos o grupo de Jorge Dias, existe ainda uma outra ramificação. Na verdade, dentro do
chamado “filme etnográfico”, que se desenvolve mais tarde em campo disciplinar, cabem tanto
o material de pesquisa (research footage), que serve uma recolha específica – no caso de
124
O projecto de Flaherty é semelhante, e igualmente “inaugural”, ao de Malinowsky. Grimshaw faz um
paralelismo entre os dois, e mais ainda: as datas simbólicas do nascimento do Cinema e da Antropologia, com os
irmãos Lumière em 1895 e a expedição de Alfred Haddon em 1898, par inaugural a que se juntam nos anos 1920
os projectos de Malinowsky e Flaherty e, já nos anos 1930, os de Radcliffe-Brown e John Grierson, instituindo uns a
“moderna etnologia” e os outros o “filme documentário clássico” (cf. Grimshaw, 2001: 9).
168
Margaret Mead o estudo do comportamento e dos usos do corpo em Bali ou na Nova Guiné –
quanto o material de registo (record footage) que serve para produzir documentos com vista a
futuras pesquisas, a estabelecer um arquivo ou até à exibição no museu etnográfico, junto aos
objectos (cf. Mac Dougall, 1998: 181). Neste tipo de recolha, a atitude não é a de descoberta à
medida que se filma, mas antes a da constatação. No caso português, tal como noutros países
da Europa, a aparente imobilidade das tecnologias, o objecto de muitos destes filmes e o facto
de tanto as tecnologias como os rituais incorporarem uma narrativa, uma sequência que se
adivinha à partida – um princípio, meio e fim – em muito terá contribuído para uma certa
forma de filmar, embora o registo da cultura material e das tecnologias fossem, por excelência,
aquilo que melhor se adequava à câmara estática e passiva. Margot Dias tinha consciência disto
quando afirmava: “no fundo o melhor resultado destes filmes é nas técnicas, em que se sabe
mais ou menos o que vai acontecer, é um trabalho calmo, tem-se tempo, o dia todo. Nos rituais
é muito mais difícil, de repente começa tudo a correr, ninguém nos liga” (Costa, 1997: 11).
O valor do filme como registo ganhou, deste modo, importância, a partir do momento
em que se verifica uma percepção da aceleração da mudança social, no termo da II Grande
Guerra. Neste período vários projectos associados à ideia de arquivo são desenvolvidos.125
Entre eles, como vimos, estão os documentos visuais que seguem linhas específicas, regras
muito claras, e que, como declarava Koch, realizador do IWF, em 1963, “devem conter apenas
os factos directamente relacionados com o tema, sem nenhum embelezamento, efeitos
emocionais ou outros efeitos usados pelos filmes de ficção” (cit in Loizos, 1993: 196). Havia
como que uma crença ou uma convicção de que os documentos quando trabalhados desta
forma, em planos fixos, cronológicos, com um olhar ao detalhe e ao processo ganhavam uma
validade que lhes dava o estatuto daquilo a que Foucault chamava documento. Na verdade, a
ideia que está por detrás desta veracidade produzida pelo próprio documento deriva
directamente da concepção que então se tinha do que era a etnologia. Como diz David
MacDougall:
Anthropologists have tended to define knowledge not in terms of acquaintance, but
description. ‘Cultural description’ is a phrase widely used in North American
anthropology to define the anthropologists task. Philippe Descola, citing Lévi-Strauss
(and reflecting a very french anthropological perspective), has divided the discipline into
the three ‘steps’: ethnography, ethnology, and anthropology. He characterizes
ethnography as primarily collection, ethnology as primarily analysis and comparison,
125
Outros exemplos são o projecto de Samuel Barrett, da Universidade de California, em torno das “food gathering
techniques of native americans” ou o projecto de Roger Sandall, Austrália, em torno dos rituais aborígenes, etc
(MacDougall, 1988: 181-182).
169
and anthropology (a rare activity) a philosophical project of making sense of general
problems in social life. We might classify the products of this steps when they reach the
anthropological audience (now narrowing the first term somewhat) as: descriptive
knowledge (the factual domain), structural knowledge (the domain of relations) and
explanatory knowledge (the domain of theory) (1998: 81).126
Estamos assim, quando olhamos os filmes de Jorge Dias e da sua equipa, e de acordo
com esta classificação, no território da etnografia descritiva. O próprio Jorge Dias usava esta
distinção no seu trabalho, entre o que chamava “o aspecto etnográfico, o etnológico, o
linguístico e o antropológico” (Lupi, 1984: 299). Uma outra questão que se coloca quando
pensamos na prática de realização destes documentos visuais é a de saber como se definia o
que é típico, recorrente e o que é considerado irregular. Encontrar o normativo exclui sempre a
procura de outras estratégias, de acordo com a noção de prática de Bourdieu. Se algumas
sequências, por exemplo as ligadas à cultura material, são explícitas, funcionando como um
bloco autónomo, muito do que se filma a partir do que acontece e das acções dos outros não é
da ordem da visibilidade. Compreendemos isto relativamente aos casos dos filmes que
mostravam o bairro dos oleiros ou a transumância do gado e também a propósito da
dificuldade óbvia de um entendimento do filme sem o suporte de uma explicação em texto.
De facto, estes documentos visuais são sempre parciais, e por isso a abordagem do IWF
foi grandemente criticada. Antes de mais, os filmes não viriam a ser tão usados como se
pensava inicialmente no ensino ou da pesquisa antropológica, o que se deve, em parte, à forma
como as convenções e restrições no modo de filmar fragmentaram a realidade, em termos
temporais e espaciais, descontextualizando os objectos em causa. Por outro lado, estes
documentos acabam por ser uma produção cultural monumentalizada no presente de gestos
que só fazem sentido por recurso ao passado; são portanto formas de cultura “virtuais”, quer
estejamos ou não na sua presença (cf. Kirshenblatt-Gimblett, 1995: 369). Quer dizer, remetem
para um período anterior ao da própria antropologia moderna, são testemunhos de uma certa
discursividade:
The situation is reminiscent of the problems faced by anthropology in the nineethen
century before basic field methods where brought into common use by successive
revisions of Notes and Queries on Anthropology and the example of Malinowsky and
126
David MacDougall (1998: 81) continua dizendo, e portanto lançando a ideia do futuro do filme etnográfico
aliado a uma forma específica do saber antropológico, que “what we find missing from this list, from the realm of
‘knowledge by acquaintance’, is effective knowledge (the domain of experience). We must look for it elsewhere,
perhaps catching a glimpse of it in ancillary works such as Lévi-Strauss’s Tristes Tropiques (1974) or Paul Rabinow’s
Reflections on Fieldwork in Marocco (1977)”.
170
Rivers. The guidelines developed in the 1950’s by Gotthard Wolf at the I.W.F. took a
step toward establishing scientific standards for the selection and recording of
behavioral items, but at the risk of being excessively reductionist about culture
(MacDougall, 1998: 183).
Outro aspecto importante tem a ver com as consequências que a concepção da
museologia etnográfica tinha no modo como se criaram estratégias para os usos desta
filmografia. O peso dos museus desde o início do século XX criou uma obsessão com a cultura
material e os objectos como forma de representar as sociedades. Assim, e como diria Rosalind
Morris, só se pode olhar para o filme etnográfico clássico como fazendo parte da “instantiation
of anthropology’s political and moral economy of collection and preservation” (Morris, 1994:
12). Mais ainda, a importância dada pela antropologia à cultura material e aos objectos está
intimamente ligada à importância do visual ou do visível como metáfora. De acordo com
MacDougall (1997: 227): “visible objects, having exerted great fascination as the products and
indicators of culture, but failing as expositors of it, began to acquire a new function, in
museums, as metaphors for anthropology. And as a methaphor, the visual flourished”.
Vimos antes que, já nos anos 1920, Felix Regnaut considerava os filmes etnográficos
como documentos objectivos, defendendo a integração dos documentos visuais nos museus de
antropologia, pela sua especificidade. No caso do grupo de Jorge Dias, os filmes serviam, por
vezes – embora nem sempre esta função fosse incorporada –, para contextualizar os objectos:
esta continua a ser, ainda hoje, uma marca na fabricação e produção do filme etnográfico. Asen
Balicki sublinha este aspecto, apoiando-se na distinção, tornada operatória, entre a arte e a
ciência:
Dans les musées d’arts plastiques, un objet (par example un tableau) peut parfaitement
se suffire à lui-même, ce qui est rarement le cas dans les expositions ethnographiques.
Un élément de culture materielle n’acquiert de signification qu’en relation avec d’autres
éléments auxquels il se rattache fonctionnellement dans le cadre d’une activité
spécifique organisée [...]. Le but est d’intégrer des séries statiques discrètes (les objets
exposés) en un flux d’action dynamique (le film), de façon à élargir la comprehénsion du
visiteur toute en stimulant son attention” (1985: 21).
Gostaria agora de abordar de forma mais insinuante o estatuto ontológico da imagem
no projecto da antropologia, e em particular na etnologia portuguesa, enquanto campo
disciplinar. Notou-se que, paralelamente a esta tendência que parte daquilo a que
chamávamos a etnografia descritiva, havia uma outra, ligada a um tipo de cinema diferente,
171
que não se cruza com este. O filme etnográfico de raiz narrativa, na senda de Mélies, fez o seu
caminho e institucionalizou-se ganhando um peso acrescido ainda durante o século XX.
Protagonizou uma trajectória histórica singular, aliada à criação de um terreno que se foi
autonomizando, o da antropologia visual. Nas actas da conferência que teve lugar em
Göttingen em 2001, Origins of Visual Anthropology: Putting the Past Together, podemos aceder
às memórias dos que deram origem ao campo disciplinar a que se chamou antropologia visual e
que esteve durante cerca de quatro décadas (entre os anos 1950 e os anos 1980) voltado
essencialmente para o filme etnográfico. Luc de Heusch conta, na primeira pessoa, que na
Primavera de 1955 Jean Rouch, já com uma longa obra fílmica, iniciava aquele que foi o
primeiro encontro de etnólogos realizadores no Museu do Homem, em Paris. Foi nessa ocasião
que Rouch mostrou o seu les Maitres Fous, que, como se sabe, provocou grande escândalo,127 e
Luc de Heush, depois de dois anos de missão no Congo, exibiu os seus filmes Festival among
the Hamba e Rwanda, e Portrait of a Pastoral Feudal System.128
A análise que Anna Grimshaw (2001) faz da história do modo como a antropologia usou
a imagem vai um pouco mais além nesta reflexão sobre os usos da imagem, deslocalizando-a
do território do filme etnográfico, onde nos centramos até aqui, para a colocar no campo da
“visualidade”. A sua reflexão sobressai pela forma sistemática como, partindo da noção de John
Berger de “ways of seeing”, argumenta que a visualidade opera de um modo particular como
uma técnica e uma teoria do conhecimento antropológico. Partindo de um paradoxo, o da
centralidade da visão, para uma antropologia baseada no trabalho de campo tal como foi
definido por Malinowski e seus contemporâneos, a autora refere a falta de reflexão que existe
sobre a importância das tecnologias visuais, e da visão ela mesma, nas monografias clássicas da
antropologia britânica. A antropologia visual foi sempre vista como estando relacionada com
operações técnicas e não tanto com ideias e teoria. O cepticismo com que a imagem, a
fotografia e mesmo a cultura material foram vistos em certos períodos da história da
antropologia relacionava-se, no caso inglês, com uma associação entre os usos destas
ferramentas e um passado positivista-descritivo de que era importante a moderna antropologia
libertar-se (Grimshaw, 2001: 4).
Julgo que os filmes da equipa de Jorge Dias podem ser analisados à luz deste paradigma:
ver e fixar essa visão correspondia a uma prova da existência das coisas. Actualmente, a
127
Muito se escreveu sobre este assunto. Para uma reflexão minha, ver Costa, 2011.
Luc de Heush tinha sido, na juventude, entre 1947 e 1948 assistente de Henri Stork com quem aprendeu a
filmar (Heusch, 2007: 15).
128
172
ambivalência à volta da visualidade pode ser considerada no quadro daquilo a que Martin Jay
chamou a “crise do ocularcentrismo”. Este autor sugere que até ao séc. XX a visão tinha um
estatuto privilegiado como forma de conhecer o mundo na cultura Ocidental. Embora em
projectos antropológicos como o de Boas ou Rivers ver fosse importante, em geral o seu
estatuto acabou por associar-se a uma concepção do trabalho de campo como momento em
que o antropólogo vai ver por si mesmo. Críticos da disciplina, caso de Fabian, entre outros,
põem em causa o “visualist bias” da Antropologia:
Observation was identified as a dominant trope in modern anthropology, one which
leads the fieldworker to adopt a contemplative stance, an image suggesting
detachment, indeed voyeurism, ‘the naturalistic’ watching an experiment. The
knowledge garnered by taking up such a stance on reality is ultimately organised,
according to Fabian, by means of a whole series of visual metaphors. The effect is
objectifying and dehumanising. Both history and coevality with the subjects of
anthropological enquiry are denied (Grimshaw, 2001: 6).
A questão da importância da visão no projecto da moderna antropologia opera, para
Grimshaw (2001: 7), de acordo com duas ordens de razões, uma vez que, por um lado, funciona
como uma estratégia metodológica, uma técnica e, por outro, traduz uma metáfora do
conhecimento, um modo particular de apreender o mundo. Assim, existem e existiram
diferentes modos de encarar a visão: pode ser concebida como forma de acumular o
conhecimento científico, um processo pelo qual o mundo se torna apreensível, mas também
enquanto processo de interrogação, meio de romper com os modos convencionais de conhecer
o mundo e, finalmente, pode envolver uma transformação, momentos de revelação pessoal,
etc. David MacDougall reflecte também nesta questão quando afirma:
One of the problems facing anthropology from the beginning was that films and
photographs did not explain or summarize matters –they expanded upon them almost
without limit. If anything, they were too full of specific and unmediated information [...].
Films of things looked remarkably like the things themselves. By contrast, scientific
activity consisted not in the faithful reproduction of reality but in collecting data,
building up a theoretical framwork, and publishing conclusions. It was difficult to see
how film could assist this tasks” (2006: 232).
Parece assim existir um efeito nos filmes que, ao invés de conter e sintetizar um
determinado evento, o expande, desmultiplicando os níveis da sua apreensão. Na realidade, é
para conter este efeito que se filma como o fizeram os antropólogos do enciclopedismo. No
173
entanto, os filmes do corpus que trato aqui não se podem colar apenas a esta última acepção.
Benjamim Pereira estava consciente da dimensão sensorial e performativa que só a linguagem
fílmica podia dar. Julgo que podemos afirmar, em relação ao grupo de etnólogos que trabalho
neste capítulo, que o papel da imagem não pode ser considerado, usando a classificação de
MacDougall, apenas na sua acepção ilustrativa, mas também na sua acepção reveladora. Para
isso, e não obstante, devemos tomar a imagem como um todo que inclui a fotografia, o
desenho, e também o aspecto visual das descrições escritas, com o uso de uma linguagem que
remete para a materialidade dos objectos e das tecnologias ou o aspecto sensorial e visual dos
rituais. Tome-se, por exemplo, a conferência de Benjamim Pereira em 1992 onde, a propósito
de cada um dos três filmes feitos com o IWF (Uma malha de centeio em Tecla, Pisoagem em
Tabuadela e Romaria de S. Bartolomeu do Mar), é elaborada uma descrição detalhada, visual,
redundante no seu empiricismo do que se observa no filme. O texto descreve por exemplo, o
ritual da ‘queima da anha’ presente no primeiro destes filmes aqui apresentados, da seguinte
forma:
Os homens, à luz de lampiões e archotes de palha volvem a cantar o Kirie; um deles
sobre uma escada encostada a uma árvore e faz um relato, em tom de sermão,
caricatural ou sarcástico, sublinhando os acontecimentos do dia mais significativos, o
comportamento dos diferentes grupos de malhadores, declarando os vencedores e os
vencidos [...]. A cerimónia encerra-se com a queima da anha, acompanhada dum pranto
de despedida burlesco, excessivo, e ruidoso e com o enterramento das cinzas do
suposto animal sacrificado (Pereira, 1992: 127).
Podemos afirmar que esta apresentação se encerra num realismo etnográfico
semelhante ao que Clifford Geertz chamou de transparência, referindo-se às descrições
intensamente visuais, de certo modo novelísticas, de uma escrita com uma qualidade
cinemática. Da mesma forma que a escrita etnográfica do grupo de Jorge Dias tem esta
visualidade, os filmes, em sentido contrário, parecem estar a conter o seu potencial sensorial e
transformam-se em filmes da descrição, uma característica inerente à escrita. Todavia, os
filmes do grupo de Jorge Dias, em especial os do ciclo do linho, mas também, por exemplo, os
das romarias filmadas com os alemães, ultrapassam a dimensão puramente descritiva e,
embora essa não fosse uma intenção clara, neles revemos uma atitude estética que evidencia o
sensorial. MacDougall analisa a especificidade do filme por relação à escrita etnográfica que
“cria a distância necessária da experiência permitindo a análise e teorização” realçando, para
aquilo que nos interessa aqui, a linearidade da escrita em relação à imagem. Para descrever os
detalhes presentes numa imagem seria necessário fazer uma lista exaustiva que não podia ser
174
nunca tomada como uma totalidade: a própria ideia de descrição remete para a de escrita.
Description is a linear, aggregative process. The word itself derives from writing
(scribere). In the case of films we would be better advised to use the word depiction.
Rather than telling us, in the voice of a writer, a film presents us with a series of scenes.
Unless there is a spoken commentary, the narrative of a film is always something
unsaid, something implied (MacDougall, 2006: 49).
Se é contra semelhante característica da linguagem visual que estes filmes parecem
estar a lutar, por outro lado, existe também no discurso fílmico, por relação à escrita, uma
redundância indiscriminada, ou seja, a imagem em movimento tem uma capacidade limitada
para filtrar aquilo que já sabemos e conhecemos. O filme pode incluir massivamente o detalhe,
o que explica a escolha, por parte do filme etnográfico clássico, do tema da cultura material,
visto que os objectos tendem a resistir às explanações e significações abstractas. Se no trabalho
da equipa de Jorge Dias a relação entre etnografia e imagem se torna verdadeiramente axial,
não chegaria nunca a ganhar uma autonomia que teria permitido potenciar o seu uso. No
entanto, e dito isto, a riqueza destes filmes não está na sua estratégia global como
instrumentos de pesquisa, mas sim nas suas particularidades, no tratamento cuidado que é
dado a cada gesto que se filma e nas tentativas sempre claras de mostrar aspectos do mundo
visível, não construído. Paradoxalmente, e apesar dos limites e constrangimentos práticos, mas
também teóricos e metodológicos, estes documentos visuais, libertos de um discurso que use a
palavra – a palavra do especialista, ou a palavra do actor social –, revelam-se cada vez mais
espessos e complexos à medida que a história nos afasta do contexto social filmado, tornandoo cada vez mais exótico e, portanto, mais perto do estatuto de um objecto artístico. De certo
modo, com o tempo, eles ganham em termos de “imaginação cinemática”, isto é, do desejo de
criar um espaço de interpretação ao espectador. Podemos dizer que, entre a descrição e a
experiência das coisas, existe um espaço que o filme pode dar. A passagem do registo em
película para uma atitude “cinemática” não deve ser vista em oposição aos usos científicos do
filme, mas como uma mudança dentro da própria antropologia, que julgo estar já presente na
fase tardia deste conjunto de filmes que trato aqui:
If ‘cinematic’ qualities have emerged in anthropology and other disciplines, it should not
be assumed automatically that they have been inspired (or contaminated) by the
cinema –that would be too great a claim- but rather that these disciplines have
experienced a shift in parallel with what occurred in cinema itself. It is possible,
however, to find traces of such tendencies much earlier in the history of anthropology”
(MacDougall, 2006: 245).
175
A atitude que identifiquei neste filmes relaciona-se com todo o contexto relativo à
demárche teórica, aos interesses e fascínios por certos universos da cultura popular deste
grupo de etnólogos. Mas relaciona-se também, como vimos, com aspectos particulares e
interesses individuais de protagonistas como Margot Dias ou Benjamim Pereira, e não tanto
com um movimento mais internacional ligado ao filme etnográfico a que estes estivessem
ligados. Sabemos que o primeiro festival aberto a filmes feitos por etnólogos foi o Festival dei
Popoli em Florença, Itália, em 1959. Nele fez-se em 1966 o seminário “Evaluation of
Ethnographic and Folcloristic Films”, a primeira grande discussão de balanço do que estava a
ser feito pelos etnólogos em termos de filme. O mais importante encontro desta época foi no
Colóquio da University of California em Los Angeles (UCLA), em Abril de 1968, onde, entre
outros, estavam Timothy Asch, Asen Balikci, David and Judith MacDougall, Jean Rouch, Colin
Young, e muitos outros. Este encontro precedeu a Conference on Visual Anthropology durante
o IX encontro ICAES,129 considerado o acto fundador – que gera o mito fundador – da chamada,
desde então, Antropologia Visual, e que deu origem à obra Principles of Visual Anthropology,
editado por Paul Hockings em 1975 (Piault, 2007: 347). Porém, os etnólogos portugueses
estavam longe destas iniciativas. Pina Cabral considera que “a existência de uma relação
ambígua com a comunidade científica internacional explica muitas das singularidades que
caracterizam o desenvolvimento da ciências sociais em Portugal”, e que há uma
“descontinuidade dialéctica entre a inovação forjada no contacto com aprendizagens no
estrangeiro e a subsequente paralisação interna” (1991: 15)130. Julgo que há mais factores a
acrescentar a esta discussão, mas este explicita claramente o facto de ter existido, em Portugal,
filme etnográfico, mas não uma Antropologia Visual.
Conclusões
Julgo importante insistir que, na recente produção antropológica, há uma espécie de rejeição
do filme etnográfico. Para a entender, convém ter em conta as discussões sobre o lugar da
129
International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences (ICAES).
Este autor considera, a propósito do trabalho de Jorge Dias, que apesar de este ter tomado conhecimento, no
decorrer dos anos 1960, da existência de aproximações alternativas no estudo das populações rurais europeias,
“não parece ter compreendido as implicações teóricas da nova metodologia”, faltando o seu trabalho sobre Rio de
Onor de “uma grelha interpretativa”. Pina Cabral considera esta monografia como uma “acumulação de
observações etnográficas não relacionadas” e afirma que, durante toda a década de 1960 e 1970, e depois da sua
morte “os antigo colaboradores de Jorge Dias na recolha da etnografia portuguesa, continuaram a trabalhar
afincadamente na perspectiva do culturalismo descritivo por ele advogado” (1991: 35-36).
130
176
visão e do visual no desenvolvimento da cultura ocidental (Levin 1993) e, também, na própria
Antropologia (Clifford, 1988). Estes debates ocupam-se com a natureza construída das
representações visuais a partir do recurso a determinadas técnicas, como a perspectiva ou o
uso de enquadramentos e composições constrangidas. De facto, a natureza construída dos
textos (Clifford and Marcus, 1986) e a ideia do trabalho de campo como método em que o
importante é “estar ali” e não “ver”, isto é, como uma nova prática visual (Clifford 1986: 11)
podem explicar o sucesso que o filme teve a partir de certa altura na história da Antropologia,
especialmente na primeira metade do século XX. A visibilidade das coisas como critério para a
sua existência, que Grimshaw explicitou para o período anterior, é agora substituída pela ideia
da experiência. O filme ocupou este lugar da experiência na Antropologia porque havia uma
longa negligência no uso mais sério e autonomizado da imagem. No seu início, a Antropologia
Visual tinha como agenda preencher esta lacuna. Se, inicialmente, a ênfase foi colocada no
modo como o filme podia ser usado na pesquisa antropológica (Hockings, 1975), ele era
também considerado na sua vertente humanista, como uma forma de defender alguns valores
liberais e como uma área da antropologia que se ligava a um público mais vasto, ideia esta que
é criticada por Wilton Martinez (1990). Mais tarde, MacDougall defende que o contributo do
filme etnográfico é mais teórico do que metodológico. Compreendido nesta perspectiva, o
filme etnográfico constitui um sistema visual, e a Antropologia Visual passaria a ser uma
antropologia dos sistemas visuais, ou, mais ainda, das formas culturais visíveis (Morphy e
Banks, 1997: 5). Cada vez mais, filme e fotografia são percebidos não apenas como meios de
registo de dados por e para os antropólogos, mas como dados em si mesmos, sob a forma de
produtos vindos da televisão, cinema, arte turística, indigenous media, etc (Morphy e Banks,
1997: 14).
Na antropologia contemporânea, e em especial com a preponderância do chamado
cinema de observação, o uso do filme é tido como meio de expressão, mais do que mero
instrumento de recolha. Há, portanto, uma associação mais estreita entre o processo de
recolha e a emergência progressiva de questões, de descobertas:
By focussing upon discrete events rather than upon mental constructs or impressions,
and by seeking to render faithfully the natural sounds, structure, and duration of events,
the filmmaker hopes to provide the viewer with suffucient evidence to judge for himself
the film's larger analysis... (observational films) are essentially revelatory rather than
illustrative, for they explore substance before theory. They are, nevertheless, evidence
of what the filmmaker finds significant (MacDougall, 1975: 110).
O uso da imagem na Antropologia deve servir, defendo eu, enquanto barómetro para
177
entender a forma como esta se pensa a si própria, na sua relação com o mundo, com variações
de acordo com os países. Cada projecto antropológico vê aquilo que quer ver, de acordo com
um desejo de descobrir ou construir um mundo que seja credível. Grimshaw desafia-nos a ler a
história da Antropologia como um projecto da imaginação visual, em vez de a tomar como um
tipo particular de literatura. Assim, este corpus de filmes do grupo de Jorge Dias só ganha
sentido quando contextualizado com os materiais que o completa, abrindo pistas para todos os
usos da imagem e da visualidade na agenda deste grupo de etnólogos.
Finalmente, em relação à forma como estes filmes podem ser incluídos no projecto mais
lato de conceber o país e a nação, julgo que eles se relacionam não tanto com o nacionalismo
enquanto discurso ideológico e político, mas com um processo prático de partilha e formação
da identidade nacional. De certo modo, a ligação destes filmes à etnologia europeia, em
especial a alemã, mostra como a sua realização bebeu desse projecto marcado
ideologicamente pela ideia de salvar, organizar e arquivar a cultura popular nacional. Alguns
autores, como Lofgren (1989), mostram como a retórica nacionalista foi usada em conflitos
hegemónicos e também o modo como activistas e intelectuais, em especial na Europa de finais
do século XIX e com repercussões na centúria seguinte, ajudaram na elaboração de um
conjunto de ingredientes que, quando misturados, permitem passar de um Estado para uma
Cultura nacional. Esta é vista como partilhando um capital simbólico do qual faz parte, para
além da cultura popular, uma mentalidade, um conjunto de valores, um gosto comum, uma
paisagem característica, ou uma galeria de mitos e heróis. Este processo de criação da
identidade nacional transforma, de certo modo, uma retórica e uma construção ideológica em
algo que, mais tarde, será tomado como fazendo parte integrante dessa identidade, numa
espécie de processo de naturalização (Lofgren, 1989: 9). De certo modo, a cultura popular, e o
discurso que sobre ela é reproduzido nos filmes que tratamos, ao ser registada e portanto
fixada para todo o sempre em película, acaba por servir como matéria plástica, objectificada e
sacralizada, para a elaboração de um discurso sobre a identidade nacional. No entanto, como
vimos pela análise dos filmes, a ideia de identidade nacional não parece ser a marca destes
filmes pois ela é sempre recriada a partir de um passado ambivalente em relação à actualidade,
e só pode ser entendida enquanto processo dinâmico de construção e reprodução de um
discurso. Como afirma Kirshenblatt-Gimblett, “despite a discourse of conservation,
preservation, restoration, reclamation, recovery, recreation, recuperation, revitalization, and
regeneration, heritage produces something new in the present that has recourse to the past”
(1995: 370). Neste processo, e remetendo de novo para a ideia de uma visão crítica do discurso
referida por Foucault, vimos neste capítulo como existe por detrás da enciclopedização do
conhecimento dos filmes do Centro de Estudos de Etnologia uma forma específica de pensar,
178
uma missão, que se concebe como correcta, autorizada e intemporal daquilo que entende ser
considerado importante registar, sempre através de um processo de selecção, categorização e
congelamento da cultura popular patrimonializada. Tratou-se de construir uma mundividência
singular, mas que a si mesma se concebia como universal e universalizante.
179
CAP 5. Documentário etnográfico: António Campos e Costa e Silva
As anthropologist filmmaker we will communicate from the subjects to the audience
with the minimum distortion and with the maximum effort to tell the subject’s story the
way they would if they could speak to the audience themselves (Olson, 1988: 271).
Se Portugal deseja guardar algumas imagens da sua memória geográfica, sociológica,
etnográfica, deve-as a António Campos, observador atento de um país pronto a
abandonar os seus costumes ancestrais para se reunir às margens do modernismo
(Passek, 2000: 39).
Após ter caracterizado os filmes do Centro de Estudos de Etnologia, fazendo um balanço das
relações possíveis entre o filme e a antropologia, volto ao momento em que em Portugal se
formava uma geração de cineastas que, na passagem dos anos 1950 para os anos 60, criou uma
alternativa ao cinema do regime. Depois de ter identificado o início do movimento que deu
origem a este cinema, assim como o contexto internacional e nacional das correntes
intelectuais e cinéfilas que o formam, entro agora num outro corpus de filmes. Trata-se da
categoria que denominei, logo no início, de documentário etnográfico, um conjunto de filmes
que, não sendo parte de um projecto científico institucional, como era o caso dos tratados no
capítulo anterior, também não deriva da produção propagandística e pedagógica do Estado
Novo, nem se encontra no encontro da ficção com o real, como era o caso do já analisado e
descrito Acto da Primavera. Finalmente, não podem ser incluídos na deriva modernista e
estrangeirada do movimento do Cinema Novo, embora se cruzem com esta.
Ao longo da tese, tentei identificar uma intenção etnográfica e documental centrada na
representação da ruralidade e na ideia do dar voz ao outro, o povo. Para entender esta via tem
sido necessário problematizar não só a temática dos filmes, o seu conteúdo e escolha de
ambientes, paisagens, personagens e objectos, mas também a sua linguagem, que em geral
assenta na ideia do documentário como estilo cinematográfico que permite representar – de
modo mais livre e visto como mais verdadeiro – o real. Nos cineastas do folclorismo do regime,
nos do Cinema Novo e nos etnógrafos do grupo de Jorge Dias identifiquei a veia documental.
Esta está sempre condicionada a um discurso e uma linguagem que no caso dos filmes do
Centro de Estudos de Etnologia era marcada pela ideia de acumulação e arquivo, no do cinema
do regime pela propaganda nacionalista e, por último, no caso do Cinema Novo pelo
modernismo e pelas vanguardas artísticas.
Falta agora traçar uma linha ligada ao cinema etnográfico assumidamente documental,
180
com realizadores como António Campos em Almadraba Atuneira (1961), Vilarinho das Furnas
(1971) e Falamos de Rio de Onor (1974), Noémia Delgado e o seu Máscaras (1976), Manuel
Costa e Silva em Festa Trabalho e pão em Grijó de Parada e Madanela (1977) ou Fernando
Matos Silva em Argozelo (1977). Estes são alguns exemplos do modo como o olhar etnográfico
ultrapassou o espaço restrito da etnologia. Como afirma Sarah Pink (2007), “ the
ethnographicness of any image or representation is contingent on how it is situated,
interpreted and used to invoke meanings and knowledge that are of ethnographic interest”.
Neste capítulo vou caracterizar este cinema de várias formas. Em primeiro lugar, numa
perspectiva histórica, retomo aqui alguns aspectos do contexto intelectual que a partir do neorealismo marcam os movimentos artísticos e intelectuais que darão origem a este olhar. Em
segundo lugar, parto da análise do género cinematográfico que era ferramenta deste cinema,
tentando ver como se construiu uma ideologia ligada à missão etnográfica e de registo
centrada naquilo que se entendia ser o documentário ou o filme etnográfico. Em seguida, e a
partir de casos particulares, em especial o de António Campos e Manuel Costa e Silva, tentarei
perceber, através da análise do percurso individual e das vivências e sociabilidades que
marcaram fundamentalmente o primeiro, a forma como foi construído um ethos de humildade
perante o outro com a missão de lhe dar voz.131 Veremos como estes realizadores, mediadores
e objectificadores da cultura popular, se imaginam e se romantizam a si próprios numa missão
de desocultar um mundo que parecia estar a acabar, o mundo rural.
Como afirmava Campos, “o meu sonho desde há muitos anos era ter um camião, uma
furgonete, um meio de transporte qualquer e ter lá a máquina de filmar, o gravador, e
percorrer o país e ir gravando, contactando, registando costumes que vão desaparecendo, ou
que estão lá mas as pessoas desconhecem, acho que seria uma via extraordinária.”132 Pouco
tempo antes de morrer, o realizador reafirma que, desde o início da sua actividade em 1957,
“alimentava no espírito fazer o que agora se diz em tom publicitário: conheça Portugal antes
que desapareça!”133 Em especial a partir de Almadraba atuneira o seu cinema documental
reflecte esta postura, à medida que se vai tornando cada vez mais depurado na intenção ética e
moral de dar voz e devolver os gestos do povo com precisão etnográfica. Finalmente irei tratar,
a partir da análise de algumas cenas dos filmes, as representações que estes fornecem do país
e da sua cultura popular. Passamos assim da formulação histórica para a análise do discurso e,
131
Uso aqui o termo ethos tal como ele foi utilizado por Bourdieu, entre outros, para se referir ao “conjunto de
disposições éticas que orientam as ações dos indivíduos. O ethos distingue-se da ética ou da moral na medida em
que se trata de disposições de carácter prático, nem sistemáticas, nem intencionais” (Silva, 2000: 56).
132
Entrevista à RTP a propósito da estadia em Vilarinho das Furnas, transcrita do excerto usado no documentário
que realizei Falamos de António Campos.
133
cit. in Madeira, 2000: 22.
181
deste, para os conteúdos, em especial a relação com a paisagem como um espaço que adquire
uma certa autonomia narrativa, “lugar onde as coisas acontecem, onde algo começa e se
desenvolve” (Lefebvre, 2006: 52). Para além destes realizadores e pessoas associadas a eles, é
importante mencionar, por razões diferentes, também o cinema de Paulo Rocha em Mudar de
Vida (1966) e Fernando Lopes, em especial no seu Nós por cá todos bem (1976).134 Estes filmes,
associados ao movimento do novo cinema, são aqui, mais pelo seu papel aglutinador e social do
que pela sua linguagem, peças centrais para pensar a rede em torno da qual se formou e
reproduziu a ideia de um cinema documental etnográfico em Portugal. As ligações são
complexas e nem sempre claras, mas vejam-se dois exemplos: Paulo Rocha foi uma espécie de
criador e incentivador do cinema de Campos, que vinha do amadorismo e da província. É graças
à colaboração e à amizade entre os dois que, por exemplo, o realizador de Vilarinho das Furnas
decide ir filmar esta aldeia antes que se afundasse nas águas de uma barragem. Por sua vez,
Campos trabalha com este realizador variadas vezes, como operador de câmara. Fernando
Lopes, pelo seu lado, fez montagem dos documentários de Manuel Costa e Silva e este último,
aquando do ciclo e homenagem que a Cinemateca lhe fez em 1979 tomou conta da pesquisa e
organizou a bibliografia e iconografia do catálogo (Andrade, 1997).
Para além disto, tanto Paulo Rocha como Lopes, presidente eleito do Centro Português
de Cinema entre 1969 e 1972, estão ligados à ideia de um Museu da Imagem e do Som, um
museu “da realidade portuguesa onde cada realizador mostraria a sua região, ou a sua região
cultural” (Andrade, 1997: 86) e que é um claro projecto de incentivo e acolhimento de um
cinema de cariz etnográfico sobre o Portugal rural. Na prática, a menção no genérico dos filmes
da sua pertença a este museu parece ter sido a única medida efectiva deste programa lançado
em 1967. Terá sido António Reis o teorizador e grande dinamizador deste projecto, como
veremos no próximo capítulo, a propósito de um cinema em que a dimensão do registo e da
componente etnográfica se transforma numa nova e inusitada modalidade de olhar a cultura
popular.135 No entanto, um realizador como Campos sabia da importância do seu cinema
etnográfico. Referindo-se aos seus Vilarinho das Furnas e Falámos de Rio de Onor, dizia: “daqui
a 30 ou 40 anos é que vão recuperar o seu valor, porque então serão páginas de história”.136
134
Poderíamos incluir neste grupo de filmes, pelo acento documental e etnográfico, também O movimento das
coisas (1982), de Manuela Serra. Filmado durante cerca de 12 anos, a partir de 1974, este filme é um caso único
em que o registo da cultura popular e da vida rural não se centra na vida pública da comunidade, no trabalho
agrícola, na festa e no ritual mas sim na vida doméstica e familiar do quotidiano de uma família do campo.
135
A primeira vez que se terá falado publicamente deste Museu foi em Dezembro de 1967, na mesa redonda que
encerrou os trabalhos da Semana do Novo Cinema Português. A produção de um conjunto e documentários do
tipo “museu da imagem e do som” (designação inspirada no museu homónimo inaugurado no Rio de Janeiro em
1965) foi uma das deliberações saídas estados gerais do cinema português.
136
Graça Menitra, “Retratos: António Campos, cineasta”, Jornal de Leiria, 16 de Abril de 1992, p.35. (cf. Penafria,
2009, p. 11 dos anexos).
182
Esta é uma característica que atravessa todos os filmes tratados nesta tese: a ideia de um
cinema que embora muitas vezes construído em torno da ideia do passado – imaginado,
construído e seleccionado - se remete a si próprio para um futuro em que, enfim, será tomado
como testemunho de um certo país.
Neste capítulo, trato de filmes em que a ideia documental, de registo, de urgência de
filmar um mundo em acelerada transição é muito importante. Alguns são mesmo registos cujo
guião é – como no caso de Noémia Delgado, que se baseia na obra de Benjamim Pereira ou no
de António Campos, que por sua vez se inspira em Jorge Dias – colado aos textos produzidos
pela etnologia institucionalizada. Por vezes, nessa tentativa de passar da linguagem escrita para
a cinematográfica, do período histórico a que se referem os textos originais para um tempo
fílmico, estes realizadores geram objectos cuja estranheza decorre, em parte, de uma
representação essencialista137 e atemporal do mundo. Como afirma Eduardo Prado Coelho, que
identifica a vaga de documentário etnográfico com um “movimento antropológico”, estas
obras alimentam-se de uma certa ficção da cultura popular, no sentido em que “por um esforço
pertinaz de abstracção, estes filmes fingem que uma determinada realidade permanece
inalterada, e procuram filmá-la na sua intangível pureza através do recalcamento de tudo
aquilo que poderia perturbar a nitidez matinal do retrato” (Coelho, 1983: 70).
Em termos de linguagem, e para usar uma distinção de José Manuel Costa (2000: 57),
estes são filmes que mostram, mais do que sugerem. Nesse sentido, afastam-se da visão
bucólica, folclorizada e romantizada do povo, para se aproximarem de uma visão que não deixa
de propor um bucolismo alternativo, numa visão mais crua e concreta, centrada na rudeza,
rusticidade e no trabalho a partir de dispositivos formais de constatação e de realismo como a
captação de acções em directo, a entrevista ou a reconstituição documental. Trata-se de usar
uma certa contenção, alternando efeitos de poética ou de contemplação com uma deriva para
o registo preciso de processos ou sequências como o fabrico do pão, o nascimento de um
vitelo, um ritual, uma sementeira. No conjunto de filmes que trato aqui, encontrei sequências
claramente de registo etnográfico (a matança do porco em Nós por cá todos bem, as malhas no
Festa, Trabalho e Pão). Estas sequências acentuam a dimensão colectiva, afirmando que nestes
filmes o personagem é a comunidade. Por outro lado, estes não são filmes tão marcados pela
vontade do arquivo – no sentido museológico, que vimos antes – e da constatação, sendo as
sequências marcadamente de registo etnográfico muitas vezes um pretexto para filmar a
relação dos homens com a natureza, ou o sentido telúrico da paisagem. Às sequências de
137
Uso aqui o termo “essencialismo” no sentido em que estes filmes tendem a caracterizar a vida social como
tendo uma essência ou um núcleo cultural fixo, imutável.
183
registo etnográfico é por vezes dada, acrescentada, uma certa poética através, por exemplo, do
uso da música. No caso de Noémia Delgado, em Máscaras, por exemplo, veja-se a cena da ceia
dos rapazes cujo som foi retirado e substituído por uma banda sonora clássica e erudita, num
gesto que encontráramos também no Almadraba de Campos em que Stravinsky é a banda
sonora da pesca do atum. Ao re-sonorizar os registos do real, estes realizadores afastam-se do
registo cinematográfico etnográfico e aproximam-no do poético, de um certo deslumbramento.
Estes são, portanto, filmes que estão entre a constatação e a imaginação etnográfica. Neles
está presente uma tensão entre intencionalidades que parecem opor-se criando desequilíbrios
dentro do filme: à oposição vertical entre ficção e documentário, acrescenta-se aqui a oposição
entre o registo do mundo e uma certa visão do mundo.
A emergência do documentário etnográfico
Recuemos ao momento em que, na passagem dos anos 1950 para a década de 1960, se
desenvolveram duas vias que identificámos como geradoras deste cinema imaginado como
etnográfico, amador e documental: o neo-realismo e o cineclubismo. A primeira, ligada a este
movimento social e cultural tinha a ver, como sabemos, com os usos da imagem enquanto
lugar de resistência e de subversão. Trata-se da instância segundo a qual, como tem sido
estudado pelo território da cultura visual, o efeito dos objectos visuais criados dentro de certas
condições sociais podem ser analisados. Como afirma Gillian Rose “an image is at least
potentially a site of resistance and recalcitrance, of the irreducibly particular, and of the
subversively strange and pleasurable”. No caso particular do modo de olhar que marca o neorealismo a questão da imagem como forma de tornar visível a diferença social é um aspecto a
notar. De facto, “a depiction is never just an illustration, it is the site for the construction and
depiction of social difference” (2001: 10). A segunda via que analiso aqui – a dos cineclubes
como lugares que permitiram a este cinema ter um certo tipo de existência – relaciona-se com
o modo e as condições em que foram vistas, recebidas, estas imagens. Nos estudos sobre
cultura visual tem sido destacada a importância de tratar a imagem do ponto de vista da
audiência, o modo como o sentido das imagens é renegociado, apropriado, rejeitado por certas
audiências. Em resumo, as circunstâncias em que um filme é visto são centrais para a sua
recepção (cf. Rose, 2001: 25).
Estes movimentos ou tentativas de, num determinado período, encontrar formas
alternativas de fazer e receber imagens foram geradores de rupturas e, apesar de entre eles
existirem posições políticas distintas, permitiram o aparecimento de um movimento de
184
intelectuais com inspiração neo-realista. Esta é uma geração que tenta construir uma ideia de
nação e de cultura nacional alternativa à do Estado Novo, apesar de existirem óbvios
fenómenos de persistência e continuidade entre a ideia de uma nação alternativa e a
dominante. Como afirma José Neves (2010: 192), no seu estudo sobre nacionalismo e
comunismo, há elementos de estruturação do trabalho imaginativo que são partilhados por
intelectuais com posicionamentos políticos antagónicos, ou seja, é possível a continuidade
cultural conviver com a descontinuidade política. Para além das questões da representação do
país, em particular da cultura popular, e tomando agora em braços a que podemos encontrar
no cinema de cariz documental, em que a ideia de verdade e autenticidade da representação
do povo é imaginada como uma missão, trato aqui a questão da linguagem, do género
cinematográfico.
Ao traçar este percurso, procuro encontrar a genealogia do aparecimento de um
movimento que já Prado Coelho (1983: 72) tinha denominado de “antropológico”, organizado
em torno de realizadores como António Campos, Noémia Delgado ou Manuel Costa e Silva.
Este diferencia-se, em certos aspectos, daquele que traçamos para os seus contemporâneos do
Cinema Novo. Trata-se, como vimos, de uma geração mantida por uma dependência dos apoios
aos filmes e das bolsas de estudo, uma geração que controlava, mesmo antes do 25 de Abril,
todos ou quase todos os lugares da instituição cinema, tendo nas mãos o poder de produzir,
ensinar e criticar, apesar do seu aparente alinhamento político à esquerda.
Por outro lado, esta foi a geração que internacionalizou o cinema de autor português,
afastando-o ao mesmo tempo do público nacional. Paulo Cunha tem trabalhado, entre outras
temáticas, sobre a recepção crítica ao novo cinema português a partir da análise da
correspondência entre o SNI e os festivais de cinema internacionais138. De acordo com esta
pesquisa, entre 1958 e 1973, com o novo diretor do SNI, César Moreira Baptista, parte do
financiamento destinado ao cinema foi desviado para outras atividades culturais e o governo
decide apostar em bolsas de estudo para formação técnica. Quanto à presença em festivais, o
historiador afirma que os filmes mais escolhidos são os turísticos ou de propaganda, mas
Fernando Lopes, António Macedo ou Paulo Rocha são também eleitos, no seguimento de uma
série de processos de negociação. Em especial o produtor António Cunha, a par de Francisco
Castro, parece ter um poder de negociação grande com o SNI, mantendo uma estratégia de
138
Numa comunicação intitulada “Recepção crítica ao novo cinema português no estrangeiro” a que assisti em
Janeiro de 2012 no âmbito do Seminário de trabalho sobre Cinema Português, organizada por Tiago Baptista
(IHC/FCSH-UNL).
185
internacionalização139. Ainda segundo Cunha, Manoel de Oliveira é uma chave para perceber
esta internacionalização do cinema português. O realizador, que tinha estado sem filmar entre
1942 e 1956 faz em 1957 O pintor e a Cidade que é mostrado em Cannes. No seguimento desta
projeção André Bazin dos Cahiers du Cinéma passa um Verão em Portugal, onde vê todo o
cinema de Oliveira. Publicado um artigo sobre o cineasta, e, poucos anos mais tarde, um
dossier sobre o Mudar de Vida de Paulo Rocha – que esteve em Berlim, Veneza e Cannes. Nasce
assim o mito do cinema português e cria-se em 1971, o Centro Português de Cinema.
De certo modo, um cineasta como Campos, que afirmava, na senda dos neo-realistas, o
documentário como uma missão, que mantinha ligações com o Partido Comunista140 e que, por
outro lado, encontrou nos cineclubes os seus aliados e o seu público por excelência, acaba por
fazer, embora de forma discreta, e mantendo-se sempre numa certa margem e no
amadorismo, um corte mais radical e efetivo com o regime vigente do que os seus
conterrâneos ligados ao movimento do Cinema Novo. Paulo Granja, também ele historiador do
cinema português,141 pode ajudar a entender o ambiente intelectual que se vivia à época,
colocando esta questão em termos de duas concepções de cinema – por parte da crítica
cinematográfica nacional – que se demarcam na década de 1960. Por um lado, uma vertente
neorrealista e baseada na teoria marxista que considera a arte como reflexo da realidade social
e valoriza um cinema socialmente empenhado. Por outro, a concepção do cinema moderno,
que recusa a subordinação ao social, valorizando a ideia de autor, justamente aquilo que
defendia Bazin. Trata-se, no fundo, da dualidade entre as duas correntes de opinião a que se
ligam as duas publicações: a Vértice142 com simpatia dos críticos e intelectuais conotados com o
comunismo (Alves Costa, Lauro António, Vasco Granja, João Cochofel) e O Tempo e o Modo,143
139
Entre 1962 e 1968 todos os filmes produzidos por Cunha Telles (5 deles são co-produções) vão a festivais
internacionais.
140
Em 1976 Campos filma Paredes pintadas da revolução Portuguesa produzido pela Célula de Cinema do PCP à
qual pertenceu. Este dado é referido por Penafria que em nota de rodapé avança que obteve esta informação
junto de Henrique Espírito Santo, que “fez questão de sublinhar que Campos ia ás reuniões e colaborava com o
partido quando assim o entendia, e que esta sua atuação era coerente com uma personalidade muito ciosa da sua
própria autonomia e um nunca sentir-se obrigado a nada” (Penafria, 2005: 214).
141
Trata-se aqui também de reflexões surgidas das discussões do já referido Seminário de Trabalho sobre cinema
português onde Granja falou da relação entre a crítica e o cinema moderno em Portugal, a partir da recepção
nacional aos filmes de Antonioni nas décadas de 1950 e 1960.
142
A Vértice é uma revista portuguesa de cultura e arte, fundada em Coimbra, em 1942. Em Fevereiro de 1945 (n.º
4-7), sob uma nova direcção integrada por um grupo de jovens, torna-se uma tribuna do movimento neo-realista
português e um instrumento de resistência à ditadura do Estado Novo. Os dez primeiros anos da revista Vértice
revelam até que ponto este órgão, considerado como porta-voz do movimento neo-realista, era simultaneamente
um laboratório de ideias progressistas e garante de uma ortodoxia.
143
Revista fundada em 29 de Janeiro de 1963, tendo como primeiro diretor António Alçada Baptista. Ligada à
Editora Moraes e à coleção do Círculo do Humanismo Cristão. Mobiliza, na sua primeira fase, uma série de
intelectuais católicos críticos do salazarismo, como Nuno de Bragança, Pedro Tamen, João Bénard da Costa,
186
ligada ao catolicismo progressista, com nomes como Nuno Bragança ou Alberto Vaz da Silva.
Estes últimos intelectuais valorizam no cinema a visão subjetiva e pessoal do realizador, o
carácter metafórico do cinema, os personagens fora de um espaço-tempo, ou a arquitetura
modernista tão presente em Antonioni ou nos Verdes Anos. Os outros, por seu lado, salientam,
nos filmes que criticam, o facto da película dar lugar a uma visão “progressista” da realidade,
com personagens ancoradas no mundo concreto e uma concepção essencialista do cinema – o
cinema representa uma realidade e o seu tempo.
António Campos, fora dos debates intelectuais, tinha, apesar do seu tão modernista A
Invenção do Amor (1965), consciência desta ligação do cinema com o mundo concreto e
consequente engajamento social de quem realizava. Mas ao contrário dos que realizava o
cinema revolucionário do PREC, Campos partia da observação e do registo, mais do que de um
discurso em off, impositivo. Como explicita o realizador, “se eu for a um mercado e vir as
peixeiras ou os homens a descarregarem batatas, não os vejo sob o prisma de os transformar e
fazer com eles um filme de ficção; o que me interessaria seria agarrar na máquina e seguir um
dos homens, saber onde ia ele comer, se tinha mulher, filhos, onde vivia, enfim, para ele me
contar as suas dificuldades, etc. É este o tipo de cinema que me atrai”. 144 O que interessava a
Campos era, na origem, o que interessava aos neo-realistas. Como dizia, “o que me levou ao
cinema etnográfico foi o amor que tenho às pessoas, com especial relevo para as mais
desfavorecidas economicamente e que se confrontam com problemas mais graves. Fazer
cinema para mim é auscultar os seus problemas, é um acto de convívio que demora muito
tempo, durante o qual vou criando amizades, ganhando a sua confiança, ouvindo o que têm
para dizer”.145 Ou ainda: “os problemas do povo e o peso dos seus trabalhos aproximam-me
dessa gente e pretendo conhecê-los para os divulgar. Há uma certa identidade que me
atrai”.146 Para este realizador, mais uma vez, o conceito de povo remete para a ruralidade, ou
para as comunidades piscatórias. Aquilo que contextualiza o aparecimento de um cineasta
como António Campos tem portanto origem em debates anteriores, que explicam o modo
Alberto Vaz da Silva, Mário Murteira, Adérito Sedas Nunes, Francisco Lino Neto, Orlando de Carvalho, Mário
Brochado Coelho. Alarga-se a outros sectores da esquerda, como a Mário Soares e a Salgado Zenha, vindos do
MUD, ao então comunista Mário Sottomayor Cardia, e à jovem geração de líderes estudantis, como Manuel
Lucena, Vítor Wengorovius e Medeiros Ferreira. Esta última acaba por preponderar na revista, mobilizando Vasco
Pulido Valente. Em 1967-1968, a revista perde as raízes personalistas e católicas e torna-se mais politizada,
consequência do Maio de 1968, sob a direção de Bénard da Costa e de Helena Vaz da Silva e com a entrada de Luís
Salgado Matos e Júlio Castro Caldas.
144
Borges Palma, João Assis-Gomes, “Uma prática Marginal (I)”, Vida Mundial, 4 de Junho de 1971, pp. 47-48.
(Penafria, 2009: 57 anexos)
145
in Tito Lívio, “Encontro com os novos cineastas ‘Fazer cinema, para mim é auscultar os verdadeiros problemas
das pessoas’ diz-nos António Campos” [in Diário Popular, 15 de Julho de 1974 (Penafria, 2009: 3 anexos)].
146
In José Gomes Bandeira, “Vilarinho das Furnas: Novo filme de António Campos”, O Comércio do Porto, 2 de
Abril de 1971, p.16. (Penafria, 2009: 53 anexos)].
187
como ele próprio se vê – fascinado pelo povo e em especial pela dureza do seu trabalho – e é
visto: amador a autodidacta. No entanto, como veremos, Campos foi excluído – ou autoexcluiu-se -do grupo do Cinema Novo, ligado ao Centro Português de Cinema fundado em 1969,
um grupo, como diria Bénard da Costa, com “apetência e capacidade de poder”, (1991: 132).
Por outro lado, existia um contexto alternativo e marginal de circulação dos filmes e das ideias
que tinham, como vimos, acolhido Guimarães, e agora acolhem Campos.
António Campos: contexto social e histórico da sua obra
Em 2009, no decurso da pesquisa com vista à escrita desta tese, e portanto como um trabalho
que a ela se liga intrinsecamente, realizei o filme Falamos de António Campos,147 um percurso
cinematográfico a propósito da vida e do cinema de Campos. Considero que este filme, que
anexo à tese, se constitui como um elemento que permite contextualizar a obra do realizador,
mas autoriza, também, abrir algumas pistas para as reflexões que serão feitas no capítulo final,
sobre a minha actividade enquanto realizadora de documentários e os usos da linguagem
cinematográfica. O filme abre com um plano geral das montanhas do Gerês, desertas e
imensas. A imagem podia ser a de um filme de Campos. No entanto, o som metálico que ecoa
sobre a paisagem cria um estranhamento fantasmagórico. Trata-se, vemos no plano seguinte,
de um rebanho de cabras que sobe a estrada embatendo com os chifres nos separadores
metálicos. Este exemplo mostra como o filme situa ao mesmo tempo a narrativa no passado
dos arquivos fílmicos e num presente não romantizado de paisagens que servem um propósito
mais reflexivo, de centrar a acção na actualidade, relembrando o espectador que algumas
paisagens permanecem mas o olhar muda.
Por esta via, julgo que o carácter deste capítulo é distinto da reflexão feita a partir de
outras cinematografias, uma vez que trata materiais que serviram também para a realização do
meu filme. Foi um percurso em que procurei não só as paisagens e os lugares onde Campos
filmou, mas também as memórias que dele ficaram nos que o conheceram e com ele
trabalharam, além das reflexões de especialistas da sua obra, críticos, familiares, colegas e
colaboradores. Se no início pesquisei material de arquivo na RTP e visionei todos os seus filmes,
147
O meu projeto de realizar um filme sobre o cineasta António Campos, numa altura em que escrevia já esta tese,
foi conversado com o produtor Pedro Borges e o filme acabou por se produzido pela Midas Filmes para a RTP 2 em
2009. Teve a sua estreia nesse ano, no cinema S. Jorge, no âmbito do Panorama do Documentário Português que
apresentava uma retrospectiva deste realizador. Foi o filme de abertura do mesmo. De notar em especial a
colaboração de alguns nomes da sua ficha técnica: Pedro Paiva (câmara), Olvier Blanc (som) e Pedro Duarte
(montagem).
188
já durante a rodagem, e através de um familiar descobrimos material inédito filmado por
Campos nomeadamente o seu primeiro filme Rio Liz, de 1957.148
Fig. 14. António Campos, filme pessoal.
O material resultante da elaboração deste filme, nomeadamente as extensas entrevistas
elaboradas, servirá assim, neste capítulo, para complementar aquilo que o filme não mostra.
No projecto do filme, apresentado a concurso pela produtora Midas Filmes à RTP2, caracterizei
as intenções do projecto que me propunha elaborar:
Este é um retrato de um cineasta excepcional, mas esquecido, a que chamaram amador, o
mais singular dos realizadores portugueses pelo modo como filmou o país nas décadas de
60 e 70, António Campos. Considerado um realizador à margem, um solitário, que
trabalhava sem meios e com a cumplicidade de alguns, Campos representa para mim a
paixão de filmar. Nasceu em Leiria no dia 29 de Maio 1922 e morreu na Figueira da Foz a
7 de Março de 1999. Natural de Leiria, aí integra o Grupo Dramático e é funcionário
administrativo da Escola Industrial. Em 1961 parte para Londres com uma bolsa da
Fundação Calouste Gulbenkian, instituição em que trabalhou entre 1970 e 1977. Foi
assistente de realização de Mudar de Vida (1966), de Paulo Rocha. Na sua obra
encontramos algumas ficções, filmes sobre arte, mas o que nos vai interessar mais são os
documentários em que Campos filmava, a preto e branco e mais tarde a cores, o povo, os
148
As bobines em 8 mm foram-me dadas por Fernando Cruz, casado com uma filha de Manuela, a prima de
António Campos com quem este cresceu desde pequeno, e que o acompanhou em toda a sua carreira. Continham
uma série de registos amadores e que diziam respeito à vida pessoal e familiar, assim como o registo de uma
viagem a França, Carcassonne, onde participou num festival.
189
pescadores, os camponeses, tais como A Almadraba Atuneira, (1961), em que o realizador
regista a última campanha do atum do arraial que desaparece pouco depois, Vilarinho
das Furnas, (1971), em que testemunha o desaparecimento de uma aldeia comunitária,
Falamos de Rio de Onor, (1974), em que uma jovem procura o Trás-os-Montes perdido,
Gente da Praia da Vieira, (1975), mas também ficções como Histórias Selvagens, (1978), e
em especial A Invenção do Amor, (1965) inédito em Portugal e só recentemente
recuperado. Interessa-me nos seus documentários o modo como o realizador se apaga
não impondo a sua visão do mundo, como dá lugar ao outro, ao povo, que respeita, que
olha deslumbrado e com uma urgência de filmar o que está a acabar no país (as tradições,
a festa, a pesca tradicional, os trabalhos agrícolas com arados medievais) mas também o
que está a acontecer no país (a barragem de Vilarinho das Furnas, a expulsão dos
habitantes, as negociações). Interessa-me a geração que neste período procurou de modo
romântico sair da cidade, procurou fixar o rural para o todo sempre, e interessa-me
especialmente em Campos a ligação com a Antropologia, com o Museu de Etnologia, a
amizade com o grupo de Jorge Dias. Quero partir do enigma de um cineasta que, antes de
toda a gente o fazer, trabalhava completamente só. Usando excertos dos filmes, e
mostrando o seu cinema e a importância que este tem, este documentário quer mais do
que tudo encontrar o homem, a pessoa. Para isso, vai procurar reconstituir o mundo em
que vivia, o circuito cineclubista, Leiria e a Escola Industrial, a Gulbenkian, o magnífico
ficheiro de fotografias do Museu de Etnologia, usando para estas reconstituições
fotografias pessoais e filmes amadores da época. Trata-se também de revisitar alguns
dos lugares onde filmou (ilha da Abóbora, em Tavira, a barragem de Vilarinho, no Vale do
Rio Homem, Gerês, Rio de Onor, etc). Aqui e ali, interessa falar com pessoas que dele se
lembram, e também o modo como trabalhava. Em Janeiro de 1969, por exemplo, António
Campos vai para Vilarinho e lá vive durante 18 meses numa casa florestal, o seu amigo e
colaborador numa tenda, enfrentando grandes dificuldades de aceitação pela população
local. No Portugal de 60, um citadino na aldeia remota: “ o que ele quis fixar –em
imagens e sons - foram gentes e sítios com quem se sentia solidário e com quem se podia
sentir mais solitário…”, diz Bénard da Costa. O que o levou a fazer este caminho, marcado
por traços da sua personalidade? “ Quanto mais penso em António Campos, mais o vejo
como um marginal, não no sentido corrente do termo, mas no seu sentido etimológico.
Alguém que quis ficar à margem, alguém que se fixou nessa margem e alguém que só
nessa margem se encontrou.”. De 1970 a 1977, foi funcionário da Gulbenkian, e conta
Bénard da Costa: “eu tratava-o por António Campos, ele –treze anos mais velho do que eu
- tratava-me por Sr. Doutor”, era “um homem encafuado nas caves do edifício, a zelar por
mais dúzia de filmes e a tirar sucessivas licenças sem vencimento para vir cá for a filmar
as praias da vieira ou as paredes pintadas da revolução. Dentro, totalmente à margem.”
(2000:9). Na cinemateca encontramos materiais úteis: fotografias de rodagens,
documentos, as máquinas e equipamentos usadas nos filmes. Trata-se também de falar
com pessoas, juntá-las a duas ou três e entrevistar: Maria Clementina Campos, viúva, e
também os filhos; Colaboradores, como Joaquim Manuel Oliveira; José Manuel Costa,
especialista de documentarismo; Henrique Espírito Santo, produtor e amigo; João Bénard
da Costa, director da cinemateca; Maria João Madeira, organizadora do catálogo do ciclo;
Jean Loup Passek, defensor do seu cinema, etc. Este é assim um filme que reconstitui a
vida e a obra do cineasta, mas que ao mesmo tempo quer mostrar o que era o país,
essencialmente o seu aspecto rural, arcaico, perdido, exótico aos nossos olhos de hoje.
Ao falar de António Campos, tentarei aqui identificar – apesar da singularidade do
190
percurso deste realizador – uma certa forma de representar o país. Para isso, fiz uma pesquisa
centrada na individualidade deste realizador, que de certo modo acaba por marcar este
capítulo da tese. À medida que fui pesquisando a sua biografia, lendo as suas entrevistas ou
visionando os seus filmes, fui percebendo que a linguagem e o olhar que os seus filmes revelam
só podiam ser inteiramente entendidos tendo em conta a individualidade do seu percurso
familiar e pessoal, assim como o contexto social em que cresceu: a cidade de Leiria, o teatro
amador, a ligação às Belas Artes, o cineclube, a ligação à Gulbenkian, etc. Este centramento na
vida e no percurso de um realizador cria uma enorme dificuldade em classificar o seu trabalho
dentro de um grupo, escola, ou época. A circulação por redes sociais e culturais complexas, as
influências aparentemente divergentes, conjugadas com a personalidade de um homem que é
hoje visto como orgulhoso mas humilde, solitário e inseguro, tal como me foi inúmeras vezes
caracterizado nas entrevistas, faz de Campos uma personagem cujo trabalho não resulta de um
conjunto de influências cinematográficas, políticas ou sociais muito claras. Como afirma
Augusto Seabra, “por vezes aparecem-nos pessoas que parece que inventaram o cinema por
eles próprios. E o António Campos era uma dessas pessoas. Não creio que ele tivesse uma
cultura cinematográfica propriamente dita, mas a que tinha não é devida a influências.
Enquanto outros cineastas já estavam marcados pela nouvelle vague ou pelo conjunto dos
novos cinemas dos anos 60 e 70, ele não. Ele inventou o cinema e há momentos de puro
deslumbramento nos seus primeiros filmes, filmes de ficção mas feitos nos locais verdadeiros.
Daí ele ser referido sempre como o amador de Leiria149”.
Neste capítulo, não darei o contexto biográfico e social do realizador, que trato
longamente no filme. Neste, reafirmo que há, como diz Augusto Seabra, uma questão omitida
da reflexão sobre o cinema, que tem a ver com a classe social: “há e houve no cinema
português também questões de classe. E o Campos, sendo por um lado uma pessoa de uma
natureza muito discreta, muito humilde, mas sendo uma pessoa que não fazia parte das
tertúlias de Lisboa, foi posto relativamente à margem”. E Seabra conclui “mas tanta humildade
às vezes chateia”. Na senda desta perspectiva, o filme foca-se no problema da não integração
deste realizador nas tertúlias intelectuais e cinematográficas da época. No entanto, tal como foi
estudado por Bourdieu o “estilo de vida” do artista150 – tal como o do cineasta – pode ser
149
Entre Outubro e Novembro de 2008 realizei entrevistas extensas com vista à elaboração deste capítulo e a
pesquisa para o filme Falamos de António Campos (Midas Filmes, 2009) Os entrevistados foram, para além de
Augusto Seabra (crítico), Paulo Rocha (cineasta), José Manuel Costa (responsável pelo ciclo de Campos realizado
pela Cinemateca em 2000), Acácio de Almeida (director de fotografia), Alexandre Gonçalves (sonoplastia), Pintex
(assistente de som), Luís Capinha e Maria João Franco (colegas de Leiria), Sr. Antunes (morador de Vilarinho das
Furnas), Victor Bandeira (colaborador na Gulbenkian). Agradeço a atenção e o entusiasmo do Olivier que gravou as
entrevistas.
150
Esta pesquisa refere-se ao seu trabalho sobre a questão do ‘gosto’ e do ‘julgamento do gosto’, que o autor
remete para as condições sociais de que ele é produto, sua relação com o capital escolar, etc., com vista a
191
entendido como uma espécie de “demonstração prática da inconsistência e futilidade do
prestígio e dos poderes que ele persegue”, e que encontram a sua origem na disposição de um
ethos. No entanto, afirma o sociólogo:
Pelo facto da legitimidade que lhes é reconhecida, com a condição de que permaneça
desconhecida a sua relação com as disposições e com os interesses próprios a um grupo
definido por um elevado capital cultural e um reduzido capital económico, eles
fornecem uma espécie de limite absoluto ao jogo necessariamente indefinido dos
gostos relativizando-se mutuamente; assim, por uma reviravolta paradoxal, contribuem
para legitimar a pretensão burguesa à “distinção natural” como absolutização da
diferença (Bourdieu, 2006b: 57).
O discurso em directo de Paulo Rocha sobre o que se vivia nesse período explicita e
fornece aqui o contexto, em especial das sociabilidades associadas ao Cinema Novo, para o
entendimento do modo como num realizador visto como marginal, é justamente na sua
marginalidade que vamos encontrar o centro do seu olhar:
O António Campos não tinha nada a ver com os cineastas portugueses, era muito mais
modesto, eu até costumava dizer que ele ainda “tinha nasA”. Tinha um ar e uma
maneira de falar que não era nada adaptada a Lisboa. Ele veio cair na Gulbenkian, que
era finíssimo, e parecia um selvagem no meio daquilo. Eu imagino que tenha sido o
Bénard que tenha influenciado na vinda dele, mas ele acabou por não se dar bem, a
Gulbenkian não era o lugar para ele. Eu, vindo de Paris, tinha começado o Verdes Anos e
ganhei aquele círculo de amigos que eram o António Pedro, o Seixas (Santos), o César
(Monteiro) e o Fernando Lopes. A gente passava a vida a fazer intriga, falar com os
jornalistas e os jovens políticos e eu dizia: “há um tipo de Leiria muito esquisito que
gravou comigo, ele faz coisas tão bonitas” mas na altura o que estava na moda era a
escola de Londres151, onde tinha estado o Fernando Lopes e depois era Paris. Aquela
gente era muito próxima da pintura. Era gente obcecada pela pintura, o marxismo, e a
revolução pura e dura. Era gente à sua maneira, muito snobe. Aqui em Lisboa, o Vá-Vá
“determinar como a disposição culta e a competência cultural apreendida através da natureza dos bens
consumidos e da maneira de consumi-los variam segundo as categorias de agentes e segundo os terrenos aos
quais elas se aplicam (pintura e música, mas também vestuário, mobiliário ou cardápio.” (Bourdieu, 2006b: 18)
151
Paulo Rocha refere-se aqui à chamada escola inglesa do free-cinema, um estilo de documentário desenvolvido
no final dos anos 1950 com o aparecimento das novas câmaras de 16 mm e que revelavam todo um novo modo de
olhar para a vida ‘popular’ inglesa. Um exemplo é o filme We are the Lambeth boys, de Reisz. De notar que, a partir
deste período existem outros movimentos internacionais que marcam estes realizadores, como o Candid Eye no
Canadá e o arranque em França ONF (Michel Brault, em especial). Nos EUA começa o movimento do cinema
direto, a partir de Primary, o filme de 1960 realizado por Leacock e os irmãos Maysles. Sobre este assunto ver
Barnow(1974) em especial os capítulos “Observer”e “Catalyst” e Barsam (1973) em especial “American
Renaissance in the 1960s” e “Tradition and Change in the 1970s”
192
152
era uma espécie de ponte, cruzamento de tudo o que havia fino, moderno. E havia
uma condição que tornava a vida muito fácil, que era a gente poder andar de auto-stop.
Portanto, todos os meus amigos futuros cineastas, todos diziam que sem dinheiro
nenhum tinham ido em auto-stop a Paris, e em 4 dias e tinham visto 5 filmes. O Campos
acabou por arranjar umas bolsas de estudo, mas curtinhas. A certa altura eu projectei
vários filmes dele em minha casa, dei uma espécie de jantar para o António Pedro, o
Seixas, o César e o Fernando Lopes mas as pessoas ficavam assim…aquilo não pegou. Eu
nunca conseguia que eles ficassem devotos por este meu culto particular, fiquei um
bocado decepcionado. Depois ele veio para Lisboa, passou aqui uns anos a vegetar. No
fundo havia uma espécie de abismo social, acho eu. Não é fácil vir do meio de Leiria. [...]
A chamada geração do Cinema Novo é invulgarmente brilhante, eram tipos muito
hábeis, muito inteligentes, alguns superficiais como o António Pedro (Vasconcelos). Eu
admirava-o muito na altura. Um sedutor, bonitíssimo e que sabia de cor montes de
coisas. Era um grupo de gente que estava na moda, muito brilhante. O Seixas conhecia
toda a teoria marxista e da pintura, e eram todos de uma grande arrogância. O
Fernando Lopes era de longe o mais brilhante. É preciso ver que não era comum ter uma
geração de tipos tão brilhantes. Por exemplo, o António Pedro, que ganhava rios de
dinheiro com a publicidade, tinha conta para os amigos no Gambrinus, portanto o
Fernando Lopes ia todos os dias lá jantar e o António Pedro como ganhava muito
dinheiro deixava conta aberta. “Quanto estou a dever?” 1000 contos, uma soma
monstruosa, e o António Pedro no dia seguinte fazia um filme de publicidade e pagava.
Havia um ambiente boémio. O governo tinha a censura e a polícia mas depois havia
aqueles fenómenos citadinos ligados à modernidade, havia o dinheiro novo que vinha da
publicidade e toda a gente tentava circular entre a esquerda e a direita. O Fernando
Lopes conseguia ser amigo de toda a gente. Eu nunca conheci ninguém que fosse tão
influente.
A marginalidade de Campos, a partir da qual ele parece ter romantizado o seu ethos de
documentarista solitário, não é só social, e de classe, mas de certa maneira está naquilo que
este elege como temática para os seus filmes. Na sua maioria, os seus filmes tratam as
comunidades piscatórias ou rurais. Para Seabra, “o que Campos fez foi o registo das margens da
sociedade, e não estou a falar de margens no sentido mais urbano - margens fora dos grandes
centros urbanos, de comunidades. Quando eu digo que ele é um cineasta “das gentes” é no
sentido de cineasta das comunidades, muito fortemente. E ele tinha essa capacidade porque
correspondia também à sua experiência do vivido”. O realizador conta como decidiu fazer o seu
primeiro filme de carácter etnográfico:
O primeiro filme começou a sua gestação quando, numa manhã de Março do ano de
1961, acordei na Ilha da Abóbora ao som de foguetes e buzinas de traineiras que iam
152
O Vá-vá, pastelaria na Av. de Roma em Lisboa era o local de encontro deste grupo, talvez porque Paulo Rocha
vivesse por cima. Como me contou Paulo Rocha: “o Vá-Vá veio a ser a pequena universidade da intriga do Cinema
Novo, estavam sempre ali os críticos, os políticos, os tipos das associações e as namoradas (de todos eles)”.
193
chegando. E eu, ainda estremunhado, não descortinava a razão de tal festa. Observada
a cena, com a água do mar banhando suavemente os meus pés ainda dormentes da
viagem que acabava de fazer, do Barreiro até Conceição de Tavira, num ronceiro
comboio nocturno, tomei, comigo próprio, uma revelação: voltar no ano seguinte, para
ali fazer o meu primeiro filme em 16mm sobre tão curioso acontecimento.153
Quando António Campos realiza A Almadraba Atuneira,154 sobre os pescadores do atum
da zona da ria Formosa este é recebido, apesar do atraso na sua divulgação, como um filme que
revela “um ímpeto que faz lembrar coisas fortes e antigas”, que vem do cinema amador, “de
uma estética que se quer perto do povo e ao seu serviço”. E, escreve o crítico, o realizador “vai
ao mar, à ultima campanha de um arraial algarvio da ilha de Abóbora, arraial que o mar levou
logo após este filme. Rostos, gestos, objectos, esforço, o rude trabalho e o espadanar violento
do atum apressado, disto se faz a Almadraba Atuneira”. Em geral, António Campos é retratado
como “uma personalidade única, solitária, no cinema português (Ramos, 1989)”. A pertinência
de tratar este cinema é portanto para mim, nesta tese, a de encontrar um realizador cujo ethos
se construiu em torno de uma identidade marginal, amadora ou, como me dizia Augusto
Seabra, underground, isto é, que não sendo marcadamente oposicionista ao Estado ou às
estéticas vigentes na produção cultural da época, só pode ser entendido fora do movimento do
novo cinema e da sua oposição a um regime que, ao mesmo tempo, permitia esta oposição e
censurava outro tipo de existência, mais objectivada (cf. Monteiro, 2011: 332).
Outra questão que me levou a eleger Campos como protagonista do documentarismo
etnográfico – para lá da sua obra ficcional, que não tratarei aqui – tem a ver com o facto de
sentir, ao longo da pesquisa, que este foi o único realizador que de facto fugiu da cidade por
longas temporadas, e isto com uma dupla explicação: por um lado, queria deixar um mundo
onde não se integrava e, por outro, queria que a experiência do estar com as populações
ficasse nos seus filmes. Não transportava consigo um guião, uma história pessoal e subjectiva
para ser representada pelo povo, mas sim uma vontade de que da experiência surgisse o guião
e a experiência do outro. Deriva sobre as acepções teóricas do filme etnográfico e do
documentário. Se a obra de Campos tem portanto uma vertente etnográfica, ela pode
enunciar-se de várias formas. A propósito de Almadraba Atuneira, Campos afirma que este
153
Textos CP [Cinemateca Portuguesa], Pasta no 49, p. 344.
A Almadraba Atuneira, 1961. Realização: António Campos, Som: Alexandre Gonçalves. Colaboração dos
pescadores Octávia, Maria Manuela, Escalço Valadas e Malheiro do Vale. Dur. 27 min. Rod. 1961. Estreia 5 de Maio
de 1979 (na RTP/2). Loc. Direcção Geral da Educação de Adultos. 16 mm, pb. Embora o genérico não o credite,
sabe-se que a fotografia, a montagem e a produção são de António Campos (que contou com subsídios do Grupo
Teatral Miguel Leitão e da FC Gulbenkian). (in Leitão Ramos, 1989). Como todos os filmes de Campos foi ampliado
para 35 mm pela Cinemateca no âmbito do ciclo que lhe foi dedicado em 2000.
154
194
filme tem um “valor documental”, pois “conta a vida dos pescadores, desde que chegam,
vindos de todo o Algarve, para se reunirem nessa ilha da Abóbora, onde ficam de Março a
Setembro, a pescar o atum. Eu aí fiquei, também, de Março a Setembro, a assistir às diversas
fases desta atividade155”.
Fig. 15. Rodagem, A Almadraba Atuneira (1961). Cinemateca Portuguesa.
155
Entrevista publicada no Diário de Lisboa, em 07/02/1972.
195
António Campos, embora não viesse directamente do terreno da etnologia foi por ela
contaminado, realizando aproximações ao terreno com estadias prolongadas de investigação
que procuram cobrir a totalidade dos aspectos da vida cultural e social das populações,
aproximando-se do trabalho monográfico de Jorge Dias, que o influencia. No seu filme Falamos
de Rio de Onor (1974)156, Campos utiliza o padre, filmado a fazer um sermão num longo plano
fixo, para fazer passar o discurso daquele antropólogo. Como afirmou José Manuel Costa, na
longa entrevista que me deu, a propósito deste realizador que conhece profundamente, muito
haveria a dizer sobre esse momento em que Campos usa o sermão para fazer passar a
mensagem da monografia:
O plano do padre é uma excepção nas obras dele, é um plano central. Aliás, acho-o um
dos grandes planos do cinema dele e acho absolutamente vital que ele o tenha feito
assim, na sua total ambiguidade. A maneira como aquilo passa no filme cria uma
ambiguidade enorme, mas isso era o António Campos, ele recusava-se a simplificar ou
anular essa ambiguidade. Ele queria que isso lá estivesse dessa maneira. Vamos lá a ver,
aquilo não tem sentido, nós vemos aquela cena e aquela espécie de alerta aos
habitantes em nome de uma caução científica, que é o Jorge Dias, mas que no fundo é
um alerta quase que em nome de uma visão científica para travar os ímpetos
transformadores deles, há um lado conservador nessa atitude. Não é por acaso que ele
filma isto de uma ponta à outra sem cortes. Eu julgo não me ter enganado, contei 6 a 7
minutos de filme, de plano que tanto quanto tenha reparado, é o maior plano que ele
alguma vez filmou. Esse não corte é uma maneira de ele sublinhar que ele não quer
comentar. Ele acha que aquilo que acorda no espectador é uma sucessão de
contradições que o põe a pensar. A humildade no António Campos está sempre ligada a
um grande orgulho. Ele é um homem muito modesto, toda a gente sublinhou isso. É um
homem em que a modéstia é tão grande quanto o seu orgulho, profundamente
orgulhoso. Quando abordava essas teses do Jorge Dias, eu acho que ele achava que
comentar isso, adjectivar, resolver para o espectador as contradições, posicionar-se em
termos políticos ou sociais a digerir isso para o espectador era diminui-lo. Ele achava que
aquelas pessoas, aquele lugar, era qualquer coisa de muito forte que estava à sua
frente, e que ele não tinha que olhar de cima. E fazer isso em Portugal era incrivelmente
forte, tanto antes como depois do 25 de Abril. Antes, em especial, porque ele deu-nos
uma imagem daqueles lugares que mais ninguém deu. Eu acho que esse foi o lado que
me fez ver Vilarinho, os anos passaram e à medida que vemos o filme, nós não vemos
aquele Portugal em mais nenhum sítio, em mais nenhum lugar do cinema português. E
ele de facto esteve lá, filmou aquilo, e está a falar de um afundamento de um país,
quando ele diz “Vilarinho morreu sobre as águas da barragem”, ele está a falar do
afundamento do país.
156
Falamos de Rio de Onor (1974), 16 mm, cor, 63 min. Realização, argumento e montagem: António Campos.
Fotografia: António Campos, Acácio de Almeida. Som : Alexandre Gonçalves. Produção: António Campos com o
patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian – Centro Português de Cinema.
196
Campos afirmava: “se me dissessem para fazer um filme, mas com a condição de não
meter nada de documental, eu responderia : desculpe, mas não me posso comprometer”.. A
propósito de Vilarinho das Furnas, referia que a sua intenção “foi, acima de tudo informativa,
documentar a actividade de Vilarinho. Numa parte diurna decorrem os trabalhos que se
passam durante o dia e depois, criando uma espécie de noite, desenvolveram-se as actividades
nocturnas. Procurei dar a tudo isto uma certa sequência em relação, por exemplo, às colheitas.
Aparece, assim, primeiro a sementeira e depois a colheita”. A fantasia da partilha da vida, a
ideia do trabalho de campo, do entrar na pele do outro é recorrente no discurso mais
romantizado do realizador: “a minha ideia ao fazer o filme foi realizá-lo como se eu fosse de
Vilarinho; por isso mesmo estive a viver lá, a comer lá, a dormir, a falar tardes inteiras à lareira,
a comer do chouriço e da broa. Interessava-me pôr-me na pele deles; queria que o filme
cheirasse a terra, ao suor dos homens que a trabalham; enfim, parece que não consegui, mas
foi essa a minha intenção”.157
De certo modo, Campos utiliza como forma de legitimar o seu trabalho cinematográfico
a autoridade etnográfica, uma estratégia que, no sentido usado por Clifford (1998), se foi
construindo historicamente no modo como o autor se coloca no texto antropológico,
legitimando um discurso sobre a realidade. Trata-se da formulação “eu estive lá”, que dá
provas de que aquilo que o etnólogo viu existe, logo o que ele diz é verdadeiro. Como
demonstra Clifford, a etnografia passou, desde Malinowsky, a encenar estratégias específicas
de autoridade, onde o autor tentava traduzir para o leitor a sua experiência em texto. Assim,
pode perguntar-se: “se a etnografia produz interpretações culturais através de intensas
experiências de pesquisa, como é possível que uma experiência incontrolável se transforme
num relato escrito e legítimo?”. A resposta talvez possa ser encontrada na criação de “um
investigador de campo que desenvolveu um novo e poderoso género científico e literário, a
etnografia, uma descrição baseada na observação participante. Na verdade, o próprio cinema
facilita o desenvolvimento da ideia de que uma cultura pode ser apreendida apenas pelo que
vê o etnólogo treinado, enfatizando o poder de observação: “o trabalho de campo bem
sucedido mobilizava a mais completa variedade de interações, mas uma primazia era dada ao
visual: a interpretação dependia da descrição”. Na verdade, António Campos, pode dizer-se,
consubstancia a sua estratégia de aproximação ao terreno usando o modo de autoridade que
tem sido designado por experiencial. No entanto, no cinema, tal como na escrita, se a
157
Entrevista a Campos por Manuel Costa e Silva e António Loja Neves. Cf. António Campos, Cinemateca
Portuguesa, 2000, págs. 130 e 38.
197
etnografia é feita no campo, a real elaboração de uma etnografia é feita em outro lugar. Os
textos e os filmes são então desligados do seu contexto de produção e realocados
ficcionalmente num contexto englobante, onde os protagonistas das ações e da sua produção
dão lugar ao etnógrafo, entendido como uma espécie de intérprete literário (Clifford, 1998: 21,
27, 29 e 40-41).
Podemos assim compreender a forma como Campos foi influenciado pela démarche
científica presente no trabalho de Jorge Dias, nomeadamente o referente a Vilarinho das
Furnas. O realizador conta que foi Paulo Rocha que mencionou, mais tarde, que a aldeia iria ser
destruída, sugerindo, diz, “que eu fosse lá fazer umas bobinazitas, que era uma pena aquilo ir
ser destruído e que ninguém recolhesse umas imagens, que era o tipo de trabalho que eu iria
gostar158. Campos considera-se, nas entrelinhas, um etnógrafo, mas também um
documentarista com uma atitude de recolha e de observação, diria, do etnográfico, no sentido
de alguém que filma não interferindo: “gosto de filmar o que acontece espontaneamente.
Mesmo que estejam a olhar para a máquina, mesmo que titubeiem, eu não lhes digo para
fazerem nada. O que interessa, na verdade, é retratar aquilo que as pessoas fazem, sentem, ou
dizem.”159
Nos filmes de Campos encontramos a ambiguidade própria do trabalho do
etnógrafo, um discurso que balança entre a afirmação da invisibilidade, da não interferência e
por outro lado a afirmação da partilha, da convivência e mesmo da transformação a partir do
contacto com o outro, com a sua vida, a sua comida, o seu trabalho, o seu tempo ligado aos
ciclos da natureza.
A obra de Campos tem, portanto, uma missão etnográfica: este realizador faz parte do
movimento ou viagem da cidade para o campo marcada por um fascínio dos cineastas pelo
domínio do popular e – esta é a questão que interessa agora tratar – da sua representação em
termos documentais. O documentarista é alguém que se vê, pela possibilidade e o poder que a
fórmula documental lhe dão, com uma capacidade para representar o outro. Como dizia Maria
Lamas, “o que a natureza oferece à vida no campo só pode ser percebido na sua plenitude por
quem vem da cidade” (Neves, 2010: 234). Quanto à questão do povo que era representado
158
Paulo Rocha conta-nos a origem desta história: “os Pinto Azevedo eram grandes colecionadores de arte
moderna, e tinham uma espécie de galeria aberta, onde estavam representados os pintores protegidos do tio, o
Manuel Pinto de Azevedo. A certa altura a D. Maria Pinto de Azevedo, que era especialmente inteligente deu-me
um livro sobre Vilarinho das Furnas. Eu comprei o livro e dei ao Campos e ele foi para Vilarinho das Furnas com o
livro debaixo do braço e durante um ano desapareceu. Passado um ano apareceu-me com o Vilarinho das Furnas
que era o produto do empréstimo do livro. O que é engraçado, é que nessa altura eu estava a preparar o “Mudar
de vida” e falei com o Cardoso Pires que me disse no Vá-Vá que tinha estado em Vilarinho das Furnas e que aquilo
dava um romance espantoso, até ele já tinha essa ideia na cabeça.” Foi assim com o livro de Jorge Dias que
Campos se documentou, e é este que serve de base ao filme. Cf. António Campos, Cinemateca Portuguesa, 2000,
pág. 36.
159
Cf. António Campos, Cinemateca Portuguesa, 2000, pág. 37.
198
pelos neo-realistas ele não parece ser apenas rural, ou ligado a uma utopia pastoral: “para lá de
camponeses e ganhões, há também mineiros, operários e franjas importantes do
lumpemproletariado.” (Viçoso, 2009: 9) Para o que nos interessa aqui, o próprio Campos se
definia dentro destas duas categorias: documentarista – em parte dos seus filmes – e
etnógrafo.
Muito se tem escrito sobre a delimitação do documentário ou do filme etnográfico
enquanto géneros cinematográficos com uma identidade própria. Da relação da antropologia
com o filme e das derivações práticas, teóricas e institucionais desta falamos já no capítulo
anterior. No entanto, ficou de fora a questão documental. Ao fazer aqui uma breve resenha do
que foi escrito sobre esta questão, podemos talvez clarificar melhor de que forma os filmes de
Campos são documentários, e ao fazê-lo, ensaiamos uma tese sobre as possibilidades e os
limites dos usos destas categorias.
Começo pelo documentário e a ficção, a que se podem associar as ideias de verdadeiro
e falso. Apesar de todas as diferenças entre os dois géneros, podemos sintetizar a discussão
com as conclusões de Bill Nichols (1991a), para quem há claramente dois tipos de cinema. Por
um lado, um cinema de ficção que nos envolve pela criação de um universo imaginário que é
suficientemente semelhante ao mundo que julgamos conhecer, mas em que a relação com o
mundo histórico (real) é metafórica. Por outro lado, um cinema documentário que embora não
possa ser apenas uma cópia desse mundo, ao nível das suas imagens (com o seu potencial de
evidência), retém aquilo a que Nichols chama indexical stickiness, ou seja, representa coisas
que acontecem frente à câmara e ao microfone. Estes sons e imagens são representações, uma
realidade em segundo grau. Em resumo, os documentários não diferem das ficções na sua
construção, mas sim no tipo de representações que fazem. No âmago do documentário não
está uma história – e o seu mundo imaginário – mas antes um argumento sobre o mundo
histórico.
A partir da reflexão em torno do poder do falso e do verdadeiro, Deleuze refere as
formas cinematográficas que recusaram a ficção como formas que procuram ao mesmo tempo
fazer ver objectivamente os meios, situações e personagens reais mas também o modo como
estes vêem eles mesmos a sua situação, o seu meio, os seus problemas. Deleuze toma o pólo
documentário ou etnográfico, por um lado, e o pólo pesquisa e reportagem, pelo outro. Ao
recusar a ficção, o cinema etnográfico conserva e sublima um ideal de verdade que no entanto
depende da ficção cinematográfica, uma vez que haveria sempre, em cinema, aquilo para que
olha a câmara e aquilo para que olha um personagem (Deleuze, 1985: 193). O documentário
tem no entanto uma emergência histórica que se prende com um certa rejeição da ficção, ou
199
com uma ideia de verdade:
Il était très important de récuser les fictions préétablies au profit d’une réalité que le
cinéma pouvait saisir ou découvrir. Mais on abandonnait la fiction au profit du réel, tout
en gardant un modèle de vérité qui supposait la fiction et en découlait. Ce que
Nietzsche avait montré: que l’idéal du vrai était la plus profonde fiction, au coeur du
réel, le cinéma ne l’avait pas encore trouvé. C’est dans la fiction que la véracité du récit
continuait à se fonder. Quand on appliquait l’idéal ou le modèle du vrai au réel, cela
changeait beaucoup de choses, puisque la caméra s’adressait à un réel préexistant,
mais, en un autre sens, rien n’était changé dans les conditions du récit: l’objectif et le
subjectif étaient déplacés, non pas transformés; les identités se définissaient
autrement, mais restaient définies; le récit restait vérace, réellement vérace au lieu de
fictivement vérace. Seulement, la véracité du récit n’avait pas cessé d’être une fiction
(Deleuze, 1985: 195).
Segundo Deleuze, a ruptura não é portanto entre ficção e realidade, mas entre um novo
modo de récit que afecta ambas as modalidades. Na realidade, este novo récit, e dá o exemplo
de Pierre Perrault e de Jean Rouch, o que quer é fazer um corte com a ficção enquanto modelo
de verdade estabelecida que exprime necessariamente o ponto de vista dominante, ou o ponto
de vista do colonizador. O que se opõe à ficção não é portanto o real mas antes a substituição
por uma função de fabulação dos personagens reais, ou seja, o que interessa a este cinema é o
personagem real quando ele começa a efabular. Deleuze acentua assim aquilo que me parece
estar pressuposto na atitude do documentarista: a vontade de chegar ao outro, mesmo que
seja à sua ficção.
A crença na ideia de verdade e na objectividade dos usos do filme, como vimos no
capítulo anterior, fez com que se procurasse uma apropriação positivista do filme para o
terreno académico da antropologia. Na realidade, as discussões sobre a definição de
documentário e as discussões sobre a definição do terreno da antropologia têm semelhanças
evidentes. Trata-se de pensar sobre a passagem daquilo que é retirado do mundo empírico e
que com ele mantém uma relação indexical ou histórica e trabalhá-lo com vista a representar e
reflectir sobre esse mesmo mundo. As questões epistemológicas e teóricas colocadas nos
debates sobre as noções de realismo no cinema (por exemplo em Bazin) ou as noções de
observação no documentário assemelham-se às elaboradas pela antropologia na crise
hermenêutica de finais de 1980. Historicamente, apesar de terem entrado no filme etnográfico
algumas ideias vindas do seio da antropologia, as suas origens remontam à invenção europeia
do cinema documental. Por seu lado, o longo debate sobre a natureza do documentário
enquanto género cinematográfico interessou os antropólogos na medida em que este se
200
relaciona com a possibilidade do uso do filme enquanto forma de fazer antropologia160.
Neste processo de apropriação positivista do filme, assistimos a tentativas de
estabelecer determinados critérios que deveriam criar uma fronteira de delimitação
relativamente ao documentário, visto enquanto género vasto que abarcava os territórios
artísticos. Jay Ruby (1975) propôs que o terreno do filme etnográfico deveria ser classificado
enquanto tal de acordo com determinadas características: deveria ser constituído por filmes
que retratassem a totalidade de uma cultura, ou porções definidas da mesma; estes deveriam
ser enformados, implícita ou explicitamente, por teorias da cultura; deveriam explicitar, de
forma mais ou menos óbvia, a metodologia usada e finalmente deveriam usar um léxico
eminentemente antropológico. Ruby acredita inocentemente que ao conter a linguagem
criando limites e regras de utilização está a conter também a forma como a representação do
mundo é feita. A ideia de fidelidade com o mundo que se representa está portanto muito
presente nestes autores. Karl Heider (1976) define o filme etnográfico como revelando “corpos
inteiros, povos inteiros, filmados em acções inteiras, completas”, remetendo para uma hiperdefinição do contexto. Vários autores continuaram nesta senda, explicitando técnicas próprias
ao filme etnográfico que o tornariam mais fiável, mais objectivo, como o não-uso de efeitos,
grandes planos, de música que fosse exterior às acções filmadas, etc.161 Para outros autores, a
discussão da definição do filme etnográfico não se deve centrar nem no tipo de temáticas
tratadas pelo filme, nem no estilo usado, mas antes numa espécie de código profissional, uma
ética disciplinar. No caso de António Campos, como veremos, parece-me que a chave para
pensar os seus filmes está justamente nesta questão de uma ética, de uma posição moral, que
pode mesmo corresponder a uma posição física relativamente ao outro, àqueles que filma 162.
Uma das pistas para pensar o que é o filme etnográfico, e que não parece estar nem no tema a
trabalhar, nem na forma de filmar, nem sequer na presença formal de um antropólogo na
equipa, está justamente nesta questão de uma ética, de uma posição moral relativamente
àqueles que filma. É isto que refere José Manuel Costa quando diz, ainda a propósito de
Campos:
A força e a fragilidade dos seus filmes está em tudo que ele fez. Era um homem que
tinha um princípio unificador em tudo o que ele fazia, que não era um princípio de estilo,
160
Esta ideia é desenvolvida por MacDougall para quem, “despite certain injections of anthropological ideas, its
(ethnographic film) origins lie essentially in the European invention of documentary cinema, which embodies
behavior and discourse (MacDougall, 1998: 141).
161
Para seguir esta discussão ver em particular Young 1975, Collier 1988, Hockings 1988 e Banks 1992)
Alguns autores defendem, inclusivamente a existência de uma “distância pertinente” entre o realizador e os
seus sujeitos (cf. Tomaselli, 1996: 204)
162
201
era um princípio moral. Se me pedissem para definir o que unifica a obra dele, eu acho
que é um princípio moral. Era uma pessoa que, tanto no que se chama documentário
como na ficção, estava sempre a misturar registos diferentes. Aliás, em filmes como as
Histórias Selvagens 163 ele mistura tudo, faz uma parte de longas secções, longas
sequências documentais, descritivas, e sequências com uma estrutura ficcional bem
trabalhada. Mas há um discurso ético sobre as pessoas que filmava, que é válido em
relação a tudo. As pessoas falam na sua proximidade com o povo, mas é sobretudo no
filmar à altura dos olhos das pessoas, numa obsessão limite com o cinema, que se vê a
atitude de nunca diminuir a pessoa filmada, nem engrandecer, pôr-se nessa visão,
comprometer-se nessa visão. O que acontece no fim de Falamos de Rio de Onor não é
por acaso. Quando ele diz “falamos de Rio de Onor”, em grande plano antes de aparecer
o miúdo que fecha o filme. Eu acho que aí, nesse momento e nesse confronto de olhares,
ele quis pôr-se lá. “Falamos quem?”. “ Eu, António Campos, falo destas pessoas…” E
quando passa para o plano da criança faz anteceder do seu grande plano. Ele está ao
nível dele. E é um pouco a mesma coisa com o homem que faz de narrador no “Vilarinho
das Furnas”, a maneira como ele o filme. É sempre a mesma coisa, ele de facto quando
filma as pessoas põe-se ao nível delas, é incrivelmente atento ao que as pessoas dizem.
Podemos avançar um pouco mais nesta deriva sobre a identidade do cinema de
Campos, a partir de outros autores. Bill Nichols, nas suas reflexões sobre a especificidade do
filme etnográfico dentro da categoria mais alargada do documentário, afirmou que este podia
ser considerado como fazendo parte dos discursos de sobriedade no sentido em que “trata a
relação com o real como não problemática” e é por isso um “veículo de dominação e
consciência, poder e conhecimento” que usa a ideia do estar ali como veículo para representar
o outro. Para isso contribuem uma imagem realista e um som síncrono, que certificam a
autenticidade do que vemos e ouvimos mesmo que sejam cenas e sons que nada tem a ver
com a vida que conhecemos. Se, continua o autor, a ciência é o discurso institucional de
sobriedade por excelência, então o filme etnográfico, especialmente quando feito por
amadores, “ attempts to resolve an acute contradiction between interpersonal, scientific
knowledge and the personal experience on which it is based” (Nichols, 1991b: 47 e 49).
No caso de Falamos de Rio de Onor, vemos como o filme oscila entre essa experiência
pessoal e subjectiva (a carta lida em off sobre o automóvel que parte) e um discurso de
sobriedade presente no já referido sermão do padre em que, como afirma Pais de Brito (2000:
82), se usa um recurso narrativo ambíguo “onde a evocação do livro de Jorge Dias parece ser
sobretudo para substituir o que o cineasta não encontrou na própria aldeia”, numa construção
hesitante que não sabe muito bem o que fazer com a voz autoritária do saber científico
deslocado da experiência. É como se a voz etnográfica se perdesse do corpo que lhe deu
163
Histórias selvagens (1978), 16 mm, cor, 102 min. Realização : António Campos, Argumento : António Campos a
partir de contos de A. passos Coelho. Poema : José Gomes Ferreira, Comentários : António campos, Fotografia :
Acácio de Almeida, som : Alexandre Gonçalves.
202
origem. Como diz Nichols “scientific knowledge travels from one mind to another, transported
by bodies as cargo is by ships. Hence the disembodied quality of the voice of authority
operating behind most ethnographic film” (Nichols, 1991b: 19).
Outros autores, pelo seu lado, valorizam a autenticidade etnográfica, credenciada na
articulação dos filmes com um texto escrito que o valida e explicita. Para Peter Loizos, uma
dificuldade atravessa este debate: o filme etnográfico produz um argumento sobre o mundo
histórico que, pelo seu carácter realista é por excelência de carácter persuasivo. Nos filmes
realistas as coisas são apresentadas tal como nos aparecem na vida real. A câmara e o
microfone são os meios ideais para produzir este efeito, uma vez que uma imagem (e um som
gravados) podem ser feitos de modo a criar um efeito muito similar ao de observar e viver uma
certa realidade (cf. Loizos, 1993: 12 e 9).164
Por outro lado, é no modo de produção do próprio filme que encontramos, em Campos,
ou em realizadores como Manuel Costa e Silva, uma outra proximidade à categoria do
documentário etnográfico. Mas o primeiro, em especial, é um realizador que empreende
sozinho, numa praxis metodológica semelhante à da própria etnologia. Como escreveu, “eu
sempre preferi trabalhar entregue a mim próprio e aprender á custa dos meus erros, que
pagava do meu bolso, e bem assim a realização dos filmes que me propunha fazer. Trabalhava
sempre completamente só, acompanhado de pessoas de família, que variavam segundo as
necessidades domésticas de cada uma, e por essa razão os trabalhos contêm fraquezas
técnicas”165.
Este modo de fabricação solitária do filme, associada à ideia de um olhar objectivo é uma
marca do filme etnográfico que parece contraditória: a vasta equipa do filme de ficção produz a
visão subjectiva do autor e o solitário câmara produz a visão objectiva e científica. A
personalidade e o modo solitário de trabalhar de Campos está no entanto bem presente no que
os que o conheceram contam. Entre eles, entrevistei Alexandre Gonçalves, um técnico de som
que colaborava pontualmente com o realizador. Campos solicitava o seu serviço em cenas
importantes em que o som directo era crucial, como é o caso da cena na Igreja de Rio de Onor,
em que o padre reproduz os relatos de Jorge Dias, num longo plano fixo.
Gonçalves descreveu-me a sua chegada a Rio de Onor:
164
Peter Loizos (1993) mostra ainda como determinadas inovações fizeram com que, a partir dos anos 1960, o
filme etnográfico criasse uma identidade própria: inovações tecnológicas (câmaras mais leves, legendagem dos
filmes), inovação nos conteúdos tratados (aspectos políticos, a biografia, o género, etc), mas também no
desenvolvimento de estratégias narrativas e de argumento mais sofisticadas, que combinassem diversas formas de
representação.
165
Cf. António Campos, Cinemateca Portuguesa, 2000, pág. 42.
203
Eu cheguei às onze da noite, depois de uma aventura na estrada que estava cheia de pó
nesta altura, tinha chovido muito, o carro derrapou e saí da estrada. Para entrar novamente foi
um grande problema, porque as rodas estavam viradas para a frente, o carro era de tracção
atrás. E cheguei lá, aquilo completamente às escuras, não se via nada, as paredes eram todas
escuras e tive de estar com os faróis acesos e com o aquecimento ligado, estava muito frio.
Fig.16. Rodagem Falamos de Rio de Onor (1974) Arq. C.P.
204
Daí a um quarto de hora é que apareceu o Campos, não me ouvia chegar, foi ver à
varanda, viu-me com o carro parado, que tinha a luz acesa. “Você tem de ir ali para o
outro lado, para Espanha, (que aquilo ali é metade Espanha, metade Portugal), vai lá
uma pensão que eu arranjei”. Sabe quantos cobertores tinha na cama? Sete! Estava ali
debaixo, parecia que estava enterrado. Sete cobertores na cama! Deixei o carro parado
lá ao pé, no sítio onde tinha filmado e depois no outro dia não conseguia filmar, os
microfones, estava tudo congelado, tive de usar outros microfones. Ele estava lá nos
sítios, meses. Ele não gravava som nenhum, tinha as imagens e de vez em quando som
[...].
No Vilarinho das Furnas, há esse senhor que aparece a falar, uma espécie de narrador, e
o som, a entrevista foi feita posteriormente.166 Porque eu não tinha tempo para estar
nas filmagens. Para estar nas filmagens, era preciso lá estar, permanentemente. E eu
não podia, estava a trabalhar na televisão, não podia. Só depois de se começar a montar
é que se ia lá buscar os sons, ele trazia-me os filmes alinhavados e eu acabava-os. E a
gente praticamente não se encontrava nessa fase da montagem. Eu podia alterar
algumas coisas da montagem que ele tinha feito, para poder condizer com o ritmo
sonoro que pretendia, eu podia alterar fosse o que fosse. E ele só aparecia quando eu
dizia: “Campos, está porreiro, podemos mostrar.” E ele vinha ver: “está porreiro.” E era
assim que a gente funcionava. Mas ele, para as filmagens, estava lá meses, sozinho, e
gostava. Porque ele detestava a cidade, o egoísmo da cidade, das pessoas, a inveja.
Talvez seja muito forte dizer que ele era misantropo, não gostava das pessoas, como as
pessoas se comportam na cidade. Gostava de estar no campo com as pessoas simples,
com as pessoas leais e sinceras. E estava lá sozinho. Eu diria que o António Campos era
um primitivo, gostava das coisas da forma mais simples, era um cinema muito mais
simples.
Julgo que, a partir das pistas até aqui lançadas, podemos dizer que os filmes de Campos
– não todos, uma vez que existem também as ficções – podem entrar na categoria de
documentário etnográfico no sentido mais estrito, ou seja, de um cinema que se cruza
directamente com a história da etnologia portuguesa. O próprio Jorge Dias, que tinha publicado
a monografia sobre Vilarinho em 1948, depois de ter assistido ao filme escreve ao realizador: “é
impossível poder representar melhor e com os meios de que dispunha – sem uma equipa de
apoio a luta pela sobrevivência de uma pequena aldeia num ambiente serrano hostil, onde só
foi possível viver mercê de uma disciplina comunitária severa e que agora é vencida pelas águas
de uma albufeira.”167 Entremos um pouco na descrição do filme:
O filme começa com o texto “sugerido pela obra literária Vilarinho das Furnas, aldeia
comunitária do Prof. Jorge Dias”. No início, uma nascente de água e o narrador que diz:
166
167
O nome do narrador é, segundo o genérico de início, Aníbal Gonçalves Pereira.
Cf. António Campos, Cinemateca Portuguesa, 2000, pág. 43.
205
“sou de Vilarinho, natural, o meu nome é Aníbal Gonçalves Pereira na era de 1969, para
contar os usos e costumes desta terra”.
Seguem-se imagens de um vale, com uma Oliveira, e a voz do narrador contando uma
espécie de mito de origem da comunidade: “isto foi formado por 5 moradores que
confirmaram que eram 5 irmãos, que se uniam porque eram um povo pequeno, e
tinham que se ajudar, como se fossem família.” Vemos depois umas gravuras e sobre
elas escrito “celtas” e a voz continua, “foram aumentando a população e dividindo a
égua, tiveram que ser amigos e unidos”. O narrador fala com Campos, exemplificando
sempre em off, “o senhor queria um carreto de madeira, e eram poucos, tinham que se
entender, hoje vou eu, outro dia vai o outro” e explicitando as regras comunitárias: “a
união é feita todas as quintas feiras para concluir assuntos que pertencem ao povo, a
chamada será feita três vezes...”.
Na imagem, vemos o concelho de homens que reúne, enquanto o narrador explica as
vezeiras, as regras da comunidade, os pagamentos e multas, mostrando os esquemas
com setas e números, e explicitando detalhes.
A partir dos 18 minutos de filme, começa uma nova história, a da construção da
barragem. Estamos de novo em directo com Aníbal, o narrador, “esperamos a visita do
nosso governador civil porque o delegado de Vilarinho pediu para ver a nossa situação
que vamos ser invadidos pela barragem.”
A partir daqui, e numa longa sequência, perdemos o som directo. Em off ouvimos uma
conversa que começa com as exclamações de “só a água nos tira daqui, a força do povo
não deixa, estamos unidos de uma maneira...não nos tiram daqui para fora assim á
boa”
Na imagem, vemos uma colmeia, metáfora da comunidade.
Em off uma longa discussão entre o governador e a população.
-O senhor tem aqui uns campinhos?
-Sim, estão a oferecer 700 contos, mas eu tenho uma casa que hoje não se faz nem por
250 contos
- Pode levar as madeiras e a telha...
-Nós vamos daqui para outro sitio, mas a procura, a deslocação, necessitamos de uma
ajuda para a deslocação
- Para onde quer ir?
- Isso tanto me dá. Quero um sitio que me agradasse
- Tem filhos?
- Sim, está na Guiné
- Eu estive na Guiné, estava lá o nosso presidente (atenção isto é para todos)
A conversa continua, as negociações:
- Eu vou falar aos engenheiros ao Porto para eles melhorarem as coisas, mas vocês
devem ver isto, deve ser o justo, e vocês não vão abrir muito a boca não é?
O filme prossegue com o ciclo anual de actividades agrícolas e domésticas: fiar, fazer o
queijo. Vemos a festa, a procissão, o trabalho no campo, e o quotidiano. Em off os
206
aldeãos vão falando quer dos costumes, quer dos problemas que estão a viver.
No final, um crescendo de tensão. Uma família come na cozinha, um grupo reza, é o
compasso pascal, no vale ouvem-se estouros e uma família que parte.
Em off ouve-se “tinha cabras e lá não posso ter nenhuma... não vejo meios de arranjar
dinheiro, devo piorar, uma vaca aqui dava para as despesas e lá se vendo uma vaca ou
duas fico sem nenhuma.”
Último habitante parte. Aldeia abandonada, sem as telhas e as madeiras, só a pedra nas
casas. Ouve-se um chiar estranho. Sobre o muro alto da barragem uma legenda, em
maiúsculas MORREU VILARINHO DAS FURNAS SOB O MANTO DE ÁGUA QUE LHE DEU A
VIDA
Desta descrição gostaria de salientar dois aspectos. O primeiro, é o de que este narrador
surge, de modo inovador, como uma voz de dentro da comunidade e ao mesmo tempo de fora,
porque centrada naquilo que parece ser a informação que mais interessa ao realizador,
nomeadamente a que diz respeito ao modo como funciona tradicionalmente o comunitarismo.
Trata-se de uma espécie de dispositivo narrativo que permite juntar pontas e ligar situações.
Sabemos, do depoimento citado de Alexandre Gonçalves, que esta entrevista foi gravada, em
parte, á posteriori, depois do filme montado e facilmente percebemos que foi direccionada no
sentido de a cobrir inteiramente. O segundo aspecto tem a ver com o plano inusitado e
metafórico da colmeia. Trata-se de um momento único em que o realizador parece largar o
plano narrativo em que se encontra, de registo factual e etnográfico, para assumir um tom
brevemente poético que remete para a ideia de grupo, de comunidade e de união. Finalmente,
o filme revela as fragilidades próprias à relação difícil, como confessou Campos nas entrevistas,
com a população. O realizador viveu durante 18 meses na povoação, instalado numa roullote e
mais tarde na casa do guarda florestal que lhe fora emprestada, mas enfrentou grandes
dificuldades de aceitação por parte dos habitantes da aldeia que demoraram a deixar de vê-lo
como um intruso ligado á empresa hidroeléctrica com quem negociavam as compensações da
barragem. Mas, como conta Campos, os habitantes trocavam-lhe as voltas dando-lhe
indicações e horários trocados e assim, quando consegue registar imagens e sons, fá-lo
recorrendo a subterfúgios:
A animosidade provocada na população levou a considerarem-me um espião. Aliás,
quando eu entrava na aldeia sem máquina sentava-me à vontade, comia da broa, bebia
do vinho ‘americano’, enfim, não havia problema nenhum. Conversava-se. Se eu
aparecia com a máquina nem a porta abriam; davam as saudações do costume, ‘bom
dia’, ‘boa tarde’, e não faziam menção nenhuma de se aproximarem. Nunca me
deixaram assistir às ‘Juntas’ que eram as reuniões colectivas entre eles. Trocaram-me
sempre as voltas. Se diziam que eram às cinco da tarde, já tinham sido de manhã. Se
207
diziam que eram de manhã, transferiam-nas para tarde. Por isso, quando me foi
possível assistir, fiz sempre as filmagens em péssimas condições de som e imagem. Na
última reunião com o pároco da freguesia, que se vê no filme e que era, de facto, muito
importante fui proibido de gravar. Dizia-me um dos habitantes, do pequeno grupo com
quem me dava melhor: ‘os homens quando vêem um gravador acanham-se e é preciso
que eles digam tudo’. Mas para mim o problema é que assim se perdia algo de muito
importante para o filme. Porque conhecia bem a aldeia, a única solução foi dar uma
volta muito grande e meter-me num curral que ficava perto. Aí estive quatro horas
enterrado no estrume até aos joelhos e de gravador na mão. Se me tivessem
descoberto decerto não me atacavam mas expulsar-me-iam talvez da aldeia. Vilarinho
das Furnas foi filmado sempre num clima de luta com os habitantes e com as próprias
condições materiais. Quando me dizem que o filme tem interesse eu fico a pensar como
foi possível, apesar de estar sozinho, de não ter dinheiro e de defrontar a hostilidade da
população, fazer uma fita com algum valor. (cit in Penafria, 2009: 67 anexos)
No entanto, este é de todos os filmes de Campos aquele em que mais claramente se
filma uma situação do presente e se acompanha uma narrativa toda ela tecida por conflitos da
população com a companhia hidráulica, com o delegado do poder central, com o padre, e com
o próprio realizador. Esta tensão e a persistência do realizador fazem com que o filme respire
etnografia, no sentido de que incorpora um material que é fruto de uma relação de alteridade,
das contingências desse encontro. O mesmo não se pode dizer de Falamos de Rio de Onor, um
filme em que, segundo afirma Joaquim Pais de Brito (2000: 82), Campos vai ao encontro de
uma realidade já muito distanciada dessa ideia de comunidade que Jorge Dias descrevera. Ou
seja, o realizador “não foi encontrar a expressão utópica de um quotidiano solidário e
harmónico, mas também não dispunha da explicitação de oposições, confrontos e conflitos que
suportassem uma construção narrativa com densidade dramática como ocorrera em Vilarinho
das Furnas.”
Manuela Penafria, na sua tese de doutoramento sobre este realizador, dedica grande
parte da discussão teórica à procura da definição do que seria o cinema de Campos, afirmando
que este “não fez os seus filmes com o intuito de observar e registar as manifestações culturais
do povo português”. Estes não cabem na definição restrita de filme etnográfico, cabem na
alargada. Mas no sentido alargado de filme etnográfico cabem, também, todos os filme
portugueses. Para Penafria, “os seus filmes vão para além do que se entende por filme
etnográfico” apesar de “colocarem no ecrã a vida do povo português, os seus problemas e
anseios, as manifestações de carácter etnográfico (em sentido restrito)” (2005: 206-207). A
discussão acerca do carácter etnográfico dos filmes de Campos, em especial dos seus
documentários, pode ir mais longe e está, parece-me, interligada com o modo como, neste
realizador, o discurso cinematográfico serviu a identificação, organização e formulação de uma
208
série de ideias sobre a cultura popular do país. António Campos é uma chave central desta tese,
um realizador que escolhe como tema dos seus documentários um olhar sobre o diferente, a
sua cultura, objecto da própria antropologia. Como mostra Abu-Lughod (1999: 143) se a cultura
é o instrumento principal para fabricar o outro e a antropologia produz um discurso que
elabora sobre o sentido da cultura de forma a explicar e compreender a diversidade, então esta
é ao mesmo tempo uma ciência que constrói, mantém e produz as próprias diferenças. E
Campos é um cineasta que trabalha a partir deste processo de produção das diferenças
culturais, e as documenta. Por outro lado, se aceitarmos o pressuposto de que, como diria
Geertz (1973), toda a antropologia se baseia na prática da escrita etnográfica construída a
partir de um momento experimental então ela estaria mais próxima da ficção e da construção
imagética. No entanto, a atenção ao particular, o postulado moral e ético, e a rejeição das
generalizações e da objectividade como discursos de poder sobre o outro, fazem dos filmes de
Campos objectos mais próximos da agenda da antropologia que se fazia na época do que os
filmes de arquivo do Centro de Estudos de Etnologia. Isto porque se trata de um cinema que,
embora feito fora do quadro institucional da etnologia portuguesa, pode servir de barómetro
daquela, justamente por se encontrar nessa zona desprovida dos compromissos científicos,
académicos e museológicos do Centro de Estudos de Etnologia. É nesta separação que
podemos discernir, de forma cada vez mais clara, o carácter construído do popular, pois sobre
ele se foram elaborando representações diferentes a partir de discursos também eles distintos.
Os filmes feitos por Benjamim Pereira, por exemplo, dispensavam a palavra dos seus
personagens, vistos como actores silenciosos de actividades cujo saber tinha sido transmitido
de gerações anteriores. No caso do cinema que trato aqui, a linguagem do quotidiano usada
pelos personagens afasta-os do discurso mais autoritário da generalização. Isto é uma marca de
Campos, que rejeitava o uso de uma narração e de um texto lido em off sobre a imagem, e já
em Vilarinho recorre ao narrador local, o Sr. Aníbal. Se na boca e na palavra deste narrador, tal
como na do padre de Rio de Onor – apesar da linguagem mais erudita deste ultimo –, são
postas e reapropriadas as palavras retiradas do livro de Jorge Dias, o discurso não perde a
complexidade, subtileza e tonalidades locais, divagando de forma improvisada sobre as
temáticas da organização local e da cultura popular. Como conta Campos,
O Sr. Aníbal aparece três vezes relatando os acontecimentos que se seguem e que
precisavam de ser explicados. Ele foi, de facto, para mim, uma chave no meio daquelas
pessoas. Por várias razões. Primeiro porque se não fosse ele, ninguém falaria com tanto
à vontade, com tanto pormenor, daqueles assuntos. Depois, porque ele próprio contava
tudo com todos os pormenores e com grande riqueza de palavras. De tal maneira que
cheguei a pensar – e disse-lho aliás – se não havia ali também um pouco de fantasia.
209
Aliás ele tinha uma maneira de ser muito curiosa; fazia umas citações filosóficas à sua
maneira, verdadeiramente de espantar sobre acontecimentos da existência. Foi isto
também que em dado momento me criou o receio de que estivesse a dar informações
menos certas, que não aconteceu, dado que as imagens recolhidas vêm confirmar
ponto por ponto as suas declarações até no pormenor das posições das pessoas que
variavam quanto muito por milímetros das que ele me havia indicado (cit in Penafria,
2009: 67 anexos).
A voz autoritária – voice of God como tantas vezes lhe chamaram os ingleses – dá lugar
à voz local. Como afirma Abu-Lughod, “o fosso entre os discursos profissionais e autoritários de
generalização e a linguagem do dia-a-dia (a nossa ou a dos outros) estabelece uma separação
fundamental entre o antropólogo e aqueles sobre os quais este escreve que facilita a
construção dos objectos antropológicos como simultaneamente diferentes e inferiores” (1999:
151). Assim, ao incluir os discursos, as circunstâncias e os indivíduos concretos implicados, por
exemplo, no conflito entre as autoridades e os habitantes de Vilarinho, o realizador ao invés de
generalizar, está a mostrar como as pessoas contestam as interpretações do que está a
acontecer, as manipulam e com elas se emocionam, na tal função de fabulação dos
personagens reais de que falava Deleuze.
A homogeneidade, coerência e existência fora do tempo dos filmes de arquivo é aqui
substituída por uma ideia de comunidade cujos indivíduos tentam gerir os seus próprios
destinos e história. Não só os filmes de Campos estão mais perto do trabalho monográfico de
Jorge Dias do que a extensive survey de Veiga de Oliveira e Benjamim Pereira, eles aparecem
também mais próximos da categoria do filme etnográfico, tal como a entendo, quer dizer,
enquanto uma prática e uma teoria da antropologia. O filme etnográfico ou o documentário,
em especial quando não utiliza uma narração em off, como é o caso dos filmes de Campos,
permite veicular aquilo que é a dimensão da prática da cultura e não tanto os seus valores (ou
racionalizações).168 No entanto, a questão é a de saber se era essa a agenda assumida destes
filmes no período em que foram feitos. Seria Campos um etnógrafo espontâneo, um realizador
de filmes de ficção que se refugia no documentário, um romântico que quer fugir da cidade ou
um percursor do filme etnográfico que quer resgatar as tradições populares?
Volto mais uma vez ao Acto da Primavera169 e ao seu papel de espelho no que toca a
todo o cinema de inspiração etnográfica. Como vimos, aquele filme de 1962 partia da
encenação popular de um texto quinhentista – ou seja, da fixação de uma peça
tradicionalmente sustentada pela tradição oral - que, por sua vez, reconstitui em português
168
Veja-se uma reflexão mais detalhadas sobre as noções de “reality culture” e de “value culture” (cf. Wolf, 2001:
313).
210
antigo um dos episódios relatados na Bíblia. Este texto é reinstaurado ano após ano em Curalha
e o que Oliveira regista é esse acto cristalizado e repetido, filmando a acção da conservada
declamação. O filme de Oliveira é, portanto, um documentário cinematográfico de uma
representação teatral e também a representação teatral desse documentário, visto que esta se
faz para a câmara, num cenário diferente.170 Este filme, que não fornece nenhum contexto ao
acto, deslocando-o do espaço da aldeia para o espaço desértico da serra, pode servir como
comparação e chave para pensar o espaço e a geografia no documentário etnográfico. Em
Campos, tal como em Costa e Silva, Noémia Delgado ou Matos Silva, existe uma preocupação
extrema em localizar e situar geograficamente e historicamente a acção do filme. Esta é a
primeira marca de que este cinema é olhado pelos seus realizadores como documento. Como
afirma António Preto (2008: 52), a propósito do filme de Oliveira, “apesar de toda a acção
decorrer no mesmo lugar (o território da aldeia), esse sítio será, ao longo do filme, identificado
com diferentes localizações simultâneas e coincidentes: se a Curalha continua, do princípio ao
fim, a ser uma aldeia de Trás-os-Montes, tornar-se-á, em determinado momento, a Samaria,
para, pouco depois, ser reconvertida em Jerusalém”. O mesmo não acontece em António
Campos, fiel a um lugar e um tempo que são imaginados como históricos, passíveis de serem
fixados e que não se perdem nunca, como em Oliveira, no devir da universalidade. Podemos
dizer que essa universalidade para que remetem alguns aspectos etnográficos filmados, como
veremos, por exemplo, em Costa e Silva, surge aos nossos olhos através de um efeito de
sobreposição cinematográfico – associando por exemplo a cozedura do pão ao aspecto
religioso ou o trabalho aos cantares tradicionais – ou, como veremos, de um texto que reflecte
para além da realidade registada.
Uma outra questão é perceber como se vêem estes realizadores e como imaginam a sua
função. José Manuel Costa, ao contrário de Seabra, para quem Campos é um “documentarista”
que faz um “cinema das gentes”, afirma que este é na origem um realizador da ficção que por
circunstâncias várias acaba por fazer documentário. Como me contou,
A primeira de todas as confusões, eu acho que é a questão do grande documentarista
português. Falou-se nisso, porque a Almadraba, o Vilarinho, o Rio de Onor tinham
constituído a base dessa notoriedade e portanto ele era o documentarista português. E
eu lembro-me de lhe perguntar isso uma vez, “Realmente, o que é que você queria fazer
no princípio, o que é que sonhava?” Ele é um homem que tem um enorme sonho de
cinema, um enorme sonho, uma coisa absolutamente visceral, criada desde bastante
170
Para esta reflexão contribuiu a comunicação de Ana Isabel Soares “Acto da Primavera : o espaço rural e a
religiosidade como objetos exóticos” no congresso da AIM (Associação de investigadores em Imagem em
Movimento) que teve lugar em Avanca (2010).
211
cedo. Desde o momento em que ele se formou intelectualmente, é uma obsessão a ideia
de fazer cinema e portanto perguntei-lhe isso directamente: “Mas o que é que queria
fazer? Era documentário ou ficção? Ou para si era tudo a mesma coisa?” E ele
respondeu sem nenhuma hesitação: “Ficção. O que eu queria era fazer ficção.” Ou seja,
ele achava que era diferente, não achava que era a mesma coisa, e que o sonho dele era
fazer ficção
O que José Manuel Costa defendeu, em conversa comigo, foi a ideia de que “António
Campos tal como todos os grandes cineastas portugueses que fizeram documentários, a
começar pelo próprio Manoel de Oliveira, foram fazendo documentários nos momentos em
que não conseguiam apoios para os seus projectos de ficção”. Há razões para identificar
Campos com uma certa dimensão documental, no entanto isto poderia ser dito de muitos
outros cineastas portugueses identificados só com a ficção, começando por todos os cineastas
portugueses da geração do Cinema Novo, de Paulo Rocha a Fernando Lopes. Um filme como
Belarmino, de Fernando Lopes, é um exemplo de um filme que espelha os sonhos de ficção do
seu realizador, o terreno onde se ensaia o que se quer fazer na ficção. Para José Manuel Costa,
Em Portugal não existiu um movimento documentarista, uma escola ou grupo de
pessoas que tivessem nascido em ligação profunda com o movimento documentarista
internacional. Foram sempre realizadores que tinham muita coisa para contar nas suas
ficções que fizeram documentário. Também Campos fez documentários quando não
pode fazer ficção, mas enquanto que os outros fizeram nos seus documentários a ficção
que não estavam a fazer, ele fez exactamente o contrário. Talvez Campos seja aquele
que, quando fez ficção, tivesse filmado o que todos tínhamos razão em associar ao
documentário. Havia qualquer coisa nele de muito profundo que estava preparado para
esse terreno. Porque é que ele diz que queria fazer ficção? Eu acho que primeiro porque
em Portugal não havia esse contexto do documentarismo, toda a gente que sonhava
fazer cinema em Portugal não o considerava propriamente um género maior ou um
grande desafio, e era quase sempre visto como um terreno de passagem. A outra razão
relaciona-se com a formação do António Campos. Ele era profundamente instintivo,
tinha um profundo instinto de cinema, tal como podemos dizer do Manoel de Oliveira.
Mas no caso do António Campos é um instinto de cinema sem o mistério de ligação à
modernidade que foi sempre o Oliveira. O Campos era ao contrário, bebe essa vontade
de fazer cinema de uma cultura cineclubistica, de ver alguns filmes e ficar
completamente marcado por eles, e quis sempre fazer um cinema baseado nessa ideia
original que ele tinha, que bebeu bastante cedo, dos grandes clássicos do cinema. Não
se quis ligar, e por várias razões nunca se ligou, a grandes movimentos de modernidade,
a etapas diferentes na história do cinema. Na origem, ele tem uma ideia do fazer cinema
e essa ideia não é uma ideia ligada a qualquer movimento concreto. É uma ideia
baseada nalguns grandes clássicos que ele viu e isso explica porque é que para ele não
faz nenhum sentido tentar arrancar-lhe essa espécie de verdade, que para ele não fazia
sentido, de que se estava a tentar integrar numa espécie de tradição documental, que
ele provavelmente nem conheceria muito bem ou que para ele não era indistinta, não
era marcante na formação dele. Pode-se dizer que por exemplo Um Tesoiro tem uma
fortíssima marca antropológica ou etnográfica, mas não é documental, ele quer contar
212
uma história.
Eu acho que esse lado antropológico, etnográfico foi associado ao Campos um bocado
erroneamente, como chave para entender a sua obra. Ele está lá, mas de uma forma
diferente daquele que foi o cliché sobre o Campos. Claro que esse lado permite outras
associações a outros cineastas mas o Campos cineasta não tem apenas a ver com as
temáticas dos seus filmes, é o Campos e o seu olhar. E o olhar do Campos, o cinema do
Campos é algo de incómodo para muitas pessoas que gostam dele como grande
documentarista e que evitam as ficções, mesmo depois de as terem começado a
conhecer. Acham-nas desconfortáveis para o pedestal em que se colocou o Campos,
acham que o Almadraba, o Vilarinho e o Rio de Onor são grandes filmes, mas as ficções
não estão à altura disso e eu acho que essas pessoas começam por falhar na
compreensão do que são os documentários. Acho que se tivessem visto os filmes pela
ordem com que eles foram feitos ou pela ordem em que ele gostaria de os ter feito,
teriam uma visão completamente diferente. Isso é uma caução para fugir a uma
questão mais desconfortável: como analisar as ficções do Campos? E como ver esse lado
que parece frágil e é frágil nalguns aspectos? Trata-se de filmes que eram realistas mas
não eram naturalistas e quando as pessoas começam a ver uma ficção com algum fio
narrativo, começam a perder o pé e a dizer “mas ele aí é mais fraco” e recusam-se a
perceber o que é que nesses mesmos filmes de ficção é a estrutura última do filme.
Os cineastas da família do Campos teriam que ser encontrados num universo que não
era o do cinema português. Ele não é da família do António Reis, nem da família de
qualquer outro cineasta português. Nem da geração do Cinema Novo, nem do Manoel
de Oliveira, obviamente. Teríamos que encontrar outros cineastas. Há um lado rude,
primitivo do cinema do Campos. A maneira como ele desabridamente mistura registos
diferentes, com a sensação de que aquilo é tudo do mesmo filme e passa de um plano
para o outro, a maneira como ele mistura uma contemplação por uma paisagem, por
um rio com um discurso social muito directo… Eu acho que o Campos é um grande
cineasta, ainda por descobrir por parte de muita gente, não quer dizer que tudo seja
perfeito na obra dele. Há um lado de facto rude, inóspito, não é “não resolvido” porque
acho que dizer isso é ler pelo lado errado os filmes dele. Mas há um lado que parece
inacabado, isso sim.
Como vimos antes, e no seguimento das análises de José Manuel Costa, o gesto
cinematográfico de Campos é mais radicalmente alternativo do que o de outros realizadores do
mesmo período. O facto de este gesto ser centrado também naquilo a que chamo a sua missão
etnográfica faz dele um caso de resiliência no panorama do cinema português. Esta dimensão
torna-se ainda mais visível e clara quando, mais tarde, no período revolucionário do verão
quente, o realizador continua, no mesmo registo de sempre, a filmar o país. Como diz Seabra,
Quando se vê a produção portuguesa do período chamado do PREC, processo
revolucionário em curso em 74/75, vê-se perfeitamente o que é a produção do exterior,
213
dos cineastas que partiam para fazer cinema militante e do que é o Gente da praia da
Vieira 171. No filme aparece de repente uma manifestação de um grupo de extremaesquerda, do MRPP, e até é importante para perceber como isso estava deslocado da
realidade. E a verdade é que o que aconteceu por essas alturas, a primeira Cooperativa
de Cineastas que existiu - o Centro Português de Cinema, apoiado pela Gulbenkian - teve
um projecto mais vasto que era o Museu da Imagem e do Som, onde se fizeram alguns
filmes de carácter etnográfico, uma ideia do Fernando Lopes. Mas quando se revê toda a
produção portuguesa do período revolucionário 1974 - 75, ficamos de boca aberta
quando pelo meio aparece o Gente da Praia da Vieira e A Festa,172 onde se tem a noção
que alguma coisa aconteceu no país. Mas estes filmes nada têm a ver com o cinema
revolucionário. E no entanto ele (António Campos) é que estava a documentar o país,
não eram os outros que, por imperativos compreensíveis à época, iam de Lisboa para os
sítios documentar as lutas, mas sempre com o ponto de vista pré-condicionado de
Lisboa. O Campos não, ele estava lá, fazia parte daquilo, daquelas comunidades. Ele ia!
Por seu turno, José Manuel Costa afirma, acentuando essa vertente de resiliência de
Campos, que apesar de Portugal, em parte devido aos meios cineclubistas, ser um país com
uma cultura cinematográfica importante, ressalvando que existia, na passagem para os anos
1960, um grande impacto e influência do cinema que se fazia fora, Campos era “um homem
completamente misterioso, que se quer manter isolado e que quando é chamado para dar o
salto e integrar-se em grupos, recusa sempre”. E isso, diz Costa, “tem a ver com a natureza da
sua obra, o lado não evolutivo da sua obra, que é tão forte quanto fixa: ele não bebe dos sinais
de modernidade, segue esse outro instinto e isso é um sinal de uma força incrível, mas é um
sinal de uma força a-histórica, de alguém que vive fora da história, num certo sentido.” E
relativamente ao período revolucionário, acentua que:
Nos seus filmes mais documentais, ou noutros mais pequenos que Campos fez e onde
falou de circunstâncias políticas de uma forma mais directa, ele é totalmente diferente
de quase todo o militantismo documental dessa altura, ele que tinha uma posição
política e social bem vincada, no seu cinema nunca lhe passaria pela cabeça, era contra
o fundo do seu ser, fazer passar qualquer ensinamento às pessoas que estava a filmar.
Ele estava a filmá-las, e mesmo quando havia contradições, o caso das discussões
interessantíssimas que eram também políticas, sobre a questão do património, das
casas, no A gente da praia da Vieira, a questão de salvar as barracas antigas, ou fazer
casas melhores para as pessoas, passava por uma discussão política forte. Há grandes
clivagens, na altura tudo eram choques sociais e políticos em Portugal. Ele filma isso
tudo, dá voz aos dois lados e recusa-se completamente a usar o filme para dizer “este
171
Gente da Praia da Vieira, 1976, 16 mm, 73 min. Realização, argumento e montagem : António Campos.
Adaptação de diálogos e direcção de actores: Joaquim Manuel (Quiné). Fotografia : Acácio de Almeida e António
Campos (imagens a preto e branco). Som : Alexandre Gonçalves. Assistente de imagem : Carlos Mena.
172
A Festa, 1976 foi um filme feito durante a rodagem do anterior, e portanto com a mesma ficha técnica. Trata-se
de um filme mais próximo da modalidade de arquivo, ou de filme etnográfico no sentido clássico.
214
tem razão contra aquele”. E não tem nada a ver com não ter um ponto de vista, não tem
nada a ver com isso, mas há uma recusa de aceitar usar o filme para se colocar nessa
discussão, ele pretende apenas levar a discussão para outro lado, como quem diz: “Isto
nunca será percebido se não percebermos que os dois estão a dizer qualquer coisa que
temos que ouvir, para resolver a questão”. E isso é exactamente a mesma coisa que faz
nas suas bandas sonoras, na sua recusa completa de fazer comentários off a descrever
ou comentar os assuntos.
Fig. 17. Rodagem Ex-Votos Portugueses (1976). C.P.
Estas ideias podem ser acrescentadas às conclusões de Penafria, para quem a vertente
documental de Campos está no estilo, e não nessa espécie de pano de fundo antropológico, ou
na construção de um ethos romântico no qual o realizador de vê a si próprio com uma missão
de filmar um país que, metaforicamente, se estava a afundar. Para Penafria, “os planos
documentais de António Campos não são as da chega de bois em Terra Fria, ou os da praia da
Vieira em Um Tesoiro, ou os das salinas em A Tremonha de Cristal, mas sim o seu raccord de
ambiente, a sua não-orquestração de entradas e saídas de campo, a duração equilibrada dos
seus planos”, ou seja “é o estilo de um realizador que nos permite estabelecer e averiguar da
sua ligação ao mundo através do cinema” (Penafria, 2005: 219)173. No caso de Campos, julgo
173
Penafria propõe que se aplique ao cinema de Campos o termo documentarismo e não documentário (uma
classificação do cinema a partir da ideia de género): “considerarmos que o documentário é o legítimo
representante da realidade seria relegar a componente documental presente nos outros filmes. Assim, colocamos
lado a lado ficção e documentário. Todo o filme tem um lado documental porque remete para modos de ver o
nosso mundo. Retirar a parte documental aos filmes de ficção é retirar-lhes uma componente essencial. De igual
modo, retirar ao documentário essa mesma parte documental - e dizer que todo o filme é uma ficção porque
215
não só que existem claramente sequências de registo etnográfico, e demos anteriormente o
exemplo extremo do plano do padre em Rio de Onor, mas há também uma postura
documental clara e uma ética ou uma moral de olhar ao nível do outro também muito
evidenciada. Julgo que o facto de Campos ter feito pelo menos dois filmes colados, no sentido
literal, à produção científica de Jorge Dias, fazem só por si dele o único realizador que pode
assumir essa categoria do filme etnográfico, ela própria fabricada no seio da antropologia
académica e validada enquanto tal. O mesmo não acontece com realizadores que estão dentro
do corpus que trato aqui, como Noémia Delgado ou Costa e Silva, cujo impulso romantizado
consubstanciado no uso de efeitos visuais os afasta deste olhar mais atento ao detalhe,
retraído nos efeitos e entregue à visão do mundo dos outros.
Finalmente, como afirmei antes, um realizador como Campos não se define a si próprio
como documentarista – na realidade era alguém que vinha da ficção –, mas parece funcionar
com as características, em termos do modo como vê o seu ethos, de um documentarista e
etnólogo. Para se pensar o trabalho de um cineasta como Campos é necessário, como fez Brian
Winston em relação ao documentarismo (1988), tratar a relação entre vários elementos:
primeiro, a situação real, ou seja, aquilo que acontece em frente à câmara (o evento prófilmico); segundo, os filmes, como documentos, ou textos, e as marcas da sua construção;
terceiro, as ideologias e interesses dos seus realizadores; e quarto, as ideologias e interesses
que influenciam a maneira como as audiências os vem. Assim, toda uma discussão sobre a
especificidade do olhar etnográfico em cinema, que tratamos aqui para o caso de Campos,
deve ser feita não só a partir dos filmes e dos discursos em torno destes, mas também na forma
como eles foram recebidos em especial pela crítica e pelos historiadores do cinema em
Portugal.
Filmar é retomar a experiencia vivida e a memória subjectiva
Vimos que António Campos foi um realizador marginal e à margem, protagonista de rupturas
ao nível do modo de produção, com longas estadias no terreno, e com uma missão etnográfica
e documental. Apesar disso, foi um realizador que influenciou o cinema português, e que dele
deriva, em especial o de Paulo Rocha. Mas para além deste facto, um filme como A Almadraba
Atuneira é uma chave para entender o percurso que começa com Nazaré Praia de Pescadores
nenhum filme poderá substituir as efetivas experiências de vida - é retirar-lhe uma componente essencial, é
retirar-lhe a sua capacidade de olhar e afectar o mundo através do cinema” (2005: 80).
216
(1927) de Leitão de Barros, Douro Faina Fluvial (1931) de Oliveira, e passa por Nazaré (1952) de
Manuel de Guimarães. A seguir a este filme de Campos, realizado em 1961, e no seguimento
deste, podemos dizer que existe ainda o filme de Paulo Rocha Mudar de Vida (1966).174
Admirador do cinema de Campos, Rocha roda no Furadouro, onde passou parte da sua
infância. Este filme, que cruza a ficção e o documentário etnográfico, foi também um ponto
fundamental de encontro de protagonistas de um certo olhar sobre o país: António Campos foi
assistente de realização e António Reis escreveu os diálogos.175 Em Mudar de Vida, o aspecto
documental está patente em cenas da pesca, do ambiente, e dos décors e interiores, mas a
cena da festa de S. João ecoa como aquela em que a vertente documental, aqui associada a um
registo de memórias e vivências subjectivas da infância e juventude do realizador, é mais forte.
Como conta Paulo Rocha,176
O filme fala da minha infância, fala de uns homens que para mim eram uns gigantes, uns
conquistadores vikings, rudes, a cheirar a aguardente. Eu tinha uma grande admiração
por eles. Os meus primos achavam que o povo eram pessoas burras, mas para mim
aquilo era tão bonito e ao mesmo tempo tão forte, que mais tarde quis fazer um
monumento àquilo, porque aquilo ia acabar. O meu pai era lavrador, e quando
acabavam as colheitas íamos para a beira-mar, para aquela paz espantosa, ver o mar e
o sol, no Furadouro. Depois o meu pai emigrou para o Brasil. De 1960 até agora volto
sempre ao tema do S. João. Está sempre lá aquele S. João que eu vivi, mesmo na ficção.
Para mim, documentário e ficção são como a mão esquerda e a mão direita, e é preciso
as duas. Por exemplo o Douro Faina Fluvial do Manoel de Oliveira, eu acho que se
deveria estudar de que planeta é que aquilo vem.
No filme Mudar de Vida, estreado em 1967, sente-se um fascínio pela vida dos
pescadores que é central ao filme, apesar de uma breve incursão no mundo operário quando
Adelino se encontra com Albertina, que trabalha numa fábrica. Albertina corresponde ao
modelo mais urbano enquanto Júlia corresponde ao modelo da mulher rural, trabalhadora, fiel,
dedicada à casa e aos filhos, com uma espécie de destino fatal de ficar amarrada a esse modo
de vida mais tradicional. Albertina quer sair, emigrar, ir embora, Júlia é a que pertence ao lugar,
174
Trata-se de uma ficção que conta com os atores Geraldo d’El Rey (Adelino), Isabel Ruth (Albertina), Maria
Barroso (Júlia) e João Guedes (Inácio). Segundo a sinopse, “Enquanto Adelino cumpria o serviço militar em África,
Júlia casou com o seu irmão Raimundo, como ele pescador. A luta pela sobrevivência, contra o mar e a tradição,
marcam esse conflito amoroso e a paixão que renasce, para Adelino, quando é atraído pela natureza selvagem da
jovem Albertina. Terra, mar, homem e progresso interligam-se num drama constante.”
(in http://www.amordeperdicao.pt)
175
No filme colaboraram também uma série de elementos vindos do EUCE-Estúdio Universitário de Cinema
Experimental, como Elso Roque, o operador, mas também Alfredo Tropa, Teresa Olga e Matos Silva.
176
Numa sessão a que assisti, em 24 de Fevereiro de 2008 no cinema S. Jorge, a que se seguiu uma conversa com o
realizador.
217
a que fica, a que mantém a casa. Como pano de fundo está bem presente a emigração que nos
anos 1960 afectara profundamente o tecido social e cultural português.
Apesar de tudo, podemos reconhecer algumas influências de Campos: a imagem de
rudeza e coragem dos pescadores era também evidenciada na Almadraba (e acentuada com o
uso da Sagração da Primavera), numa espécie de distância e admiração simultânea, aliada a um
fascínio de proximidade que marca a diferença relativamente à representação do mundo rural,
associado com a interioridade, o arcaísmo e a rusticidade.
Assim, a experiência de estar com os pescadores, e a memória associada a uma infância
passada no litoral (no caso de Campos em Aveiro) parece ser, em ambos os casos, uma marca
deste cinema. Em Gente da Praia da Vieira, temos essa mesma sensação da experiência vivida,
do estar ali e do aqui e agora. Campos filma dentro do barco que parte para a pesca da Xávega
com a companha a arriscar uma entrada no mar turbulento. E estamos, literalmente, dentro do
barco e a sentir o mar. Acácio de Almeida, o operador de câmara e director de fotografia que
estava dentro do barco quando isto aconteceu, conta:
O António Campos não foi, fui somente eu, não sei se foi alguém do som, mas penso que
fui sozinho, era um barco de não sei quantos metros, mas devia ter uns 15 ou 18 metros,
com outros tantos pescadores e fomos para o mar. Eles não queriam sair, não queriam
sair, diziam que estava mau tempo. Mas o Campos tanto insistiu, “é só dar uma
voltinha, só para fazer umas imagens e depois regressar”. Só que não conseguiam
regressar e o barco afastou-se muito para o largo, perdemos a costa e levantou-se um
temporal tremendo, tremendo e eu apercebi-me que estava em maus lençóis porque vi
os pescadores com o medo cravado na cara e nesse momento entendi porque é que as
rugas são tão profundas nos pescadores, porque devem passar tantas vezes por esta
situação, e pensei: “isto é mau, não posso fazer nada para me salvar porque o mais
normal é ficarmos aqui todos”, portanto a minha convicção é que íamos ficar todos
porque as vagas eram tão altas, tão altas, tão grandes, tão grandes e depois cravava
um buraco tão grande… tremendo, eles todos a gritar, de maneira a pôr o barco a cortar
as ondas, mas elas vinham de todos os lados e bom, eu primeiro tive muito medo, depois
deixei de ter medo, filmei tudo o que tinha a filmar, gastei a película já não tinha mais
nada para fazer e estive 4 horas a ver, a olhar de um lado para o outro, à espera de
entrar e não voltar, mas tinha uma paz muito grande, não sei que fenómeno se passou
no interior de mim, a verdade é que parece que estava além, já ouvia sinos, já ouvia
música a cantar coisas bonitas. Compreendi mais tarde que eles tinham lançado a rede
mas não a queriam perder, o aparelho era muito caro e era o ganha-pão, daí que foram
andando, andando e, sei lá, mais de 5 horas que nós andámos no mar. Quando nos
viram chegar ao longe foi uma festa. Eu estava encavalitado na proa, estive sempre
encavalitado na proa do barco, tinha uma proa muito esguia, e eu estava encavalitado
ali com os pés entrelaçado, não conseguia sair de lá, já. Quando chegámos à praia,
pegaram em mim e puseram-me no chão e tinha essa mesma forma, completamente
enrijecido. As pessoas atiraram-se ao mar para apanhar as redes e, milagre dos
milagres, as redes estavam cheias de peixe, nunca tinha visto tanto peixe. Isso não deve
218
estar no filme porque eu não filmei, eu não podia filmar porque eu estava imobilizado ali
no meio do chão, já não tinha película, estava traumatizado.
Mais uma vez, temos aqui o relato directo do modo como, quando faz documentário,
Campos está preparado e condicionado para o que pode acontecer, o aqui e agora que faz com
que os eventos tomem conta do filme. Para este realizador, tal como tornei claro no filme que
fiz sobre ele, a experiência subjectiva da observação directa e da participação dos eventos,
aquilo que é representado nos filmes, e o modo como esta representação é condicionada por
um certo tipo de olhar misturam-se e tornam-no num caso único. Esta ideia foi-me devolvida
pelas pessoas que entrevistei, disponíveis para me contar como nessa época fazer
documentário, sair da cidade, era preparar-se para um conjunto de privações, aventuras e
surpresas que formaram uma geração de técnicos como Alexandre Gonçalves, Acácio de
Almeida e Manuel Costa e Silva. Este último foi, além de realizador, também director de
fotografia de filmes do Cinema Novo, começando com Uma abelha na chuva, de Fernando
Lopes.
Costa e Silva, entre Trás os Montes e o Alentejo
Manuel Costa e Silva formou-se entre 1959 e 1961, em Paris, no IDHEC, estagiando com Jean
Rouch nos anos da revolução do cinema directo. Esta aprendizagem e esta sua experiência
terão sido marcantes para entender os dois filmes de cariz marcadamente etnográfico que
gostaria agora de brevemente analisar, comparando-o a Campos, de forma a discutir aqui as
contaminações e as diferenças entre olhares e redes de sociabilidade e de trabalho que fizeram
desta uma geração atraída e fascinada pela cultura popular. No caso de Manuel Costa e Silva,
esta atracção está imbuída de um espírito de missão semelhante ao de Campos. Comecemos
por algumas notas tomadas aquando do visionamento do filme Festa, Trabalho e Pão em Grijó
de Parada (1973),177 de Manuel Costa e Silva:
Um mascarado. Um narrador em off começa por explicar o que é um careto, mascarado
das festas de inverno de Trás-os-Montes, neste caso na aldeia de Grijó de Parada: “este
é um careto, careto de caraça, de máscara, cuja existência segundo os eruditos deve
atribuir-se à sobrevivência daquelas personagens que corriam as aldeias e os campos no
177
Realizador: Manuel Costa e Silva; Argumento: Manuel Costa e Silva; Produção: Instituto de Tecnologia
Educativa; Director de produção: Miguel Cardoso; Fotografia: Manuel Costa e Silva;
Montagem: Fernando Lopes e Helena Baptista; Director de som: Francisco Rebelo; Duração: 35’; Formato: 35 mm,
cor.
219
solstício do inverno para expulsarem os espíritos, que se opunham ao erguer do sol e à
fertilidade da terra. Em todo o distrito de Bragança, o careto é sempre uma
representação do diabo ou tomado como tal”178. Seguidamente, ouve-se em off a voz
de um aldeão: “esta roupa que eu visto é uma coberta qualquer, que uma pessoa faz em
casa nos teares de lã. E isto é uma coisa que não se pode perder porque é uma coisa
muito bonita para fazer uma festa, todo o mundo se chega para o pé do careto. Esta
roupa nem que tivesse oitenta quilos para mim não era nada”. Na imagem, crianças
correndo atrás do careto, brincando. Um rapaz põe uma moeda na maçã do careto. Vêse depois a claquete e ouve-se o claque. Alguém, de costas voltadas para a câmara
pergunta:
- Há grande falta de pessoal aqui, para o trabalho ?
Um homem responde e há um diálogo, num largo. Ao fundo passa um carro de bois, os
homens juntam-se a ouvir:
- Não, a falta de pessoal resolve-se, temos as máquinas, o pessoal que aqui vive, não sei
como hei-de dizer, ganha mais dinheiro, mas não há falta de pessoal
- E pode fazer-me a descrição do que é a festa de natal, aqui em Grijó? A festa do
Natal? Quantos dias são ?
Zoom out, vê-se o operador de som com gravador Nagra e microfone a captar o som dos
dois homens a falar.
- São três dias de festa, temos o dia da mesa, a bênção do pão em que os mordomos dão
pinha a toda a aldeia e aquele pão para as pessoas, e dão 4 sardinhas, pratozinhos de
tremoços, e toda a aldeia ocorre, há uma mesa para os mordomos que entram e que
saem, e as pessoas mais velhas, o padre da freguesia, as autoridades, e acaba naquela
brincadeira
Imagens gerais da vida da aldeia, vacas e carros de bois que passam, pastor com
cabras…
- Acaba à noite naquela coisa que hoje já não usam, aquela coisa da galhofa, que se
agarrava num curral de homens
- Galhofa é a luta ?
- É a luta!
- Agora já não fazem?
- Já não, por acaso este ano fez-se
- Ai sim?
- Mas nunca se faz porque a aldeia precisa de mais um bocadinho de civilização e dá
sempre aqueles rancores. É a brincar mas não é bem, aparecem aquelas disputas entre
aldeias, nós aqui com os de Paradela há uma certa rivalidade.
Na imagem, um grande plano de gravador de som com o homem em directo a falar.
178
Segundo o genérico do filme, o texto é escrito por Vítor Silva Tavares e lido por Costa e Silva.
220
Estamos em 1973, portanto ainda durante o tempo da censura. Este facto poderia
explicar que o filme se centre na tradição, e não na contemporaneidade. No entanto, e como
vimos até agora, este é um cinema que segue uma vertente documental e etnográfica que,
aparentemente, tem uma continuidade que atravessa a revolução, não podendo por isso ser
explicada com base no regime político do país. Antes e depois do 25 de Abril, realizadores como
Costa e Silva continuam a procurar o mesmo, ou seja, uma certa ideia de interioridade e de
viagem para fora da cidade associada ao passado. Mais do que construir uma visão e uma
imagem do país, que evidentemente estavam lá, julgo que, mais uma vez, o que existe aqui é
também a procura de um certo país, associado a um certo tipo de cenário, de paisagem.
Nesse sentido, o cinema de Costa e Silva continua a missão etnográfica que tinha
começado em 1962, com o Acto da Primavera. Podemos mesmo dizer que este início do Festa,
Trabalho e Pão em Grijó de Parada funciona como um espelho do início do filme de Oliveira, O
Acto da Primavera, em que, como vimos, o realizador mostra a equipa, os jovens citadinos que
falam do texto que vai ser representado, transitando daí para o ponto de vista dos actores do
auto.
Para além desse aspecto de auto reflexividade, existia em Costa e Silva uma necessidade
e um fascínio por declaradamente assumir que o som é feito em directo, o que associa este
filme aos movimentos internacionais do cinema directo. Discípulo de Rouch, com quem
estagiou, Costa e Silva viveu a geração da revolução do som directo. A partir de final dos anos
1940 existia a possibilidade de haver gravação directa de som mas ainda com um problema de
som síncrono. É em parte como resultado da evolução do filme etnográfico que surge esta
tecnologia que irá alterar em tudo o modo de fazer documentário. Em 1961-62 começa o
verdadeiro directo, em que câmara e som estão envolvidos na realidade, com planos de
sequência cada vez mais longos. O primeiro filme a fazer isto é o Chronique d'un Été (1960) de
Rouch e Edgar Morin, uma etnologia da cidade de Paris, da vida citadina. O filme constrói-se em
torno desse fascínio da posição de uma câmara e de um microfone que, frente às pessoas,
acaba por explorar o desconforto e o aspecto perturbador desta relação. Rouch incorpora esta
ideia da alteração dos comportamentos frente à câmara, o seu impacto e o seu aspecto
catalisador. Este é um filme que claramente tem algumas das características que viriam a
influenciar realizadores como Costa e Silva, nomeadamente no uso do som, mas também no
modo como os filmes se desligam do guião, da planificação. A montagem perde também
alguma importância, há uma subjectividade de autor – no último momento de rodagem o filme
está feito. Por outro lado, tendencialmente, em filmes como a Chronique, a ordem final das
cenas tem a ver com a ordem de rodagem.
221
De facto, esta constatação da importância do uso do som directo presente em Terra
Trabalho e Pão, no plano em que se vê o microfone, representa uma mudança importante.
Quando se filma a partir desta tecnologia, espera-se mais da realidade, incorpora-se o silêncio,
a pausa, imagem e som "aprendem" a esperar um pelo outro. Este era o sonho de Flaherty, que
nunca pensava na montagem e no limite nunca acabaria de filmar: o sonho de um cinema feito
na rodagem, do confronto com a realidade e que se opõe à ideia dos soviéticos nos anos 20,
com a importância da montagem e da découpage. De certo modo, todos os filmes do directo
dos anos 1960 têm a ver com o desenvolvimento destas potencialidades. Passa a haver uma
preocupação com a relação entre o cineasta e aquele que é filmado no sentido de um
aprofundamento dessa relação. Depois do directo e dos novos problemas éticos que este
coloca nunca se poderia voltar atrás tentando fugir ao facto de que a câmara perturba e
condiciona aqueles que filma. A partir desse momento, é possível fazer um cinema muito mais
exigente, encontrando um tipo de relação com as pessoas em que a ideia da interferência está
já assumida -as pessoas sabem o que se está a fazer e o filme é um reflexo dessa construção de
uma relação em que um grava, o outro é gravado.179
De certo modo, o que Costa e Silva faz aqui é o correspondente ao gesto moral e ético
de Campos de se colocar no final do Rio de Onor dizendo “falamos de Rio de Onor”, gesto sobre
o qual já reflectimos antes. Por outro lado, o filme quer ainda colocar claramente o aspecto de
indagação e de inquérito, a voz exterior que coloca a pergunta básica e inocente, pedindo para
as pessoas contarem o que é a festa a que assistimos. Este fascínio pela palavra directa,
presente no narrador da Vilarinho e em especial no filme de Rio de Onor é uma marca deste
cinema documental etnográfico mas que Costa e Silva reafirma e assume. No entanto, uma
diferença relativamente ao cinema de Campos é que neste existe um texto em off, a voz de
alguém – que não é nem realizador nem personagem – mas sim o especialista que transporta
um saber histórico, geográfico, ou sociológico de que os próprios actores sociais não partilham.
O narrador da voz em off é aquele que consegue generalizar, expandir e teorizar. O povo,
quando fala, é geralmente dos aspectos do particular, a partir da experiência: enquanto a
câmara de Costa e Silva nos mostra os homens no café, falando ao balcão, o narrador explica,
usando o passado como tempo verbal, que “Grijó de Parada tinha o seu ciclo de terra trabalho
e pão”, que se localiza a “três km a sudeste de Bragança, oitenta e poucos fogos, 350
habitantes”, em que “as pessoas vivem dos produtos da terra, vacas, porcos, cabras, batatas,
vinho azeite, castanha, mas principalmente do trigo” e que “Grijó de Parada produz 60 vagões
de trigo por ano, tendo o segundo lugar na produção de cereais do concelho de Bragança. O
179
Sobre a chamada revolução do direct cinema americano ou cinema vérité francês existe uma vasta literatura da
qual posso salientar os livros de Barnow [1974] 1983 e de Barsam [1973] 1992. Acerca do trabalho de Jean Rouch,
ver, por exemplo, Stoller (1992) ou Eaton (1979).
222
trabalho do pão para o pão de cada dia ganha aqui uma força particular. Ao cair da tarde chega
o cigarro, copos, matraquilhos, laracha, e o trabalho espera”
Mais tarde no filme, as imagens das malhas, em tudo semelhantes às filmadas pelo
Centro de Estudos de Etnologia, são agora acompanhadas pela sobreposição de cânticos
populares. A mulher a fazer uma trança, a velha sentada na soleira da porta e da parede
granítica180, o barbeiro a cortar o cabelo, a imagem do burrinho junto ao riacho são cenas que
alternam o quotidiano com o trabalho e as malhas. A montagem do filme (feita por Fernando
Lopes) recria de modo inventivo o quotidiano e o passar do tempo na aldeia. Algumas cenas do
filme adoptam o aspecto fechado do documento etnográfico, explorando a ideia de ciclo (do
azeito, do vinho, do linho, etc). Por exemplo, a sequência da matança do porco ou a do fazer do
pão incorporam todos os passos, sem interferências sonoras, poéticas, de efeito. Nesta última
sequência, começamos no moinho, com o grande plano da mó com grãos de trigo, o moleiro a
retirar a farinha, as mulheres a peneirar. Uma mulher amassa o pão numa grande maceira. O
som é directo, só se ouve a sua respiração e ruídos da água e do mexer na massa. Vê-se o forno
com lenha dentro, ouve-se o crepitar do fogo, a mulher continua a amassar. Mais tarde, as
mulheres rezam enquanto o pão está no forno. Um homem sentado come pão e vinho, e a voz
do narrador confirma: “comer, um ritual grave, só na aparência vestido de simplicidade, de
certo modo uma profanação, mas também um acto de respeito, os homens fazem o pão e por
ele se fazem”.
Parece ser justamente no registo da festa que o filme se aproxima de um documentário
etnográfico de registo, que vem da tradição que estava em uso na Europa, ao mesmo tempo
carregando essa identidade nostálgica do cinema português. Vemos isso na cena em que uma
jovem mulher, gordinha, camisola cor de rosa, um prato com um pão dentro, está de pé na
soleira da porta, acenando com o prato aos caretos que chegam, e todos se riem, e um homem
continua a tocar gaita de foles. O ambiente ritualizado, tomado pela emoção dos participantes
e presente nos gestos de repetição permite aceder ao olhar de Costa e Silva. Na verdade, aquilo
a que este dá importância parece ser a mesma coisa a que as pessoas dão importância, e
portanto a câmara não se desvia do que está a acontecer e que é pertinente, visto como
central, objectivo. O deslumbramento e romantismo que o filme procura na festa, que
contrasta com o trabalho, também ele filmado como se fosse um ritual colectivo e encenado
(as malhas), está bem presente na sua narração: “em Grijó de Parada, três dias de festa,
retirados a 362 de trabalho, recompensa merecida, amanhã retiradas as máscaras há que
223
ganhar o pão, em Grijó de Parada, e aqui no filme, não há pão sem trabalho e o trabalho sem
festa não é digno dos homens.”
Em 1977 Manuel Costa e Silva, também ele realizador de filmes de ficção e director de
fotografia de muito do cinema português da época, realiza Madanela.181
Fig. 18. Rodagem Terra, Trabalho e Pão em Grijó de Parada. CP.
No final, pode ler-se: “este filme faz parte do Museu da Imagem e Som, iniciativa
subsidiada pela Fundação Calouste Gulbenkian”. O filme foi rodado em Aldeia da Venda, no
Alto Alentejo, e mais uma vez centra-se em aspectos folk da cultura. O seu narrador refere que
“por esta terra se arrastaram e combateram os homens, em ritos de fertilidade, de puberdade,
a Deus”. Mencionando o cristianismo primitivo, o judaísmo, as “terras sem fé de gentes com
nova fé”, o filme centra-se mais uma vez num ritual. Da sua descrição consta que “no primeiro
Domingo de Maio, celebra-se uma festa sem padre, a festa das cruzes, ou das virgens. De uma
casa da aldeia sai a santa cruz, uma virgem de branco e cordões de ouro ao pescoço, do outro
lado vem ao seu encontro a Madanela, de escuro e envolvido em cordões de prata, com a
Verónica.” O filme procura as origens da festa: “porque se esconde esta cruz? porque recusa o
padre? porque tapa a face da moça esta cruz? de onde vem esta música arrastada e antiga? da
resistência de outros cultos? da resistência do povo à ideologia dos senhores?”. Ao longo do
filme, esse narrador, voz do saber e do conhecimento define o que vemos como sebastianismo
181
Texto: Borges Coelho; Montagem: Fernando Lopes; Fotografia e Realização: Manuel Costa e Silva. Centro
Português de Cinema.
224
e messianismo popular, especulando a partir das imagens, exoticizando, evocando tempos
primordiais, dizendo que “as cruzes pesam desde a contra reforma”, e fazendo analogias com o
passado como se esta tradição fosse apenas o resquício de algo anterior e só nesse arcaísmo
encontrássemos o seu sentido, como uma resistência de algo muito antigo, ancestral.
Este aspecto será cada vez mais retomado no cinema português de inspiração
etnográfica: daqui passamos para o medievalismo de João César Monteiro e a atemporalidade
primitiva de António Reis. Apesar do ambiente sulista, das filmagens à noite, com os cantares
alentejanos, os campos de trigo, a ceifa, a água que se bebe num pote de barro, o filme retoma
a estrutura de Terra Trabalho e Pão em que tudo volta ao início de um ciclo ligado á natureza e
tudo parece ter um equilíbrio e uma harmonia: vejam-se as imagens de um bezerro recémnascido a tentar andar, ainda cheio de sangue, com o homem a tentar empurrá-lo para a mãe,
ensinando-lhe onde está o leite.
Em relação a Campos, talvez este seja um cinema em que o gesto sublinhado,
contemplativo seja mais acentuado, menos contido. Em ambos os casos, a relação com o
cinema é muito mais ampla do que estes exemplos da realização de documentário de
inspiração etnográfica. Trata-se de cineastas que se inspiraram e viram o cinema clássico, que
fizeram e trabalharam com pessoas que pensaram a ficção mas que produziram uma etnografia
espontânea. António Campos e Costa e Silva – tal como Noémia Delgado, e mais tarde
Fernando Matos Silva – foram realizadores que, em Portugal, deram um passo em frente
relativamente ao que foi produzido pelo Centro de Estudos de Etnologia. Julgo relevante, por
agora, identificar sumariamente de que tipo de passo estamos a falar aqui, aproveitando para,
tal como no capítulo anterior, fazer uma síntese a partir das reflexões mais relevantes que a
antropologia fez sobre e com o cinema. Trata-se de focar uma mudança de paradigma,
associado a uma prática, e que foi dado por pioneiros do filme etnográfico como Robert
Flaherty, John Marshall, Thimoty Ash ou Jean Rouch: a de passar da ideia do filme como
método para trazer dados à pesquisa para a do filme gerador de novo conhecimento
antropológico.182 O mesmo tipo de mutação foi dado por antropólogos como Margaret Mead e
Bateson, que filmaram entre 1936-38 em Bali e Nova Guiné fazendo um trabalho comparado
em que pela primeira vez não se recolhiam tecnologias nem se filmavam rituais e cerimónias do
domínio do visível, mas sim atitudes culturais e relações sociais. Bateson refere mesmo a
diferença entre ver (seeing), uma forma passiva de visão que preserva de forma impessoal o
sujeito do filme, e olhar (looking), actividade mais selectiva, intencional, que aposta num
182
No livro Principles of Visual Anthropology (Hockings, 1975), a partir do qual se institucionaliza em várias
universidades o ensino da Antropologia Visual, que existia como uma prática, mas não tinha ainda uma formulação
teórica de síntese, encontramos artigos que remetem para estas 2 atitudes, e a passagem de uma para a outra.
225
sentido.183 Olhar pela câmara é deixar um traço do processo de produzir imagem, é interpretar
usando a câmara. O desejo de usar a película para interpretar a realidade teve que ultrapassar a
ideia de que a câmara em si serve para ver, possui uma visão e uma verdade. Em resumo, para
fazer emergir a imaginação cinematográfica do antropólogo ou a imaginação etnográfica do
cineasta, foi necessário ultrapassar o modelo das ciências naturais, presente na enciclopédia
cinematográfica do Instituto de Göttingen ou nos filme do Centro de Estudos de Etnologia.
Segundo MacDougall, é com realizadores como Jean Rouch e John Marshall 184 que, nos
anos 1950, se dá esta mudança. E Manuel Costa e Silva estagia justamente com Rouch nesse
período, nessa passagem de década em que tudo muda no cinema documental. O que é que de
novo trazia um realizador como Jean Rouch? Por um lado, a forma como o cineasta
percepciona o processo de entendimento do espectador muda. Enquanto que Flaherty usava
estratégias narrativas baseadas no romantismo, na afeição pelas pessoas que filmava, Rouch ou
Marshall levam mais longe as possibilidades de interpretação do espectador, tornando a
fabricação física e psicológica dos eventos mais complexa. Se em Flaherty olhamos e
acompanhamos um inuit, Nanook, com uma certa simpatia, em Rouch envolvemo-nos com os
sujeitos tal como ele se envolveu, e essa experiência como participante e como observador no
terreno transita para a audiência. O protocolo do olhar modifica-se radicalmente. Se virmos o
primeiro filme de Rouch Bataille sur la Grand Fleuve, (1951) a câmara não só participa como
recria o ambiente físico e psicológico da caça: “fazer um filme é escrever com os olhos, ouvidos,
com todo o corpo” diz Rouch. Os filmes de Rouch são imaginados pelo próprio como um sonho,
um ciné-transe, como em Tourou et Biti (1971), em que a câmara participa em plano de
sequência provocando o próprio transe nos participantes do ritual.185 Em realizadores como
Rouch existem alguns traços que marcam aquilo que provocou sempre um efeito directo no
documentário etnográfico, que encontramos em Campos e nos outros realizadores de que falo
aqui: a ideia de que o filme é uma construção de quem o vê, assim como a acepção de que
muito do que é mostrado, do que se vê é da ordem do invisível. Margaret Mead abriu caminho
para esta reflexão acerca da visibilidade da cultura com os seus filmes sobre o transe, a ideia de
183
Esta distinção é explicitada por MacDougall: “if seeing implies a passive form of vision that scans a subject or
preserves it in some impersonal sense, looking implies a more selective, intentional activity, a search for or an
investment of meaning” (2006: 242).
184
O jovem Jonh Marshall participa no início de 1950 numa expedição aos Bushman do deserto do Kalahari, com
os seus pais e em 1956-58 filma The Hunters, mostrando a vida e cultura de um grupo de !Kung San (mais tarde
chamados Bushmen, Bosquímanos) no Norte do deserto de Kalahari, dando ênfase à procura de comida num duro
contexto: o climax do filme é atingido com a caça de 13 dias a uma girafa ferida por uma seta envenenada. No seu
Bushmen of the Kalahari (1974) regressa para mostrar as tremendas mudanças sofridas pelos seus personagens. O
filme N! ai, The story of a !Kung Woman (1980) é uma biografia de N!ai e mostra o contexto do grupo até ao
momento presente, numa reserva Bushmanland e o modo como esta penetração colonial afectou a vida desta
mulher.
185
Acerca do trabalho de Jean Rouch, ver, por exemplo, Stoller (1992), Eaton (1979), ou Henley (2010).
226
que, e vimos esta ideia formulada por Deleuze a propósito do cinema como récit, a câmara
mostra os acontecimentos a partir do ponto de vista dos sujeitos.
Esta viragem da década de 1950 para 60 é portanto um legado onde se encontram
vários movimentos internacionais que dão um contexto mais preciso ao que se fazia em
Portugal. Para além do que acontece na Alemanha, com o instituto de Göttingen, em França
Rouch filmava desde 1946, nos EUA Margaret Mead continua a defender o uso da câmara no
trabalho de campo e na Universidade de California cria-se o departamento de Antropologia
Visual. Tudo isto está, obviamente, ligado ao movimento mais extenso do documentarismo. No
fim dos anos 1950 surge em Inglaterra o movimento do chamado free cinema que vê o
realizador como observador, rejeitando o papel de promotor, o equipamento torna-se mais
leve, o 16 mm substitui o 35 mm, e desenvolve-se um cada vez maior fascínio pelos discursos
das personagens não tipificadas, diferentes na sua banalidade. Os Drew Associates (1958) com
Richard Leacock, que havia sido câmara de Flaherty em Louisiana Story, fazem o filme Primary,
sobre as eleições primárias norte-americanas que opuseram Kennedy a Hubert Humphrey.
Frederick Wiseman faz também parte deste grupo. No Canadá surgem movimentos na viragem
dos anos 50 para os anos 60 como o candid eye, com filmes feitos para a televisão. Este é um
movimento de uma série de cineastas anglófonos cujas ideias eram mergulhar no quotidiano
mas aproveitando novas tecnologias, num olhar que se imagina como indiscreto,
subjectivamente pensado como um olhar distanciado, embora não inocente. Este é um cinema
que acredita no distanciamento, em que a câmara não perturba as acções.
Devido a este tipo de pressupostos, estes filmes partilham o impulso geral em França e
América, em que se mergulha num documentarismo que filma obsessivamente pessoas,
acreditando que nesse jogo se recria e reinventa a realidade que nem os próprios protagonistas
conhecem. Por volta dos anos 1960, dá-se o advento do documentarismo directo canadiano,
francófono, conhecido como o cinéma du québequois. Ao arranque do grupo francófono no
princípio dos anos 60, estão ligados Michel Brault, Gilles Groux, e Claude Jutra. Poderíamos
aqui estabelecer um paralelo entre Campos, Costa e Silva, ou Noémia Delgado, e os
realizadores canadianos que se dedicaram à vertente etnográfica do documentário, em
especial Michel Brault (n. 1928), realizador do Québec ligado ao National Film Board of Canada
durante a década de 1960 e 1970. Brault foi um pioneiro na técnica de trabalho de câmara ao
ombro, tendo sido convidado por Rouch para trabalhar no mítico Chronique d’un Été quando
decorria o Verão de 1960. O seu primeiro filme, Les Raquetteurs (1958) tem sido considerado
um filme pioneiro do cinema directo. Tal como o de Campos, Almadraba Atuneira (1961), o
filme que Brault realiza com Pierre Perrault, Pour la suite du monde (1963) retrata uma
227
comunidade piscatória. Durante séculos, os habitantes de Coudres, uma pequena ilha junto ao
rio St Lawrence perto da cidade de Québec caçavam um tipo de baleia, a Beluga através de
uma armadilha que era colocada na maré baixa. Esta prática tinha sido abandonada nos anos
1920 e é reativada para o filme. Aquilo que move os realizadores e a própria população é uma
espécie de recriação identitária, num movimento bem caracterizado por Stocking (1978), de
atração de certos grupos restritos de intelectuais pelas questões das “tradições populares” em
especial nos países mais periféricos onde as modalidades de invenção, reconstrução e recriação
identitárias se produziram à custa das categorias de cultura popular e povo.
No entanto, ao contrário de Campos, os realizadores do Québec trabalhavam já com a
tecnologia e toda a estética associada ao som direto, e ao chamado movimento do cinema
vérité. Aquilo que sumariamente distingue este movimento do direct cinema americano ou do
free cinema inglês é a função catalisadora, provocadora, que realizadores como Rouch
exploravam. Trata-se de filmar situações do real recriando ou provocando a sua génese. Assim,
o filme Pour la suite du monde, afasta-se da simples observação aproximando-se da ideia de
participação, dando grande ênfase à palavra e às motivações dos seus intervenientes para que
a sua vida seja filmada. Por outro lado, ao contrário dos realizadores portugueses que, nos
processos de reconstrução do passado pretendem que aquilo que registam da cultura popular
ainda lá está, Brault e Perrault assumem que aquilo que mostram é uma encenação feita em
colaboração com os habitantes da ilha, de uma prática ancestral que tinha caído em desuso.
Assim, o filme constrói a sua narrativa em torno de uma ideia de suspense em torno do
aparecimento e captura das baleias, envolvendo o espectador nesse empreendimento de
recuperação e registo de um modo de vida tradicional. Mais uma vez, a equação teórica que
permite trabalhar esta questão relaciona-se com o papel deste tipo de performance na
construção da identidade – neste caso regional - e nos processos de objectificação dessa
mesma cultura popular.
Paulo Raposo, a propósito dos autos populares que estuda, e da sua apropriação
histórica pela elite cultural, diz que “quando falamos de reinvenção cultural e de ‘encenação da
autenticidade’ pensamos em ‘fenómenos de re-imaginação’”.186 E re-imaginar implica ideias de
regresso, ressurreição, revivificação, mas também de criatividade e de produção cultural”. O
autor relata o modo como várias performances culturais ligadas á cultura popular – os autos, a
música, o teatro popular – sofrem processos de reinvenção. A propósito do uso das máscaras
pelos caretos transmontanos, o autor faz referência, numa nota, ao facto de, com o filme
Máscaras, a realizadora, Noémia Delgado, ter reativado, nalgumas aldeias, as desaparecidas
186
Este conceito é usado também por Sharon MacDonald (1997).
228
festas do ciclo do Inverno. Como refere Raposo, em entrevista numa das aldeias
transmontanas, contam-lhe que “já só havia dois ou três fatos, os moços novos eram poucos e
muito pessoal estava emigrado! Quando a Noémia esteve cá a filmar o pessoal ganhou gosto
naquilo e depois retomou-se a tradição” (Raposo, 2002: 110 e 146).
Os cineastas que tratamos aqui, tanto os quebequenses como os portugueses, tal como
as populações que estes filmam e que estuda Raposo, estão altamente envolvidos justamente
em construir contextos culturais, “os quais partilham imensas semelhanças com as referidas
entidades culturais essencializadas pela antropologia clássica” (Raposo, 2002: 36).
Basicamente, e para aquilo que pode servir aqui como discussão sobre a identidade do cinema
etnográfico português, este, apesar de realizadores como Costa e Silva conhecerem bem o
panorama internacional, parece ter ficado fora do movimento que, nos EUA e em todo a
Europa,187 seguia uma forma particular de filmar, associada a uma determinada tecnologia e a
certas técnicas: a lógica do cinema directo era a de filmar a realidade com uma equipe
reduzida, grande flexibilidade de meios, a câmara à volta das coisas e das pessoas. Na rodagem,
começava-se a explorar o plano sequência sem a preocupação com os enquadramentos,
revelando tudo o que era a vida não mostrada na ficção e mostrando ao mesmo tempo a
grande encenação que era a vida humana. Tirava-se partido da iluminação natural, dos espaços
de rua, do interior das casas, do quotidiano e, finalmente, o cinema fixava-se naquilo a que se
foi chamando a componente antropológica ou etnográfica.
Parece assim acertada a afirmação de José Manuel Costa, o único autor que tem escrito
sobre a produção de documentários em Portugal, centrado neste tipo de problemática quando
este declara, em entrevista a propósito de Campos: “nenhum dos autores dos nossos melhores
documentários foi primordialmente um documentarista, no sentido em que não escolheu essa
área como objectivo central da sua carreira, e não se integrou acima de tudo na história e no
tempo do documentário internacional.” Não existem, até aos anos 1990, e segundo Costa, em
Portugal, documentaristas.188
187
Em Itália, por exemplo Pasolini adere a este estilo de cinema com o seu Comizio d’amore, uma espécie de
inquérito em directo à sexualidade dos italianos.
188
A cinemateca realizou o ciclo Novo documentário português que deu origem ao catálogo com o mesmo nome,
fazendo um statement sobre a importância da geração de documentaristas de que faço parte e a que voltaremos
no último capítulo.
229
Conclusões
O corpus que tratei neste capítulo inclui realizadores que se assumiram como portadores de
uma missão, a de realizar filmes com uma pertinência vista como científica e cujas ideias
derivam da etnologia. Este aspecto está presente em sequências longamente descritivas, no
uso do som directo e numa certa preocupação conceptual que os atravessa a todos, como a
necessidade de representar as comunidades, mais do que os indivíduos. São filmes que criam
um envolvimento - e não tanto um deslumbramento ou afeição -, procurando fugir da
intimidade e centrar-se na vida pública. Por outro lado, vimos como existe nestes realizadores a
missão de filmar acontecimentos únicos, em extinção ou em vias de desaparecimento, como
Vilarinho, em que, no seguimento do apelo vindo da elite cultural, o cinema é chamado de
urgência a colaborar numa consolidação do presente impedindo que o mesmo se transforme
num passado que se tornará, mais tarde, opaco. Este é um cinema do registo in loco, em que o
realizador vai procurar os acontecimentos concretos, as experiências vividas por pessoas
concretas.189 As cenas em interiores são quase sempre em torno de actividades e trabalho
apesar da recorrência da cena na cozinha, com a refeição da família. Em geral, este cinema
elimina os efeitos poéticos e oníricos recusando os de contemplação, acentua a precisão e
cronologia das acções, a contenção e a justaposição de linguagens diferentes: a descrição
histórica, a entrevista ou olhar frontal para a câmara, a captação de acções em directo,
observacionais, ou a reconstituição encenada de acções e discursos. A visão mais realista e
documental sobrepõe-se à onírica e poética. O realizador, por seu lado, concebe-se a si próprio
como aquele que resgata e devolve dignidade ao povo e sua cultura e para isso viaja, deslocase, mistura-se e questiona. Por esta via, a ruralidade e a cultura popular ligam-se à tradição e
memória. Os filmes não se detém na contemplação da paisagem e nos silêncios, mas sim em
narrativas que partem de rituais complexos, acções conflituais e a ideia de um quotidiano
marcado pela repetição dos ciclos da natureza. A visão não deixa de ser bucólica embora
aparentemente centrada na urgência de filmar o presente, que remete no entanto para um
passado atemporal. A ideia de sobrevivência parece atravessar estes filmes: de toda uma
comunidade, como no caso de Campos, da manutenção das gestualidades ritualizadas do lazer
e do trabalho, no de Costa e Silva. A atenção é dada ao particular, mais do que ao universal.
Trata-se de engrandecer aquilo que parece estar lá, ter sempre lá estado e que só estes
missionários conseguem resgatar. Os realizadores tendem a trabalhar de forma isolada,
189
Penafria refere este aspecto – de um cinema do presente - na conclusão do seu livro sobre António Campos,
acentuando que ele se centra no trabalho, em especial o das mulheres (2009: 84).
230
solitária (ou com uma equipa que, tal como vimos no relato de Acácio de Almeida na cena da
pesca incorpora o ethos do realizador), com meios de produção escassos como se a autoridade
etnográfica exigisse deles esse espírito de sacrifício, despojamento e missão, no sentido duplo
das citações que abrem este capítulo: representar o outro e fazê-lo para a eternidade da
história.
231
CAP 6 Cinema Poético ou da imaginação etnográfica
The other is never simply given, never just found or encountered, but made.
(Fabian, 1991: 208)
There have always been two kinds of arcadia: shaggy and smooth; dark and light; a
place of bucolic leisure and a place of primitive panic.
(Schama, 1995: 517)
Neste capítulo gostaria de abordar o terceiro corpus de filmes, a que chamei de cinema da
imaginação etnográfica ou da inspiração poética, em especial os filmes de António Reis, Jaime
(1975) e Trás-os-Montes (1976), feito em parceria com Margarida Cordeiro. Para entender o
olhar poético é importante este último, um filme que tomo como exemplo máximo da
representação da ruralidade em que se mostra um povo “guardião de tradições e de utopia, e
hipótese de redenção do citadino” (Nunes, 2003: 303). Para além destes, trato também, pelo
seu radicalismo, o cinema de João César Monteiro, com destaque para Veredas (1977), um
filme que o próprio realizador afirma ter sido, talvez, “marcado pela nostalgia do velho sonho
arcádico de uma perdida idade de ouro” (Monteiro, 2005b: 314).
Em geral, este corpus de filmes, embora realizado depois da revolução de 1974, parece
estabelecer uma continuidade com o cinema anterior, em termos das temáticas abordadas, ou
seja, propõe ainda um olhar sobre um país essencialmente rural e, genericamente, sobre a
cultura popular. Se a matéria é a cultura popular, no entanto, aqui o viajante - realizador, no
seu deslocamento da cidade, de uma “vida de plástico” (Monteiro, 2005a: 300) para o campo,
procura uma poética e um universo que não parece tanto vir dos outros, mas antes que
transporta consigo, ou que é fruto desse “encontro”. Ao contrário dos filmes tratados nos dois
últimos capítulos, os documentários descritivos e etnográficos, estes afastam-se quer do efeito
de realidade (no sentido de Roland Barthes), quer do efeito de verdade (no sentido de
Foucault). A primeira expressão refere-se a um tipo de discurso que constrói a ilusão de que
descreve a realidade de modo directo, sem a mediação da linguagem, sendo por meio da
ocultação do seu carácter retórico que constrói esse efeito de realidade. A segunda remete
para a questão da verdade: o que é importante não é, para Foucault, decidir, com base no
confronto entre um determinado discurso e a realidade à qual supostamente se refere, se ele é
verdadeiro ou não, mas examinar os seus “efeitos de verdade”, ou seja, determinar quais os
mecanismos retóricos através dos quais ele é tomado como verdade.190
190
In Tomaz Tadeu da Silva Teoria cultural e educação, um vocabulário crítico, Belo Horizonte, Brasil,
2000:48.
232
Ao contrário da vaga revolucionária, ou de certos filmes de registo etnográfico, que
trabalham a partir da ideia do momento presente, do hic et nunc, este cinema representa um
mundo rural imaginado, recomposto, híbrido, construído cinematograficamente num passado
remoto, para o que contribui de forma relevante a forma como se filma a terra, a paisagem, a
relação das pessoas com esta, assim como o acento no uso de determinados objectos e
construções que materializam a ruralidade enquanto modo de vida e testemunhos do passado.
Como vimos antes, a propósito dos filmes feitos para o Museu de Etnologia, o olhar etnográfico
partilha, quando virado para a ideia do arquivo, em certa medida, desta característica: a
procura do passado.
Comecemos então por abordar João César Monteiro, realizador que, em parte da sua
filmografia, contribuiu para a criação da ideia de um mundo rural associado à estética
medieval, em especial nos seus filmes da década de 70: o best-off de ruralidade que é o seu
Veredas (1977), os três filmes realizados para a RTP a partir de contos populares (A Mãe, de
1978, Os Dois Soldados, de 1979 e O Amor e as Três Romãs, também desse ano) e, finalmente,
Silvestre, que realiza em 1981, fechando, e afastando-se neste ultimo filme, do círculo de
aproximação ao imaginário da cultura popular rural. Neste conjunto de filmes, o realizador
recorre a não-actores, provocando esse distanciamento imediato do “efeito representação”
que discuti a propósito do Acto da Primavera. Por outro lado, o próprio César Monteiro os
caracteriza como sendo uma “recriação poética”, algo que, no contexto da cinematografia
nacional, dizia, “continua a ser terreno em que poucos obstinam o seu rigor, à excepção de
António Reis” (Monteiro, 2005a: 300). Em Veredas, especialmente, misturam-se e deshierarquizam-se uma série de registos, confundindo e baralhando o popular e o erudito. O
filme é baseado na história de Branca Flor, extraída de versões compiladas por Carlos de
Oliveira e José Gomes Ferreira nos “Contos Tradicionais Portugueses”, mas integra também
textos de Ésquilo (fragmento das Eumérides) ou de Maria Velho da Costa, sendo a música
apresentada no genérico de fim como “popular de regiões de Trás-os-Montes e Alto Alentejo,
instrumental da Idade Média e, em óbvia homenagem, um excerto da 7ª sinfonia de Bruckner”.
No manuscrito original do filme, que o realizador descreve numa reedição recente, está claro
que este tem “como modo de ser, recuperar e refundir elementos que pertencem a uma
cultura de criação popular e tentar integrá-los em um espaço que se deseja vizinho da
exaltação épica”. Trata-se, continua “de tentar reconhecer (ou atender a) a dignidade e a
nobreza dessas formas em vias de extinção (as civilizações são mortais, lembra Valéry) e, a
seguir, de não iludir a ambiguidade desse movimento” (Monteiro, 2005a: 300).
O filme, falado num mirandês reinventado, vive da recriação de um ambiente pastoril.
233
Veja-se a cena da chegada da moça, a atriz Sílvia Hestenes, com um cordeiro ao colo, de vestido
branco. A atmosfera, com a presença dos rios, ribeiros e cascatas onde se banham meninas de
longos cabelos soltos, nuas, remete para um imaginário bucólico clássico. Entremos então um
pouco no filme. Este começa, tal como Trás-os-Montes, de Reis, com um travelling sobre a
paisagem montanhosa e gritos de uma criança, talvez um pastor. Continua, de seguida, com um
rapaz e uma rapariga que se encontram:
- “De onde vens”? Ele aponta o horizonte
- “Deixa-me guiar os teus sonhos”
O comentário em off é poético, desdobra-se sobre o par que caminha, falando de “tribos
simples e cristãs”Entram ambos na aldeia, passam uma mulher, de pé, a fiar
-
“Boa tarde!”
Passam por um grupo sentado junto a uma casa de pedra, elas a fiar, ele a partir um tronco.
Começa a falar, remetendo para a oralidade, a história contada, o aspecto documental:
-
“Parece mesmo uma princesa, diz o homem. Será alguma moura encantada ?
Antigamente havia muitas mouras encantadas, ela parece mesmo uma princesa, deve
vir desses tempo, diziam os antigos que Maomé era o rei dos Árabes, de Damasco,
capital da Síria, o tal Maomé e foi criado de uns ricos. E depois era um criado, morreu o
patrão, ele casou com a mulher que era rica e com a riqueza chegou a ser rei e depois
um comandante lá das suas tropas mandou conquistar e mandou-os para cá. Eles
tinham a religião deles [...] e perdeu a guerra Dom Rodrigo, isso contam os pauliteiros,
fizeram uma cantiga que fala de Dom Rodrigo, [canta] e muitas mouras ficavam
encantadas, bastava enganarem-se nas palavras.”
Rapaz e rapariga caminham e em off ainda se ouve o homem. Paisagem de campos com
flores amarelas, rebanho ao fundo, homem canta e toca uma viola no meio do campo.
Em Veredas, os elementos etnográficos são incorporados e misturados com elementos
ficcionais, assim como os da chamada cultura erudita se misturam com os da “cultura popular”,
criando uma representação que corresponde à ideia de hibridização. Entremos um pouco mais
no filme. No interior de uma casa, com lareira e pote no fogo, um homem com viola sentado
fala com uma velha de preto. Conversam dos bailes antigos, no entanto, quando ele começa a
tocar, esta dança de gatas, aos saltos. Por vezes, o discurso livre e aparentemente espontâneo
sobrepõe-se ao discurso “em verso”, ou ao relato da história popular: “neste ribeiro
encontrarás três meninas: uma é mala oitra é boa e oitra é a Branca Flor”. O uso do mirandês
trespassa o filme: “mira-me Miguel como estou de bonitinha, saia de burel camisinha de
estopinha”. Por outro lado, os elementos e os objectos ligados à vida rural são cenário de
acções inusitadas. Num lagar de varas com engenho surge a figura com máscara de um careto
que, com uma mulher, anda à volta do mecanismo, que range. Dão ao rapaz um saco de pano.
234
Fig. 19. Guião do filme Veredas. CP.
Fig. 20. Veredas (1976). CP.
235
Estes são então alguns exemplos da forma como os elementos se misturam, retirados da sua
funcionalidade: o interior de cozinhas com lareiras e potes de barro, os lagares e espigueiros, a
cozedura do pão associada a rezas e lengalengas. Outras vezes, surgem elementos ficcionais e
fantásticos dentro da história, como o aparecimento de um barco com vela, num rio ou ria.
Nesta cena, enquanto ouvimos a música medieval, uma figura feminina, Branca Flor, vem na
proa do barco com uma viola. Agora se vê bem que é um barco moliceiro. Os trabalhos
agrícolas (uma lavra, uma sementeira), as actividades ligadas à vida rural (o ciclo da lã, o
trabalho do tear, rebanhos), as figuras míticas do campo (o homem com capote, a velha de
preto ou a moça), as aldeias com neve, tudo isto associado a sonoridades da Natureza, música
e uma polifonia de vozes com registos diferentes: um texto clássico grego, uma ladainha, uma
música de embalar, uma conversa entre duas pessoas. A narrativa do filme não é, portanto,
linear.
Fernando Cabral Martins nota como parece haver uma articulação entre a
cinematografia de Monteiro inspirada nos contos populares e no que denomina o “folclore
genuíno” e a “arte surrealista”: por esses anos, Cesariny fazia uma pesquisa sobre contos
populares191, defendendo, no seu prefácio, que estes, que os neo-realistas não ouviram por
serem “duros de ouvido” devem ser vistos como “um espaço cultural que ficou soterrado vivo
durante séculos, exactamente como o continente negro do inconsciente que os exploradores
bretonianos e outros tinham vindo a cartografar. A hipótese é que o arcaico e o essencial
coincidem”. Assim, os filmes da série dos contos populares parece assentar nessa dualidade,
entre o surreal e aquilo a que Martins chama a “inspiração etnológica” de uma realidade
“virgem, antiga, com espessura de muitos séculos, obedecendo a leis míticas que ligam o
homem directamente à paisagem e aos animais”. Mas os cenários naturais são, nestes contos,
trocados por vezes pelos cenários pintados, e por isso estes filmes podem ser lidos, outrossim,
como “documentos etnográficos e pinturas do imaginário”, mostrando o artifício na natureza, e
escapando a toda a “abordagem estética do documentarismo bem pensante ou da ficção
regional decorativa” (Martins, 2005: 292 e 294- 295).
Este é portanto o universo autoral de César Monteiro, que assume ainda mais o seu
carácter em Silvestre (1982). Neste processo de recolocação dos elementos fragmentados
tirados da cultura popular, os seus filmes criam, essencialmente, um universo diegético. Como
vimos anteriormente, a diegese refere-se aos elementos internos à narrativa, em oposição aos
que lhe são exteriores, directamente relacionados com a ficção que se conta. Falamos aqui de
algo que dá um novo sentido a esses elementos que fragmentam a ideia de povo,
191
Trata-se do livro de Mário Cesariny Horta da Literatura de Cordel, Lisboa, Assírio & Alvim, 1983.
236
reconstituindo um universo híbrido mas coeso. Os objectos ou as construções tradicionais,
como a eira ou o espigueiro, desligados do seu funcionalismo tecnológico, fornecem o cenário
para novas e inusitadas ações por parte dos actores.
Também Trás-os-Montes, realizado durante os anos revolucionários de 1976 por
António Reis e sua mulher, Margarida Cordeiro, parece localizar-se, de acordo com o crítico
Carlos Porto, “entre uma Idade Média reinventada (os pequenos pajens, a lenda, a canção) e
uma Idade Média real (a charrua puxada por dois jumentos)” (cit. in Moutinho e Lobo, 1997:
176). No entanto, é o primeiro filme de Reis, Jaime (1973), que, para começar, nos vai permitir
entender a dimensão e importância da obra de Reis.192 Este realizador nasceu em 1927, em
Valadares, frequentou o liceu no Porto, assim como as Belas Artes na mesma cidade, e foi
cineclubista nos anos 1960. Em 1959 colaborava no já referido Auto da Floripes, era assistente
de Oliveira no Acto da Primavera e escreveu Mudar de Vida, de Paulo Rocha (1966). Para além
da obra poética realiza os filmes Jaime, seguido de Trás-os-Montes e em 1982 Ana, tendo
falecido em 1991. Reis é um personagem chave desta tese, valorizado no meio cinematográfico
pela sua originalidade e modernidade. Alguém que, segundo José Manuel Costa (1997: 122),
“inaugurou uma liberdade única de ascese e precisão do discurso” e foi, ao mesmo tempo, um
caso dentro do cinema português, de “aposta colectiva”, por via da “defesa acérrima que dele
fez grande parte da geração de 60, uma geração que nessa altura ainda demonstrava um
espírito de corpo, como ficou provado nos muitos textos de defesa apaixonada” do seu cinema.
Para este investigador, Reis oscila entre uma postura “ficcionista”, que inaugura em Jaime, e
uma “função de registo”. No entanto, a chave da sua obra não se encontra, segundo Costa, nas
vanguardas ou na associação com as “modernas práticas cinematográficas”, mas antes num
universo que não pode ser entendido “fora das relações com a natureza e essa cultura antiga –
o próprio (Reis) veio a falar do neolítico a propósito do projeto de Trás-os-Montes” (Costa,
1997: 122). A partir desta afirmação gostaria de desenvolver um pouco do contexto intelectual
e cultural que permite perceber o modo como este cinema contribuiu para uma deriva
etnográfica, e ao mesmo tempo poética, na forma como representava o universo popular.
Com a discussão em torno do seu primeiro filme, Jaime, que retrata o mundo de um
psicótico a partir dos desenhos que deixou, estabelecerei aqui um elo, que julgo relevante, no
percurso de uma elite intelectual que filmava o país e em que o interesse genérico pelo povo se
vem a concretizar também numa atenção aos seus objetos e à sua arte. Tratava-se de um
interesse partilhado entre a “arte bruta” e a “arte popular”, noções que discutirei mais à frente.
192
No âmbito da pesquisa elaborada para este capítulo publiquei o artigo “O cinema de Reis e Cordeiro e a
representação da cultura popular” (Costa, 2010)
237
António Campos tinha o projecto de um filme que nunca chegou a ser feito sobre Rosa
Ramalho, a escultora popular,193 ao passo que Ernesto de Sousa194 colecionava peças de
Franklim, escultor marginal que construía os seus trabalhos a partir de pedaços de madeira
encontrados na praia (cf. Brito, 1995). Essa intensa curiosidade por este tipo de artefactos pode
trazer novas pistas a esta tese, ao trazer subjacente a ideia da recuperação de algo que vem da
natureza autêntica do popular. Para Ernesto de Sousa, “um artista ingénuo como Franklin foi
exemplo vivo, pela sua indesmentível realidade existencial, de um perdido paraíso original, ao
qual não há que voltar, é certo, mas de que poderemos tirar grande lição” (1995 [1975]: 27). O
que procurava – e em certa medida ainda procura – a elite intelectual de esquerda195 na arte
popular era a objectificacção e consumo de elementos vistos como vindos de um gesto artístico
primordial e genuinamente nacional. Voltarei a este assunto mais à frente, explicitando a forma
como estes interesses, presentes nesta geração de intelectuais e artistas, aparentemente
divergentes, me parecem fazer parte de uma mesma demanda, não já pela cultura material, ou
pela documentação de um mundo visível, mas antes pela objectificação do imaginário, ou do
simbolismo populares.
O cinema de Monteiro em Veredas, tal como o de Reis e Cordeiro, mais especificamente
em Jaime e Trás-os-Montes, pode ser visto como marcado por uma intencionalidade onírica e
estética, por uma poética que retrata o povo numa viagem nostálgica, oscilando entre um
deslumbramento e uma estranheza, uma jornada a um mundo esquecido, arcaico, romantizado
e estetizado. Trata-se, portanto, de um olhar que não é etnográfico, no sentido de um cinema
que se criou numa tradição de registo, de constatação da realidade, mas que pode ser
considerado de inspiração etnográfica porque incorpora a estranheza de um mundo e o
193
O guião deste projecto não realizado está no catálogo António Campos, Cinemateca Portuguesa, Museu
do Cinema, 2000, pág. 151-158.
194
José Ernesto de Sousa é habitualmente citado em referência ao seu trabalho crítico e artístico a partir da
década de 70 do século XX. Nesses anos, teve um papel importante na divulgação em Portugal das neovanguardas internacionais e na tentativa de criar uma vanguarda portuguesa, promovendo encontros entre
artistas, intercâmbio de exposições e de informação, catalisando eventos artísticos variados. A sua acção
culmina na concepção e organização da exposição Alternativa Zero de 1977, na Galeria Nacional de Arte
Moderna em Belém, onde, mais do que um local de exibição, se procurava criar um espaço de produção
artística em contínuo, seguindo de perto as experiências conceptuais e experimentais das mostras
organizadas por Harald Szeemann When Attitudes Become Form: Works-Processes-Concepts-SituationInformation (Live in your Head) (1969) e a Documenta de Kassel de 1972. O seu percurso enquanto crítico,
teórico e artista inicia-se, no entanto, bem mais cedo, em meados dos anos 40, enquadrado, tal como a
maioria da oposição cultural ao regime ditatorial, no neo-realismo A problematização deste percurso foi
feita de forma aprofundada por Miguel Wandschneider (1998).
195
Tal como em Ridenti (2000: 17), tomo o termo esquerda para designar “as forças políticas críticas da
ordem capitalista estabelecida, identificadas com as lutas dos trabalhadores pela transformação social”. Por
outro lado faço referência à actualidade: podemos fazer um paralelo entre esta geração dos anos 60 de e os
que hoje procuram ainda fazer a recolha do popular: da sua música, no caso de Tiago Pereira (o projecto “A
música portuguesa a gostar dela própria”) e da recuperação das tecnologias tradicionais, no caso de Rosa
Pomar (que persegue a lã como matéria), para além de uma série de artistas que se apoiam na cultura
popular para um trabalho de reflexão sobre a nação, como é o caso de Joana Vasconcelos.
238
interroga. Augusto M. Seabra refere-se a este como um cinema a que se aplica “a caução
etnográfica”, em especial em Trás-os-Montes, em que “a descoberta de um particular território
cinematográfico não produzia uma sensação de reconhecimento, mas a estranheza perante um
objecto que se diria vindo não se sabe de onde” (cit. in Moutinho e Lobo, 1997: 107). A
plasticidade na qualificação do cinema como etnográfico está presente neste uso que o
caracteriza como gesto de registo do exotismo e da estranheza do popular, e que é aqui, antes
de mais, cinematográfico, ou seja, vindo da própria linguagem do cinema. Para Seixas Santos,
este é um cinema “primitivo mas muito culto” no sentido em que “não lhe interessavam as
regras do cinema clássico, os códigos narrativos clássicos. Os raccords são de natureza
metafórica, poética, a aproximação à natureza é uma aproximação amorosa”. Para além disso,
e por contraste com António Campos, as personagens são, tal como vimos em César Monteiro,
“dizentes de texto” (cit in Moutinho e Lobo, 1997: 54). Seabra compara os dois realizadores, na
entrevista que me concedeu:
O Campos e o Reis estão em extremos opostos. Um é o cineasta da observação, o outro
é o cineasta da criação artística. Mas completamente. Por isso é que os chamo de
primos e não irmãos. Mas o António Reis e a Margarida Cordeiro também são cineastas
das gentes, fazem é depois uma recriação artística completa das gentes que filmam. E é
o imaginário deles a partir do conhecimento próximo. O Campos não filma o imaginário,
filma o real das pessoas.
O contraste entre os dois cinemas é enorme. António Campos é um realizador que filma o
presente. Afirmava em 1975: “é possível que haja um lado de arqueologia, de coisa morta: se
certas situações já não existem, ou tendem a desaparecer, então não há que desenterrar um
passado que nos é penoso. Há sim que tornar sólido um presente onde o futuro se possa
articular”.196 Reis filmava esse passado que Campos qualificava de penoso, a partir dos traços
por ele deixados no presente. Por outro lado, Reis e Campos parecem ter em comum o facto de
se verem a si mesmos como aqueles que resgatam e devolvem dignidade ao povo e sua cultura.
Este realizador afirmaria, em entrevista de Serge Daney e Jean-Pierre Oudart, para a
revista Cahiers du Cinéma (nº 276, Mai, 1977): “nós éramos camponeses do cinema”, a
propósito da rodagem do filme Trás-os-Montes (1976), sintetizando um olhar que procurava o
povo identificando-se com ele, e de que parecia fazer parte uma atitude que é incorporada no
modo de fazer, de produzir este cinema. Como declara, a propósito da relacção que
mantiveram, ele e a sua mulher Margarida, com os transmontanos: “nous étions des paysans
196
in Catálogo do 1o Congresso Internacional sobre o Rio Douro, Vila Nova de Gaia, 25 Abril a 2 de Maio de
1986 (Penafria, 2009 pág. 11 dos anexos).
239
du cinéma, parce qu’il nous arrivait parfois de travailler seize, dix huit heures par jour et je
pense qu’ils aimaient bien nous voir travailler” (cit. in Moutinho e Lobo, 1997: 258).
Fig. 21. Rodagem de Trás-os-Montes. CP
240
Pedro Costa, herdeiro confesso desta escola – mas em que o povo da ruralidade foi
substituído pelo povo emigrante da periferia urbana –, menciona a descoberta, neste cinema
de Reis, de uma “fotogenia sem estética”, associando-o a um modo de vida. Mais uma vez, tal
como vimos longamente a propósito de António Campos, emerge aqui o ethos particular do
realizador, visto como aquele que se aproxima do povo e se quer assemelhar a ele. Segundo
afirma Pedro Costa, em entrevista, Reis teria escolhido ter uma “vida muito humilde, quase
poupada”, uma escolha que foi para ele fundamental porque “há no pobre uma beleza, uma
riqueza, uma verdade que se está a perder porque não é bem vista”, tendo passado “a vida
toda com eles” (cit. in Moutinho e Lobo, 1997: 17). Mas Reis, que tinha sido operário na
indústria automóvel e poeta, fazia parte de uma geração de intelectuais que o enquadra e o
ajuda a definir. Como sintetiza José Manuel Costa,
Reis chegou à realização munido de três trunfos maiores: cultura sólida em domínios
afins (cultura plástica, musical, poética); disponibilidade e capacidade para se servir
cinematograficamente dela como se tal estivesse a ser feito pela primeira vez, e amor
profundo pela cultura popular e pelos homens que a veiculam, da qual procurou
sistematicamente arrancar os dados mais antigos, depurando-a não só da aculturação
contemporânea como, em, alguns casos, de todo o invólucro pós-renascentista que a
ela se colou (Costa, 1997: 122).
De facto, esta procura da cultura popular começou em António Reis com incursões que,
desde cedo, fazia na sua mota ao Alentejo. Em 1957 um título no Jornal de Notícias, a propósito
deste realizador, falava do “poeta que foi à procura de poesia viva e humana, autêntica e
verdadeira, até à província do Alentejo”, retendo uma experiência descrita pelo próprio Reis:
“assim me vi subitamente subjugado pelas formas da vida e da arte, registando amarguras e
esperanças, desespero e sonho, beleza e morte ..., dia e noite quase, alucinado, incontido, com
medo dos próprios sentidos esfolando-se como a pele....”. O realizador escreve poemas no seu
caderno, grava músicas e recolhe “material de artesanato e humano”, afirma-se “etnógrafo”
mas diz, ao mesmo tempo: “sou apenas um amador, a minha aproximação ao Alentejo foi um
acto de amor” (Moutinho e Lobo, 1997: 33 e 34).
Há que ver neste movimento de aproximação ao popular um acto de crescimento e de
aprendizagem que caracterizaria toda uma geração da elite intelectual portuguesa dos anos
1960 e 70, como vimos no capítulo 3, a propósito do surgimento de um interesse pelo popular
alternativo ao do regime e também no capítulo 5, quando contextualizei o cinema de Campos.
Identificar as contaminações entre a história da Antropologia portuguesa, em especial o grupo
de Jorge Dias, ou da música popular, com Lopes Graça ou Giacometti, com a do cinema foi
241
extremamente útil para perceber que muito do que foi fixado como tradição e reinventado
pelo cinema assentava então em visões objectivistas vindas do interior da etnologia e da
etnomusicologia.
Como podemos contextualizar o gesto que indicia este movimento? A procura da
tradição, do arcaico, do primacial, o interesse e o fascínio pelo conhecimento do passado foi
acompanhado por um romantismo, nostálgico sentimento de continuidade histórica para com
as gerações passadas. A visão romântica do mundo pode ser aqui entendida como uma “recusa
da realidade social presente, experiência de perda, nostalgia melancólica e busca do que está
perdido” (Lowy e Sayre, 1995: 44). A maneira como a vida rural foi filmada por Reis e Cordeiro
remete não para um passado, mas para um passado a-histórico, fora do tempo dos homens.
Elias Saliba (1991), ao investigar o imaginário associado aos vários tipos de romantismos,
destaca o “desenraizamento do tempo presente” como ingrediente básico das utopias
românticas. Mais do que interessado no passado – e na forma como este interroga o futuro – o
romantismo nega o presente. Por outro lado, interessa identificar várias ordens de razões para
um culto do povo. Primeiro, motivações estéticas, ligadas à descoberta da cultura popular
como parte de um movimento de primitivismo cultural no qual o antigo, o distante e o popular
se vêem igualados.
Assim, para o caso português, o que é talvez mais importante salientar é a forma como
toda uma geração de intelectuais, da qual estes cineastas fazia parte, incorporou muito do que
eram os arquétipos que, segundo George Stocking, marcaram o passado da antropologia: o
etnógrafo amador, o antropólogo de salão e o académico treinado para o trabalho de campo
estão, cada um, ligados a momentos específicos da história da antropologia. O autor traça
também a importância do reconhecimento da cultura – no caso inglês substituída nos anos
1920 pela noção de estrutura social de Radcliffe-Brown – como o objecto e foco da
antropologia. Parece existir, a atravessar todos estes arquétipos, um primitivismo romântico, a
procura de uma “genuine culture perfectly conceivable in any type or stage of civilization”.
Havia um fascínio estético pela “cultura genuína e da pobreza”, manifestação de uma
“vitalidade primitiva”, que levava os intelectuais americanos à procura de lugares fora da
cidade, onde os artefactos e as tradições culturais ligadas à Nova Inglaterra colonial davam um
exotismo à vida cultural do país. Pintores, poetas e escritores viviam em Santa Fé e no Grand
Canyon, procurando aquilo que chamam “revelations of primitive art, expressions of the
original human impulse toward the creation of beauty”. Esta geração influencia uma linhagem
de antropólogos que pareciam sofrer de um “primitivism longing” (Stocking, 1989: 212 , 217 e
220).
242
O próprio Reis afirmaria, em entrevista, a propósito das suas incursões a Trás-osMontes, que havia “uma espécie de comunismo primitivo nessas regiões”. De facto, como
sublinha Marcelo Ridenti, ao estudar a forma como na década de 1960 a elite brasileira de
esquerda procurou o povo numa atitude de romantismo revolucionário, esta geração buscava
no passado elementos para a construção da utopia do futuro, visando, por seu intermédio,
“resgatar um encantamento da vida, uma comunidade inspirada no homem do povo, cuja
essência estaria no espírito do camponês e do migrante favelado a trabalhar nas cidades.”
Assim, continua, “a visão romântica apodera-se de um momento do passado real – no qual as
características nefastas da modernidade ainda não existiam e os valores humanos, sufocados
por esta, continuavam a prevalecer – transforma-o em utopia e vai modelá-lo como encarnação
das aspirações românticas” (2000: 25-27). O cinema que trato neste capítulo dá corpo a esta
visão do mundo, trabalhando na aparente contradição entre o fascínio pelo passado que gera a
utopia do futuro – o tal comunismo primitivo – e a construção do mesmo como um lugar mítico
e imaginado.
Jaime e a arte bruta
Neste cinema, e a propósito de Jaime, filme de António Reis realizado em 1974, o culto do povo
pode ser entendido a partir de razões intelectuais, ligadas à valorização do instinto sobre o
intelecto, que andam a par com o enobrecimento da arte, da poesia e da literatura popular.
Gostaria assim de começar por tratar este filme, o primeiro de Reis, de modo a abrir mais uma
pista para o entendimento da veia documental do cinema etnográfico em Portugal. Ao
contrário de Trás-os-Montes, em que parece existir uma continuidade na temática abordada
relativamente aos filmes dos dois últimos capítulos – as comunidades rurais do interior do país
–, em Jaime é mais difícil discernir a representação da cultura popular. Esta dificuldade
permite-me, ao mesmo tempo, seguir uma via distinta. Farei assim, a partir da análise deste
filme, uma genealogia do discurso sobre a arte produzida pelo povo, procurando as suas
origens históricas e intelectuais. Se em Campos foram a biografia e o percurso que me
permitiram abordar e contextualizar a obra, no caso de Reis e Cordeiro gostaria de mergulhar
bem fundo no interior dos filmes, de modo a revelar ainda mais uma visão cinematográfica da
cultura popular.
Este é um cinema plástico, flexível, com múltiplas leituras e que tomarei como discurso:
em vez de recorrer a entrevistas que revelam o discurso dos realizadores acerca da sua obra,
243
tomamos aqui o cinema como algo que, como diria Foucault, não serve para descrever
simplesmente objectos que lhe são exteriores, mas sim para fabricar de facto os objectos sobre
os quais fala. No caso de Jaime, foi no seu interior, na montagem e no plano que encontrei
formulada, de um modo completamente diferente dos outros filmes, uma ideia de cultura
popular. Esta não é tão obviamente tratada, como quando os realizadores vão filmar uma
comunidade, um ritual, uma tecnologia. No entanto, como veremos, ela está lá na personagem
do camponês que, a partir da doença mental, fabrica objectos e representações do mundo que
são vistos como puros, autênticos. O filme tenta chegar à ruralidade através da arte produzida
por Jaime. Segundo afirma a sua sinopse, o filme trata “o mundo, a vida e o trabalho de Jaime
Fernandes, camponês nascido em Barco (Beira Baixa), atingido por doença fatal (esquizofrenia
paranóica), aos 38 anos”; “internado no hospital Miguel Bombarda, aí morreu em 1967, com 69
anos. Aos 65 anos, começara a pintar e, durante esse curto período de tempo, realizou uma
obra pictórica genial, influência do meio social e hospitalar” (Moutinho e Lobo, 1997: 282).
Vejamos algumas notas tomadas no visionamento do filme:
Cartão que diz: “Jaime Fernandes nasceu em 1900, na freguesia de Barco, Covilhã. Era
trabalhador rural. Em 1.1.1938, com 38 anos, foi internado no hospital Miguel
Bombarda. Aí faleceu em 27.03.1969, após 31 anos de internamento. Começou a
desenhar já depois dos 60 anos. Grande parte da sua obra perdeu-se.”
Segue-se uma fotografia a preto e branco de Jaime. O filme em si começa com a frase
“Ninguém só eu” escrito numa carta. Plano circular, edifício circular, câmara esconde-se
é voyeurista, espreita o pátio do hospital e viaja pelos desenhos e pelas cartas e escrita
de Jaime. Aparece escrito uma “Ficha Clínica”,
-
Que te dizem a respeito da alta ?
-
Não me pertence cá ficar, pertence-me voltar lá para cima
Num dos textos lê-se “aquelas árvores grandes” imagens do campo, música harmoniosa
(e não a mais desconfortável e experimental que se ouvia quando víamos os desenhos
de Jaime)
Interior de um celeiro com guarda chuva e milho. Arcas de madeira. Maçãs penduradas.
Celeiro de casa rural com batatas no chão, e milho
Voz off mulher do campo : “Ele trazia as cortes… Mal empregado, ele tinha 38 anos”
Câmara deambula pela casa, cebolas penduradas, lareira, garrafa de vinho meio vazia.
Mulher velha de preto sentada a tremer com carta de Jaime na mão.
Imagens da ruralidade (rápidas, estilo flash-back)
Matar o porco
Rede de pesca no rio
Lençóis pendurados ao vento
Velha com cesto de maçãs
244
Homens no barbeiro
Entrevista em off “ele desenhava rápido, a ideia dele, [...] era mesmo esquisito[...]. Há
fotografias de nitidez, estas são obscuras [...] “desenhou até à morte dele, trabalhou
sempre”. Voo rasante sobre malmequeres.
O filme trata portanto da arte produzida no interior de uma instituição psiquiátrica, revelando,
por um lado, a valorização desta forma de arte (arte bruta ou outsider art) e, por outro, a
associação desta forma de arte a um universo eminentemente rural. Apesar de Jaime já ter
morrido, o filme conta com a colaboração da sua viúva, Evangelina Gil Delgado e dos seus
filhos. O mundo fantasioso do texto e dos desenhos de Jaime vai buscar inspiração a essa
espécie de passado rural que não deixa de ser “real”, valorizado e positivamente apresentado
no filme. Este, na sua linguagem, incorpora e reflete sobre essa mesma forma de arte: o plano
do celeiro com chapéu de chuva é uma espécie de instalação artística a partir de elementos que
são retirados do seu contexto, do seu uso funcional. Interessa-me usar este filme, um caso
único – em termos da temática e da linguagem cinematográfica – no conjunto de filmes vistos,
e tentar entender como, através dos desenhos e dos grafismos produzidos pelo doente mental
e da sua representação, António Reis está a falar de um universo que se pode incluir na deriva
etnográfica que traço nesta tese.
Ao mostrar e isolar o universo fictício e a imaginação caótica de Jaime, o filme está a
valorizar modos de expressão designados pelo termo genérico da arte bruta que foram sendo
apropriados ao longo de um século por uma geração de artistas, intelectuais e cientistas. Como
o próprio Reis afirmava, em 1974, a figura de Jaime escapava-lhe, dele só ficaram os desenhos,
que considerava “geniais”, obras de arte inteiras. Segundo este realizador, “as leis que
presidem à sua arte são equivalentes às das crianças ou dos povos primitivos. Na sua arte há
uma saúde e uma vitalidade extraordinárias” (Moutinho e Lobo, 1997: 242).
Fig. 22. Jaime (1974).
245
Existe, claramente, uma relação entre o interesse pela arte bruta e o fascínio pela arte popular
que, de certo modo, tem com esta uma afinidade. O facto de Jaime ser um personagem do
campo, rural, vindo de um mundo a que o filme nos leva numa espécie de flash back, pode
servir de âncora para enquadrar a temática da representação objectificada da cultura popular.
Mas esta relação é enviesada, não tão óbvia como vimos por exemplo para o filme Veredas, ou
para o Madanela de Costa e Silva. No entanto, partimos do pressuposto de que a visibilidade e
o deslumbramento dessa arte bruta que nos deixou Jaime se associa a um universo
eminentemente rural. É isso que o realizador quer mostrar quando monta em paralelo as
imagens dos desenhos de Jaime e as da casa rural que abandonara. A formulação de Dubuffet
de arte bruta, produzida pelo doente psiquiátrico, pelo primitivo, pelas populações rurais, ou
pelas crianças só pode ser entendida no contexto de uma tendência específica da arte
modernista ocidental: esta formulação está também em Jaime. Os protagonistas desta arte, tal
como ele, são imaginados como permanecendo mais directamente em contacto com as forças
da criação, colocados como que em espelho de uma inocência perdida, portadores de uma
autenticidade que existe fora da civilização hodierna, vista como demasiado complexa e cheia
de falsidade.
O termo específico Outsider Art foi usado pela primeira vez em 1972 pelo escritor inglês
Roger Cardinal, como um equivalente para o termo francês Art Brut, originalmente formulado
pelo já referido pintor Jean Dubuffet (1901-1985) em meados dos anos 40. Esta designação
refere-se ao trabalho de pessoas que são, para quem observa o resultado da sua expressão
artística, diferentes, vistos como disfuncionais em relação aos parâmetros da “normalidade”
dada pela cultura dominante. A emergência desta designação heterogénea inclui aqueles que
são catalogados como disfuncionais ora através de uma patologia psicológica, da criminologia,
do seu género ou sexualidade, ora porque aparentam um certo anacronismo, sendo por isso
vistos como pouco desenvolvidos. Outras vezes são catalogados deste modo porque a sua
identidade cultural e religiosa é percebida como sendo significativamente diferente.197
Se olharmos um pouco a história do pensamento sobre este tipo de expressão artística,
vemos que os primeiros a serem considerados produtores de um tipo de arte diferente são os
doentes psiquiátricos, como atesta o catálogo Beyond Reason, Art and Psychosis, Works from
197
Jean Dubuffet definiu em 1948 a arte bruta como “all works of art emanating from obscure personalities,
maniacs ; arising from spontaneous impulses, animated by fantasy, even delirium”, uma arte que, “appeal to
humanity’s first origins and the most spontaneous and personal invention ; works which the artist has entirely
derived from his own sources, from his own impulses and humours, without regard for the rules, without regard
for current convention” (Peiry, 2001: 11). O sociólogo Pierre Bourdieu criticou, mais tarde, esta noção de arte
bruta que era antes, para este sociólogo, uma ‘arte natural’ que existe de modo arbitrário visto que só pode ser
arte aos olhos de quem está no campo da arte” (cf. Bourdieu, 1996: 245-246).
246
the Prinzhorn Collection (1996), da Hayward Gallery, que expôs a primeira grande colecção
reunida pelo historiador de arte e psiquiatra austríaco Hans Prinzhorn (1886-1933). A
motivação para reunir estes materiais estava relacionada com a
influência das teorias
expressionistas que valorizavam o imediatismo e a espontaneidade artísticas. Neste catálogo é
referida toda uma tradição de colecções de arte psiquiátrica que deu origem ao Museu da Arte
Patológica na clínica da Universidade de Heidelberg, em inícios dos anos 1920. A colecção de
arte bruta reunida naquele museu contava com trabalhos de doentes esquizofrénicos,
internados, na sua maioria, na passagem do século XIX para o XX, e quase todos de origem
alemã.
O interesse de uma geração de artistas ligados ao expressionismo alemão pela
produção artística de pacientes psiquiátricos partira de modernistas como Pablo Picasso (18811973) e Paul Klee (1879-1940), relacionou-se com o corte com uma certa tradição ocidental
académica e esteve ligado a outras descobertas como a arte tribal, a arte popular ou a arte préhistórica, em que se procurava a espontaneidade expressiva vinda de uma criatividade que não
era aprendida na escola, não contaminada e, por isso, de certo modo, natural. A arte feita nos
asilos interessou também os surrealistas. Foi Max Ernst (1891-1976) o responsável por trazer
esta colecção – da clínica da Universidade de Heidelberg – ao grupo surrealista de Paris. A
relação do surrealismo com a ideia de alucinação, visão, e loucura – como ideia filosófica e não
como estado – é fundamental para entender o que procuravam estes artistas, visto que para
eles a loucura significa a completa liberdade criativa (Rhodes, 2000: 84).
O movimento de preservação e de coleccionismo destes desenhos, por exemplo aqueles
que eram produzidos pelos doentes psiquiátricos, deveu-se, antes de mais, ao facto de estes
constituírem um acervo documental que denotava a resposta sublimada à doença e à
hospitalizacção; havia assim que preservar esta experiência, vista como algo que, devido à
hospitalizacção e ao enclausuramento dos diferentes, estaria a desaparecer da memória social.
Em Jaime, o interesse pelas comunidades excluídas e marginais que antes encontrávamos – a
aldeia submersa de Vilarinho das Furnas – é substituído pelo enfoque na experiência mais
radicalizada da marginalidade e da exclusão do indivíduo institucionalizado. António Reis
parece assim ter funcionado como estes coleccionadores que procuravam analisar a génese da
arte, as raízes psíquicas do instinto artístico, as formas primárias de expressão, e em ultima
análise as formas de comunicação dos povos primitivos. É James Clifford que estabelece uma
relação clara entre o “paradigma do selvagem” e a procura de “autenticidade” quer na escrita
etnográfica, quer nas coleções artísticas:
247
The salvage paradigm, reflecting a desire to rescue ‘authenticity’ out of destructive
historical change, is alive and well. It is found not only in ethnographic writing but also
in the connoisseurships and collections of the art world and in a range of familiar
nostalgias. In short, the term names a geopolitical, historical paradigm that has
organized western practices of ‘art –and culture- collecting’. Seen in this light, it denotes
a pervasive ideological complex (Clifford, 1987: 121).
Assim, uma das questões mais interessantes que este movimento de atracção pela arte
bruta criou foi o questionamento da própria arte, e consequentemente da relação do artista
com esta. Assim, imaginava-se que a arte bruta, para ser genuína e verdadeira, derivara de uma
existência marginal, em que o trabalho e a pessoa fazem parte de um todo simbiótico:
In the early years of this century, avant-garde artists were fighting salon art and
searching for the sources of creativity – as well as for works of art close to those
sources. They directed their attention first of all towards so-called primitive art,
children’s drawings and the work of the mentally ill […] These can to some extent be
classified under Dubuffet’s concept of art brut, but frequently they have nothing to do
with the making of art: they are simply by-products of extreme states that fascinate and
stimulate (Jádi, 1996: 31).
Durante um século muitos artistas avant-garde rejeitaram o urbano em favor do rural, a
estética de produção em massa a favor da reapropriação de técnicas mais antigas, o Ocidente
em favor do Oriente, o moderno em favor do primitivo, o racional em favor do irracional. Para
muitos artistas estas escolhas estavam ligadas à procura de uma autenticidade no sentir,
pensar e expressar-se, que funcionava como contrapartida à vida burguesa moderna. A questão
dos usos e da importância do primitivismo tem sido estudada198, e podemos ver como este se
construiu enquanto ficção e totalidade, tal como a do louco199, encarnado por Jaime:
Não é uma mera coincidência que o interesse europeu do séc. XIX pela etnografia possa
ser co-extensivo ao interesse pela arte dos loucos. Há um século atrás o louco, tal como
o primitivo, era olhado como um não-civilizado, com uma existência separada da
organização temporal e do progresso da sociedade ocidental. Com o movimento
romântico do séc. XIX a opinião sobre o doente mental muda e este é posicionado na
natureza, sem constrangimentos morais e sociais, tocando uma realidade mais viva e
autêntica. De modo a sair de uma forma de vida convencional e racional, poetas e
198
Veja-se a propósito Robert Goldwater (1967), Primitivism and Modern Art, e ainda James Clifford (1988), The
Predicament of Culture.
199
A própria esquizofrenia, ou Dementia Praecox foi identificada pelo alemão Kraepelin como um fenómeno
reconhecível apenas nos finais do séc. XIX. Como tal, a “esquizofrenia” foi ela própria construída como um sintoma
da modernidade, de transição entre o rural e o urbano, o comunal e o impessoal. Assim, é durante a viragem do
século que se assiste a um enorme crescimento de internamentos em asilos (cf. Douglas, 1996 : 39).
248
artistas experimentam drogas que lhes permitem aceder a esse estado visionário de que
a loucura era metáfora. As teorias do louco-génio tiveram grande importância durante o
séc. XIX (Douglas, 1996: 36).
Assim, a formulação de Dubuffet de arte bruta tem que ser entendida no contexto de
uma tendência específica no modernismo ocidental, valorizadora da inspiração, construída fora
dos cânones historicamente aceites no campo artístico. Os três grupos referidos – povos tribais,
populações rurais e crianças – eram olhados como partilhando uma série de traços “primitivos”
que os colocavam mais directamente em contacto com as forças primeiras da criação, reflexo
direto de uma inocência perdida, com uma autenticidade que existia fora da civilização. Nesta
medida, o primitivismo torna-se central para entender o carácter de muita da produção em
artes visuais concebida na Europa na primeira metade do século vinte (cf. Rhodes, 2000: 24).
Não se pode, portanto, entender o interesse pelas formas de arte arcaicas sem falar do
modo como estas foram reapropriadas na revolução artística de inícios do século XX. O
interesse pelo primitivismo – e que pode ser perspectivado como uma deriva da ideia do bom
selvagem com origens no séc. XVI, que contamina a Europa nos anos 1900 –, bem como a
procura do outro, é bem patente em pintores como Gaugin, Picasso ou Kandinski. Alguns
artistas acabam por ser legitimadores da arte das crianças, caso de Klee. Finalmente, a referida
coleção de Prinzhorn, cujo catálogo circulou abundantemente durante duas décadas, acaba
também por influenciar os surrealistas que faziam a chamada escrita automática – uma grafia
comandada pelo inconsciente, que se liberta sem que o artista pense –, cultivando, tal como
Jaime, a “natureza acidental do acto criativo” (Peiry, 2001: 32).
O interesse pelo “primitivo” estava relacionado com o descontentamento dos artistas
por aspectos da sua própria cultura, e teve sempre oculto o mito do artista outsider, quer dizer,
alguém que opera na periferia da sociedade, tantas vezes usado como ferramenta para falar da
necessidade de mudar a arte e por vezes mesmo, utopicamente, toda a sociedade. Na base
desta ideia está a crença de que a civilização é complexa e que a sofisticação mascara verdades
ainda por descobrir, que ainda poderemos aceder ao essencial, a um estado primevo do ser. Os
artistas voltaram-se assim para o primitivismo, que postulava que o desenvolvimento ocorre
sempre do mais simples para o mais complexo, sendo o primeiro equacionado com a natureza
e o natural, identificando quase sem distinção qualitativa os europeus medievais, os povos do
oriente, os camponeses, os povos tribais, e as crianças. Deste modo, “a number of apparent
dichotomies were constructed in the primitivizing world-view: primitive against civilized ;
nature against culture ; intuition against reason, and so on” (Rhodes, 2000: 25).
Uma das características da outsider art seria a de representar as coisas em termos
249
transcendentais e metafísicos, criando um mundo alternativo para aí habitar. Como dizia
Dubuffet, “insanity represents a refusal to adopt a view of reality that is imposed by custom”
(Rhodes, 2000: 104). O interesse pela arte bruta tem, por outro lado, relação com a procura de
uma alternativa à circulação elitista da arte:
Dubbufet’s aim was not at all to establish art brut or to belatedly make a little space for
it in the pantheon of the visual arts, or even to rectify an injustice. His objective was to
challenge the tribunal of artistic taste, the one that determines art history and its
hierarchies, and the same one that today – more despotically than ever – makes and
breaks the reputations of artists. Dubuffet led outsider art from confidentiality to
publicity – that is to say from the basement of the Galleries Drouin to the major
exhibition in the Musée des Arts Décoratifs in Paris in 1967, and finally to Art Brut’s own
museum (Peiry, 2001: 8).
Na arte bruta e como em toda a arte popular, portanto, o artista não tinha em mente
um público para a sua obra nem aspirava a um reconhecimento público, não estando
consciente que opera no domínio da criação artística. O seu trabalho não é institucionalizado, e
por isso mesmo, a sua arte é antes de mais uma construção de quem observa, uma ideologia.
Como vimos, esta arte exige, para ser resgatada, um olhar de alguém conhecedor, um catalista
estético (Peiry, 2001: 8), sendo deste modo que o conceito de arte bruta precede o trabalho que
procura identificar e definir. Jaime só existe através do olhar e da mão de Reis. O realizador
cabe na categoria daquilo que Bourdieu denomina um esteta: “a ambição demiúrgica do
artista, capaz de aplicar a um objecto qualquer a intenção pura de uma pesquisa artística que é
para si mesma o seu fim, faz apelo á infinita disponibilidade do esteta capaz de aplicar a
intenção propriamente estética a qualquer objecto, tenha sido ou não produzido segundo uma
intenção artística”. Assim, “se a obra de arte é exactamente o que exige ser percebido segundo
uma intenção estética e se, por outro lado, qualquer objecto, seja natural ou artificial, pode ser
percebido segundo uma intenção estética, como escapar à conclusão de que é a intenção
estética que “faz” a obra de arte, ou, transpondo uma fórmula de Saussure, que é o ponto de
vista estético que cria o objecto estético?” (Bourdieu, 2006b: 32-33).
Franklim Martins Ribeiro (1919-1968) é um artista popular para Ernesto de Sousa, que o
“descobre”, tal como António Quadros e os arquitectos da escola do Porto “descobriram” Rosa
Ramalho, a barrista ingénua de Barcelos.200 De facto, o próprio Ernesto de Sousa afirmava, em
200
Ernesto de Sousa organiza em 1964 a exposição 4 Artistas Populares do Norte: Barristas e Imaginários, na
Galeria Divulgação, Lisboa, Maio/Junho 1964. A exposição fazia parte do ciclo Etnologia e Cultura Popular realizado
pelas Associações de Estudantes e reunia obras de Rosa Ramalho, Mistério (Domingos Gonçalves Lima), Quintino
Vilas Boas Neto e Franklin Vilas Boas Neto. Para a noção de “Artista Popular” ver Sousa, (1970: 5).
250
meados de 1960, que é essa “procura culta” da arte popular que estava, na época, a contribuir
para “conservar alguns dos seus aspectos estéticos mais válidos.” (1964: 96) No entender deste
crítico de arte e cineasta, para quem a ideia de obra de arte é uma construção oitocentista e
académica, Franklin é um artista e não um artesão, formado na tradição oral, e portanto com
uma “informação ingénua”, apresentando mesmo um “cogito pré-reflexivo” (Sousa, 1995: 29).
Para Ernesto de Sousa, “arte popular” é uma designação vaga, ambígua e pode referir-se a arte
produzida em vários contextos, tanto citadinos como rurais201. A expressão arte ingénua, que
prefere, refere-se a objectos produzidos no contexto de uma cultura rural, marcada pela
transmissão oral dos saberes. Logo, desenvolve uma teoria da ingenuidade, que mais do que
explicar o objecto a que se dedica, quer adoptar como modo de ver o mundo, para si e também
para a arte, o artista, o crítico, o espectador contemporâneos.202 Assim, afirma:
O artista popular […], mesmo conformando-se estreitamente com a tradição, como
geralmente acontece, age com a espontaneidade do demiurgo: é um criador de
objectos com actividade própria e poder imediato de transformação do mundo. Do seu
espírito está ausente a abstracção alegórica, como qualquer preocupação do cânone
formal. A noção abstracta de harmonia é-lhe estranha, pois que ele nada produz que
não seja imediatamente harmónico consigo próprio, com os seus hábitos e
entendimentos do quotidiano, como com os seus desejos e aspirações de futuro (Sousa,
1964: 93).
Franklin, tal como Jaime, era portanto um outsider, considerado pela comunidade
alguém que não queria trabalhar a pedra como faziam os santeiros, mas sim a madeira, o que
era, do ponto de vista social, uma extravagância. Usava apenas um instrumento, emprestado,
um formão, quando Ernesto de Sousa o conheceu em 1964. O artista e crítico de arte analisa os
trabalhos de Franklim feitos em madeiras da terra (troncos) e madeiras da água (do mar ou do
rio), em geral raízes que vinham na enchente das águas. Reconhecia o valor simbólico destas
matérias, alegando a importância do imaginário da árvore e da raiz. Ernesto de Sousa fala da
“pseudo-loucura” de Franklin, da imaginação fora-da-regra e de uma “incidência cultural nãoliterária, arcaica, e directamente relacionada com uma psicologia das profundidades” (Sousa,
1995: 34).
201
Como afirma, “parece-me que se devem considerar certas manifestações artísticas da cidade como
pertencendo ao domínio da arte popular. Certos pintores de tabuletas e tabernas são artistas consideráveis”
(1964: 99). No entanto, na prática, Sousa dedicou-se ao estudo e à exposição de artistas eminentemente rurais.
202
O termo “ingénuo”, que Ernesto vai preferir a “popular”, é a tradução directa do francês naïf usado por Husserl,
a que corresponde o “olhar primeiro” ou a “atitude natural”: cf. “Realismo em Ernesto de Sousa – raízes de um
percurso insólito ”, em http://unlpt.academia.edu/MarianaPintodosSantos/Papers/126829
251
O interesse de um intelectual como Ernesto de Sousa pela arte popular pode ser
explicitado naquilo que este ia escrevendo sobre a possibilidade de uma “arte especificamente
portuguesa”, focando constantemente a atenção na emergência dos novos artistas,
interpretando o seu trabalho à luz do neo-realismo que defendia e esforçando-se por torná-los
os seus artistas. No entanto, como afirma Mariana Pinto dos Santos (2005, s.p.):
Para que a arte se torne especificamente portuguesa, Ernesto propõe um mergulho no
quotidiano e um regresso às origens, que crê possível através do estudo aprofundado
da arte popular nacional. Embora já em 1946 estas propostas estivessem presentes em
embrião nos seus textos críticos, é nos anos 50 que alguns acontecimentos vão levá-lo a
aprofundar a sua reflexão sobre o papel que a arte popular pode desempenhar junto
dos artistas neorrealistas. Esses acontecimentos são, em primeiro lugar, os passeios do
“Ciclo do Arroz”, excursões organizadas por pintores em colaboração com Alves Redol
pelos arrozais do Ribatejo, que tinham como objectivo a imersão no real e daí tirar
consequências para pintura. Ernesto chamará ao “ciclo do arroz” “a realização mais
coerente” do Neorrealismo (Sousa, 1965: 3).
Assim, a geração de intelectuais de que faz parte Ernesto de Sousa ou António Reis
estava a agir de forma a criar uma ruptura com a anterior ideia de arte popular, em especial a
chamada arte rústica tão em voga no país durante o Estado Novo, da qual Vera Alves faz uma
genealogia mostrando como a cultura popular, composta em especial por objetos que deviam
ser vistos e apreciados, “transmitia um retrato pacificado do povo, avesso a distúrbios,
provando assim que o país revoltoso não advinha do carácter mesmo da nação” (Alves, 2007:
271). O povo representado é portanto uno, coeso e pacífico e não tomado como categoria da
qual fazem parte alguns artistas ingénuos que se construíram na marginalidade, fora do
contexto cultural normativo. No discurso oficial do Estado Novo, segundo Pais de Brito, a
diversidade não era apreendida enquanto tal, mas antes como “uma variação cromática dentro
do mesmo – o País, Portugal. Esboçava-se mais pelo lado pictórico, folclórico e ilustrativo de
curiosidades de diferenciação local,
do que enquanto campo de rupturas, oposições,
contrastes, anomalias ou instabilidades” (Brito, 1995: 11). No entanto, intelectuais como
Ernesto de Sousa também partilhavam de algumas continuidades com gerações anteriores.
João Leal trabalhou sobre a genealogia deste interesse pela arte popular,
nomeadamente a “sensibilidade etnográfica” dominante nos anos da Primeira República, em
que a própria etnografia “se transforma, literalmente, em etnografia artística” e a cultura
popular é vista como “universo composto basicamente por objectos que devem ser vistos e
apreciados” (Leal, 2000: 46). A apropriação antropológica da arte popular por parte de uma
série de personalidades, como Vergílio Correia que, na senda de Rocha Peixoto, se
252
interessaram pela arte popular, “conjunto de manifestações artísticas produzidas por gente do
povo”, tornava visível a forma como esta, nas palavras destes estudiosos, fazia parte de um
“fundo artístico rudimentar primitivo, conservado tradicionalmente nas camadas inferiores dos
povos”, em que, de certo modo, “a arte popular relevaria do mesmo impulso que teria
produzido a arte pré-histórica e a arte primitiva”. No entanto, ao contrário daquilo que pensava
Rocha Peixoto relativamente à analogia, que discuti aqui, entre arte popular e a arte primitiva,
não se tratava de produzir uma imagem negativa destas manifestações artísticas portuguesas. É
a tendência para tornar positivo, nacionalizando este gesto artístico vindo do povo,
simultaneamente caracterizado por um conjunto de valores como a simplicidade e a rudeza, a
ingenuidade e o tradicionalismo (cf. Leal, 2002: 266), que irá influenciar, mais tarde,
intelectuais como Ernesto de Sousa.
Para “etnólogos” como Virgílio Correia, que, tal como Joaquim de Vasconcelos,
procurava “fazer dos objectos populares verdadeiros ícones da nacionalidade”, esta arte era
vista como “produto gracioso” de um modo de vida e de uma paisagem “literalmente
encantadores”. Neles, estariam concentradas “as qualidades estéticas e morais do campo visto
pelos olhos do pastoralista” (Leal, 2002: 270). No entanto, podemos dizer que Ernesto de Sousa
integrou, mais ainda, uma geração de arquitectos, artistas e estudantes que, como sublinhou
Pais de Brito, “vão descobrir objectos, gestualidades, práticas e formas que foram trazidas para
uma circulação mais difusa na sociedade portuguesa […] através de um discurso qualificado e
não como simples coisas ilustrativas de um artesanato colorido e curioso” (Brito 1995: 16). Se
Sousa é, sem dúvida, aquele que melhor teoriza o novo gosto pela arte popular este não
renega, e admira até, como afirma João Leal, as lições de autores como Vergílio Correia ou
Joaquim de Vasconcelos, cujo pensamentos o antecedeu (Leal, 2002: 273).
De facto, em 1961 é publicada A Arquitectura Popular Portuguesa (inquérito feito entre
1955-1960) e, no prefácio de 1987, os arquitectos explicam que “sentiram necessidade de
procurar raízes numa arquitectura mais vernácula. E fizeram-no empenhadamente, deixandose deslumbrar pela economia das formas depuradas ao longo de séculos e pela adequação aos
diferentes meios naturais, transformados pelo trabalho humano ao longo de gerações” (Brito,
1995: 14). João Leal refere que, neste inquérito, a concepção implícita do popular se baseia
num conjunto de dicotomias, que tanto incluem – o popular é isto ou aquilo – como excluem –
o popular é o oposto disto ou daquilo:
O popular dos arquitectos não é erudito, embora possa ser por ele influenciado. Mas
será tanto mais popular quanto menos erudito for. A sua posição é de qualquer forma
subalterna, uma vez que as influências em sentido contrário – do popular sobre o
253
erudito – não são consideradas. Não tem autoria individual: o povo é o seu autor
colectivo. Não é urbano, mas predominantemente rural. Está mais próximo da natureza,
com a qual – nos casos mais felizes – se chega a fundir. Tem uma relação peculiar com a
história: é estático. Sendo umas coisas e não sendo outras, o popular é sobretudo
autêntico, é genuíno, é espontâneo. Estas concepções do popular não eram exclusivas
dos arquitectos da “geração do Inquérito”, apresentando pelo contrário evidentes
similitudes com o modo como os antropólogos portugueses que trabalhavam sobre as
sociedades camponeses tinham encarado, desde finais do século XIX, o popular” (Leal,
2011: 71).
Tal como vimos relativamente a Jaime e à arte bruta, as formas de construir vistas como
vernaculares, populares e anónimas eram assim resgatadas – não no sentido da recolha, mas
no da busca de uma certa estética e técnica – como uma fonte de inspiração para a nova
arquitetura moderna. Há que referir ainda, como grande discurso sobre o País que rompe com
o discurso oficial “espartilhado”, a edição a partir de 1960, com o disco sobre Trás-os-Montes,
da Antologia da Música Regional Portuguesa, inserida no plano mais amplo dos Arquivos
Sonoros Portugueses, registo da recolha de campo que Michel Giacometti iniciara em 1959
(Lopes Graça tinha publicado em 1954 Canção Popular Portuguesa). Ainda segundo Pais de
Brito, o trabalho de Giacometti “vem a ocupar um lugar de extrema importância pelo que tem
de revelação de um universo fundamental da identidade mais sensual e física da própria
manifestação do canto e da música, como expressão plástica mais corpórea, capaz portanto de
restituir ou evocar a presença dos executantes já também enquanto indivíduos” (Brito, 1995:
15). É justamente no cinema, e em séries de filmes como a de 1972, produzida para a RTP, Povo
que Canta, realizada por Afredo Tropa, que esta dimensão é restituída e evocada.
Com o tempo, este grupo de intelectuais, de que fazia parte Ernesto de Sousa, começa a
rever o modo como os neo-realistas viam o povo. Como sublinhei no terceiro capítulo desta
tese, o relativo fracasso do Dom Roberto justificou, de certo modo, esta mudança de paradigma
estético, passando Sousa a promover as artes experimentais e conceptuais em Portugal 203.
Segundo Maria Pinto dos Santos, “ao defender a ingenuidade como ferramenta para a
produção e recepção da arte e do conhecimento, Ernesto de Sousa reage, no fundo, a um
falhanço do neo-realismo: a incapacidade de transmitir um conteúdo revolucionário através de
uma técnica revolucionária, a incapacidade de criar novas linguagens formais, permanecendo
preso a técnicas herdadas de uma sociedade que tanto queria transformar”. Por outro lado, “a
ingenuidade é a ferramenta que lhe permite pensar do zero, com total abertura, em novas
203
Este percurso é analisado por Miguel Wandschneider, 1998.
254
linguagens artísticas. E no entanto, o neo-realismo está lá: na tentativa de partir de algo
especificamente português, que vem da cultura da oralidade, popular, secular.”204
Embora este desvio pela geração em que o cineasta António Reis desenvolveu o seu
trabalho nos possa afastar do cinema dele, de certo modo o fascínio positivo e pastoral pelo
povo, o primitivismo, e a rejeição da ideia de “realismo” não deixam de ser pedras de toque
presentes no seu cinema. Mas, mais do que isso, as pistas desenvolvidas até aqui permitem
pensar que esta era uma geração que se via como nova e moderna, e nessa visão procurava “o
país real”, ou, como dizia Ernesto de Sousa, buscava uma “realidade rugosa”. Tratava-se,
sobretudo, para ele, de uma “descoberta [que] nos auxilia a fazer face a uma sociedade
repressiva” (1973: 9 e 13). De facto, como afirma João Leal, o que parece estar em questão era,
antes do mais, “uma leitura da cultura popular capaz de a tornar um aliado das causas da
esquerda na sua luta pela transformação política, cultural e ideológica do país” (2002: 276). E,
para isso, nada melhor do que recorrer ao território mítico transmontano como lugar de todas
as encenações de um arcaísmo associado às ideias de comunitarismo.
Trás-os-Montes, província mítica: paisagem e memória
O título deste filme, que esteve para se chamar Nordeste, diz tudo: Trás-os-Montes é, talvez,
um dos grandes mitos do cinema português, um filme que se tornou de culto.205 Nele se
jogavam todas as cartadas de uma abordagem à ruralidade que parecia, em 1976, dois anos
passados sobre a revolução, vir de uma raiz mais antiga do cinema português. Luís de Pina, na
sua História do Cinema Português refere o impacto do filme teve, após a sua estreia no dia 11
de Junho desse ano:
E chegamos a Trás-os-Montes, feito com grande sacrifício, rodado e apresentado em 16
milímetros, trazido de longes terras e de longínquas imagens de memória, ingénuo e
depurado, belo como uma casa antiga do Nordeste, afirmação de um casal de poetas,
evocação de pobreza e humildade, apelo de viagem num mágico comboio noturno. Era
a descoberta da ancestralidade portuguesa, o mesmo sopro subterrâneo que animou Os
Lobos e Nazaré, Douro Faina Fluvial, Acto da Primavera ou O Pão, um sopro de gente,
lugares e costumes verdadeiros, o primeiro filme autenticamente novo, autenticamente
204
cf. “ Realismo em Ernesto de Sousa – raízes de um percurso insólito ”, in
http://unlpt.academia.edu/MarianaPintodosSantos/Papers/126829
205
De todos estes realizadores, António Reis é o único para o qual foi elaborado um blog
(http://antonioreis.blogspot.pt). Em 2010 o Panorama de Documentário realizou uma nova retrospectiva do seu
trabalho (cf. Costa, C., 2010).
255
pobre, do cinema de Abril, que fugia ao político imediato para mergulhar em raízes
nunca reveladas de um imaginário nacional (Pina, 1986: 185).
Em primeiro lugar, é esta continuidade associada a um certo evitamento da
contemporaneidade, dos eventos revolucionários, que o torna, para os críticos e historiadores
do cinema português, num objecto tão radical. Em segundo, é o facto de nele se recorrer, de
novo, à viagem da cidade para o campo – para uma ruralidade que parece ter ficado intacta ou
ter, até, retrocedido no tempo –, que o torna numa produção assaz peculiar. Reis afirmava,
inclusivamente, que “o filme não é para a cidade, o filme é contra a cidade”.206 No entanto, e
como veremos mais à frente, seria recebido pela elite transmontana como um retrato falso,
ficcional e construído daquela região e do seu povo. Começo aqui pela sua sinopse, ou
caracterização, que encontramos na ficha técnica:
Evocação de uma província, o Nordeste português, cujas raízes históricas, seculares se
confundem com as do país irmão, que o Douro liga. As crianças e as mães, as mulheres e
os velhos, a casa e a terra. Vida diária, o imaginário, artes em desaparecimento, a
agricultura de subsistência. A erosão. O tempo e a distância. A presença ausente dos que
partiram para todos os horizontes.
Este é, assim, um filme que pode ser considerado uma síntese de todo o imaginário que
foi sendo construído pelo cinema português em torno deste “lugar mítico do novo cinema” que
foi o nordeste transmontano (Pina, 1986: 193). Manoel de Oliveira tinha filmado O Acto da
Primavera (1962) na aldeia de Curalha (Chaves), Costa e Silva o Festa, Trabalho e Pão em Grijó
de Parada (1973), uma aldeia transmontana, e António Campos Falamos de Rio de Onor (1974),
que já Jorge Dias havia retratado no seu livro. Em 1972, estreava-se Pedro Só, realizado por
Alfredo Tropa, filmado a preto e branco em terras transmontanas, na pista de um vagabundo
que tenta refazer a vida.207 Como vimos antes, também o filme Máscaras, de Noémia Delgado
(1976), é rodado nesta província, nas aldeias de Varge, Grijó de Parada, Bemposta, Rio de Onor,
Podence e na cidade de Bragança. João César Monteiro, em Veredas (1977), filma em várias
localidades incluindo Rio de Onor.208 O seu Silvestre (1981), por seu lado, é feito também nesta
206
Excerto de Celulóide, sem ind. de autor, 1975, (cit. in Moutinho e Lobo el al, 1997: 149).
Alfredo Tropa, vindo de Coimbra, aluno do Estúdio Universitário de Cinema Experimental e mais tarde do IDHEC
era colaborador das produções Cunha Telles. Segundo Luís de Pina, trata-se de um filme “só, solitário, com uma
melancolia e uma poesia frágil que lembram certas coisas de Ermano Olmi” (1986: 167).
208
Segundo o genérico do filme, as localidades, por ordem alfabética são: Arraiolos (Monte da Ravasqueira), Costa
da Caparica, Duas Igrejas, Guadramil, Montalegre, Paradela (Miranda do Douro), Paradela do Rio, Pitões das
Júnias, Póvoa do Lanhoso, Ria de Aveiro (Murtosa), Rio Douro, Rio Lima, Rio de Onor, Rio Tuela, Sanfins (Chaves),
Serra da Estrela, Serra do Gerês, Serra da Mourela, Soajo.
207
256
província. Finalmente, o filme Trás-os-Montes, de António Reis e Margarida Cordeiro (1976) é
rodado entre Bragança e Miranda do Douro.
Como em quase todos estes filmes, a relação indexical com o mundo que representam
está como que provada na inscrição dos nomes das localidades reais onde se filmou, uma
espécie de garante do seu aspecto documental. Para o caso deste último filme, estes nomes
transportam consigo esta duplicidade – entre o real e o poético – presentes na sua nomeação
particularizada e exaustiva: Serra de Nogueiro, Águas Vivas, Rabal, Babe, Rebordãos, Duas
Igrejas, Gimonde, Rio de Onor, Rio Rabaçal, São Julião de Palácios, Serra Montesinho, Portelo,
Alferim, Montesinho, Bragança, Pinela, Algoso, Espinhosela. O mesmo acontece com o filme
Ana (1982), que, segundo escrito no genérico, é “inteiramente rodado em Terras de Miranda
do Douro e Bragança”. Ainda um último exemplo de um filme rodado nesta zona do país, mais
tarde, seria Argozelo – À Procura dos Restos das Comunidades Judaicas (1977) , de Fernando
Matos Silva.
Impossível, aqui, deixar de notar a forma como a aldeia de Rio de Onor se tornou um
ícone da província e do país, com recorrentes estudos e filmagens. Como foi analisado no
capítulo 5, a propósito da abordagem do cinema de Campos, este facto só pode advir do estudo
monográfico que Jorge Dias aí tinha realizado, e em particular da ideia do comunitarismo, ou
seja, de uma gestão alternativa à do Estado Central, em que os habitantes da aldeia viviam
ainda no tempo em que este etnólogo fez aí o seu trabalho de terreno. Em Jorge Dias, um
homem que tinha uma relação ambivalente com a cidade, “fedorenta, empomadada e
engomada”209, encontramos um dos relatos mais poderosos sobre a origem da mitologia
comunitária em Trás-os-Montes – o estudo etnográfico sobre Rio de Onor, de 1953 – e os
valores da igualdade social, da fraternidade, da entreajuda, da tolerância:
Uma das constantes fundamentais desta cultura é o seu respeito pela organização
social, até hoje orientada pela vida em comunidade. Outra constante relacionada com a
primeira, é o espírito de fraternidade e tolerância que leva os aldeões a viverem sem
fricções e em perfeita harmonia com os vizinhos. Tudo é feito numa atmosfera de
celebração, sem acrimónias ou inimizades (…). Esta maneira de viver reflecte-se na
educação. As crianças crescem em liberdade, participam nas festas, dançam e cantam
com os adultos, uma geração segue a outra, igualmente harmoniosa, feliz e equilibrada
(Dias, 1981).
209
Jorge Dias, em 1959, cit. in João Leal, (2008b).
257
Seguidamente, podemos notar, neste cinema, o modo como certos traços culturais
transmontanos – uma forma de dança, de arquitectura popular, um certo modo de vestir ou de
falar – são transformados em coisas que são fixadas, num trabalho de descontextualização e de
recontextualização. Estes processos de tematização da cultura remetem para uma melancolia
do passado: os objetos representados parecem procurar a sua origem, a sua primeira vida, uma
vida sem retorno. Este é portanto um cinema que fala da memória do país, e que representa
uma geografia simbólica do mesmo. Tal como foi observado para a literatura portuguesa
(Besse, 1997: 213), o mundo rural situa-se quase sempre no Norte do país, apresentando, como
constante “uma estrutura monolítica”. Como afirmava a propósito de Trás-os-Montes, aquando
da morte de Reis, o crítico Carlos Melo Ferreira, nesse filme,
A memória e o imaginário de um homem transforma-se na memória e no imaginário
colectivos de uma região esquecida, depauperada, e a visita a um espaço interior
transforma-se em viagem de reconhecimento aos diversos tempos e às diversas
atividades dessa mesma região. Aí o maravilhoso encontra a tradição e esta aquele, a
atualidade fere pela distância a que continua a forçar os indivíduos, as famílias, a
comunidade (Moutinho e Lobo, 1997: 110).
Embora fora daquilo a que se convencionou chamar documentário, como vou discutir
mais à frente, o próprio realizador gostava de dizer, a propósito do seu cinema, que tinha um
olhar etnográfico. Como afirmou a Serge Daney, “je crois que le regard ethnographique, c’est
un vice”, e explicita: “nous nous sommes beaucoup intéressés aux problèmes anthropologiques
posés par la région, à la littérature celte, etc. Nous avons lu tout votre Markale, parce que les
Celtes sont encore là-bas. Nous avons étudié l’architecture Ibérique parce que l’architecture
des maisons là-bas n’est pas née par génération spontanée”. No entanto, tratava-se de uma
etnografia espontânea, feita fora dos cânones académicos e museológicos. Jean Markale, por
exemplo, que Reis refere, é um intelectual controverso,210 que escreveu sobre temas diversos,
em especial a cultura céltica, o druidismo, ou os templários. Reis afirma, seguramente
influenciado pelas leituras e pesquisa que o levaram a filmar o nordeste transmontano, e a
propósito dos habitantes dessa região, que “ce n’est pas de l’exagération ou une liberté
poétique de dire qu’ils sont des druides. Si tu les entends parler des arbres, de comment ils les
aiment [...], il y a là quelque chose de très ancien qui n’a rien à voir avec le christianisme, c’était
210
Jean Markale (1928- 2008) é o heterónimo de Jean Bertrand, um escritor francês, poeta e locutor de rádio,
professor do ensino secundário e historiador amador, que viveu em Brittany. Publica vários livros sobre a
civilização Celta, a literatura Arturiana, e temáticas ligadas ao Oculto e em especial ao Druidismo.
258
de le rendre présent par son absence” (Moutinho e Lobo, 1997: 259). O fascínio pela
ancestralidade e o primitivismo, agora já não nos desenhos de Jaime mas nos personagens
reais que Reis e Cordeiro encontraram, são enfatizados na descrição, ela mesma poética, do
pequeno pastor da sequência inicial do filme:
C’est une force de la nature. C’est comme un peul en Afrique ou un Berger du MoyenOrient, un berger qui a un métier, qui marche dans la nuit, qui appartient encore un peu
au néolithique. Ce qu’il dit à ses brebis, c’est un code où il est difficile de séparer la
musique, les aspects phonétiques, lexicaux: on sent un choc entre tous ces éléments. Et
il parle un sous-dialecte plus ancien que le portugais. C’est un primitif au bon sens du
terme (Moutinho e Lobo, 1997: 260).
Fig. 23. O pastor de Trás-os-Montes
Em Trás-os-Montes, o filme de Reis, a representação romântica do modo de vida
camponês, a ideia de uma relação harmoniosa com a natureza, de formas de organização social
e sociabilidades arcaicas e a valorização do colectivo – a cena do conselho reunido no Domus de
Bragança – são indícios da eterna procura do exotismo da vida no campo, metáfora, tal como
em Jaime, de uma marginalidade ligada ao isolamento, fechada sobre si. O cenário geográfico e
humano da paisagem transmontana é portanto o território mítico deste cinema, arquétipo do
que é visto como arcaico, autêntico, matriz da memória do povo. A sua paisagem não é um
repouso para os sentidos, mas um trabalho sobre a memória e a presença ou a ausência das
coisas e das pessoas, um trabalho mental e cinematográfico. António Reis, referindo-se aos
transmontanos, declara, em entrevista aos Cahiers du Cinéma, que “ils vivent dans un espace,
chez eux ou dans la nature, qui est déjà cinématographique. Je suis certain que s’ils étudient le
cinéma, ils deviendront des cinéastes” (Moutinho e Lobo, 1997: 262).
Neste realizador, as ideias de autenticidade, interioridade e arcaísmo são trabalhadas a
um limite que parece ir muito mais longe do que naquele que foi o filme arquétipo desta
259
tendência: o Acto da Primavera, de Manoel de Oliveira. Numa conversa entre João César
Monteiro e Reis, em Abril de 1974,211 a propósito do português que se fala no filme de Oliveira,
Reis afirma que, “embora representado pelo povo – o que não quer dizer nada –”, o filme
mostra “uma representação de coisas que não são populares”, possuindo uma carga “erudita
ou pseudo-erudita”. De resto, refere ainda que “basta fazer um contraponto entre o que o
texto diz e a maneira como eles falam, e a grande tradição da poesia oral ou escrita da Idade
Média, para saber onde está a contrafacção evidente”, ou seja, o texto “terá algumas coisas
autênticas” mas “não merece um respeito por aí além”. Monteiro expressa, seguidamente, o
facto de ser “avassaladora” a influência da Igreja nos meios rurais, ao que Reis contrapõe que,
“se quisermos ir a raízes muito mais fundas, estou convencido que a influência que (esta) tem
em Trás-os-Montes é, como em qualquer parte, episódica. Doa a quem doer”. Perante esta
afirmação, Monteiro contrapõe que “o plano em que a mão de Cristo canta, com todo o peso
litúrgico da ladainha, aquele espantoso ‘ai dolor’, disse-me mais deste Trás-os-Montes, deste
País inteiro, que a mais eloquente reportagem” (Moutinho e Lobo, 1997: 247). Este diálogo
entre Reis e Monteiro, a propósito daquilo que seria a verdadeira cultura popular, presente na
província transmontana, continua a propósito de Jaime, com o seu realizador a afirmar que, na
obra artística do protagonista, “as partes animalistas são arquétipos do campo, dos campos de
qualquer época”, ou ainda que:
O bestiário de Jaime, com o seu urinhacense e madalenense, ao mesmo tempo que um
desfilar de arquétipos, é um dos mais singulares da História de Arte. E a sua estética
fauve ou expressionista, se não foi contemporânea desses movimentos europeus,
também nada lhes deve. O seu tempo histórico e psicológico era outro. Era outro o seu
espaço de gruta, subterrâneo ou sideral, com nuvens onde viajavam, sonhavam e
sofriam 1000 homens dentro (Moutinho e Lobo, 1997: 247).
Outro aspecto a salientar é o da linguagem cinematográfica. Vimos como António
Campos, por exemplo, trabalhava dentro de duas categorias diferenciadas: o documentário e a
ficção. Aqui, pelo contrário, esta categorização deixa de fazer sentido e as fronteiras entre os
dois géneros cinematográficos desvanecem-se. José Manuel Costa sintetiza: “nunca o cinema
português (e poucas vezes o cinema moderno) foi tão obsessivamente experimental e tão
materialmente experimental” (Moutinho e Lobo, 1997: 123).212 Por seu lado, para Roma Torres,
este cinema “só aparentemente é documental ou etnológico, já que parece acreditar pouco na
objectividade agressiva das câmaras de uma sociedade tecnológica, preferindo uma estética do
211
In Celuloide, nº 29, 20 Abril 1974.
o autor utiliza a expressão cinema “moderno” para se referir ao cinema que “ajudou a explorar uma alternativa
possível ao naturalismo griffithiano e à herança da narrativa literária do século anterior” (Costa, 1997:123).
212
260
pudor, dos sentidos escondidos, da revelação íntima que guarda uma distância paradoxal das
terras e das pessoas.” O realizador Serguei Saguenail, para quem os filmes de Reis
“engendraram um certo culto mas não suscitaram um verdadeiro discurso crítico”, este
realizador “dinamitou os quadros estreitos do cinema documental ao qual se dedicou,
introduzindo a ficção como modo de apreensão do real portador de história e de sonho”
(Moutinho e Lobo, 1997: 125-26).
Porque é então que podemos considerar que este cinema tem uma veia etnográfica,
ainda que separada da ideia do “documentário”? Parece-me que existem várias razões, que o
próprio realizador explicita, em entrevistas concedidas. Antes de mais, a atitude que denominei
de poética não se liga a nenhum tipo de alheamento ou amnésia, mas sim, em Reis e Cordeiro,
a uma fórmula para chegar à autenticidade desse outro mundo. No discurso deste realizador,
existe uma associação entre a linguagem poética e aquilo que remete para a ruralidade, um
cinema, como afirma Reis, com uma “durée da poética e mística rural”. Veja-se, em Jaime, o
plano do guarda chuva aberto, no celeiro, pousado num chão coberto por um círculo de milho,
um plano que surge depois da frase “deixei as arcas”, que se relaciona, segundo Reis, com
“tudo aquilo que o obrigaram a deixar” na aldeia. Quanto ao milho, conta Reis que “na infância,
vi secar muitas espigas dentro de casa porque, quando chovia, tinham de as tirar das eiras.” Em
relação ao guarda chuva, presente no mesmo plano, acaba por ser, ele próprio, e ainda
segundo o realizador, um objecto visto como “um instrumento dos pobres, um instrumento
útil, poético” (Moutinho e Lobo, 1997: 252-5). Esta sequência final do filme acaba por sintetizar
os aspectos poéticos deste cinema.
Fig. 24. Jaime, o celeiro.
261
Seguidamente, António Reis preocupa-se, também, com a função de registo. Foi ele o
teorizador do projecto do Museu da Imagem e do Som, lançado pelo Centro Português de
Cinema em 1974, e ao qual ficariam ligados Trás-os-Montes, mas também Máscaras de Noémia
Delgado ou Argozelo de Fernando Matos Silva. José Manuel Costa refere que, neste cinema,
“todos os planos de todos os filmes são sobre o conhecimento (a atitude científica, sempre
identificada com a atitude poética), são um acto de conhecimento, quer dizer, de interrogação”
(Moutinho e Lobo, 1997 : 123). Em relação à veia documental, vimos como ela está tão
presente na atitude de toda a geração de intelectuais de que fazem parte António Reis e
Margarida Cordeiro. O paralelo com outras personalidades (como Lopes Graça, Giacometti, os
arquitectos do Inquérito ou Ernesto de Sousa) mostrou como ao fascínio pela cultura popular
se associa à ideia de documentar, de fazer “prospecção” e, em geral, de forma mais abstracta, a
de constituir um arquivo. No que diz respeito à busca da arte popular, que discuti a propósito
de Jaime, afirmava Ernesto de Sousa:
As centenas de fotos que fizemos (de arte popular) não terão outro mérito senão
demonstrar como a fotografia (e o cinema, evidentemente) constituem um veículo
fundamental para o conhecimento estético da arte popular. O que, por outro lado, não
dispensa o conhecimento e a discussão de uma específica metodologia relativa ao
cinema e à fotografia como meios de prospecção e interpretação (Sousa, 1964: 99).
Para Reis, a função de registo que pressupõe a ideia do Museu da Imagem e do Som
tinha um programa de trabalho que excedeu logo aí essa função, ao estipular que “não pode
haver registo profundo e duradoiro se o acto de registar não for igualmente, e com a mesma
força, um acto criador, logo, transformador”. Existe assim uma espécie de tensão entre a
atitude etnográfica de registo afirmado como “museológico” e um discurso que constrói o
outro em termos de distância espacial e temporal, ficcionando-o. Nesta balança, o poético
ganha peso, mas este só existe porque, no outro lado, temos o real, documental. Veja-se a
cena, no filme Trás-os-Montes, em que uma família, no interior de uma casa rural
transmontana e sentada à mesa, se alimenta de uma travessa de neve que é servida pela mãe e
que todos comem, de ar grave e sério, lentamente. Reis comenta esta cena, afirmando, uma
vez mais aos Cahiers: “ils n’ont jamais mangé de la neige comme on le voit dans le film mais ils
souffrent de la neige, de la beauté de la neige, de la brûlure de la neige. Alors, comme il y a des
peuples qui mangent de la terre ou de la paille, je les ai fait manger de la neige” (Moutinho e
Lobo, 1997: 122 e 262). A presença empírica do outro transforma-se, repentinamente, na sua
ausência, e este mantém-se fora do tempo e do espaço. Por outro lado, os realizadores levam
aqui ainda mais além o projeto de objectificacção da cultura, ao considerarem que só eles
262
conseguem resgatar aquilo que é o verdadeiro sentir do povo, incapaz – por não conhecer a
linguagem cinematográfica – de o traduzir por si próprio.
No entanto, o próprio Reis se considera um cineasta da ficção: em relação a Jaime,
afirma que é “um filme de fundo, um filme de ficção”, e que “não é uma história, mas é um
filme onde tudo tem importância”. Por outro lado, nunca foi considerado, pelos historiadores e
críticos do cinema, como um documentarista. A propósito do Trás-os-Montes, Luís de Pina
afirma que os realizadores não nos deram uma “realidade directa das coisas vistas pela sua
câmara, um documentário, digamos, mas uma realidade construída em termos de poesia”
(Moutinho e Lobo, 1997: 248 e 179)
São variados os exemplos em que a encenação é a chave para entender estes filmes.
Reis conta, por exemplo, que pediu à viúva de Jaime, com 71 anos, ou seja, passados 40 anos
sobre a morte do marido, que o chamasse pelos campos, para filmar. A cena foi repetida várias
vezes e o próprio realizador refere a “violência” que foi, para esta mulher, que se
“desenterrasse” o marido. A este propósito, afirma: “nunca digam que, no filme, esse aspecto é
documental, porque eu zango-me. Não tem nada a ver com um documentário, nem biográfico,
nem nada. É uma espécie de memória e de imaginação”. Segundo conta Margarida Cordeiro a
propósito das filmagens de Trás-os-Montes, as pessoas eram “escolhidas pela voz, pela dicção,
e pela postura. Nós dizíamos lhes: – Seja você próprio e diga isto. Como vê, não é um
documentário mas está absolutamente natural. Quer dizer, não é bem o quotidiano, mas
também não é teatro. É um meio tom que nós sabíamos que as pessoas escolhidas teriam”
(Moutinho e Lobo, 1997: 248 e 19). Este é portanto um cinema que está mais perto da ficção,
no sentido em que “fiction manipulates and modifies reality from within its world whereas nonfiction does so from without” (O’Brian, 2004: 13).
Assim, reafirmo – retomando a asserção elaborada no final do capítulo anterior,
segundo a qual não existiria, salvo algumas exceções, já estudadas aqui, uma tradição de
documentário no país –, que este olhar, o de Reis, se constrói fora da denominação
documentário, afastando-se daquilo a que Bill Nichols (1991: 3) chamou discourses of sobriety.
Estes são, para o autor, sistemas de “conhecimento e de organização social” que incluem a
ciência, economia, política, educação e religião, contendo geralmente “poder instrumental na
definição da natureza da organização social”.213 Embora o documentário não tenha a mesma
213
É importante notar que Nichols, importante teorizador contemporâneo do Documentário, definiu quatro
variantes formais do mesmo, a que chamou de vozes, baseadas na experiência de quem vê, identificando : a voz
de Deus (direct adress), o Cinéma Vérité, as Entrevistas, e finalmente o Auto-reflexivo. Em 1991 redefiniu estas
vozes em modos de representação que categorizou de : expositivo, observacional, interactivo e reflexivo. Mais
tarde, em 1999 juntou a estes o poético, participativo e performativo, e enfatizou que estes não correspondem a
uma cronologia. Em resumo, o modo expositivo corresponde ao tipo de filme pragmático, autoritário
263
influência que estes sistemas, há não só uma relação de parentesco mas também uma
relevância social e política na produção documentarista. A natureza de documento que
constitui a base do documentário é crucial e, nesse sentido, o material que o constitui não se
baseia nunca numa imagem cinemática imaginária, mas nos eventos captados. Deste não faz,
portanto, parte uma realidade construída, mas antes, e em síntese, “collected incidents of
recorded actuality” (O’Brian, 2004: 9).
Se a primeira e mais famosa definição de documentário é a de John Grierson, que o
define como sendo “o tratamento criativo da actualidade” 214, esta foi, mais tarde, criticada por
Brian Winston (1988), para quem os factores culturais e ideológicos que influenciam o
realizador negam a possibilidade de um tipo de objectividade que requer acesso a dados e
fenómenos verificáveis. Corner (1996) responde, por seu lado, afirmando que Winston
presume que quem vê um documentário é incapaz de negociar o espaço entre a sua evidência
e a realidade ela mesma. Há no entanto, e estas reflexões têm sido trabalhadas por diversos
autores, e com distintas perspectivas,215 uma ambiguidade inerente à noção de documentário,
uma vez que a câmara e o microfone são sempre mediadores em relação á realidade. Assim,
julgo que é importante reafirmar, mais uma vez, que
Documentary cinema, by its very nature, represents an arrangement of data derived
from ‘reality’ in the form of evidentiary exposition or interrogation[...]Viewers must
recognise in documentary a fragment of life, arranged in context, which draws on their
current knowledge and contributes to their subsequent understanding of the ‘real’
world[...]We might usefully think of documentary as a set of organising principles and
definitive practices which culminate in a conceptual framework where the viewer
defines ‘the real’ through a continual process of negotiation between what is shown
(sensory perception) and what is known (cognitive perception) (O’Brian, 2004: 10).
No entanto, em realizadores como Reis ou César Monteiro, embora exista a ideia de
“registo” esta está dissociada da ideia de “evidência” tão presente nas noções de documentário
enquanto género cinematográfico. Trata-se antes de operar no domínio da imaginação
caracterizado pelo movimento britânico de Grierson ; Alguns destes filmes traduzem uma tradição mais romântica
(o modo poético) ; O cinema de observação é uma resposta a este documentário anterior e uma resposta às
inovações tecnológicas de 60. O interactivo, por seu lado, relaciona-se com o uso de vários modos e discursos,
deixando em aberto interpretações. Por ultimo, o auto-reflexivo e performativo torna explícita a presença do
realizador.
214
John Grierson (1898 – 1972) foi um realizador escocês, pioneiro na utilizacção do termo documentário, quando,
em 1926, se refere ao filme de Flaherty Nanook of the North.
215
Em relação às teorias do documentário, cada autor dá ênfase a um aspecto particular que considera relevante:
as estruturas formais (Michael Rabiger, 2004), as variantes relativamente à questão da subjetividade (Bill Nichols,
1991b; John Corner e Alan Rosenthal, 2005) a expressão poética (Michael Renov, 1993), ou o historicismo (Richard
Barsam, 1992; Erik Barnow, 1983).
264
etnográfica, a partir do mundo “real”, para assim aceder a uma espécie de anterioridade da
vida no campo que só por esta via pode ser resgatada.
Reflexões em torno da polémica que gerou a recepção do filme
No Verão de 1976, chega à Secretaria de Estado da Cultura, em Lisboa, um telegrama com o
texto: “NUMEROSO GRUPO TRANSMONTANO VERDADEIRAMENTE INDIGNADO COM A FARSA
AFRONTA
E
MENTIRA
QUE
REPRESENTA
O
FILME
TRÁS-OS-MONTES
PROTESTA
ENERGICAMENTE CONTRA SUA DIVULGACÇÃO EXIGINDO QUE SEJA DESTRUÍDA TAMANHA
ABERRACÇÃO” (cit. in Moutinho e Lobo, 1997: 166). É a partir desta reacção ao filme, e em
especial da resposta dos intelectuais portugueses às críticas suscitadas pela sua projeção, que
gostava agora de refletir sobre a questão da representação da cultura popular, da alteridade e,
ainda, do estatuto discursivo da “crítica” de cinema.
Como se notou, o filme Trás-os-Montes mobiliza uma série de padrões a que ficou
associado este lugar mítico e arcaico, nomeadamente nos usos do tempo, que remetem para as
ideias de arcaísmo e tradição, no modo como se representa a paisagem, com imagens de um
bucolismo clássico associadas à ideia de uma miséria ancestral, e finalmente com a utilização
de uma série de recursos cinematográficos que se ligam com a ideia de recolha, de prospecção
imagética. Por outro lado, vimos como o ethos destes realizadores, em especial António Reis,
aquele que mais parece refletir sobre a sua praxis, se desenvolveu em torno da ideia de
“salvamento” de um mundo em extinção que é necessário resgatar a partir do universo
imaginário, ou seja, dos usos da poética aliada ao que chama os “arquétipos” da cultura
popular, e não apenas daquilo que o real oferece.
Fornecido o contexto do trabalho de António Reis e Margarida Cordeiro, esta última
nascida em Trás-os-Montes e responsável por muito daquilo que transitou das suas memórias
pessoais para a película, voltemos ao telegrama atrás citado, para abordar brevemente a
questão da recepção do filme. António Reis conta que, quando o projetaram aos camponeses
que nele participaram estes reagiram bem entendendo as suas “conotações”. No entanto,
acrescenta, “tivemos algumas críticas negativas mas que vieram de reacionários como aqueles
que se encontram no Porto e em Lisboa. As críticas falavam da falta da religião Cristã, de não
termos mostrado as barragens, a cozinha tradicional, ou a pobreza”. Margarida Cordeiro
refere-se a esta polémica afirmando que “era um filme que não mostrava nada do que era
bom, que mostrava só o atraso da região, não mostrava estradas, não mostrava tratores, não
265
mostrava o que eles consideravam o progresso […] Eram pessoas que votavam à direita, que
não gostavam que se mostrasse os camponeses, o lavrar dos campos, as estradas degradadas”
(Moutinho e Lobo, 1997: 262 e 18).
Exibido em Bragança e Miranda, o filme foi recebido com protestos pela população, o
que terá sido testemunhado por uma comitiva de amigos, cineastas e jornalistas que
acompanharam a sessão. Foi como que uma viagem a um outro mundo. No entanto, afirmava
um jornalista do Diário de Notícias referindo-se ao impacto mínimo da projeção naqueles que
tinham acompanhado este dia de viagem: “quando chegámos a Lisboa, Bénard da Costa era
ainda Bénard da Costa, Nuno Bragança era Nuno Bragança e todos os outros eram todos os
outros. Nessa tarde de viagem lemos jornais. Estávamos a chegar à capital do país. O Matos
Cruz, de Coimbra, encomendou bilhetes para o Cinema de Lisboa” (Moutinho e Lobo, 1997:
168). Apesar de recebido com apupos, as reações ao filme chegam através da imprensa local.
No Mensageiro de Bragança do dia 7 Maio de 1976 escreve-se que o filme “só nos apresentou
velhos, mulheres e crianças, mergulhados num mar de tristeza, de melancolia, de carências, de
fome, de miséria, de superstição, de obscurantismo, de apatia. Não, nem de longe soube (ou se
quis) interpretar fielmente a realidade. Pelo contrário, a alma e a vida das populações
transmontanas foram incrivelmente deturpadas”.
Fig. 25. Rodagem, Trás-os-Montes. CP.
266
O primeiro equívoco presente neste conflito relaciona-se com o tipo de representação que se
espera de um filme que, apesar de poético e centrado no imaginário, parecia retratar uma
realidade in loco. Como foi discutido antes, não se tratou nunca, para os realizadores, de fazer
um documentário – no sentido de um estilo cinematográfico que tinha já sido constituído
enquanto escola e linguagem –, da vida e realidade transmontanas. Por outro lado, os próprios
mentores das críticas, a partir desta ideia de que se trata de um filme realista, vêem-se como
detentores do poder de representação do outro. Trata-se, também, de um momento em que,
historicamente, se valorizava a liberdade de imprensa e de opinião, assim como o debate
político, que acaba por tornar mais explícitos alguns dos argumentos. Ainda no mesmo jornal,
mas em 21 de Maio do mesmo ano, Vaz Pires afirma: “por que não exaltar a nossa excelente
cozinha – que a agrura do clima exige que seja substancial – e a que dão forma os salpicões, as
alheiras, os folares, os leitões, os perdizes, as trutas, etc. – que os cineastas regalada e
sofregamente saborearam, para, depois, retratarem através da malga de caldo e do negro naco
de centeio?!” (Moutinho e Lobo, 1997: 177).
Uma série de intelectuais, cinéfilos e amigos saem, de seguida, em defesa do filme. E aí
surge um segundo equívoco, ligado à questão do “gosto”, ou seja, para os defensores do filme,
estas críticas devem-se, antes de mais, a um problema de incapacidade de apreciar a linguagem
cinematográfica de Reis e Cordeiro. Roland Barthes (1966: 22) discute o conceito de “gosto”
perguntando: como designar este “conjunto de interdições que dependem indiferentemente
da moral e da estética e no qual a crítica clássica investe todos os valores que não pode
reportar à ciência”? Chamemos, a este sistema de proibições o “gosto”.
No epicentro de toda a polémica parecem estar também os “valores” que o filme
reproduz, e que os críticos, associando-os a toda a identidade construída do cinema português
de esquerda, querem defender, afirmando, no Diário de Lisboa que “Trás-os-Montes é um filme
que fala dos explorados e dos esquecidos como nunca se falou neste país, sem paternalismo,
sem condescendência”. No entanto, é ainda a questão de gosto que está em causa. De novo
para Barthes (1966: 22), “a crítica não deve ser feita nem de objetos (são demasiado prosaicos),
nem de ideias (são demasiado abstractas), mas apenas de valores. É aqui que o gosto se revela
de extrema utilidade: servidor comum da moral e da estética, permite uma ponte cómoda
entre o Belo e o Bem, discretamente confundidos sob a égide de uma simples medida”. Esta
discussão permite abordar, já quase no final desta tese, a origem e a raiz daquilo que foram os
nossos textos de base, quase sempre produzidos pela “crítica”. E a crítica sai em defesa – a
partir da ideia de gosto – de um filme que sente produzir um tipo de representação essencial,
267
como era o caso de Trás-os-Montes, um objecto que trabalha quer a linguagem
cinematográfica quer o tipo de imagem do país que a intelligentsia julga importante resgatar. O
filme foi, desde o início, considerado uma obra de arte. Para Bourdieu (2006b: 45) esta “só é
plenamente justificada, seja qual for a perfeição com a qual desempenha a sua função de
representação, se a coisa representada tiver merecido tal representação e se a função de
representação estiver subordinada a uma função mais elevada, como a de exaltar, fixando-a,
uma realidade digna de ser eternizada.”
Como explicitei no início, a produção escrita sobre o cinema português tem origem,
essencialmente, num discurso crítico, e valorativo, do cinema. Mesmo o grupo dos
“bragançanos” afirma que, no filme, “a imagem se apresenta com frequência demasiado
escurecida, quando seria natural que nos oferecesse um radioso sol transmontano” (Moutinho
e Lobo, 1997: 177). Na polémica entre “críticos”, as ideias de assertividade e as certezas
referem-se a dois tipos de representação do universo transmontano: o que se vê como positivo
(um povo alegre, comida farta, uma paisagem luminosa) e o que se vê como verdadeiro (um
povo triste, pobre, escurecido). O primeiro, centra-se na ideia do presente, o segundo na do
passado remoto. Refere ainda Barthes que o crítico é obrigado a tomar um certo “tom”, e este
tom, ao fim e ao cabo, é invariavelmente afirmativo. O crítico só pode recorrer a uma escrita
“plena”, isto é, “assertiva”. “Como poderia a crítica ser interrogativa, optativa ou dubitativa,
sem má-fé, se escrever é precisamente deparar-se com o risco apofântico, a alternativa
inelutável do verdadeiro/falso?” (1966: 73)
De certo modo, é como se esta polémica viesse reatar alguns dilemas que se escondiam
na sociedade portuguesa da época, pondo em causa, nomeadamente, o poder de intelectuais e
cineastas representarem outros. Por outro lado, revelava-se agora, de forma mais nítida, a
ambiguidade inerente à representação romântica, poética e naïf do povo, que se imagina e se
vê sem voz própria. Era um mundo que se desmoronava. Lauro António explicita este
inconformismo e este desespero, reiterando que “(o filme) é incompleto e omisso em relação a
Trás-os-Montes: no povo que retrata com tanto amor e paixão falta na realidade uma
referência a esses transmontanos boçais e rudes de entendimento que escreveram o que atrás
se cita. Falta a imbecilidade e brutalidade desses que ousaram levantar o seu sujo olhar para
uma obra de uma pureza que desconhecem” (Moutinho e Lobo, 1997: 182). Trata-se, ainda, de
defender não só o filme como, aparentemente, aquilo que se imagina ser a voz dos
camponeses subjugados a uma burguesia local. Urbano Tavares Rodrigues escreve no jornal O
Diário, em 10 de Junho de 1976 que,
268
A burguesia das cidades transmontanas detestou este filme popular, fabuloso e realista,
sem automóveis, sem tecnocratas, sem burocratas, sem frigoríficos, apenas com aquilo
que o povo tem, sabe e sonha. E com o espaço do que não tem, do que se lhe deve, do
que ele tem de reclamar [...]. Pauliteiros a rigor e ao natural frente aos deserdados do
tecto do mundo. A película deixa-nos o peito sem ar e nas veias, nas mãos, na boca um
silêncio de pedra e azul. Trás-os-Montes, assim, a sua vertente genuína, (sic) sem a
parlenda incitadora dos caciques que leva esta gente admirável a lutar contra si própria,
contra a sua autêntica verdade (Moutinho e Lobo, 1997: 175).
Luís de Pina, no jornal O Dia, responde aos críticos de Bragança: “descansem, amigos
transmontanos, que a fita de António Reis e Margarida Cordeiro não se propõe quaisquer
intuitos tenebrosos, mas é uma límpida e pura homenagem sobretudo ao povo verdadeiro que
sois todos vós, vistos e filmados com aquela singular e por vezes desconcertante verdade que
tem o nome de poesia, não a fácil e sentimental criação de agradável fantasia, mas o eco
sentido de um povo que vive a sua liberdade, ama a sua terra, e sabe como ninguém o que tem
sido a ingratidão da História (Moutinho e Lobo, 1997: 180).
Pierre Bourdieu (cf. 2006a: 53) discute, justamente, a relação entre o discurso dos
críticos e as propriedades do público a que este se dirige, defendendo que o serviço prestado
pelos primeiros ao segundo é tanto mais precioso quanto a homologia entre a sua posição no
campo intelectual e a do seu público no campo da classe dominante. Para o autor, este é o
fundamento de uma conivência que faz com que os críticos nunca defendam com tanta eficácia
os interesses ideológicos da sua clientela, quanto os seus próprios interesses de intelectuais
contra os seus adversários específicos, ou seja, os ocupantes de posições opostas no campo da
produção. De facto, aquilo que parece estar em causa nesta polémica é um conflito entre dois
tipos de intelectualidade: a da elite da cinematografia lisboeta e a da etnografia espontânea
transmontana. Em causa, a representação daqueles que se supõe e se imagina que não se
sabem defender: os camponeses. De facto, e no seguimento do pensamento de Bourdieu, os
conflitos estéticos sobre a “visão legítima” do mundo, ou seja, em última análise, sobre o que
merece ser representado e sobre a maneira correta de fazer tal representação, são conflitos
políticos centrados na imposição da definição dominante da realidade e, em particular, da
realidade social. De facto, “o campo da produção cultural é o terreno por excelência do
enfrentamento entre as frações dominantes da classe dominante – que combatem aí, às vezes,
pessoalmente e, quase sempre, por intermédio dos produtores orientados para a defesa das
suas ideias e para satisfação das suas preferências – e as frações dominadas que estão
totalmente envolvidas neste combate” (Bourdieu, 2006a: 70).
269
Conclusões
A questão dos usos do poético em Reis, implícita no conflito descrito, também pode ser
conotada com a questão da representação na própria antropologia. Estes realizadores fizeram
um filme “contra a cidade”, que apesar de tudo habitaram. Os antropólogos, tal como os
cineastas, fazem da representação e da deslocalização a sua praxis. Esta é uma perspectiva que,
como afirma Fabian, “would help us to realize that our ways of making the Other are ways of
making Ourselves. The need to go there (to exotic places) is really our desire to be here (to find
or defend our position in the world) […] both movements, from here to there and from then to
now, converge in what I called presence. This is the way I would define the process of
othering”. Desse modo, conclui:
If representation is thought of as above all praxis, this has two consequences: a) the
foremost problem with it will not primarily be accurate reproduction of realities but
repetition, re-enactment, b) representations (in the plural) will then be considered as
acts, or sequence of acts, in short, performances. Performances need actors and
audiences, writers and readers. Therefore, representations ought to draw their
convincingness primarily from communication, rhetoric, persuasion, and only
secondarily from systemic fits or logical proofs (Fabian 1991: 209-210).
Em relação à questão da recorrência e mitificação da paisagem do nordeste
transmontano, podemos estabelecer uma relação entre esta e a identidade nacional. Simon
Schama (1995: 7) escreve sobre a relação da ideia de paisagem com a memória, começando
por afirmar que a paisagem como um produto mental, construído com estratos de memória,
mais do que de rocha ou terra, não só porque todos, ou quase todos, os ecossistemas naturais
foram modificados pela cultura humana, mas porque eles fazem mesmo parte da identidade
cultural.
Our entire landscape tradition is the product of shared culture; it is by the same token a
tradition built from a rich deposit of myths, memories, and obsessions. The cults which
we are told to seek in other native cultures –of the primitive forest, of the river of life, of
the sacred mountain – are in fact alive and well and all about us if only we know where
to look for them. […] For if the entire history of landscape in the West is indeed just a
mindless race toward a machine-driven universe, uncomplicated by myth, metaphor,
and allegory, where measurement, not memory, is the absolute arbiter of value, where
our ingenuity is our tragedy, then we are indeed trapped in the engine of our selfdestruction (Schama, 1995: 14).
270
A paisagem mítica e as memória partilham duas características comuns. Por um lado, a
sua surpreendente endurance ao longo dos séculos e a forma como ainda moldam as
instituições com que vivemos; por outro lado, a identidade nacional perderia “ferocious
enchantment”, “without the mystique of a particular landscape tradition: its topography
mapped, elaborated, and enriched as a homeland.” (Schama, 1995: 15). Para Serge Daney,
Trás-os-Montes é mesmo um filme sobre o afastamento (éloignement), num duplo sentido de
estar longe (exílio) e do acto mesmo de se afastar (perder de vista, e esquecer), a tal ponto que
as leis de Lisboa, da capital, não chegam lá a esse lugar remoto. Este afastamento é espacial,
tanto como temporal. Se quisermos fazer um paralelo entre o movimento de aproximação
povo e à ruralidade do cinema português, tão presente no discurso dos críticos a propósito do
filme, encontramos na Irlanda, e nos historiadores do seu cinema, uma perspectiva semelhante
à que defendo aqui:
Idealization of rural existence, the longing for community and primitive simplicity, are
the product of an urban sensibility, and are cultural fictions imposed on the lives of
those they purport to represent[...]It was urban-based writers, intellectuals and political
leaders who created romantic Ireland and perpetrated the myth that the further west
you go, the more you come into contact with the real Ireland (Gibbons, 1996: 85).
Um outro autor, Harvey O’Brien, no seu livro The Real Ireland, The Evolution of Ireland
in Documentary Film, constata que nos anos 1930 e 40 a maioria dos filmes irlandeses é feita
em contextos rurais, tendo o binarismo campo/cidade mais ressonância neste do que noutros
países. Uma das explicações para este facto tem a ver com a própria emergência do cinema
enquanto prática social coincidir com a ideia de modernidade e de cidade. Assim, o autor
discute as razões de ser desta sobre-representação do rural, remetendo para a história do país,
e para uma certa relação ambivalente deste com o modernismo. Como afirma, “the Irish
wanted to be modern and counter-modern in one and the same gesture”. No entanto, “this
counter-modernity is”, tal como no filme de Reis e Cordeiro, “arguably embodied in the Celtic
revival and general pastoralism” (O’Brien, 2004: 47).
Percebemos, neste capítulo, como o cinema de imaginação etnográfica ou de inspiração
poética radicaliza o percurso de busca do povo e do popular que, nesta tese, identificámos
como tendo origem nos anos 1920 com Leitão de Barros e o primeiro Oliveira. Trata-se de um
tipo de representação que resgata o domínio simbólico, mágico, interior do povo. Apesar de ser
posterior à revolução de 1974, parecem existir continuidades relativamente a algum do cinema
anterior. A esta “negação” dos tempos revolucionários poderíamos sobrepor aqui uma
radicalização da procura de um país que parece ter ficado perdido no tempo, pelo seu
271
isolamento cultural e social. Vimos como este mundo rural é retratado num passado remoto,
para o que contribui a linguagem cinematográfica, entre a criação diegética e usos de efeitos da
realidade. Em termos do discurso que é produzido pelos cineastas e críticos, a ideia de uma
urgência de filmar algo que parece na eminência de terminar parece entrar em contradição
com aquilo que é o interior do filme, as suas cenas que mostram as populações e a paisagem
fora do tempo, como se aí permanecessem. Ao fazer um périplo pelo interesse que toda uma
geração de intelectuais desenvolveu em torno da arte popular, ressalvo que as noções de
paraíso perdido, de periferia (social, no caso de Jaime, cultural, no de Trás-os-Montes), de
primitivismo (a arte bruta do primeiro, a descrição do pastor no segundo) e de arcaísmo, que
identifiquei como fazendo parte de um devir romântico, acabam por ser, como vimos na
polémica final, de natureza política. Neste cinema o gesto político é radicalmente colocado no
modo de filmar um imaginário a que se tenta aceder, e que está lá independentemente de
contaminações, que são cada vez maiores, do mundo exterior, assim negando a possibilidade
de intervenção do cineasta, e portanto de um cinema ativista. Capaz de representar aquilo que
há de mais profundo no interior do mundo do outro, o cineasta não o pode, no entanto, mudar.
Trata-se antes, como afirmei antes, de operar no domínio da imaginação etnográfica – por
vezes cruzando o surrealismo – a partir do mundo “real”, para assim aceder a uma espécie de
“anterioridade” da vida no campo que só por esta via pode ser resgatada. Como contava João
César Monteiro, em entrevista, aquilo que lhe aconteceu após a revolução de 1974 – e esse
seria “um dos aspectos mais positivos” desses acontecimentos políticos – foi um “reencontro”
de um “intelectual citadino, completamente isolado e no meu caso com tendências
esquizóides” com as “camadas rurais”, uma tentativa de “penetrar no significado profundo e
global das raízes culturais campesinas”, numa espécie de elitismo camponês. Como afirmava,
“enganem-se os que pensam que a alma do povo é simples ou fácil”, “ninguém fala do elitismo,
às vezes esotérico, de certas manifestações da cultura popular” (2005: 312). Um outro aspecto
a salientar, a propósito da discussão na qual tento caracterizar estilisticamente este cinema,
relaciona-se com a afirmação de Reis, feita ainda antes de realizar o filme Trás-os-Montes, da
urgência deste cinema, de um “dever histórico” de filmar “a autenticidade de províncias como
o Nordeste”, num momento em que “tudo se homogeneiza, no péssimo sentido”, por exemplo
com os “atentados televisivos”. O realizador reafirmava, assim, que “é impúdico e vergonhoso
o que estão a fazer – não digo já ao povo – à etnografia” (in Moutinho e Lobo, 1997: 256). Tal
como discuti longamente no capítulo introdutório da tese, o cineasta – do mesmo modo que o
etnólogo – embora contacte diretamente as populações num presente etnográfico, produz,
neste seu devir de urgência, um material que tende a ser essencialmente anacrónico. Existe
assim, tanto na antropologia como no cinema, uma espécie de disjunção entre a experiência e
272
a ideia de ciência, pesquisa, recolha. O desígnio de que em Veredas ou Trás-os-Montes – tal
como nas memórias de Jaime - o afastamento, a procura das memórias míticas, de uma
paisagem pura e selvagem onde habita um povo que fala o dialecto local e que tem um ar grave
feito de gestos lentos, não está, portanto, em contradição com o princípio de que os filmes são
vistos pelos seus criadores, ao mesmo tempo, como registos etnográficos puros e uma viagem
ao verdadeiro imaginário do povo. A câmara, em César Monteiro, Reis e Cordeiro, é meio de
investigação e descoberta e não ferramenta de registo, isso sabemos. Depois, tudo o resto é a
linguagem cinematográfica, particular, que explicita, devolvendo-a ao cinema, a ideia de
viagem, de saída e de procura, cada vez mais ficcionada, de uma alteridade que se inventa.
Como afirma Fabian na citação inicial, “the other is never simply given, never just found or
encountered, but made” (1991: 208).
273
CAP 7 Reflexões e conclusões, a partir da vertente etnográfica do cinema
revolucionário
Compreender é primeiro compreender o campo com o qual e contra o qual cada um se
fez (Bourdieu, 2005: 40).
Introdução
Até ao momento, e para além do cinema matricial de Oliveira, tratei o filme etnográfico de
arquivo, o documental de vocação etnográfica e o poético ou da imaginação etnográfica.
Procedi a partir de três grandes modalidades cinematográficas, categorias flexíveis, cuja
fronteira é plástica, é certo, mas que creio nos permitem efectivamente compreender as
intencionalidades inerentes às diferentes atitudes no acto de filmar o povo. A primeira é
marcada por um olhar etnográfico e refere-se a filmes que se cruzam diretamente com a
Antropologia enquanto campo disciplinar ou com as suas derivações, aquilo a que se tem
chamado etnografia espontânea. São películas marcadas pela atitude do registo e de
constatação, em que a cinematografia se cola à ideia de observação não mediada do real.
Neste grupo incluí, antes de mais, filmes feitos por antropólogos, com destaque para a equipa
de Jorge Dias, única no panorama nacional. A este chamei filme etnográfico de arquivo. Nesta
modalidade incluí também, embora tenham um carácter diferente, as incursões feitas por
cineastas no domínio do popular em termos documentais. A este grupo chamei cinema
documental de vocação etnográfica e nele tratei, em especial, do caso paradigmático de
António Campos, mas também o de Manuel Costa e Silva, director de fotografia e episódico
realizador, em que a colagem à produção escrita dos etnólogos portuguese não é tão óbvia
como em Campos. A segunda grande modalidade que considerei, marcada por uma
intencionalidade mais onírica e estética, refere-se àquilo a que denominei cinema poético ou da
imaginação etnográfica, caracterizado, antes de mais, por retratar o povo numa viagem
nostálgica, oscilando entre uma visão pastoral e um retorno a um mundo esquecido, arcaico,
romantizado e estetizado. Para entender o olhar poético foi importante refletir sobre o cinema
de António Reis e Margarida Cordeiro, especialmente Jaime e Trás-os-Montes, de 1976, mas
também o de João César Monteiro, que muito contribuiu para a criação da ideia de um mundo
rural associado à estética medieval. Tratei, neste terceiro grupo, de filmes na fronteira da ficção
com o documentário, mas em que a matéria do popular se impõe como referência.
Estas duas modalidades relacionam-se ainda com uma terceira, que quero agora abordar
274
e que designei de olhar revolucionário, fruto do movimento de urgência e de vontade de
registo que se criou logo a seguir ao 25 de Abril de 1974, e que, não durando mais do que dois
anos, subverteria as formas de produção do cinema português. Estes filmes, ao contrário dos
anteriores, são marcados por uma polifonia de discursos que servem de guia à imagem. Tratase de um cinema que remete para a questão da veracidade, sendo que, como foi dito antes, o
importante neles não é decidir, com base no confronto entre um determinado discurso e a
realidade à qual supostamente este se refere, se ele é verdadeiro ou não, mas examinar os seus
“efeitos de verdade”, quer dizer, precisar quais os mecanismos retóricos através dos quais ele é
tomado como verdade. Nele encontramos, na maioria dos casos, uma narração, uma voz-off
que propaga claramente um discurso politizado, montado em paralelo com entrevistas que
confirmam, dando voz ao povo, o que é dito pela locução. Este é o grupo de filmes que, de
certo modo, mais se afasta daquilo que julgo serem as incursões dos cineastas no território da
etnografia, visto estarem delimitados por um texto, que é lido em off. Por isso, e embora o seu
interesse seja relevante para um estudo do olhar sobre a cultura popular, será aquele que
menos exploro. Por outro lado, é talvez aqui que se torna mais clara a instrumentalização do
povo, e da representação da cultura popular, no sentido de servir como matéria plástica que
ilustra um discurso, uma visão do mundo.
Neste último capítulo, começo por contextualizar o cinema revolucionário e assim fechar
esta incursão na dupla deriva do cinema português: a procura do povo e da ruralidade, de um
lado, e a tendência documental, de outro. Seguidamente, descrevo aqueles que me parecem
ser as questões mais importantes a salientar do meu próprio trabalho enquanto realizadora, no
que toca, mais uma vez, a estes dois aspectos. Por último, e a partir desta perspectiva autoreflexiva, proponho-me fazer algumas considerações sobre aquilo que, no início, referi como
sendo uma herança que julgo ter recebido para o meu próprio trabalho enquanto realizadora.
O cinema revolucionário
Volto à história do cinema português no ponto em que a tínhamos deixado. Vimos como desde
os anos 1960 o cinema directo, a produção francesa e italiana, a nouvelle vague, e o Novo
Cinema brasileiro encontraram algum eco nos realizadores portugueses, que foram no entanto
criando um cinema com uma identidade nacional própria. Por esse tempo, vindo ele também
da crítica e dos cineclubes, João César Monteiro construía secretamente, e de modo quase
experimental, os seus primeiros filmes, confessando, no livro Morituri Te Salutant, de 1974, que
integrava “a primeira geração de cineastas cultos existentes em Portugal. Por cineastas cultos
275
entendo pessoas que repetidamente fizeram pelos anos 60 o trajecto que vai do extinto cinema
Galo à Cinemateca da Rue d’Ulm ou ao National Film Theatre. Pessoas que conseguiram farejar
todo o cinema que se tem feito e que, melhor ou pior, foram tirando do que viram as
conclusões que melhor se lhes impuseram” (cit. in Pina, 1986: 150). É agora necessário
perceber, naquilo que descrevi no cap. 3 como sendo o movimento do Cinema Novo, e em
resumo, os principais factores que marcaram o cenário de mudança que se preparava no final
dessa década de 60, com i) o aparecimento de uma outra vaga de autores, nomeadamente
César Monteiro, Seixas Santos, Matos Silva e António Pedro Vasconcelos; ii) a intervenção de
um novo parceiro nas debilitadas relações financeiras do cinema português, a Fundação
Calouste Gulbenkian; iii) a expectativa ligada à publicação da nova legislação referente ao
cinema, a Lei 7/71, que iria instituir o IPC; finalmente, iv) o divórcio entre produtores e
realizadores, consagrado na fundação do CPC, verdadeira cooperativa de autores (cf. Grilo,
2006).
O Ofício do cinema em Portugal, apresentado em 1968 por um grupo de cineastas e
técnicos à Fundação Calouste Gulbenkian, propunha um apoio que se deveria confinar “a uma
auxilio material, abstendo-se de tudo o que
possa representar limitação ao caminho
livremente escolhido pelos autores-realizadores”. Isto acabaria por dar origem a uma
cooperativa, denominada Centro Português de Cinema, que financiou alguns filmes. De facto,
como afirma João Mário Grilo, “esta nova geração que o CPC configura procede de uma cultura
cinéfila, de uma habituação do olhar às salas de cinemateca europeias, e de um entendimento
do cinema como uma experiência artística e estética vivida em plenitude” (Grilo, 2006: 22-23).
Os famosos anos Gulbenkian inauguram-se com quatro projetos de ficção: O Passado e o
Presente de Manoel de Oliveira, Perdido por Cem, de António Pedro Vasconcelos, o já referido
Pedro Só, de Alfredo Tropa, e O Recado de Fonseca e Costa. Outros filmes tiveram ainda
pequenos apoios: Quem Espera por Sapatos de Defunto, de César Monteiro, A Pousada das
Chagas, de Paulo Rocha (na realidade uma obra de “encomenda”) e António Campos com
Vilarinho das Furnas. Assim, verificamos, a partir desta listagem, que boa parte da “revolução
cinematográfica portuguesa” precede o 25 de Abril. Segundo Luís de Pina, os anos 70 são,
exceptuando os filmes produzidos pelo Centro Português de Cinema, “os anos de desespero do
novo cinema, sobretudo dos seus elementos mais radicais, dos seus cineastas mais à margem,
ainda que seja necessário distinguir entre radicalismo político e radicalismo cinematográfico”.
E, continua, “há uma cada vez maior contestação dos jovens ao regime, mesmo na fase
marcelista: é a revolta académica de 1969, com o Maio de 1968 atrás de si, é a recusa do
combate por um ultramar português. Há os dois extremos cada vez com um fosso maior entre
eles: o cinema comercial agora menos apoiado pelo SNI [...] e o campo da resistência” (Pina,
276
1986: 150).
Os anos da revolução trouxeram ao cinema português uma enorme diversidade de
propostas. Foram os casos do documentário de intervenção política – Deus, Pátria e Autoridade
e Bom Povo Português de Rui Simões; As Armas e o Povo, filme colectivo rodado no 1º de Maio;
Barronhos, de Luís Rocha, A lei da Terra, do Grupo Zero, entre muitos outros – de trabalhos que
interrogavam as raízes míticas e simbólicas do imaginário português – os já referidos Trás-osMontes, de António Reis e Margarida Cordeiro e Veredas, de João César Monteiro, mas
também o Nós Por Cá Todos Bem, de Fernando Lopes e Benilde ou a Virgem Mãe, de Oliveira –,
sem esquecer ainda aquilo a que Grilo chamou “o documentário de cariz etnográfico”, com
Areia Lodo e Mar de Amílcar Lyra, Gentes da Praia da Vieira de António Campos, Máscaras de
Noémia Delgado e Continuar a Viver ou os Índios da Meia Praia, de Cunha Telles (Grilo, 2006:
26). Assim, e como se pode confirmar, os finais da década de 70 implicaram a consolidação da
obra e do estatuto de cineastas “com currículo”, mais do que o aparecimento de uma nova
geração, que só acabará por emergir na década posterior. No fundo, se é verdade que existiu
um cinema revolucionário, cooperativo, de agitação e militância, funcionando “como
celebração festiva, mas consciente, de uma liberdade recém-conquistada”, por outro lado
também se constata uma certa continuidade, como vimos em especial com Trás-os-Montes, na
forma como alguns dos realizadores já estabelecidos e conceituados continuam a filmar o país:
a produção cinematográfica portuguesa exploraria, pouco depois do 25 de Abril, uma “vertente
verdadeiramente exorcizante”, mas que nem por isso deixava de ser um cinema “com pouca
‘evidência militar’, porque ele próprio se concebia como uma máquina de guerra contra a
imagem que o Estado fez de Portugal, durante quase todo o séc. XX”. Alguns cineastas, no
documentário e na ficção, partiram, assim, à descoberta “desse país remoto e esquecido, da
sua identidade e dos seus mitos, operando um exorcismo formal, que teve consequências
decisivas para o futuro do cinema português” (Grilo, 2006: 90).
Entremos então nos acontecimentos e nos filmes que se realizaram com e a propósito da
revolução. Tomem-se, por anos, alguns dos filmes que visionei e que constituem este conjunto.
Em 1974, dois: Deus Pátria e Autoridade, de Rui Simões e Brandos Costumes, de Alberto Seixas
Santos; em 1975, As Armas e o Povo, Apanha da Azeitona, realizado pela Cinequipa, Revolução,
de Ana Hatherly e Liberdade para José Diogo, de Luís Galvão Telles; em 1976, São Pedro da
Cova, também de Rui Simões, Continuar a Viver ou Os índios da meia praia, de Cunha Telles,
Cravos de Abril, realizado por Ricardo Costa, Deolinda Seara Vermelha, por Luís Gaspar, A luta
do Povo, realizado pelo Grupo Zero, Pela razão que têm…, de José Nascimento. Este grupo de
filmes permite esboçar recorrências e descontinuidades com o cinema anterior, que, no
277
entanto, parece continuar e vingar como o “verdadeiro” cinema português, ou, pelo menos, é
ele que é considerado por autores como Grilo como revelador do tal “exorcismo formal” que
caracterizaria a alma do cinema nacional. Trata-se, nesta vaga revolucionária, em geral, de
filmes documentais, por vezes próximos da reportagem, cuja forma de produção é colectiva, ou
seja, um cinema aparentemente “sem autor” – tal como acontecia nos filmes de arquivo –,
assinado pelas cooperativas de produção, quase sempre situado no presente, em especial no
território alentejano, e na contemporaneidade do tempo que representam, centrando-se sobre
a possibilidade de “dar voz” ao povo e ao tratamento de acontecimentos políticos: ocupações,
o processo revolucionário, as biografias populares. De salientar que, em conformidade com o
discurso marxista, esteve o princípio de se criarem experiências colectivistas de produção
cinematográfica com as duas cooperativas que resultaram da desagregação do CPC: a
Cinequanon e a Cinequipa.216 O pano de fundo deste movimento remetia também para a ideia
de que “o cinema é um modo constitutivo de fazer política, de se entretecer nos mais
profundos padrões culturais, fomentando o sentimento de uma nova consciência e
humanidade” (Costa, 2002: 33). Por outro lado, a temática deixa de ser exclusivamente rural,
começando a surgir os primeiros filmes com operários, mineiros e ainda os “esquecidos”
pescadores.
Gostava de começar por um filme que é um caso único – pelo anonimato dos que o
realizaram e a importância memorável das imagens – na História do Cinema português. Tratase de As Armas e o Povo (1975), filme colectivo que retrata o primeiro de Maio de 1975,
acompanhando a manifestação, com uma equipa de 25 realizadores, misturando película a
preto e branco com imagens e entrevistas de rua a cores.217 O filme revela, em paralelo,
registos tomados na rua durante o primeiro ano da revolução. No início, ouve-se o som dos
passos que iniciam a música “Grândola, Vila Morena”, e surge o cartão: “um filme produzido
pelo Sindicato dos Trabalhadores da Produção de Cinema e Televisão”.218 Escuta-se o Grândola
e logo começa, sobre negro, uma voz off que afirma, por exemplo, que “a luta dos
trabalhadores portugueses fez-se por causa de uma guerra sem sentido, desprestigiante, com
um exército que era bode expiatório de um regime”, ou seja, um texto que vai explicitando o
surgimento da revolução do Movimento das Forças Armadas, concluindo que “a história deste
filme não cabe nas imagens de alegria de um povo”. Glauber Rocha participa do filme surgindo
216
Para uma descrição detalhada dos nomes ligados a estas duas cooperativas ver José Filipe Costa (2002: 43).
Para um contexto político mais detalhado e uma descrição das várias facções, partidarizadas ou não, segundo
as quais se dividim os realizadores à época ver José Filipe Costa (2002: 27-39).
218
Entre outros colaboraram : Acácio de Almeida, José de Sá Caetano, José Fonseca e Costa, Eduardo Geada,
António Escudeiro, Fernando Lopes, António de Macedo, Glauber Rocha, Elso Roque, Alberto Seixas Santos, Artur
Semedo, fernando Matos Silva, João Matos Silva, Manuel Costa e Silva, Luís Galvão Teles, António da Cunha Telles,
António Pedro Vasconcelos.
217
278
em campo, de microfone na mão, a entrevistar na rua, enquanto, em off, se diz “ouvimos o
povo do Barreiro e de Lisboa”. O material filmado entre 25 de Abril e o 1º de Maio,
laboriosamente montado, com um texto que procura dar as linhas gerais da resistência aos 48
anos de ditadura, faz o corpo deste filme. Não deixa de ser, no entanto, revelador, como afirma
Jorge Leitão Ramos (1989: 12), “que o único cineasta a interpelar diretamente as pessoas seja
Glauber Rocha, numa demonstração de como a fala, a reportagem directa e viva de
acontecimentos imprevisíveis não era o forte dos realizadores portugueses”. Glauber, como
vimos no capítulo 2, defendia a ideia de um autor interventivo. Podemos identificar uma
pequena “vaga” de documentário a partir daqui, que não terá, no entanto, consequências para
a criação de uma escola ou tendência cinematográfica. Trata-se, em meu entender e antes de
mais, de uma resposta aos acontecimentos.
As imagens dos tanques nas ruas de Lisboa, a preto e branco, no largo do Carmo, com
uma voz de rádio que conta o que vemos acontecer, apelando à população para seguir com a
sua vida, assim como os planos da libertação dos presos políticos, que são entrevistados logo
que saem da prisão, revelam aos nossos olhos um cinema documental novo, que não se tinha
ainda feito ainda no país, centrado no momento, no acontecimento e no improviso. Um plano
singular é o da praça dos Restauradores, quando vislumbramos, na frente do Cinema S. Jorge o
cartaz anunciando “O Couraçado de Potemkin, um filme de Eisenstein” 219, uma espécie de
espelho cinematográfico do filme dentro do filme. Um outro exemplo: na manifestação vemos
os cineastas João César Monteiro e Margarida Gil, misturados na multidão, assim como o cartaz
“cinema também é movimento. Viva o MFA”. Quem o leva é o jovem Henrique Espírito Santo,
do PCP, produtor do Novo Cinema Português. Esta auto inclusão é reveladora de um aspecto
desta cinematografia: realizar um filme sobre a revolução não era excluir-se dela, mas antes
participar com a câmara na mão, tomado como um instrumento de luta e de registo daquilo
que os seus protagonistas sabiam ser um momento histórico do país.
Quanto ao texto, ele surge como uma voz de alguém conhecedor de todo o contexto
passado que deu origem à revolução, com menções às greves de 1943, a criação em 1945 do
NAVE, o fascismo, Humberto Delgado, a tentativa de revolta de 1959, o golpe de estado de
1961, ou a Revolta de Beja. Assim se inventariam as formas de repressão, de tortura, a prisão,
tornando as imagens que vemos, feitas nas ruas de Lisboa, em pesados testemunhos de uma
longa caminhada do processo revolucionário. O filme segue depois com o comício do 1º de
Maio, focando cartazes de Mao Tse Tung e Karl Marx, e Mário Soares, rouco, gritando:
219
O filme, de Serguei Eisenstein (1925), parte de um facto histórico de 1905 – uma rebelião de marinheiros de
navio de guerra – funcionando como metáfora do processo revolucionário.
279
“Camaradas! Em 25 Abril, as forças armadas destituíram o regime de Marcelo Caetano! Essa
vitória não é de ninguém, essa vitória é do povo português, e como representante desse povo
quero falar aqui de sindicalismo livre!”. Alternado com o comício, imagens a preto e branco
mostram uma manifestação numa aldeia e um cartaz onde se lê “Vivam os camponeses”. De
facto, os acontecimentos frente à câmara são, em si, mais importantes do que o facto de estar
a ser feito qualquer filme, isto é, trata-se de uma câmara realista, intuitiva, que persegue as
coisas, em que nada é trabalhado no sentido formal, mas antes como um fascinado registo
daquilo que se vê: uma cara, uma expressão, um cartaz. No genérico, pode ainda ler-se:
“colaboraram neste filme amadores de cinema, profissionais da rádio e da imprensa”. Como
afirma José Filipe Costa, que estudou este período do PREC,220 os realizadores dividiram-se,
neste período, entre os que queriam “uma consciencialização política e cultural através do
cinema” e os que tinham como urgência fazer o país rever-se e confrontar-se com as suas
próprias imagens, devolvendo-lhes “uma espécie de genuinidade e visceralidade que o Estado
Novo ocultara sob um folclore colorido” (2002: 9). É nesta segunda tendência que me vou
centrar aqui, com outros exemplos de filmes realizados neste período, agora sim em contexto
rural.
Também do mesmo ano, o filme de Luís Galvão Telles, Liberdade para José Diogo, com
fotografia de Elso Roque e uma autoria identificada no genérico como “uma realização
Cinequanon, cooperativa de produção de filmes, em co-produção com a RTP”, capta um
processo cujos acontecimentos são, provavelmente, ainda mais difíceis de antecipar pela
câmara. Trata-se de um filme militante, o que pode ser verificável pelo tom panfletário do
próprio título, mas que se queria revelador da realidade vivida no mundo rural português. Mais
uma vez, sobre uma música revolucionária, e a imagem de uma fotografia a preto e branco
retratando um trabalhador rural, ouvimos, em off, que
A Cinequanon está a realizar um filme sobre José Diogo. O presente documento é
constituído pelos documentos que se conseguiram recolher, entre eles estava uma
entrevista que não foi possível obter, pois não tivemos autorização para filmar dentro da
prisão, pelo que apenas conseguimos uma gravação em que José Diogo lê uma carta,
gravação sem condições técnicas. José Diogo, operário agrícola alentejano, encontra-se
detido na cadeira de Beja desde Setembro último acusado de ter morto Columbano
Monteiro.
220
O PREC é o “Processo Revolucionário em Curso”, geralmente considerado o tempo entre 1974 e 1976. No
entanto, o período temporal em que estamos a trabalhar aqui começa em 1974, mais propriamente em 29 de
Abril desse ano, em que as gentes do audiovisual ocuparam a sede do Instituto Português de Cinema até Junho de
1976, mês em que as Unidades de Produção, experiência fugaz de colectivização do cinema tem ordem de
extinção pela Secretaria de Estado da Cultura, na altura chefiada por David Mourão-Ferreira.
280
Columbano era um grande latifundiário de Castro Verde, um homem da PIDE, “fechado
dentro dos limites da sua casa e da sua propriedade, que tratava com sobranceria as pessoas”.
Depois do 25 de Abril, esta sua atitude resulta numa série de discussões, numa das quais,
utilizando a arma, Columbano despediu José Diogo e, segundo nos conta o filme, “apareceu
exuberante num café de Castro Verde. Insultado por Columbano, José Diogo faz justiça.” O
texto continua, assegurando que Columbano “teve a morte que merecia”. Todas as cenas desta
produção, a que os realizadores chamam “documento”, são feitas ao estilo do cinema directo:
veja-se, por exemplo, o momento em que uma carta do prisioneiro é lida numa assembleia
popular, enquanto, alternado com esta, surgem imagens do quotidiano desta aldeia alentejana.
São realizadas várias entrevistas, de microfone em punho, às pessoas que conheceram
Columbano: uma mulher, por exemplo, conta que foi falar com este patrão para arranjar
emprego ao marido, perguntando, quando aquele a interpelou, “e porque é que o senhor me
trata por tu? - Trato as mulheres por tu, disse ele, e não lhe dou trabalho sem me informar
primeiro quem é o teu marido”, afirma. Um outro testemunho, um homem mais velho, do
campo, conta que trabalhava catorze horas por dia, e que “nem podia parar cinco minutos para
fumar um cigarro, por causa daquele maldito carrasco e fascista”. Estes depoimentos são
alternados com imagens de manifestações e outras que permitem ilustrar e enfatizar o que é
dito no texto. Quando se fala dos “fascistas”, por exemplo, usam-se arquivos que mostram uma
caçada, em que dois cães correm atrás de uma lebre frente a uma assistência em que vemos
Salazar. No entanto, em off, continua a história de José Diogo e Columbano. Nesta desconexão
entre a imagem e o discurso textual muito presente nestes filmes revolucionários, podemos
reconhecer que é o som e a palavra que guiam as narrativas.
A música tem um papel também importante, envolvendo as cenas com palavras que,
cantadas, evocam aquilo que está a ser vivido. Neste filme, um músico de guitarra ao ombro
conta a história da “navalhada que José Diogo deu ao patrão” em cima de um palco onde uma
faixa de pano diz “Libertemos José Diogo”. O cantor e o seu coro surgem aos nossos olhos
como jovens citadinos, movidos pela missão revolucionária, apelando à “vitória sobre o
capital”, à “nossa luta” e à “justiça popular”. No mesmo filme, as imagens de uma peça de
teatro em que também uma voz off explicita a forma como os trabalhadores eram explorados,
conta, numa narrativa simples e um tom paternalista, a história de José Diogo: “trabalhava
todo o dia sem parar até que chegasse o sol pôr, mas isto um dia havia de acabar [….] todos
unidos souberam vencer, o patrão só queria ter escravos e atacou o povo trabalhador,
despedindo o Zé Diogo do tractor”. No palco podemos ver, de um lado, os actores vestidos de
camponeses e do outro um homem identificado como Columbano Monteiro. Em off, ouve-se,
“de um lado, quem trabalha a terra, e enche os bolsos ao patrão, do outro quem se enriquece,
281
de quem da terra arranca o pão!”, continuando “sem trabalho e o dinheiro a acabar, com tanta
coisa de lado para fazer, e em casa os filhos para sustentar o Zé Diogo pouco tinha a perder” e
ainda: “o canalha respondeu-lhe que fazia o que bem queria”. Vê-se aqui, no palco, um homem
a pontapetear o outro, numa actuação realista, silenciosa, feita pelos mesmos intervenientes
que antes cantavam no palco. A população bate palmas quando o patrão cai no chão, ouvindose: “e ferrou com ele no chão”, “os doutores lá da terra, que de leis dizem entender, leis
burguesas feitas pelos patrões, mas que mandaram o Zé Diogo prender”. Vê-se agora, no palco,
um homem a ser posto atrás grade por dois outros com letreiros ao pescoço onde se lê “GNR”.
No final, ouve-se ainda “uma só luta, uma só bandeira, a paz, o pão, a terra livre e
independente” entre palmas. Os actores, na boca de cena, empunham uma bandeira e vêem-se
foices e ferramentas no ar: “a justiça só será popular quando a justiça e o governo forem do
povo”, terminando o espectáculo com todos de punho no ar e bandeiras gritando “operários,
camponeses, unidos venceremos!”.
Trata-se de um filme que interpela directamente o espectador, a partir do momento em
que o julgamento é adiado. Atente-se na cena em que um homem se levanta, em frente ao
tribunal, e começa a falar para a população, “o tribunal liberta o réu condicionalmente com
uma prestação de 50 contos!” Ouvem-se então gritos de “Uuuh ! Fascistas !!! Gatunos,
gatunos, gatunos!” Esta é uma situação de grande tensão, filmada de câmara ao ombro,
revelando alguns problemas de luz, mas cuja fragilidade só contribui para nos sentirmos a viver
aquilo que é filmado, e no seu preciso momento. Num ponto chave deste filme, alguém sobe
para cima de uma mesa, e afirma, por entre uma certa violência e medo no ar, que “ouvida a
posição do tribunal da burguesia, chegou a altura de decidirmos aqui em tribunal popular sobre
o destino de José Diogo”. Ouve-se o povo a gritar, em plano geral: “Justiça popular, justiça
popular!” No final, o guarda prisional, abrindo a porta de grade diz, sorrindo para a câmara: –
“Se quiserem perguntar alguma coisa sobre como ele foi tratado, podem perguntar”; – “Sim
senhora”. José Diogo sai, cumprimenta o guarda que afirma: – “Estou muito contente por esta
decisão, felicidades!” E, de punho no ar, diz para a câmara: – “Camaradas!”
Os dois exemplos mostram a forma como este cinema documentava os acontecimentos
da “história” da revolução portuguesa, devolvendo-nos detalhes e situações que revelam muito
do que foi o seu processo. Grande parte da produção cinematográfica da época realizou-se nas
zonas rurais, em especial do sul do país. O filme Apanha da Azeitona, realizado na Cooperativa
Agrícola e Produtora de Aveiras de Cima, em 1975, pela Cinequipa, é talvez dos melhores
exemplos da modalidade discursiva e da retórica que trato aqui. A temática do filme é dada
pelo mote da música inicial, cubana “pero la reforma agraria va, de todas maneras va” sobre
282
imagens dos campos: trata-se de perceber o processo de colectivização a partir do ciclo da
oliveira e do azeite. Simultaneamente, uma locução, a propósito da apanha da azeitona,
assevera, “verde foi o meu nascimento e de luto me vesti, para dar a luz ao mundo de mil
tormentos padeci”, continuando,
A folha da Oliveira é o símbolo da Paz. O azeite, para as zonas mais pobres do nosso
país, é um símbolo de abastança. Era com o azeite que se alumiava as casas. Quando
não havia mais nada, punha-se azeite no pão ou no caldo de couves. Eça de Queiroz
dizia que o povo era feliz porque se alimentava de céu azul e azeitonas. Mas o povo não
era feliz. As oliveiras que tratava raramente lhe pertenciam, a terra também não era
sua, as azeitonas que recolhia e o azeite que fazia eram reservados a outros. Ao povo
ficava reservado o trabalho e um magro salário, mas também a esperança, a esperança
de que os cêntimos se transformassem em realidade.
Neste filme, o processo da entrevista, em que, geralmente, se ouve a voz de quem
pergunta, soando como alguém citadino, urbano, de classe alta, revela o imediatismo próprio
da reportagem:
-
As mulheres que estão a tratar a comida e fazer outras coisas, são sempre as mesmas ?
-
Sim, são sempre as mesmas
-
Vocês recebem ordenado?
-
Sim, uma compensação
-
E aquela, a Isabel, ganha o mesmo ?
-
Sim, ganha o mesmo que este homem que tem 51
-
Ó Isabel, tu já tens o segundo ano ?
-
Sim
-
Gostavas de continuar a estudar ?
-
Sim, mas tenho que ganhar…
-
Vieste para a azeitona e os miúdos ficaram ?
-
Sim
-
As mulheres só apanham ? Ajudam a limpar ? O que é limpar ?
-
(homem explica)
-
Aprendeu como? A ver os outros ?
-
Sim [...].
Continua a entrevista,
283
-
Como é que vocês têm vivido ? (ela)
-
Ora, a trabalhar
-
Mas o dinheiro que recebem tem dado para comer? E para se vestirem?
-
Mesmo assim tem chegado, umas vezes pior outras melhor
-
E gosta de apanhar a azeitona?
-
Eu sempre gostei de trabalhar no campo.
-
Gostam de trabalhar no campo?
-
Sim, foi sempre a minha vida, doze anos, tenho 27, sachar milho, apanhar tomate, tudo,
[...].
E mais à frente,
-
Aqui à volta há muitas cooperativas ?
-
No concelho Azambuja há cinco
-
E aqui na vossa quantas pessoas há, entre homens mulheres e crianças ?
-
À volta de trinta famílias
-
E as pessoas que queiram entrar, podem entrar ? Eu chego e digo “ai, eu quero
trabalhar…”
-
Não perdem garantias, entram nas mesmas condições
-
E se for uma família da cidade ? (Voz homem)
-
(Ficam todos a olhar para a câmara). Também podem…
-
mesmo não sabendo nada do trabalho no campo ?
-
eu também não trabalhava no campo, é preciso é boa vontade…
-
Onde é que trabalhava ?
-
Era metalúrgico
-
Onde?
-
No Cartaxo
-
E escolheu ?
-
Sim
-
Gosta mais ? Ai, é que vocês dantes trabalhavam para os patrões e agora não
trabalham !
Entretanto, uma narração conta a história desta cooperativa, como começou e se
organizava, dando agora, de forma indirecta, voz aos desejos e ansiedades dos camponeses e,
de certo modo, substituindo-se a essa voz: “levantam-se cedo, às cinco da manhã. As crianças
284
que frequentam a escola gostariam de continuar, mas nem sempre há dinheiro. As mulheres
gostam de trabalhar no campo, sobretudo agora, sem patrão”. E mais à frente, contando que
“engenheiros, arquitectos e citadinos vêm ajudar ao fim de semana”, concluindo que “a terra é
de quem a trabalha. Mas ainda não foi possível alterar a divisão tradicional do trabalho, que na
apanha da azeitona dá ao homem o trabalho de pé e à mulher o servil trabalho curvado. Ficanos a esperança de que, na luta comum por uma sociedade mais justa, homens e mulheres
criem em comum relações de igualdade”. Mais do que dar espaço e voz aos anseios dos
camponeses – que perante as perguntas directas nem sempre parecem querer ou conseguir
verbalizar e desenvolver as respostas –, sobre esse processo de mudança sofrido pela
colectivização das terras, o filme revela ser um registo desse encontro entre citadinos e rurais.
As perguntas feitas, tantas vezes descontextualizadas e básicas, dizem efectivamente mais
sobre a relação que se estabelece entre estes dois mundos do que propriamente as respostas,
muitas vezes breves. Por outro lado, o ritmo das mesmas, assim como o tom paternalista que
tomam e o modo como se incluem afirmações em perguntas – do tipo: “está melhor agora, não
está?” – retiram, julgo eu, qualquer possibilidade de aceder ao universo dos retratados. Em
cena está o contraste. Os citadinos, que querem compreender os rurais e pensam que estes
lhes podem explicar as suas próprias ideias – cooperativa, o que é?, perguntam os primeiros;
por outro lado, os rurais que surgem a tentar perceber o que lhes está a acontecer neste
complexo processo de reforma agrária que, por vezes, os obriga a esperar demasiado tempo
pelo retorno do seu trabalho. José Filipe Costa conta, a partir de uma gravação de um debate
feito no Festival da Figueira da Foz em Setembro de 1975, que alguns realizadores criticavam já
a forma como estas entrevistas eram feitas e também como estas reproduziam, afirmava Seixas
Santos, “um discurso pré-programado” que correspondia, basicamente, à “palavra da ideologia
dominante que circula nos mass media” (2002: 79).
Um outro exemplo é o filme A luta do Povo, realizado pelo Grupo Zero em 1976. O filme
aborda o tema da alfabetização, na aldeia de Santa Catarina. Segundo o genérico final, trata-se
de um programa, eventualmente realizado para a RTP, da Direcção Geral da Educação
Permanente. Logo no início, estamos numa aula de adultos, com um professor que ensina a ler
a palavra “luta”. Em off ouve-se “eu não aprendi a ler, andei descalço com tamancos e cheio de
fome e então pensei aprender a ler […], quando for a qualquer lado, posso pedir uma
assinatura qualquer”. Passa-se depois para um plano com mulheres a trabalhar no campo. Vêse um homem num tractor, que em off explica porque quer aprender a ler. Ouve-se uma
mulher a cantar sobre imagens de trabalhos agrícolas, em especial o de gradar a terra. Segue-se
uma cena com um carácter bastante distinto do que encontramos na maioria destes filmes
revolucionários, por revelar uma construção dramatúrgica e uma procura de narrativa que, pela
285
urgência de rodar e projectar os filmes, não foram muito explorados por esta cinematografia.
No interior de uma casa, na cozinha, um homem come na mesa. A mulher come ao lado, com o
prato no colo, e ouve-se som de rádio. Ele sai de casa e monta na mota. Segue-se uma cena no
café, com rapazes a jogar, passando-se depois para uma herdade e uma tosquia. O personagem
conta que “anda a gente a trabalhar noite e dia e não tem nada para comer, ganhamos todos o
mesmo”. No interior da escola, chegam os adultos e sentam-se nas mesas. Um deles vai ao
quadro, de cigarro na boca.
Começa a ouvir-se a voz de uma mulher, possivelmente encarnando a realizadora do
filme, Solveig Norlund:
Um mês e meio depois, estávamos de volta ao Alentejo para projectar A Luta do Povo o
filme feito na aldeia de Santa Catarina contava a vida de Alfredo, trabalhador agrícola da
cooperativa Nova Esperança e a sua luta com as letras. A notícia da projecção juntou quase
todo o povo na escola e aproveitamos para saber o que achavam do filme e da maneira
como os seus problemas eram tratados.
Estamos agora na referida Assembleia, onde a realizadora pergunta: “para além de tudo o que
estamos aqui a falar, a gente agora gostava de perguntar o que é que sentiram que ficou
melhor durante este ultimo ano?” Apesar de estar de costas, o som directo permite ouvir bem
a sua voz:
-
“Eu gostava de perguntar a uma mulher”,
Alguém, responde:
-
“ Sinto que a gente andamos mais à vontade não anda o homem (capataz) atrás de nós,
andamos melhor…”
Um homem levanta-se e fala no plenário :
-
“Eu vim para esta aldeia tinha 16 anos, hoje faço 50, sou mais daqui que doutra terra.
Aqui não havia trabalho, saía às 4 ou 5 da manhã para trabalharmos, tínhamos que ir
para Lisboa, para os arrabaldes de Lisboa, porque os senhores da terra tinham uns
lambe botas, camaradas, daqueles que andavam de dia a trabalhar e à noite
engraxavam as botas ao patrão”.
Realizadora pergunta :
-
“Eu gostava de fazer ali uma pergunta ao Alfredo, pelo facto de você agora já saber ler e
escrever, o que é que sente, ver uma palavra ai escrita numa parede e já saber ler?
-
Sinto-me mais satisfeito [...]”
A elaboração e o trabalho cinematográfico neste filme traduzem uma característica que o
destaca, não só porque constrói um personagem, Alfredo, que durante o filme aprende a
escrever, como permite que este seja o narrador e o ponto de vista que nos liga ao filme. De
286
destacar, assim, para começar, a importância de uma rodagem feita com algum tempo e a
influência que esse facto tem na construção narrativa. A reflexividade – o filme dentro do filme
– é importante também, integrando a pessoa que pergunta, assim como um visionamento
colectivo. Por outro lado, percebemos como este cinema era investido de um valor de crença
na capacidade das imagens em movimento provocarem não a recepção passiva do espectador,
mas a sua acção. Subjacente, a intenção, referida por José Filipe Costa, de provocar “um efeito
de bola de neve: a projecção ou rodagem de um acontecimento fílmico é um acontecimento a
ser vivido. As equipas não se limitariam a projectar um filme, mas filmavam o próprio acto de
projecção e dinamização” e, deste modo, o povo, a partir de uma suposta colaboração com o
filme, “revia-se a si próprio na sua tomada de consciência e acção” (Costa, 2002: 75).
No seu livro Em busca do povo brasileiro (2000), Marcelo Ridenti faz uma genealogia
daquilo a que chama o “romantismo revolucionário” dos meios intelectualizados – ligados a
movimentos de esquerda e enraizados sobretudo nas classes médias –, da sociedade brasileira
nos anos 60 e 70, marcados pela “utopia da integração do intelectual com o homem simples do
povo brasileiro, supostamente não contaminado pela modernidade capitalista” (2000: 12). O
autor dá-nos aqui uma primeira pista para pensar, de forma mais genérica, este cinema, ao
afirmar que vários traços românticos permitiram uma afinidade entre o cristianismo, por um
lado, e o guevarismo e o maoísmo por outro, como, por exemplo, “a identificação com o
camponês, tomado como autêntico representante do povo e a negação – ancorada em
tradições populares pré-capitalistas – do processo imperialista de industrialização e
urbanização, que oprimia o povo e a nação” (2000: 212). Jean-Claude Bernardet (2003), pelo
seu lado, estuda a influência da evolução política posterior ao golpe militar de 1964, no interior
da qual se criou uma vaga de documentário e aproximação ao povo muito semelhante à que
encontramos aqui. O autor trata a questão do recurso à voz off articulado com o uso das
entrevistas. Se a primeira é a “voz do saber, de um saber generalizante, que não encontra a sua
origem na experiência, mas no estudo de tipo sociológico” - que “diz dos entrevistados coisas
que eles não sabem a seu próprio respeito” e “fala espontaneamente e nunca de si, mas dos
outros”, um “emissor que nunca é visto na imagem” –, já os entrevistados protagonizam “a voz
da experiência”, “falam apenas das suas vivências e não generalizam, nunca tirando conclusões:
ou porque não sabem, ou porque nada lhes é perguntado nesse sentido” (2003: 16-17). Assim,
a exterioridade deste locutor por relação à experiência faz com que os entrevistados sejam, de
certo modo, o objecto do discurso do locutor, que se constitui sujeito detentor de um saber
acerca dos primeiros. E, mais ainda, esta voz off é generalizante, fazendo com que “o particular
sustente o geral, que o geral saia da sua abstracção e se encarne, ou melhor, seja ilustrado por
uma vivência” (2003: 19). É importante sublinhar que este será um dos procedimentos
287
abandonado a partir do momento em que os realizadores - como eu própria, por exemplo, em
Senhora Aparecida -, trabalham no interior do chamado cinema de observação, tomando e
valorizando aspectos particulares da vida e do mundo, sem sobreposição de um discurso
externo, de natureza generalizante e moralizadora.
O que parece ter acontecido neste período de 1974 a 1976 é que, de acordo com José
Neves, “a identidade da cultura popular veio concentrar a promessa do povo – e deste modo se
objectifica agora o sujeito histórico – enquanto protagonista revolucionário. Diante deste povo,
a postura do intelectual aprendeu a conjugar arrogância com a complacência: o intelectual
permanece vanguardista quando trata de revelar o verdadeiro povo prometido pela cultura
popular e torna-se condescendente quando trata de perdoar o falso povo”221 (2010: 202).
Compete, assim, a quem tiver condições, captar as aspirações populares, elaborá-las sob a
forma de conhecimento da situação do país e, recolhendo-as, devolvê-las então de novo ao
povo, a fim de gerar neste uma nova “consciência”. Ora, quem estava na posição de poder
efectuar essa operação eram, então, os intelectuais, tidos como sensíveis às aspirações do
povo. Ou seja, “se o povo não fosse visto como alienado, se gerasse a sua consciência, o
intelectual produtor de consciência perderia a sua razão de ser. Por isso se usa uma voz off que
se sobrepõe à que dá voz nas entrevistas, visto que “o povo só tem uma compreensão
individual, fragmentaria e epidérmica da sua vivência” (Bernardet, 2003: 35).
Por outro lado, os filmes revolucionários, como lhes chamei, revelam, quando
comparados com os que trabalhamos na generalidade desta tese, uma outra ideia de campo,
em contraponto à cidade. Como afirma Raymond Williams, que estudou para a história da
literatura a procura do campo que os citadinos fizeram, assim como os usos desta dicotomia –
entre um rural pastoral e um urbano corrupto –, a questão de fundo que se deve colocar é:
“what kinds of experience do the ideas appear to interpret, and why do certain forms occur or
recur at this period or at that?” (1973: 290). Ou seja, que pensamento é que, em determinados
períodos do passado, se produziu a partir de ideias acerca do campo e da cidade, e a que é que
estas se associam: isolamento, mobilidade, a civilização, a natureza, a terra cultivada, a
paisagem selvagem, os camponeses e o seu trabalho. De facto, a dimensão do “trabalho”,
enquanto modo de produção e de sobrevivência, que, como vimos antes, tinha ficado fora do
cinema português, no período estudado, surge nas produções revolucionárias que recuperam a
ideia do camponês como alguém capaz de intervir, a seu favor, na relação com o mundo
natural num determinado momento histórico, e tendencialmente, numa certa região do país,
que já não parece ser Trás-os-Montes, mas antes o Sul.
221
A teoria da alienação permitirá considerar como “momento falso” tudo aquilo que o povo faz e que não é
conforme à cultura popular.
288
Para Catarina Nunes, “o 25 de Abril de 1974 vem encontrar um vazio discursivo em Trásos-Montes, uma tradição não articulada em qualquer elocução. Esta ausência de palavras dos
transmontanos relativamente a si próprios faz da província um terreno a um tempo vazio e
esponjoso, criador de espaço para a formação de juízos exteriores e capaz de os assumir”. É
como se esse território do nordeste tivesse servido, no cinema, pelo menos o de Reis e
Cordeiro e o de Monteiro, para mostrar um povo a que se impõe a palavra encenada, do guião,
enquanto que no Alentejo se imaginava – mas vimos como isso não era conseguido, por uma
espécie de não comunicação – , que o povo poderia falar directamente de si. Mais ainda: “Trásos-Montes podia revelar a tradição, mas esta era feita de arcaísmos resistentes, promessas de
revolução sem causa, não ditas nem pensadas. Assim, o fascínio pelos elementos festivos,
rituais, expressivos é muito mais notório nos filmes que procuram documentar o nordeste
português do que naqueles que focam o sul do País, embora em ambas as circunstâncias se
encontre essa orientação do sentido que ultrapassa os actores, que afinal se representam a si
próprios.” (Nunes, 2003: 302-303). Como foi notado no primeiro capítulo da tese, Michel Cadé
refere-se, a propósito da discussão acerca da identidade mesma do cinema português, aos
filmes sobre Trás-os-Montes como formando “un ensemble d’admirables témoignages sur un
monde qui fut et qui, tout doucement, sombre dans les brouillards de l’histoire. Seule, parfois,
les déchire la nostalgie, impuissante à lutter contre une modernité essentiallement sentie
comme exterieure, hier Lisbonne, demain l’Europe. A cet univers, dominé par le sentiment
d’une ‘saudade’ três portugaise, s’oppose celui né des luttes pour la possession de la terre
qu’entraina la revolution du 25 Avril dans la rude et claire plaine de l’Alentejo” (1990: 69-70).
Esta ideia de que o cinema rural português se pode dividir, basicamente, em dois universos
regionais, que representam dicotomias importantes, Trás-os-Montes e o Alentejo, é recuperada
por Joaquim Pais de Brito, que refere esta dicotomia observando que Trás-os-Montes surge no
cinema “como a arca das tradições, das raízes, das referências identitárias”, enquanto que no
Alentejo “há uma clara busca do futuro”, o que pode ser notado pois “fazem-se filmes sobre
ocupações de terras, sobre o modo como o futuro estava a ser construído” (cit. in Leal et al.,
1993: 104). Podemos encontrar, de facto, uma geografia simbólica do país correspondendo a
diferentes representações do Norte e do Sul nestes filmes.
Esta visão de uma arcádia e de uma contra-arcádia está, como afirma Leal (1999: 15),
“linked to processes of iconization of national identity, in which the countryside stands as a
metaphor for the nation itself”. Implícita na forma como se representa e se imagina a geografia
do país estão julgamentos de valor. Tal como foi observado por João Leal a partir da análise da
289
obra de Cutileiro, por contraste com as de Orlando Ribeiro e Jorge Dias,222 neste último autor,
tal como no cinema revolucionário, há uma perspectiva “contra-pastoral”, um corte com a
visão anterior. Trata-se, de certa maneira, de uma rejeição da história, em particular das
tendências “etnogenealógicas” que estavam presentes em Jorge Dias e que transitaram para o
filme de Campos, como foi referido no capítulo 5, e, por outro lado, de uma concentração no
presente, e no “político”. Como afirma Leal, Cutileiro acentuou a estratificação social extrema e
o problema da distribuição da riqueza no Alentejo, ou seja, a sua percepção anti-pastoral do
Portugal mediterrânico esteve ligada a um discurso político sobre a identidade nacional (cf.
1999:28). Por outro lado, esta tendência que o cinema português revela de se centrar na
pastoral transmontana poderá estar ligada às influências que a etnografia portuguesa, em
especial a de Jorge Dias teve junto dos cineastas, contaminando-os. As ligações de Paulo Rocha
e António Campos a este grupo são inequívocas. O fascínio pelo norte, a predominância de
representações das construções tradicionais - os espigueiros nos filmes transmontanos de
Monteiro ou a importância dos moinhos nos filmes de António Campos -, podem encontrar
antecedentes em obras de Jorge Dias como Espigueiros Portugueses (Dias et al 1994 [1963]) ou
Rio de Onor 1981 [1953]. Como referi antes, era a ideia de comunitarismo, tal como havia sido
estudada por Jorge Dias, de entreajuda, que fascinava, também, quem filmava em Trás-osMontes. O deslumbramento pelas comunidades de montanha, presente no cinema português,
deriva então de uma visão pastoralista e, como verificámos ao longo deste texto, através dos
percursos de realizadores como Manoel de Oliveira, no O Acto da Primavera, António Campos,
João César Monteiro, António Reis e outros, tratava-se de uma viagem, da procura de uma
alternativa radical à forma de vida urbana. Se o território rural foi como que investido de
sentidos diferentes de acordo com a visão e o discurso que delimitavam a sua representação, o
que parece estar presente nos filmes da revolução, para além de uma ideia ou uma projecção
de “futuro”, que se contrapõe à evocação do passado observada até aqui, é uma visão antipastoral da paisagem, neste caso a do Alentejo.
Entre 1977 e 1979, começam, de facto, a surgir outro tipo de filmes, alargando-se o
horizonte temático, com Argozelo: À Procura dos Restos das Comunidades Judaicas, de
Fernando Matos Silva, Gentes do Norte ou a História de Vila Rica, de Leonel Brito, e em especial
Nós por cá todos bem, de Fernando Lopes. No entanto, ainda em 1977, o cinema revolucionário
continua com Operação Boa Colheita, de Luís Gaspar, e Terra de Pão Terra de Luta, filmado por
José Nascimento. Estes são as últimas experiências do puro documentarismo revolucionário.
222
Para além das já citadas obras de Jorge Dias, o autor refere-se aqui ao livro de José Cutileiro: Ricos e Pobres no
Alentejo. Uma Sociedade Rural Portuguesa (1977) e, também, à obra de Orlando Ribeiro, em especial Portugal, o
Mediterrâneo e o Atlântico (1945).
290
Tal como acontecera no Brasil, o camponês, e o seu discurso directo, desaparece do cinema: “a
partir do momento em que o cineasta desacredita da possibilidade de colocar o camponês na
tela, crendo ser possível apenas apresentar o seu discurso relacionado com o camponês, este
tende a se dissolver” (Bernardet, 2003: 95). Já na década de 1980, Cerromaior, realizado por
Luís Filipe Rocha, Guerra do Mirandum, de Fernando Matos Silva (1981), e, finalmente, O
Movimento das Coisas, de Manuela Serra (1985), são filmes que, continuando na senda da
tendência etnográfica e poética do cinema português, a dão por finda, anunciando uma nova
geração, da qual faço parte. A partir da segunda metade dos anos 1990, como resume
Fernando Carrilho (2008: 8),
Uma nova geração de realizadores, entre os quais se destacam [...], Catarina Mourão,
Catarina Alves Costa, Graça Castanheira e Pedro Sena Nunes tomam o documentário
como opção de fundo, constituindo ele parte decisiva das suas obras cinematográficas.
Tal como tinha acontecido com a geração do cinema novo dos anos 60, também alguns
destes realizadores se deslocam ao estrangeiro, para frequentarem cursos de cinema e
deste modo enriquecerem as suas experiências e interiorizarem as novas tendências do
documentário e o seu novo papel de relevo na cinematografia mundial. Esta nova
geração de realizadores chega com novas energias e ideias para com o documentário,
vislumbram-se novos tempos com todo um trabalho por fazer, agora com novas formas
e diferentes “olhares” nunca antes vistos no nosso espaço nacional.
O trabalho deste grupo de cineastas, que foi denominado como a “geração de 90” deu
origem ao catálogo organizado por José Manuel Costa, em 1999, com o título Novo
Documentário em Portugal. Nas palavras deste investigador, “até praticamente aos anos 90 (e
o que se passou entretanto só ajuda a perceber a que ponto isso não aconteceu no passado),
julgo que não houve no nosso país uma verdadeira tradição documental, no sentido em que
não houve um movimento, mesmo que pouco expressivo ou temporário, que tenha apostado
consistentemente no género e que tenha dialogado com as etapas mais fortes do género”
(Costa, 2004: 120). No seu entender, as obras produzidas pelos cineastas portugueses até aos
anos 90 foram surgiando num contexto essencialmente isolado, e sobretudo quase sempre sem
qualquer ligação às correntes do documentário internacional.
Apesar de tudo, com a revolução de Abril, e cujo cinema acabei de tratar, houve um
incremento da produção cinematográfica, associada ao fim da censura e à disponibilização de
apoios por parte do Instituto Português do cinema e da RTP (Radiotelevisão Portuguesa). José
Manuel Costa explicita: “até 1974, ao longo de toda a história do nosso cinema, Portugal nunca
contou com as duas condições básicas que, noutros países, estimularam ou simplesmente
permitiram o movimento documental: a existência de organismos financiadores e (ou) uma
291
mínima liberdade de difusão de filmes politicamente independentes. A ausência total de
entidades estatais promotoras e subsidiadoras do género (como as que permitiriam o
movimento inglês ou americano) e a censura (que impedia à partida qualquer veleidade de
exibição, mesmo marginal, de filmes de intervenção ou contestação social e política directa)
liquidaram à nascença a hipótese de um documentarismo português sintonizado com aquelas
correntes” (1999: páginas não numeradas). Viu-se, porém, como o documentário assumiu lugar
importante no cinema militante, que ambicionava registar um momento ímpar da história de
Portugal, e ao mesmo tempo participar dessa realidade, difundido os ideais da revolução. Mas
será também excessivo afirmar que nascia aqui uma segunda geração de documentaristas ou
que estávamos perante um primeiro grande movimento português deste género
cinematográfico. Na verdade, também nesta época o documentário foi lugar de passagem,
faltando-lhe identidade, e quando se esperava uma libertação do olhar (através do cinema
directo, do plano- sequência e do som síncrono), eis que grande parte dos documentários
enveredara por uma estrutura tradicional, com a utilização de voz-off, uma montagem
mecanizada e reguladora. A urgência de narrar e explicar a história sobrepôs-se à necessidade
de a observar (cf. Carrilho, 2008: 7). No seguimento destas constatações José Manuel Costa
refere:
Em Portugal, a “aventura da realidade” não chegou a coincidir com a “aventura do
directo”. Não tinha havido antes um “Cinema directo” português e, se isso não tinha
podido acontecer antes, a vontade tardia de o fazer era inevitavelmente contraditória
com a pressão do tempo, com o não-dito da época anterior e, até (no caso dos autores
mais exigentes), com a consciência das contradições teóricas de uma tal corrente. Era
tarde para a inocência do directo mais puro; não era a altura para digerir e ultrapassar
etapas não vividas (2005: 136-137).
O desenrolar dos anos 80 pautou-se, afirma mais à frente, por uma “produção pobre”,
onde “pouco se passava, com a agravante de ser cada vez mais evidente a confusão conceptual
entre o espaço do documentário e o da reportagem televisiva.” (2005: 139). Mas o atraso face
à evolução da produção estrangeira, conheceria uma reviravolta com o despontar dos anos 90.
Trata-se do período em que eu própria comecei a filmar, com Regresso á Terra, em 1992, e
Senhora Aparecida, dois anos mais tarde. Segundo Carrilho (2008: 8), para a consolidação desta
geração de documentaristas contribuíu a realização de diversas iniciativas, tais como os ciclos
da Cinemateca (de destacar o de Frederick Wiseman em 1994), a actividade do CEAS (Centro de
Estudos de Antropologia Social), os apoios financeiros da Comissão Nacional para os
Descobrimentos Portugueses, a consolidação dos Encontros Internacionais de Cinema
292
Documental da Amascultura e o surgimento da Apordoc – Associação pelo Documentário.
Decisivo foi também o início dos apoios financeiros específicos à produção e ao
desenvolvimento de projectos documentais pelo IPACA,223 bem como o início da introdução de
cadeiras teórico-práticas nas universidades portuguesas. Consequência destes factores, José
Manuel Costa antevê a emergência de uma nova geração de realizadores:
Como nunca acontecera antes, aparecia uma nova geração (simultaneamente interna e
externa aos habituais mecanismos de reprodução do meio cinematográfico) que via no
documentário um desafio em si e não, essencialmente, um terreno de passagem. Ao
debate de ideias e aos mecanismos de apoio juntava-se uma vontade de fazer por parte
de quem não vivera as barreiras e os dilemas do período anterior. Tinha sido preciso
esperar muito, e tinha sido preciso que os anos pós-censura permitissem diluir a
herança do passado. Mas tudo apontava para que, agora sim, uma nova corrente de
produção começasse a surgir (2005: 140-141).
Tentarei brevemente reflectir como, no meu trabalho de documentarista, se jogaram as
mesmas questões que atravessam esta tese: a importância da etnografia, o olhar sobre o povo,
a ruralidade e, enfim, sobre o país. Desta forma, poderei retirar algumas conclusões gerais que
delimitam a minha própria forma de pensar a representação do povo, muitas vezes em
consonância, outras em discrepância com os realizadores mencionados aqui. Cumpre, todavia,
sublinhar que a geração que me é atribuída não filmou o campo, a ruralidade ou os pescadores.
Focou, antes, sobremaneira, as populações urbanas, emigrantes, a situação das antigas
colónias portuguesas, assim como a história recente do país e a biografia. Gostaria, por isso
mesmo, de revisitar, repensando-a, a minha própria experiência enquanto realizadora e
documentarista, em especial nos filmes feitos em contexto rural, Regresso à Terra (1992),
Senhora Aparecida (1994), nos meus trabalhos mais etnográficos como o Máscaras (1999) ou O
Linho é um sonho (2003) que tiveram como continuidade o referido Falamos de António
Campos (2009), realizado no âmbito da pesquisa que deu origem a esta tese. Esta minha
derradeira reflexão será feita tendo em perspectiva que o trabalho que faço, dou-me conta
agora, procura manter ligações com as modalidades referidas, em especial a do
documentarismo etnográfico, mas com derivações para o arquivo e a poética. Como afirma
Steven ” (Costa, 2005: 120)., em Cultura Pós-moderna (1993: 18), “apesar da notória autoreflexividade dos discursos teóricos contemporâneos em humanidades, e especialmente na
teoria pós-moderna, é de surpreender que não se tenha demonstrado muito interesse em
examinar as formações de conhecimento-poder presentes nas instituições práticas e linguagens
223
O IPACA era o Instituto Português de Arte Cinematográfica e Audiovisual, posterior ICAM, actual ICA.
293
académicas”. De facto, o meu próprio trabalho é inseparável, por um lado, da herança que lhe
deu origem e, por outro, do contexto intelectual, académico e artístico em que me formei.
Reflexão sobre a Prática: os meus filmes
Começo aqui por fazer uma revisitação224 a algumas experiências de realização de conteúdos
audiovisuais para diferentes exposições etnográficas, para depois me centrar nos filmes mais
autorais. Estes primeiros servem, em geral, como suporte para veicular informação,
contextualizar uma prática, dar um testemunho ou enriquecer a dimensão visual e sensorial de
uma exposição. O documentário Rituais de Inverno com Máscaras225 foi filmado em Trás-osMontes durante os anos de 1999 e 2000, para a exposição com o mesmo nome, que acabaria
por inaugurar, anos mais tarde, em 2007, no Museu Abade de Baçal, em Bragança, seguindo no
ano seguinte para o Museu Soares dos Reis no Porto. A ideia foi, desde logo, realizar um
documentário observacional, etnográfico, que fosse mostrado num espaço independente da
exposição, e em que se caracterizassem longamente vários exemplos de festas com uso de
máscaras, numa vertente de registo etnográfico puro. Por outro lado, decidiu-se realizar uma
síntese de imagens e sons com uma vertente mais poética, a ser projectada em écran numa das
salas da exposição. Este segundo vídeo pretendia fornecer um ambiente visual e sonoro que
expressasse o poder imagético e simbólico do uso da máscara, e bem assim o carácter
performativo e excessivo dos mascarados. O ranger dos carros de bois e o som de guizos dos
caretos ou do chocalheiro forneciam um ambiente sonoro que procurava remeter os sentidos
do visitante da exposição para o mundo rural arcaico. A partir de um mesmo material base,
foram realizadas duas montagens que contemplavam objectivos diferentes: a primeira era
informativa e pedagógica, a outra servia o discurso e a estética da montagem expositiva,
procurando uma envolvência de tipo mais sensorial.
Este trabalho foi feito a convite do etnólogo Benjamim Pereira, comissário da exposição,
e que, sabemos, tinha já larga e extensa experiência no uso da imagem nestes contextos, ao
longo de várias décadas, especialmente no que hoje é o Museu Nacional de Etnologia. Para ele,
foi como se voltasse a uma actividade abandonada já há pelo menos uma vintena de anos, um
224
Retomo aqui, em parte, um artigo escrito em 2008, em colaboração com Catarina Mourão para a revista
Museologia.pt, do Instituto Português de Museus, “Imagem em Movimento nos Museus: Experiências e Práticas e
outro de 2003, “Imagens e Sons para o Museu da Aldeia da Luz” in Museu da Luz, ed. EDIA. Ver também Catarina
A. Costa (1999; 2003; 2009a; 2009b).
225
Realização: Catarina Alves Costa e Catarina Mourão; Câmara: CM, Filipe Alarcão, CAC, José Filipe Costa; Som:
CM, João Vasconcelos, Luís Carrapeto; Montagem: CAC, Pedro Duarte; Colaboração Científica e Textos: Benjamim
Pereira; Produção: Laranja Azul.
294
tempo marcado pela morte de Veiga de Oliveira e de Margot Dias, assim como pela saída do
Museu onde desde sempre trabalhara. Ao voltar, Benjamim depara-se não só com uma outra
geração de antropólogos, mas também com um conjunto de novas tecnologias de registo do
som e da imagem que o fascinavam pela leveza, preço e facilidade de utilização. Como foi
referido, sobretudo a partir de 1962, quando se começa a situar no horizonte um Museu, e se
constituem as suas colecções, o filme tornou-se definitivamente fundamental para esta geração
de etnólogos, ao permitir devolver aos objectos a vivência primeira das situações no terreno e a
sua compreensão e, por outro lado, o sentido profundo que só pode ser dado pelo seu
contexto de produção e uso. Mas os filmes eram, como foi tratado longamente no capítulo 4
desta tese, concebidos enquanto técnica de registo, mais do que como um meio com
possibilidades de expressão própria. Embora tivessem sido utilizados várias vezes em contexto
expositivo, eram produzidos para servir um arquivo e uma exposição, mais do que para
projecções em sala. Para a equipa de que Benjamim fazia parte nesses idos anos, a imagem em
movimento, tal como as notas de campo, as fichas e outras formas de recolha de dados
empíricos, forneciam um ponto de vista único sobre a realidade material e social, revelando
atributos das pessoas, objectos, tecnologias ou eventos que representavam, consubstanciandose neste procedimento uma emoção relacionada com a vivência da própria situação registada.
Assim, quando comecei, nos primeiros projectos da produtora que fundei com Catarina
Mourão, Laranja Azul226, a trabalhar com Benjamim Pereira, num conjunto de colaborações,
este transportava consigo ideias sobre o que caracteriza o filme etnográfico, mas antes de mais
era alguém que valorizava a imagem, a sua utilidade, tanto na prática do terreno, como na
apresentação a um público. No trabalho sobre as Máscaras foi Benjamim Pereira que definiu, à
partida, os locais a filmar: Varges e a festa dos rapazes, o Santo Estevão em Ousilhão, o
chocalheiro da Bemposta e, por fim, o Carnaval em Podence. São da responsabilidade dele
também os textos que dão contexto e informam as quatro histórias com máscaras contadas
neste filme. Em cada situação, tentámos seguir a narrativa própria do ritual, através dos seus
momentos fundamentais. Formámos assim três equipas, em torno das datas fundamentais: a
de Catarina Mourão (em Varge 24 e 25 de Dezembro, e nas Festas de Sto. Estevão- Ousilhão), a
minha, (em Bemposta na noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro) e a de José Filipe Costa
(em Podence, Domingo e Terça Feira de Carnaval).
10 Para
além de Rituais de Inverno com Máscaras (2000), foram feitos nesta produtora O Linho é um Sonho, sobre
o ciclo do linho e A Seda é um Mistério, sobre o ciclo da seda, realizados para o Museu Tavares Proença Júnior
(2003); a totalidade dos audiovisuais do Museu da Terra e do Mar da Carrapateira (2004) Imagens e sons para o
Museu da Luz (2006), e também Moinhos de Gavião (2004). A par destes trabalhos, a Laranja Azul produziu outras
encomendas. Para o Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, Próxima Paragem, filme realizado por Catarina
Mourão no âmbito da exposição Registos de uma transformação. Para o IPPAR, realizei O Sítio de Castelo Velho
(2004), documentário que acompanha uma escavação arqueológica ao longo de três anos e para o Museu de
Serralves, O Parque (2008), sobre o processo de reabilitação do parque de Serralves.
295
Para o caso do excerto sobre o chocalheiro, em Bemposta, foi necessário filmar o leilão
da máscara, na noite anterior à saída deste personagem misterioso, que corre as ruas da aldeia
pedindo para o Menino Jesus e de que ninguém conhece a identidade. Tudo se passa uma
única vez, e os imponderáveis das acções implicam um conhecimento prévio daquilo que vai
acontecer e, diversamente, uma flexibilidade e um guião que se vai construindo. Este trabalho
não se pode desligar de todo o processo de criação da exposição; por isso tínhamos já
acompanhado as idas ao terreno, as recolhas e prospecção de peças, a formulação da
exposição e a sequência que ela iria seguir. Interessa neste ponto reflectir sobre aquilo que, de
certo modo, precede uma encomenda deste tipo, um pedido de colaboração de um etnólogo e
museólogo, como Benjamim Pereira. De facto, a reflexão sobre a adequação da linguagem e
das técnicas cinematográficas ao trabalho dos museus depende sempre da relação estabelecida
com os nossos interlocutores. Um trabalho com imagem para museus é invariavelmente
marcado pela história das formas de trabalhar e pelo contexto teórico que informa esses
interlocutores e que precede, portanto, a tarefa a desenvolver.
O projecto de recolher imagens para a exposição Rituais de Inverno com Máscara cruzase, de modo mais imediato, com uma importante história que o precede, com o livro de
Máscaras Portuguesas de Benjamim Pereira (1973) e mais tarde com o documentário nele
inspirado e realizado por Noémia Delgado, denominado apenas Máscaras (1976), em que é
apresentada uma estrutura muito similar a este nosso trabalho. Com efeito Noémia Delgado
filma e regista para cada localidade o contexto de um ritual em que se usa máscara. Revelou-seme, desde logo, o carácter e a especificidade de uma produção que dava conta de uma
colecção etnográfica em que se julgou importante incorporar a história das anteriores
representações visuais e que, de certo modo, nós estávamos a continuar, sem exercer sobre
estas uma ruptura. Benjamim Pereira transportou para a rodagem das Máscaras uma visão do
modo como se faz filme etnográfico, marcada pela ideia de um registo científico, revelador de
gestos e de acções que se constroem numa sequência cujo contexto social revelado é residual.
Nós transportávamos um outro ponto de vista, talvez mais teórico do que vivido na prática,
marcado pelo documentário observacional e reflexivo, em que “se dá voz às pessoas”,
incorporando a ambiguidade dos discursos e das práticas, as suas contradições, desvendando
negociações e manipulações
296
Fig.26. Chocalheiro de Bemposta. Fotografia Benjamim Pereira (2001).
No fundo, trata-se da distinção que MacDougall (1978) faz entre o filme ilustrativo, no qual a
imagem é usada como informação a ser elucidada pelos textos ou por um discurso expositivo, e
o revelador, em que se introduz deliberadamente a palavra do etnografado e se propõe um
produto final com autonomia própria. No primeiro, o acto de filmar é concebido como uma
acção de reconhecimento e um complemento, que serve, antes de mais, para informar o que se
expõe. No segundo, o acto de filmar é de descoberta, ou seja, permite ultrapassar o próprio
contexto expositivo e as suas limitações físicas. Foi do cruzamento destas duas visões de filme
etnográfico que nasceram os trabalhos de que falo aqui.
As rodagens em Trás-os-Montes foram feitas a par das recolhas em vídeo que fazíamos
nesse ano, também com várias equipas no terreno, na Aldeia da Luz. Foi um ano de discussão
intensa com Benjamim Pereira, de procura da melhor forma de trabalhar em conjunto, com o
objectivo explícito de servir exposições etnográficas. Para as imagens do Museu da Luz,
usávamos uma outra abordagem. Tratava-se de um trabalho de representação do que era a
vida na velha aldeia feito em colaboração estreita e com intervenção constante da própria
população, o que contrastava pois com a usada no caso das máscaras. O projecto Imagens e
297
Sons para o Museu da Luz arrancou em 1999. Juntamente com o etnólogo Benjamim Pereira, a
antropóloga Clara Saraiva e os arquitectos Pedro Pacheco e Marie Clément, começámos a
discutir o papel do Museu da Luz e a importância de um arquivo audiovisual. Estávamos ainda
longe do momento em que a velha aldeia da Luz ficaria submersa e que os seus habitantes
teriam de mudar para a nova aldeia construída a uns quilómetros de distância numa quota
superior. A mudança só teria lugar no verão de 2002, mas até lá cabia à Laranja Azul trabalhar
num acervo audiovisual que registasse os últimos anos de vida daquela aldeia. Discutiu-se
largamente qual o papel que a imagem em movimento teria neste futuro museu, tendo em
conta a natureza deste que, segundo Benjamim Pereira, teria de transcender o âmbito de
qualquer museu regional, tornando-se um espaço privilegiado de reencontro com o passado
comum e participando no desenvolvimento da comunidade local. Estávamos de acordo de que
o espaço museológico teria de ser depositário de toda a recolha etnográfica anteriormente
realizada na antiga aldeia (objectos, documentos, fotografias), testemunhos indirectos de um
modo de vida que desapareceria em breve. Mas sentíamos igualmente que competia à imagem
em movimento guardar e registar as experiências, as acções, os ambientes, invocando
directamente o contexto humano inerente aos objectos, tudo aquilo que outro suporte não
poderia dar de forma tão vívida.
A par dos trabalhos sobre as Máscaras (1999-2000) e sobre a Aldeia da Luz (2000-2006),
gostaria de reflectir ainda acerca do que fiz, em 2003, com Benjamim Pereira, para o Museu
Tavares Proença Júnior de Castelo Branco. Numa instituição em que os materiais, neste caso as
colchas de Castelo Branco, vivem de duas matérias fundamentais, o linho e a seda, tratava-se
de fazer dois documentários que ilustrassem, para os núcleos respectivos, ambos os processos.
Daqui nasceram O Linho é um Sonho e um outro documentário intitulado A Seda é um
Mistério.5 Trata-se de uma verdadeira reconstituição histórica encenada por nós e pela nossa
personagem, a D.Teresa Frade, nascida na Charneca beiroa, dos ciclos da seda e do linho. Os
filmes fixam todos os passos significativos do percurso de produção e transformação destas
matérias. Aqui, havia já um acerto de maneiras de trabalhar, entre mim e o Benjamim Pereira,
num registo mais assumidamente encenado, de reconstituição e manipulação, o que só foi
possível graças à relação estabelecida com a personagem, que entrou no jogo da recriação de si
mesma. Como conta Benjamim Pereira na brochura que acompanha o filme, a nossa
personagem, obrigada a ir viver para a cidade de Castelo Branco, continuou a usar o seu tear
5
Realização e Câmara: Catarina Alves Costa; (Câmara adicional de Rossella Shillaci no filme do linho); Som: Olivier
Blanc; Montagem: Catarina Mourão; Colaboração Científica: Benjamim Pereira; Produção Laranja Azul. Estes filmes
foram editados pelo Instituto Português de Museus, com um pequeno libreto informativo, para serem vendidos
aos visitantes. Para a exposição, elaborou-se um de síntese, mais curto, que é mostrado num pequeno monitor
numa das salas do museu.
298
manual, “que fora ao longo da sua vida de solteira uma das grandes paixões, para superar o
trauma profundo que esta situação lhe provocou” (Pereira, 2003). Assim, logo desde o início,
Benjamim combinou com a D. Teresa todos os detalhes para se partir para a produção do linho.
Começou por se preparar a terra e fazer a sementeira. Os vizinhos ajudaram, disponibilizandose a fornecer materiais e trabalho, a planta cresceu, filmou-se a rega e a arrinca. Meses mais
tarde, junto do rio Ocresa, registou-se o enlagamento da planta. De cada vez, era necessário
programar uma próxima ida para filmar as seguintes fases: a maçagem, a espadelagem, e a
fiação. Mais tarde, voltámos ao rio para o branqueamento das meadas e seguimos todo o
processo da preparação do tear e da tecelagem. Vieram os objectos da colecção do museu,
sempre que necessário: o ripanço, o maço, a espadela, o cortiço. Tratou-se de uma
reconstituição vivida por nós e pela personagem central, para quem esta viria a ser a última vez
que repetia um ciclo que a remetia directamente para os seus tempos de infância e juventude.
No caso do filme da seda, em 36 minutos narra-se a forma como a D. Teresa cria os seus bichos
da seda a partir da eclosão das borboletas nascidas dos ovos que guarda no armário de sua
casa. Depois segue-se um mês em que todos os dias as lagartas são alimentadas com folhas de
amoreira que ela mesma colhe nas árvores e acabam por subir a pequenos ramos de pinheiro,
fazendo os casulos que são depois fervidos, sendo a seda recolhida com ramos de carqueja.
Trata-se de um processo delicado, e todo este ciclo se revelou fascinante e cinematográfico,
pela sua simplicidade e possibilidade de seguir uma pessoa, uma actividade, e praticamente
sempre o mesmo local.
Fig. 27. A Seda é um Mistério. Foto Benjamim Pereira.
299
Como já se compreendeu, as soluções encontradas não revelam um modelo, mas antes uma
adequação a diferentes espaços e situações expositivas, distintas relações com o mundo
exterior e os vários modos de o comunicar. No âmbito da Laranja Azul, foram realizados filmes
que vão do registo e acompanhamento de processos de transformação e criação da própria
exposição, a outros que servem de janela ao mundo lá fora. Trabalhar um filme implica tomá-lo
como algo que se baste a si mesmo, não dependendo da informação veiculada pelos textos ou
o discurso expositivo: este segue um outro caminho, fora do museu, para a própria
comunidade que o informa, permitindo a observação diferida. Ele pode ser um instrumento de
devolução e discussão, em torno de um visionamento, criando a partir daí novas premissas.
Para isso, é preciso formular a sua unidade, a sua autonomia dentro da própria exposição,
tornando-se necessário que seja visto não como um registo neutro e objectivo, mas como algo
mais próximo da expressão artística e de um olhar de autor. Finalmente, o material em bruto
recolhido para a montagem de um filme deve ser usado de formas diferentes, podendo ser
revisitado e classificado de muitas maneiras, desde a apresentação ao público ou serviços
educativos até aos arquivos para consulta dos visitantes ou das comunidades. No entanto,
aquilo que pode ser, desde já, afirmado a partir desta experiência museológica, é que, nos
moldes em que ela aconteceu – num trabalho de equipa com outros antropólogos –, revelou-se
rica do ponto de vista da aprendizagem mas não no que concerne às possibilidades de
experimentação da linguagem cinematográfica. Por isso gostaria de os ultrapassar, agora, e
referir brevemente as minhas experiências autorais de realização de filme etnográfico, sem
deixar, porém, de citar MacDougall, ele próprio antropólogo e cineasta, quando parece tudo
dizer ao afirmar que dar-se incondicionalmente ao acto de ver e filmar passa por abandonar o
espartilho da herança conceptual:
One has the impression that many filmmakers are afraid of looking. What is it in
ordinary things that they fear to see? Is it a fear of their own feelings that they should
dare to engage so directly with the world? Is it the delicacy, fragility, and beauty of
things that they fear – or the skull beneath the skin, the horror? It is important to
understand this fear, for none of us is completely free of it. It is the fear of giving
ourselves unconditionally to what we see. It seems to me that this fear is allied to our
fear of abandoning the protection of conceptual thought, which screens us from a world
that might otherwise consume our consciousness. For to be fully attentive is to risk
giving up something of ourselves. To lose this fear, we must examine it and try to
understand it (MacDougall, 2006: 8).
Comecei, na introdução desta tese, por relatar como cheguei à aldeia de Arga de Baixo,
para filmar o Regresso à Terra. De facto, (e não me vou alongar aqui sobre questões de estilo),
300
talvez a ideia que mais represente o ensinamento que segui quando, pela primeira vez, realizei
um filme, foi a de que “rather than obeying any preconceived cinematographic conventions,
the filmmaker must consistently focus on the culture being filmed and allow that culture to
dictate the flow and form of the film” (Freuthental, 1988: 123). Assim, deixei-me tomar,
persuado-me, pela vida ela própria e foi dentro dela que filmei. Mais tarde, na montagem,
percebi até que ponto me interessava a construção narrativa a partir desta deriva que era o
método do cinema de observação. A ideia que primeiro me tinha levado àquela localidade, a de
realizar um filme sobre a Romaria de São João d’Arga, uma das maiores do Minho, e que, como
vimos, foi extensamente estudada pelo grupo do Centro de Estudos de Etnologia, acabou por
ser abandonada, em detrimento do que era o tema quotidiano das conversas na aldeia: a vinda
dos emigrantes, no Verão, e, nas palavras dos que antecipavam o tempo festivo, o “bonito” que
isso era. Durante nove semanas de rodagem e de vida na aldeia, as personagens centrais do
filme começaram a emergir. O critério usado para as escolher não foi só apenas o da
proximidade e amizade que criei com as pessoas de Arga, mas tentei, antes, que estas
representassem aquilo que para mim era fundamental mostrar, quero dizer, o sentimento de
pertença e a questão da identidade entre os emigrantes que viviam fora e aqueles que tinham
ficado. Encontrei assim três tipos de personagem que queria retratar: (i) alguém que sempre
tivesse vivido na aldeia; (ii) alguém que tivesse emigrado jovem e estivesse então reformado,
tendo por isso voltado à terra, ou se encontrava ainda a viver extramuros; (iii) uma pessoa
cujos parentes tivessem emigrado e que nunca tivesse vivido na aldeia, passando lá férias. Ao
filmar a confluência das minhas personagens, durante o mês de Agosto, interessava-me centrar
a história no conflito de gerações, na contemporaneidade e também na “invenção da pertença”
à aldeia que fazia com que tudo se passasse de forma performativa: nos trabalhos agrícolas ou
nos bailes de concertina, jovens e velhos pretendiam viver numa espécie de não-tempo que
durava o mês das férias. No Regresso á Terra, as conversas com os jovens mostram como eles
desqualificam a vida na aldeia, a pobreza e o trabalho no campo, valorizando, ao mesmo
tempo, os aspectos “culturais” e musicais. Se, por um lado, nadam no rio escondidos dos
adultos por estarem de biquini, por outro participam com estes das danças tradicionais. Assim,
o filme mostra como os jovens – e é do lado deles que está – gerem a herança da cultura
popular de forma a poderem construir-se, retirando aquilo que lhes parece de valorizar – o
traje à minhota, no pedido de casamento – e aquilo que depreciam – o modo de vestir dos mais
velhos. O filme termina assim com uma senhora muito idosa, sozinha, na sua lareira. Em off
ouve-se ecoar ainda o som da festa como uma memória fugidia ou um pensamento do
passado. A chuva que cai, alguém que passa e que diz, para a câmara “vocês ainda aqui
andam?”, os pássaros que voam sobre a montanha parecendo partir e um baloiço vazio, a
301
balançar, remetem para a nostalgia de um fim de Verão, que eu própria sentia à medida que
me ia despedindo, com a câmara, de lugares e de pessoas.
Fig. 28 Regresso à Terra (1992). Pastora a dormir sobre uma pedra.
Na tese de mestrado, uma espécie de relatório que acompanhou este trabalho, acabo
por defender que o filme trata do particular e, simultanemanete, do geral: o tema central da
nostalgia associado ao momento de férias e de Verão como um momento de união e de
encontro da comunidade e, ao mesmo tempo, as histórias específicas das minhas personagens:
a Aldina, o Rui, a Zira, o Sr. António. Por isso, escrevia, a esse propósito que “ethnographic film
cannot be envisaged simply as a complemente to academic literature wich incorporate
dimensions that are not those perceived through an emotional perspective” (Costa, 1996: 23).
Num ensaio produzido nos anos em que escrevi a tese de mestrado, George Marcus
mencionava as possibilidades que o trabalho de montagem (cinematic editing) trazia à
metodologia da Antropologia: a ideia central era a de que “there should be a shift towards
constructing the real through narrative rather than classification” (1995: 35).
O trabalho que tenho feito, nos meus próprios filmes, é caracterizado, no que respeita à
produção, por uma abordagem que partilha, em Portugal, com o documentarismo e o cinema
em geral, dos mesmos concursos, equipas técnicas e modo de fazer. Mas do ponto de vista dos
conteúdos, e principalmente dos métodos de trabalho, estou certa que a minha aprendizagem
302
enquanto antropóloga marca o meu percurso também enquanto cineasta. Aquilo que, no
entanto, sinto que enquadra o meu trabalho é, justamente, o problema tão reflectido na
Antropologia Visual, do processo de representação de um universo empírico, cuja ética não me
parece poder ser resolvida de modo inocente, com pretensas estratégias de auto-reflexividade.
Gostaria, assim, de pensar se terá ou não existido uma metodologia ou processo específico de
pesquisa e representação que se relacionem intrinsecamente com o tipo de temáticas que
tenho vindo a trabalhar nos meus filmes, nomeadamente as situações de conflito. Interessame, desse modo, desenvolver um exercício em torno da construção fílmica da alteridade e as
práticas desta mesma construção. Partindo destes exemplos do meu trabalho como
realizadora, não quero deixar de lado questões metodológicas da prática da realização,
especialmente a construção cinematográfica e da narrativa e suas implicações epistemológicas.
Interessa ver tanto a forma como a metodologia usada interferiu no tratamento de
determinado processo social, quanto a forma, por vezes ambígua, como os seus intervenientes
intereferiram e condicionaram o meu modo de fazer. O filme não é, portanto, apenas, o
resultado deste encontro, mas incorpora-o. Mas não deixo de o encarar como um trabalho de
autor, fruto de um conjunto de escolhas que integram a produção de um argumento sobre o
mundo, mas em que não incluo uma estratégia de participação directa dos actores sociais, por
um lado – e por isso não podemos considerar estes filmes fruto de uma “antropologia
partilhada” – e não utilizo, por outro, estratégias óbvias de reflexividade como a minha
presença no filme, pessoas a reagir à câmara ou a existência de uma voz-off subjectiva.227 No
entanto, como afirma Mac Dougall (1998: 89), levando ainda mais longe a questão da
reflexividade, o autor não deve ser encontrado fora do filme, porque o filme só pode ser
entendido como incluindo o autor. Gostaria de referir aqui a forma, por vezes ambígua, como
quem é filmado interfere e condiciona o modo como se constrói um filme. Na procura de uma
reflexividade mais profunda, julgo que, como já defendi antes (Costa, 2009a), devemos assumir
esta ambiguidade essencial, não considerando a posição do autor fixa, mas antes variável, o
que, certamente, depende sempre da dinâmica da relação com os seus personagens.
Em 1994 realizei o filme Senhora Aparecida, um documentário em que a acção e a
narrativa guiam o espectador de forma a que este sinta que partilha o processo que estava a
ser vivido pela equipa, ou seja, que o que acontecia em frente à câmara era da ordem do
imprevisível e que a dinâmica da realização passava pela ideia da descoberta, muitas vezes até
da não-compreensão, daquilo que estava a acontecer. Antes de continuar, quero apenas
227
David MacDougall referiu, a este propósito, que existe no filme etnográfico uma prática de reflexividade
“externa”, informativa, que responde a uma crise de representação na própria Antropologia, e que se baseia numa
certa ideia de que é possivel tornar o autor “transparente” (1998: 88).
303
lembrar que se trata da história de um jovem padre que vai trabalhar para uma aldeia onde
existe uma tradição de promessa à Santa de, no dia da festa, ir num caixão, num desfile de
caixões, imitando na perfeição o próprio enterro. Ao proibir esta procissão de caixões, o jovem
padre provoca um verdadeiro tumulto que, embora muito silencioso, vai criando uma revolta
que leva a população a enfrentá-lo e ir avante com o seu ritual enraizado na cultura popular. A
partir deste resumo, gostaria de reflectir um pouco sobre um aspecto que me parece
específico, e distinto de toda a tradição do cinema que tratei nesta tese – embora apenas
compreensível na sua inteireza se perspectivado a partir dela. Trata-se de partir para uma
rodagem com um conhecimento e uma pesquisa prévias, sem no entanto ter um guião
estabelecido nem, tão pouco, uma visão que gostasse de impor àqueles que iria filmar. Por isso
um dos factores que me pareciam de maior interesse naquele contexto social era o de não se
tratar, agora, de uma comunidade rural isolada, mas antes de um local semi-rural, com
predominância de pequenas indústrais familiares, sucateiros e algum operariado, mas em que
as hortas fazem parte integrante da paisagem. O universo juvenil, pelo seu lado, tratado no
filme pelo grupo de músiva heavy metal “Secos e Feios”, nada tinha a ver com os jovens
emigrantes da aldeia de Arga. Reflectia, antes, uma cultura juvenil aparentemente urbana.
Interessava-me, assim, filmar esta fronteira entre a cidade e o campo, desconstruindo aquilo
que me pareciam ser as idealizações de territórios e geografias feitos pelo cinema anterior.
Neste filme encontrei um personagem, o Sr. Massas, que, para além de ter algum poder
local, como Presidente da Junta, era também o dono da funerária da aldeia, onde se alugava,
por um dia, o caixão do dia da festa. Este, no processo do conflito com o padre, assume-se
como alguém que, não tomando uma posição clara, vai antes negociando a relação entre as
pessoas e o poder da Igreja de forma quase escondida. No entanto, cedo percebi que este
personagem era fundamental no filme para entendermos que, em processos de conflito local, a
manipulação é uma coisa, e a acção que parte desta, outra. De facto, tudo se resolveu no final
porque um grupo de mulheres e mães que tinham feito promessa à Santa decidem confrontar
o Sr. Massas, induzindo-o a “pôr cá fora” os caixões que este manteve guardados até ao último
momento. Elas usam argumentos como “O senhor tem que fazer alguma coisa”, ou “é uma
tradição antiga, não pode acabar assim”. O filme vive, narrativamente, deste conflito, colocado
logo no início, e solucionado no final. A partir desta ideia de filmar um confronto, e as suas
ambiguidades – e entendo aqui por ambiguidades a gestão que as pessoas vão fazendo da sua
posição ao longo do filme, alterando-a consoante se perspectiva a sua resolução –, há algumas
especificidades sobre as quais gostava de me debruçar.
304
Fig. 29. Senhora Aparecida (1994). Procissão dos caixões.
Uma breve reflexão sobre a ideia de narrativa e de guião: como escrever um projecto a
partir de uma acção cuja continuidade se desconhece? Ou, como funciona o processo de
trabalho e realização em filme etnográfico? Especialmente rendida ao cinema de observação, o
meu estilo de filmagem sempre foi o da espera, da observação, da construção narrativa à
medida que visiono, todos os dias em que filmo, o material. É consensual a ideia de que, numa
abordagem antropológica que ultrapassou a ideia de registo e documento, e se centra numa
visão de tipo interpretativo, alguns realizadores tendem a estruturar o filme em torno de um
argumento, de uma história, que emana da própria acção, usando na montagem as convenções
narrativas já instituídas nos documentários em geral.228 Quando vamos atrás, e relemos o
Principles of Visual Anthropology, livro fundamental editado por Paul Hockings (1975),229
detectamos já a noção, tão importante para a institucionalização da chamada Antropologia
Visual, nos finais dos anos setenta do sec. XX, de que o filme não é um meio passivo de registo
de dados visuais, e que a câmara deve ser um elemento activo, um catalizador dentro do
228
229
Sobre este assunto, Henley, 1999: 31
Referência especial aos artigos de Jean Rouch, Colin Young e David MacDougall.
305
triangulo de relações entre o realizador do filme, os personagens e a audiência, devendo em
consequência ser utilizada para gerar eventos e interpretações significativas. Neste livro, é
interessante notar que, enquanto Rouch enfatiza o papel do cineasta como provocador da
acção, Young ressalta a importância de fazer filmes em que a audiência possa, também ela
própria, construir os seus próprios significados, ao passo que MacDougall refere a importância
do envolvimento dos protagonistas na construção do sentido do filme. Mais tarde, Bill Nichols,
a propósito do uso de entrevistas, afirma que, em muitos filmes “existe um hiato entre a voz de
um actor social recrutado para o filme e a voz do filme” (Nichols, 1983: 23). É neste sentido que
se construiu a montante toda uma conhecida discussão teórica em torno das ideias de
autoridade, autoria, partilha de perspectivas, na relação que se estabelece com aqueles que se
filma. Assim, julgo que, ao integrar o meu próprio trabalho como realizadora, posso juntar as
pontas soltas da discussão o sobre o que é, no fundo, a especificidade da Antropologia Visual e
do filme etnográfico sobre que fui discutindo durante esta tese, mostrando os seus diferentes
desenvolvimentos em Portugal, em especial com cineastas como Campos e Costa e Silva, mas
também com o trabalho dos etnólogos do Museu.
Como observou Banks (1992), há muitas similaridades “surpreendentes” entre os
cânones e a prática das várias abordagens do documentário observacional e as “caracteristicas
que distinguem a pesquisa e a literatura antropológica de qualquer outra forma de observação
humana”. A mais importante delas talvez seja a premissa compartilhada de que o produto
gerado, junto com os insights que incorpora, surge de um conhecimento pessoal profundo dos
protagonistas. No filme Senhora Aparecida, tal como em O Arquitecto e a Cidade Velha (2005),
e ao contrário de outros, decidi não partilhar o meu material em bruto com as pessoas. Se o
fizesse, revelaria que de um lado havia ainda pessoas que decidiram, contra tudo e todos, ir no
caixão, e, embora durante o filme os espectadores fiquem a saber isso, o Padre não o sabe. Da
mesma maneira, quando no filme da Cidade Velha há uma revolta da população que faz uma
reunião contra esta candidatura à UNESCO, e contra o arquitecto, este nunca chega a saber que
tal acontece e volta, inocentemente, à Cidade Velha. O problema da imposição do autorautoridade, muito discutido na literatura em Antropologia Visual, tem sido abordado com a
ideia pós-moderna de incorporar no filme multi-discursos, resultando numa polifonia. Esta
estratégia pode ser criticado por estar a usar, a materializar, ou servir de suporte à voz
individual e subjectiva de quem realiza, colocando o problema da ética e política da
representação. A questão colocada no artigo cujo título é uma pergunta, Whose Story it is?
(Mac Dougall, 1994) é a seguinte: “por que meios podemos distinguir as estruturas que
inscrevemos nos filmes das que foram inscritas em nós, muitas vezes sem que o saibamos,
pelos objectos retratados? Será que, de alguma forma, um filme é o mesmo objecto para quem
306
o fez, e imprimiu-lhe o status de discurso, e para aqueles que casualmente deixaram os seus
traços físicos nele? A pergunta ‘de quem é esta história’ tem portanto uma discussão
ontológica e moral” (MacDougall, 1998: 95). Os filmes de observação, como Regresso ou
Aparecida, são muitas vezes analíticos, mas procuram também manter-se abertos a categorias
de significados que podem transcender a análise do realizador. Para mim, e no essencial, tratase de uma espécie de humildade diante do mundo, que reconhece implicitamente que a
história do personagem é muitas vezes mais importante que a do realizador. E por isso pode ser
visto como um primeiro passo necessário em direcção a um cinema mais participativo. Talvez
seja verdade em relação a este meu filme aquilo que o artigo de MacDougall refere:
Sempre que as forças culturais de um sujeito agem sobre a estrutura de um filme –
através da padronização de um acontecimento, de uma narrativa pessoal, da
apropriação de uma função local, ou de alguma outra forma- o filme pode ser lido como
um trabalho composto, um cruzamento de perspectivas culturais. Algumas vezes o
processo não vai adiante. Estamos acostumados a ver nos filmes por detrás dos
pressupostos (pontos de vista) do realizador aquelas das pessoas filmadas, e temos
consciência da sua ilegibilidade mútua (Mac Dougall, 1998: 104).
Afirmei antes que o autor não deve ser encontrado fora do filme. Tal reflexão mais
profunda poderia, disse, incorporar este conceito de ambiguidade, visto que a posição do
autor, assim como dos personagens, não é fixa, dependendo sempre da dinâmica, que se vai
alterando, do devir da relação que entre os dois se estabelece. À medida que vou fazendo uma
descoberta da complexidade da etnografia que tenho em mãos e que, no caso do conflito, é
atravessada por acções e uma verbalização da situação contraditórias, sinto que o mesmo
acontece com aqueles que estou a filmar. O meu papel acaba por ser, então, o de uma espécie
de facilitador que torna visíveis as ambiguidades, fornecendo uma espécie de código interno ao
próprio filme, permitindo ao espectador – e aqui incluo também os participantes do filme –
posicionar-se, também neste conflito, e de o pensar por si mesmo. Não encaro o meu trabalho
como uma transmissão de conhecimento prévio, mas vejo o filme enquanto um modo de criar
as circunstâncias dentro das quais novos conhecimentos possam tomar-nos de surpresa. Como
dizia Richard Barsam a propósito de Flaherty, “he encouraged us to look at the world, not to
imitate his way of seeing”. É a partir deste cinema clássico que se pode pensar hoje, aquilo que
já era verdade para Flaherty: que “filmmaking is not a function of Anthropology, but an act of
imagination; it is both photographic truth and cinematic re-arrangement of the truth” (1988:
119).
307
Neste capítulo, caracterizei o período revolucionário e a forma como deste se passou,
numa espécie de ruptura, para uma geração de documentaristas que procurou novas temáticas
e algumas mudanças na linguagem. Após explicitar brevemente a metodologia e as questões
que me parecem estar por detrás do trabalho a que me dediquei nos últimos anos, preciso
enfim de clarificar em que é que me julgo ter, juntamente com outros realizadores, e se assim
posso exprimir, deslocado da tradição anterior. Parece-me que esta demarcação, elaborada no
meu trabalho, aconteceu em três níveis. Primeiro, na representação de um tempo que não é
arcaico, atemporal ou remete para a tradição e o passado, nem de uma projecção para o
futuro, mas, antes, que consubstancia um esforço de ficar na especificidade e singularidade do
presente. Segundo, uma tentativa de ultrapassar essa classificação simbólica do país,
nomeadamente com a dicotomia entre Norte e Sul e a associação do primeiro com uma visão
pastoral. Embora possa existir alguma continuidade no discurso sobre a paisagem e a partir
deste da restituição do universo camponês no meu filme Regressso à Terra, julgo que este, ao
centrar-se no ponto de vista dos jovens citadinos, não produz uma representação romantizada
do modo de vida camponês, uma procura da relação harmoniosa com a natureza, ou a busca de
formas de organização social e sociabilidades arcaicas. Em Senhora Aparecida, por seu lado, o
contexto social que é fornecido pelas imagens de uma paisagem semi-urbana característica do
Vale do Ave e Lousada, perto do Porto, aparece, ao contrário do cinema anterior, associado a
um ritual, a procissão dos caixões, que se poderia imaginar encontrar em lugares recônditos do
país.
Em terceiro lugar, trata-se da questão que desenvolvi sobre o processo de construção
da narrativa e do guião como algo que incluiria uma polifonia de discursos e que se centraria na
possibilidade de evidenciar o conflito, a contradição e a ambiguidade, procurando não valorizar
o colectivo em detrimento do indivíduo. Na verdade, estas são reflexões que derivam do
contexto teórico e das modificações sofridas quer no interior da própria Antropologia, quer no
Cinema Documental, e que fui sempre explicitando. No entanto, estas não deixaram de ser as
questões estruturantes desta tese, e às quais só posso tentar responder, embora sempre de
forma contingente, na medida em que esta escrita me permitiu, de certo modo, recentrar o
meu próprio trabalho através do dos outros realizadores, sobre os quais reflecti.
308
309
Fecho
Nesta tese tentei perceber o que há de comum e o que distingue os diferentes processos de
representação do mundo rural e da cultura popular, porque é que o cinema português
trabalhou de forma intensa, de 1962 ao final da década de 70 – embora de modo diferenciado
consoante o autor, o género, ou o formato – a representação do povo como universo
qualificado e valorizado esteticamente. Ao movimento de aproximação à cultura popular,
elaborado pelo cinema português, foi dada uma leitura histórica e um contexto cultural, social
e político. Alguns realizadores e cineastas, viu-se, acabaram por se demarcar mais ou menos
das influências de outros cinemas feitos à época e noutros países. Na realidade, muitos dos
filmes aqui tratados haviam sido realizados à margem das grandes influências cinematográficas
da época. Mesmo no cinema etnográfico de arquivo, ou no revolucionário, notou-se bem que
as suas linguagens e escolhas estéticas estavam condicionadas e subjugadas a um discurso
científico ou político, o que determinou igualmente o afastamento das cinematografias
internacionais então já mais experimentais e radicais. Em ambos os casos, a realidade
registada, a experiência da constatação de um mundo, como vimos, era mais importante do
que a autoria. Ao fornecer um contexto ao conjunto de filmes da tese, as pistas que persegui
foram, entre outras, a da procura da identidade de um cinema europeu, das ligações com a
cultura francesa, do nascimento da ideia de uma prática independente e de autor, uma moral
construída a partir da proximidade com o povo e a pobreza e, ainda, persegui o tensionamento
existente entre um cinema com uma visão onírica e poética e uma outra mais realista e
documental. Procurei capturar, por fim, ao longo destas páginas, o discurso de uma etnografia
construída em torno da crítica ao establishment por um conjunto de intelectuais mais ou
menos ligados à etnografia ou que, pelo menos, nela fizeram incursões.
Aquilo que me parece ser comum a todos estes olhares acerca da cultura popular
portuguesa
era
um
certo
fascínio
pela
ruralidade,
a
vontade
de
um
olhar
descontemporanizador sobre um passado que havia, por isso, que resgatar e registar.
Encontramos um cinema atemporal, não historicista, mas que remetia para o passado, usando
e manipulando, por vezes, um tempo cíclico ou mitológico. Mesmo quando a abordagem era
mais claramente etnográfica e científica, o tempo manejava-se com base na ideia de
reconstituição – de uma técnica, de um saber, ou de uma tradição que já não existiam. As
excepções de filmes que trabalharam sobre o presente podem-se encontrar no cinema
revolucionário e nalguns filmes de António Campos, realizador que não pode, no entanto, ser
incluído numa escola de documentário que toma o aqui e agora como centro, apesar de
310
trabalhar um certo presente etnográfico. Em relação à forma como se filmou “o camponês”,
verificámos que existia, já desde os anos 1920, um olhar sobre o povo que privilegiava e
valorizava a ideia de faina, o trabalho, a sobrevivência, uma certa dureza ligada a um
quotidiano que dependia dos recursos quer da natureza, quer da civilização. Se, como foi
referido no início deste trabalho, no cinema brasileiro se passava da figura do “cangaceiro”
para a do “camponês”, de um espaço arcaico, a partir do qual se pode fazer a crítica do atraso,
para um olhar que via este como um paradigma moral bom para criticar a civilização, no cinema
português parece ter havido, também, uma recuperação positiva da imagem dos camponeses.
Toda a tese se construiu, assim, num paralelo entre duas grandes questões.
A primeira tinha que ver com o modo como se representava a ruralidade em termos das
escolhas cinematográficas: os usos de conteúdos concretos. Recorria-se então a uma geografia
simbólica do país, a um discurso sobre a paisagem, a representações romantizadas do modo de
vida camponês, à procura de formas de vida arcaicas, valorizando a ideia de comunidade,
buscando o certo exotismo da vida camponesa, ligada ao isolamento que se associava à
manutenção das tradições. Filmava-se um país que era objectificado, procurava-se a
autenticidade do povo e nesse gesto a do próprio cinema, que aparecia como um instrumento
de resgate daqueles cujo mundo e palavra tinham ficado fora do cinema anterior, e que
pareciam escondidos. O realizador era então, e continua a ser no documentário
contemporâneo, aquele que se imagina como detendo os instrumentos e o poder para
desocultar e tornar visível o outro. A segunda grande questão que explorei foi o modo como se
estabeleceram as retóricas e os estilos da representação cinematográfica. Em Portugal, como
se viu, não existiu, no período tratado, uma escola ou tradição de documentário com
influências internacionais. No entanto, podemos concluir que é recuperando este aspecto, ou
esta veia documental, que se pode perceber, na sua inteireza, o cinema português e também a
forma como os cineastas fizeram parte do movimento mais geral de encantamento pelo mundo
rural. Fiz isso aqui, ao valorizar filmes feitos em pequena escala, com poucos meios e
incorporando nessa minha deriva, e de forma des-hierarquizada, realizadores do domínio antes
considerado fora do cinema ou então amador. Certo é, no entanto, que os meios de produção
usados nos filmes não se podem separar, como foi explanado aqui, do contexto intelectual e do
ethos dos seus intervenientes, nem tão pouco da procura de uma linguagem cinematográfica
singular.
Ao olhar um corpo de filmes heterogéneo pelo lado dos discursos sobre o popular, e
não a partir de uma história e crítica cinematográfica, percebeu-se, acredito que com outra
perspectiva, a forma como, no nosso país, com a influência marcante de Oliveira e a recusa das
311
correntes do neo-realismo – assim como com as contaminações entre interesses diversos como
a arte bruta e popular, a etnologia, ou o imaginário popular –, que foi esta veia documental o
território de experimentação e de radicalização de um cinema cuja identidade tem sido
pensada como nacional, e que nela se revê. Ao incorporar neste meu texto os filme de arquivo
produzidos pelos etnólogos, colocando lado a lado objectos cinematográficos que, geralmente,
não se misturam, julgo poder contribuir para repensar a identidade do cinema nacional no
período retratado. Como vimos, existe por detrás da enciclopedização do conhecimento dos
filmes do Centro de Estudos de Etnologia uma forma específica de pensar, uma missão, que se
concebe como correcta, autorizada e intemporal relativamente ao que entende ser importante
registar, sempre através de um processo de selecção, categorização e congelamento da cultura
popular patrimonializada. Esta é também uma lente através da qual podemos olhar o cinema
de cariz etnográfico tratado na tese. Em todo ele parece existir este movimento de registo de
certas sequências – fazer o pão, moer o cereal, dançar e tocar num baile, comer junto da lareira
– que parecem transportar esta ideia do evento singular e do registo. Veja-se o filme exemplar
A Festa, de 1975, em que Campos isola o material que filmou, na sua riqueza e complexidade,
numa festa na Praia da Vieira, assumindo-o como um objecto à parte, que fala por si. Por outro
lado, julgo ter dado algumas pistas, a propósito, dos filmes feitos pelos etnólogos, por estarem
umbilicalmente ligados ao discurso interior e disciplinar de uma certa Antropologia, para
pensar a forma como esta disciplina tem revisitado, à luz das suas teorias e da sua história, esta
atitude aparentemente simples de usar uma câmara de filmar com a finalidade central de
registar o real. Se o contributo do filme etnográfico é, cada vez mais, considerado teórico e não
metodológico, ele constitui-se então, como pude concluir, como um sistema visual, de estudo
das formas culturais visíveis, ou, em contrapartida, como meio de expressão, mais do que mero
instrumento de recolha.
Tome-se ainda um outro aspecto. Os realizadores e protagonistas que esta tese toma
como objecto de análise parecem-me oscilar entre duas grandes atitudes em contraponto,
embora entre elas possam existir zonas de fronteira, de alguma ambiguidade e muitos filmes
incorporam as duas. Na primeira, estes assumiram-se, em especial quando ligados ao
documentário etnográfico, como portadores de uma missão, a de realizar filmes com uma
pertinência vista como científica e cujas ideias derivam do campo disciplinar da Etnologia. Este
aspecto está presente em sequências longamente descritivas, no uso do som, quando ele é
captado, directo, criando um envolvimento – e não tanto um deslumbramento ou afeição –,
procurando assim fugir da intimidade e centrar-se na vida pública. Tratava-se de filmar
acontecimentos únicos, vistos como estando em vias de desaparecimento, em que o cinema é
chamado de urgência a colaborar numa consolidação do presente, impedindo que o mesmo se
312
transforme num passado que se tornará, mais tarde, opaco. Este é um cinema do resgate e do
registo de acontecimentos corpóreos, vividos por pessoas concretas, que eliminava os efeitos
de contemplação, acentuando a precisão e cronologia das acções, a contenção e a justaposição
de linguagens diferentes: a descrição histórica, a entrevista ou olhar frontal para a câmara, a
captação de acções em directo, observacionais ou a reconstituição encenada de acções e
discursos. O realizador, por seu lado, concebe-se a si mesmo como aquele que resgata e
devolve dignidade ao povo, à sua cultura e, para isso, viaja, desloca-se, mistura-se e questiona.
Por esta via, a ruralidade e a cultura popular ligam-se à tradição e à memória. Trata-se, numa
palavra, de engrandecer aquilo que parece estar lá, ter sempre lá estado e que só estes
agentes, a trabalhar de forma por vezes isolada, solitária, conseguem capturar, usando meios
de produção escassos como se a autoridade etnográfica exigisse deles esse espírito de
sacrifício, despojamento e missão.
A segunda grande atitude consubstanciava uma representação que recuperava o
domínio simbólico e mágico, visto como interior do povo. A uma espécie de negação dos
tempos concretos que se viviam, por exemplo os revolucionários, poderíamos sobrepor aqui
uma procura, radicalizada, de um país que parecia ter ficado perdido no tempo, numa espécie
de isolamento cultural e social. Este mundo rural foi retratado no seu passado remoto, para o
que contribuiu a linguagem cinematográfica, situada entre a criação diegética e usos de efeitos
da realidade. Nesse cinema, trabalhei as noções de paraíso perdido, periferia, primitivismo,
arcaísmo, que identifiquei como fazendo parte de um devir romântico. Aqui, o gesto político
era, em absoluto, colocado no modo de filmar um imaginário distante a que se tentava aceder,
e que estaria lá independentemente de contaminações, que eram cada vez maiores, do mundo
exterior, negando assim a possibilidade de intervenção do cineasta e portanto de um cinema
activista. Capaz de representar aquilo que há de mais profundo no interior do mundo do outro,
o cineasta não o pode, no entanto, mudar. Tratava-se de operar no domínio da imaginação a
partir do mundo real, para assim aceder a uma espécie de anterioridade da vida no campo. O
afastamento, a procura das memórias míticas, de uma paisagem pura e selvagem onde habita
um povo que fala o dialecto local e que tem um ar grave feito de gestos lentos, não estava,
porém, em contradição com o princípio de que os filmes eram vistos, pelos seus criadores e ao
mesmo tempo, como registos etnográficos puros e viagem ao verdadeiro imaginário do povo.
Se dimensões como a do trabalho, enquanto modo de produção e de sobrevivência, tinham
ficado fora do cinema português no período estudado, as produções revolucionárias, pelo seu
lado, recuperaram a ideia do camponês como alguém capaz de intervir, a seu favor, na relação
com o mundo natural num determinado momento histórico e, tendencialmente, numa certa
313
região do país, já não Trás-os-Montes, mas antes o Sul.
Deste modo, e para terminar, julgo que a revisitação que fiz a uma cinematografia que
conhecia apenas de modo linear e distante permitiu-me, antes de mais, repensar a
compartimentação das modalidades da representação e da praxis cinematográfica. O facto de
determinados filmes terem sido, historicamente, classificados como fazendo parte de uma
categoria mais próxima da ideia de registo ou da ideia de manipulação, mas que na verdade
sempre estiveram nesse espaço de fronteira, foi fixado na literatura, crítica e na prática do
cinema português, tendo influenciado o modo como sempre vi o meu trabalho de
documentarista. Neste processo, associei as ideias de etnografia às de experimentação (cf.
Russell, 2003) repensando, portanto, quer a representação cultural, quer a estética. Nesta tese,
ao aplicar a estes usos do cinemas e da etnografia uma crítica da autenticidade, viu-se como a
cultura era representada de modos distintos e fragmentados, nessa mediação das modalidades
discursivas e dos modos de fazer. Assim, esta escrita foi laboratório para um pensamento que
se dispôs a apontar em várias direcções. Primeiro, para as políticas da representação, em
seguida para as convenções de género e estilo aplicadas ao cinema – sem esquecer a forma
como estas são incorporadas por quem realiza e por quem recebe estas imagens – e,
finalmente, para o princípio de que o cinema é uma ferramenta complexa que permite pensar a
etnografia enquanto experimentação da alteridade. Trata-se do processo que permitiu passar
de um cinema da autoridade realista para as ideias de confronto cultural agenciado, polifónico
e, como defendi antes, tomado como ambíguo. A etnografia não deixa de ser, quando tomada
a partir do cinema, uma estrutura com afinidades com a ontologia fílmica. Com efeito, se o
cinema sempre procurou recuperar a memória, a perda, numa atitude que se diria redentora, é
igualmente certo que o filme etnográfico buscou, a partir das ideias de veracidade, evidência e
de um paradigma objectivista, uma colagem à constatação como forma de preservação da
cultura. Podemos então, talvez, e é nesse lugar que procuro permanecer, olhar a memória e o
desejo de capturar o tempo não tanto a partir do lugar da autenticidade, mas antes de uma
ontologia da colaboração e experimentação.
314
Filmografia principal (Ordem alfabética de realizador)
ANTÓNIO CAMPOS (1922- 1999)
1958 – Um Tesoiro
1959 – O Senhor
1960 - Leiria
1961 – A Almadraba Atuneira
1965 – A invenção do Amor
1966 - Arte do Índio Brasileiro (com Vítor Bandeira)
1971 – Vilarinho das Furnas
1974 - Falamos de Rio de Onor
1975 – Gente da Praia da Vieira
1975 – Paredes pintadas da revolução portuguesa
1975 – A Festa
1977 – Ex-Votos Portugueses
1978 – Ti Miséria
1978 – Histórias selvagens
ANTÓNIO REIS (1927-1991)
1959 - Auto de Floripes (co-realização cineclube do Porto)
1974 - Jaime
1976 - Trás-os-Montes - com MARGARIDA CORDEIRO (n. 1938)
FERNANDO LOPES (n. 1935)
1961- As Pedras e o Tempo
1964 - Belarmino
1971 - Uma Abelha na Chuva
1976 - Nós Por Cá Todos Bem
MANUEL COSTA E SILVA (1938 – 1999)
1970 – A Grande Roda
1971 – A Passagem
1973 – Festa, Trabalho e Pão em Grijó da Parada
1975 – Eleições 75
1978 – Junho no Alto Alentejo
JOÃO CÉSAR MONTEIRO (n. 1939 - 2003)
1971 - Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço
1972 - Sophia de Mello Breyner Andresen (filme)
1972 - Fragmentos de Um Filme Esmola
1972 - A Sagrada Família
1975 - Que Farei Eu com Esta Espada?
1975 - Amor de Mãe
1979 - O Amor das Três Romãs
1979 - Os Dois Soldados
1978 - Veredas
1982 - Silvestre
315
MANOEL DE OLIVEIRA (n. 1908)
1931 - Douro, Faina Fluvial
1941 – Famalicão
1942 - Aniki-Bobó
1956 - O Pintor e a Cidade
1964 - A Caça
1963 - Acto da Primavera
1965 - As Pinturas do meu irmão Júlio
1966 - O Pão
1972 - O Passado e o Presente
1974 - Benilde ou a Virgem Mãe
1979 – Amor de Perdição
MANUEL DE GUIMARÃES (1915-1975)
1951 - Saltimbancos
1953-1956 - Vidas sem Rumo
1956 - As Corridas Internacionais do Porto
1958 - A Costureirinha da Sé
1964 - O Crime da Aldeia Velha
1965 - O Trigo e o Joio
1971 - Carta a Mestre Dórdio Gomes
1973 - Areia Mar – Mar Areia
PAULO ROCHA (n. 1935)
1963 - Os Verdes Anos
1966 - Mudar de Vida
1971 - Sever do Vouga... Uma Experiência
1972 - A Pousada das Chagas
Documentários marcados pelo 25 de Abril, e os acontecimentos posteriores:
Deus Pátria e Autoridade, Rui Simões, 1974
Brandos Costumes, Alberto Seixas Santos, 1974
As Armas e o Povo, Colectivo de realizadores,1975
Apanha da Azeitona, Cinequipa, 1975
Revolução, Ana Hatherly, 1975
Liberdade para José Diogo, Luís Galvão Telles, 1975
São Pedro da Cova, Rui Simões, 1976
Continuar a Viver ou Os índios da meia praia, A Cunha Telles, 1976
Cravos de Abril, Ricardo Costa, 1976
Deolinda Seara Vermelha, Luis Gaspar, 1976
A luta do Povo, Grupo Zero, 1976
….Pela razão que têm…, José Nascimento, 1976
Operação Boa Colheita, Luis Gaspar, 1977
Terra de pão terra de luta, José Nascimento, 1977
Filmografia complementar:
D. Roberto, Ernesto de Sousa, 1962
Máscaras, Noémia Delgado, 1976
O Movimento das Coisas, Manuela Serra, 1985
316
Argozelo– À Procura dos Restos das Comunidades Judaicas, Fernando Matos Silva, 1977
Filmografia (seleccionada) Catarina Alves Costa:
Regresso à Terra, 1992
Senhora Aparecida, 1994
Swagatam / Bem-Vindos, 1998
Máscara, (em co-realização com Catarina Mourão), 2000
Mais Alma, 2001
O Linho é um Sonho, 2001
A Seda é um Mistério, 2003
O Arquitecto e a Cidade Velha, 2004
O Sítio de Castelo Velho, 2005
O Parque, 2008
Nacional 206, 2008
Falamos de António Campos, 2009
317
Índice de Imagens
Fig. 1. Trás-os-Montes (1976), família a comer neve, António Reis e Margarida Cordeiro
Fig. 2. Veredas (1977), pastor com flauta, João César Monteiro
Fig. 3. Henrique Alves Costa (do lado esquerdo) e a equipa do Cineclube do Porto, 1958.
Fig. 4. Rodagem, O Acto da Primavera. Arquivo Cinemateca Portuguesa
Fig. 5. Rodagem, O Acto da Primavera. Arquivo Cinemateca Portuguesa
Fig. 6. O Acto da Primavera. Arquivo Cinemateca Portuguesa
Fig. 7. Cartaz Acto da Primavera. Arquivo Cinemateca Portuguesa
Fig. 8. Olaria Primitiva em Malhada Sorda. Museu Nacional de Etnologia
Fig. 9. Ilustrações do artigo de Jorge Dias (1965 a)
Fig. 10. Fotografias 20 e 21 de Oliveira et al. (1978)
Fig. 11. Desenho 206 in Galhano, 1985
Fig. 12. Ficheiro. Museu Nacional de Etnologia
Fig. 13. Ficheiro. Religião Popular. Museu Nacional de Etnologia
Fig. 14. António Campos, filme pessoal
Fig. 15. Rodagem, A Almadraba Atuneira (1961). Cinemateca Portuguesa
Fig. 16. Rodagem Falamos de Rio de Onor (1974) Arq. C.P.
Fig. 17. Rodagem Ex-Votos Portugueses (1976). C.P.
Fig. 18. Rodagem Terra, Trabalho e Pão em Grijó de Parada. (data) C.P.
Fig. 19. Guião do filme Veredas. CP.
Fig. 20. Veredas (1977), Manuela de Freitas,. CP.
Fig. 21. Rodagem Trás-os-Montes (1976). CP.
Fig. 22. Jaime (1974).
Fig. 23. O pastor de Trás-os-Montes.
Fig. 24. Jaime, o celeiro.
Fig. 25. Rodagem, Trás-os-Montes. CP.
Fig. 26. O chocalheiro da Bemposta. Foto B. Pereira (2001)
Fig. 27. A seda é um Mistério. Foto B. Pereira
Fig. 28. Regresso à Terra, Pastora a dormir sobre uma pedra
Fig. 29. Senhora Aparecida (1994). Procissão dos caixões
318
319
Referências bibliográficas
ABEL, Richard, 1985, French Cinema: The First Wave, 1919-1929. New Jersey, Princeton: Princeton
University Press.
ABU-LUGHOD, Lila, 1991, Writing Against Culture. Recapturing Anthropology. Santa Fe: Fox, 137-162.
ALLEN, Robert; GOMERY, Douglas, 1985, Film History. Theory and practice. New York: Newbery Award
Records.
ALLIO, René, 1981, “Foin de bergeries !”, Cinémas Paysans. Dossier réuni par Christian Bosséno.
CinémAction, 16, Paris: Cerf, 7-10.
ALVES, Vera Marques, 1997, “Os Etnógrafos Locais e o Secretariado da Propaganda Nacional. Um Estudo
de Caso”, Etnográfica, I (2), 213-235.
ALVES, Vera Marques, 2007, “Camponeses Estetas” no Estado Novo: Arte popular e Nação Folclorista do
Secretariado de Propaganda Nacional. Tese de Doutoramento. ISCTE, Policopiada.
ANDRADE, José N., 1979 (coord.), Fernando Lopes por cá. Catálogo da Cinemateca Portuguesa - Museu
do Cinema.
António Campos, Catálogo, Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, 2000.
APPADURAI, Arjun, 1981, “The Past as a Scarce Resource” Man (N.S) 16 (2): 201-219.
AREAL, Leonor, 2011, Cinema Português - Um País Imaginado (vol. I - Antes de 1974 e vol II – Após
1974). Lisboa: Edições 70, Extra Colecção.
AUBERT, Alain et al., 1980, CinémAction, Cinemas des regions, Dossier reunido por Aubert et al. 12,
Outono 1980. Paris: Papyrus.
AUBERT, Alain et al., 1982, CinémAction, Images d’en France (Cinemas des regions II), Dossier reunido
por Alain Aubert et al., 18/19. Paris: Papyrus.
AZEVEDO, Manuel de, 1951, Perspectivas do Cinema Português. Porto: Clube Português de
Cinematografia.
BAECQUE, Antoine De; PARSI, Jaques, 1999, Conversas com Manoel de Oliveira. Lisboa: Campo das
Letras.
BALICKI, Asen, 1985, “Thèmes du cinema ethnographique” Museum, 37 (1): 16-25.
BANKS, Marcus, 1992, “Which films are the ethnographic films?”, Crawford, Peter; Turton, D. Film as
Ethnography. Manchester: Manchester University Press, 116-129.
BANKS, Marcus; MORPHY, H., 1997, Rethinking Visual Anthropology, Yale: Yale University Press.
BAPTISTA, Tiago (s/d) “The Most Portuguese Village in Portugal: Tradition in the Age of its Technical
Reproducibility.” Não editado.
BARCOSO, Cristina, 2011, “A Campanha Nacional de Educação de Adultos e o Cinema”, Torgal, Luis
(coord.) O Cinema sob o Olhar de Salazar. Lisboa: Temas e Debates, Círculo de Leitores [2001].
BARNIER, Martin, 2007, “A Severa, José Leitão de Barros (1931)”, Ferreira, C. Overhoff, O Cinema
320
Português através dos seus filmes. Lisboa: Col. Campo do Cinema. Campo das Letras, 19-28.
BARNOW, Eric, 1983 [1974], Documentary: A History of Non Fiction Film. Oxford: Oxford University
Press.
BARSAM, Richard, 1992 [1973], Non-Fiction Film. A Critical History. Indiana University Press (Revised
Edition).
BARTHES, Roland, 1966, Crítica e Verdade, Edições 70, Lisboa.
BARTHES, Roland, 1984 [1979] , Camera Lucida: Reflections on Photography. Trans. R. Howard, London:
Fontana.
BECKER, Howard S., 1986, “Telling about society”, Doing Things Together, Evanston, IL, 121-35.
BELLO, Maria do Rosário Lupi, 2005, Narrativa Literária e Narrativa Fílmica: O caso de ‘Amor de
Perdição’. Tese de Doutoramento, Universidade Aberta.
BENDIX, Regina, 1997, In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies, Madison: The
University of Wisconsin Press.
BERGAN, Ronald, et al., 2000, Cinema year by year, 1894-2000, London: A Dorling Kindersley Book.
BERNARDET, Jean-Claude, 2003, Cineastas e Imagens do povo, São Paulo: Companhia das Letras.
BESSE, Maria Graciete, 1997, “La représentation du monde rural dans la fiction néo-réaliste portugaise”,
Regards sur la ville et la campagne au XX siècle, Toulouse: 813 édition, Université de Toulouse-le Miral,
Département de Portugais, 211-224.
Beyond Reason, Art and Psychosis, Works from the Prinzhorn Collection, Hayward Gallery, 1996, London:
Cathalogue Published by Hayward Gallery.
BOSSÉNO, Christian, 1975, “Cinéma et monde paysan”, La revue du cinéma. Image et Son, 294, Mars
1975, Paris: ed. l’U.F.O.L.E.I.S, Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education Permanente, 18-60.
BOSSÉNO, Christian, 1981a, “Cinéma et Recherche: des contributions du SERDDAV”, CinémAction,
Cinémas Paysans, nº 16. Paris: Cerf, 113- 150.
BOSSÉNO, Christian, 1981b, “84 ans de cinéma paysan”, Cinémas paysans. Dossier réuni par Christian
Bosséno. CinémAction, nº 16. Paris: Cerf, 17-57.
BOURDIEU, Pierre, 1983, “Vous Avez dit Populaire?”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 46,
Mars, 98-105.
BOURDIEU, Pierre, 1996, The Rules of Art. London: Stanford University Press.
BOURDIEU, Pierre, 2004 [1987], “Os usos do povo”, Coisas ditas. São Paulo: Editora Brasiliense, 181-188.
BOURDIEU, Pierre, 2005 [2004], Esboço de auto-análise. São Paulo: Companhia das Letras.
BOURDIEU, Pierre, 2006a [1972], A produção da crença. Contribuição para uma economia dos bens
simbólicos. São Paulo: Zouk, 3ª edição.
BOURDIEU, Pierre, 2006b, [1979], A Distinção. Crítica social do julgamento. São Paulo: Zouk.
BRANCO, Jorge F. e LEAL, João, 1995, “Introdução”, Revista Lusitana, 13-14 (Actas do Colóquio Retratos
321
do País), Nova série: 1-12.
BRETÈQUE, François, 1990, “Allemagne fédérale: au-delà du heimatfilm”, Hennebelle, Guy; Oms,
Marcel, Champs contrechamps. Le Cinéma rural en Europe. Paris: Centre Georges Pompidou, Collection
Cinéma singulier, 25-30.
BRETÈQUE, François, 1992, “Images de Provence: Ethnotypes and Stereotypes of the South in French
Cinema”, Popular European Cinema. London: Richard Dyer and Ginette Vincendean, Routledge, 58-71.
BRITO, Joaquim P., 1995, “No Tempo da Descoberta de um Escultor”, Onde Mora o Franklim? Um
Escultor do Acaso, Catálogo do Museu Nacional de Etnologia. Lisboa: Instituto Português de Museus.
BRITO, Joaquim Pais de, 2000, “Cinema e Conhecimento Antropológico”, António Campos, Catálogo.
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 79-85.
BRITO, Joaquim Pais de, e LEAL, João, 1997b, “Apresentação”, Brito, J.P; Leal, J. (eds.), “Etnografias e
Etnógrafos Locais”, Etnográfica, I (2), 181-190.
BRITO, Joaquim Pais de; LEAL, João, 1997a, “Etnografias e Etnógrafos Locais”, Etnográfica, I (2).
BRUMANN, Christoph, 1999, “Writing for culture” Current Anthropology, Volume 40, Supplement,
February: 1-14.
BURKE, Peter, 1989 [1978], Cultura Popular na Idade Moderna. São Paulo: Schwarcz.
CADÉ, Michel, 1990, “Portugal: entre Nostalgie et Revolte”, Hennebelle, Guy; Oms, Marcel (orgs.)
Champs contrechamps. Le Cinéma rural en Europe. Paris: Collection Cinéma Singulier Centre Georges
Pompidou, 68-70.
Cahiers de la Cinémathéque, Dossier Le Monde Rural au Cinema, 75, 2003.
CARRILHO, Fernando, 2008, Estruturas de Produção do Documentário Português. Tese submetida como
requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da
Informação. Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.
CASTELO-BRANCO Salwa; BRANCO, Jorge Freitas, 2003 (orgs.), Vozes do Povo. A Folclorização em
Portugal. Lisboa: Celta.
CESARINY, Mário, 1983, Horta da Literatura de Cordel. Lisboa, Assírio & Alvim.
CHEVALLIER, J., 1959, “La caméra aux champs”, La revue du cinéma. Image et Son, nº 121, Avril 1959,
ed. l’U.F.O.L.E.I.S, Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education Permanente. Paris: 5-10.
CinémAction, numeros temáticos : Cinémas paysans. Dossier réuni par Christian Bosséno. nº 16, 1981
Paris : Cerf, pp. 52-74.
CLIFFORD, James, 1986, “Introduction” Clifford, James and Marcus George (eds), Writing Culture,
Berkeley: University of California Press.
CLIFFORD, James, 1987, “Of Other Peoples : Beyond thE ‘salvage’ Paradigm”, Foster, Hall (ed.)
Discussions in Contemporary Culture. Dia Art Foundation, nº1. Seattle: Bay Press.
CLIFFORD, James, 1988, The Predicment of Culture, Cambridge Mass : Harvard University Press.
CLIFFORD, James, 1998, “Sobre a autoridade etnográfica”, A experiência etnográfica: antropologia e
322
literatura no século XX. Rio de Janeiro: UFRJ.
CLIFFORD, James; MARCUS, George, 1986 (eds), Writing Culture, Berkeley: University of California
Press.
COELHO, Eduardo Prado, 1983, Vinte Anos de Cinema Português (1962-1982), Lisboa, Instituto de
Cultura e Língua Portuguesa e Ministério da Educação (Biblioteca Breve, vol. 78).
COLLIER, J., 1988, “Visual Anthropology and the Future of Ethnographic Film”, Rollwagen, J. (Ed.),
Anthropological Film-making. London: Harwood Press, 73-96.
CONNOR, Steven, 1993 [1989], Cultura Pós-Moderna. Introdução às Teorias Contemporâneas. São
Paulo: Edições Loyola.
CORNER, John; ROSENTHAL, Alan, 2005 [1998], (Eds.) New Challenges for Documentary. Manchester:
Manchester University Press.
COSTA, Catarina Alves, 1993, "Problemas e Tendências recentes do Filme Etnográfico", Olhares sobre
Portugal: Cinema e Antropologia. Lisboa: Centro de Estudos de Antropologia Social e Instituto FrancoPortuguês, 119-129.
COSTA, Catarina Alves, 1996, Going Back Home: A Study of Migration in a Village of Northern Portugal,
Graduate School of Social Sciences, University of Manchester. Master Thesis.
COSTA, Catarina Alves, 1997, Guia para os Filmes realizados por Margot Dias em Moçambique 19581961. Lisboa: Museu Nacional de Etnologia.
COSTA, Catarina Alves, 1999, “Condicionantes à Realização de três filmes etnográficos: o olhar sobre o
Outro”, Atas do III Congresso Castellano-Leonés de Antropologia Iberoamericana - Antropologia Visual.
Salamanca: Ed. Barrio, Espina, Universidade de Salamanca, 103-109.
COSTA, Catarina Alves, 2009a “Como incorporar a ambiguidade? Representação e tradução cultural na
prática da realização do filme etnográfico”, Barbosa, A. et al, Imagem-conhecimento. Antropologia,
Cinema e outros diálogos. São Paulo: Papirus Editora, 127-143.
COSTA, Catarina Alves, 2009b, “Documentar o intangível: a experiência das máscaras”, Costa, Paulo
Ferreira (coord) Museus e Património Imaterial: agentes, fronteiras, identidades, ed. Instituto dos
Museus e da Conservação, 61-69.
COSTA, Catarina Alves, 2010, “O cinema de Reis e Cordeiro e a representação da cultura popular”,
Panorama do Documentário Português. Lisboa: Catálogo ed. Apordoc e EGEAC., 84-89.
COSTA, Catarina Alves, 2011,“Les Maitres fous ou os limites da imaginação etnográfica”, Costa, José
Manuel e Oliveira, Luís Miguel (orgs.), Jean Rouch. Ed. Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, 203209.
COSTA, Catarina Alves; MOURÃO, Catarina, 2003, “Imagens e Sons para o Museu da Aldeia da Luz”,
Museu da Luz, ed. EDIA. Portugal, pags 99-105.
COSTA, Henrique Alves, 1978, Breve História do Cinema Português 1896 a 1962. Instituto de Cultura e
Língua Portuguesa, col. Biblioteca Breve, Vol. 11.
COSTA, Henriques Alves, 1981, “Os filmes”, França, José A., Costa, A., Pina, Luís de. Introdução à obra de
Manuel de Oliveira. Lisboa: Instituto de Novas Profissões, 11-27 e 48-57.
COSTA, João Bénard, 1984, “Fire Over British Cinema, Esboço de Cronologia Comentada”, Cinema inglês,
323
1933-1983. Lisboa : Cinemateca Portuguesa.
COSTA, João Bénard, 1991, Histórias do Cinema Português col. Sínteses da Cultura Portuguesa Europália 91. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
COSTA, João Bénard, 2000, “António Campos : o Amador de Leiria”, António Campos, Catálogo
Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, Setembro de 2000, 9-11.
COSTA, José Filipe, 2002, O cinema ao poder! A revolução do 25 de Abril e as políticas de cinema entre
1974-76: os grupos, instituições, experiências e projectos. Lisboa: Hugin Editores, Lda.
COSTA, José Manuel, (org.), 1999, Novo Documentário em Portugal. Lisboa, Cinemateca PortuguesaMuseu do Cinema, p. inum.
COSTA, José Manuel, 1997, “Jaime e depois. A experiência cinematográfica de António Reis e Margarida
Coelho”, Moutinho, Anabela e Lobo, Maria da Graça, (orgs.) António Reis e Margarida Cordeiro. A poesia
da terra. Faro: Cineclube de Faro.
COSTA, José Manuel, 2004, “Questões do Documentário em Portugal”, in Nuno Figueiredo e Diniz
Guarda, orgs., Portugal: Um Retrato Cinematográfico. Lisboa, Número: Arte e Cultura.
CRAWFORD, Peter I., e TURTON, David, 1992, Film as Ethnography. Manchester: Manchester University
Press.
CRUCHINHO, Fausto, 1993, Le désir amoureux dans Les cannibales de Manoel de Oliveira, Universidade
Paris VIII-Saint Denis. Tese de Mestrado.
CRUCHINHO, Fausto, 2001, “Os passados e os futuros do Cinema Novo - o cinema na polémica do
tempo”, Torgal, Luís (sob a direcção de), Estudos do Século XX, Estéticas do século nº1.
CRUCHINHO, Fausto, 2011, “O conselho do cinema. Notas sobre o seu funcionamento (1962-1971)”,
Torgal, Luís (coord) O Cinema sob o olhar de Salazar, Temas e Debates, Círculo de leitores.
CUNHA, Paulo, 2005, Os filhos bastardos: Afirmação e reconhecimento do Novo Cinema Português 196774. Tese de Mestrado, Universidade de Coimbra.
CUNHA, Paulo, 2007, “Nazaré, Manuel Guimarães, Portugal (1952)”, Ferreira, C. Overhoff, O Cinema
Português através dos seus filmes. Col. Campo do Cinema. Ed. Campo das Letras, 81-89.
CUTILEIRO, José, 1977, Ricos e Pobres no Alentejo. Uma Sociedade Rural Portuguesa. Lisboa: Sá da
Costa.
DELEUZE, Gilles, 2004 [1983], A imagem-movimento, Cinema 1. Lisboa: Assírio e Alvim.
DELEUZE, Gilles, 2006 [1985], A imagem-tempo, Cinema 2, Lisboa: Assírio e Alvim.
DERRIDA, Jaques, 2004 [2001], De que amanhã: diálogo Jaques Derrida/ Elisabeth Roudinesco. Rio De
Janeiro: Jorge Zahar Ed.
DEVERAUX, Leslie; HILLMAN, Roger, 1995 (eds), Fields of Vision : Essays in Film Studies, Visual
Anthropology, and Photography. Berkeley: University of California Press.
DIAS, Jorge, 1948, Vilarinho da Furna. Uma Aldeia Comunitária. Porto: Instituto de Alta Cultura.
DIAS, Jorge, 1965a, “Da olaria primitiva ao torno de oleiro. Com especial referência ao Norte de
324
Portugal” Revista de Etnografia. Porto: Junta Distrital do Porto. 4 (1), (Janeiro de 1965), 5-31.
DIAS, Jorge, 1965b, “Aspectos da Vida Pastoril em Portugal”. Separata, Revista de Etnografia, nº 8.
Porto: Junta Distrital do Porto.
DIAS, Jorge, 1981 [1953], Rio de Onor, Comunitarismo Agro-pastoril. Lisboa: Editorial Presença.
DIAS, Jorge; Oliveira, Ernesto; Galhano, Fernando, 1994 [1963], Sistemas Primitivos de Secagem e
Armazenagem de Produtos Agrícolas. Os Espigueiros Portugueses. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
DIAS, Margot, 1986, Instrumentos musicais de Moçambique, Lisboa: Instituto de Investigação Científica
Tropical, Centro de Antropologia Cultural e Social.
DOUGLAS, Caroline, 1996, “Precious and Splendid Fossils”, Beyond Reason, Art and Psychosis, Works
from the Prinzhorn Collection, Hayward Gallery. London: Catalogue Published by Hayward Gallery, 3547.
DUVIGNEAU, Michel, 1986, “La ruralité au miroir déformant des médias”, Cinéma et Monde Rural.
Dossier réuni par Michel Duvigneau et René Prédal. CinémAction, nº36, Paris : Cerf, 7-15.
EATON, Mick, 1979, Anthropology-Reality-Cinema.The films of Jean Rouch. Londres: British Film
Institute.
FABIAN, Johannes, 1983, Time and the Other. How Anthropology makes its Object. New York: Columbia
University Press.
FABIAN, Johannes, 1991, “Presence and Representation”, Time and the work of Anthropology. Critical
essays 1971-1991. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.
FERNANDES, José Manuel, 2008, “O cinema sazonal: a evolução do cinema particular de Manoel de
Oliveira”. Manoel de Oliveira, 2/3, Out-Dez. Porto: Museu de Serralves e Civilização Editora, 10-27.
FERNÁNDEZ, José Pascual, 1999, “Los estúdios de Antropologia”. Etnográfica, CEAS (ISCTE), Vol. III (2),
333-359.
FERREIRA, Carolin Overhoff, 2007a, “Os Verdes Anos, Paulo Rocha, Portugal (1963).” Ferreira, C.
Overhoff, O Cinema Português através dos seus filmes. Lisboa: Col. Campo do Cinema. Ed. Campo das
Letras, 103-112.
FERREIRA, Carolin Overhoff, 2007b, ed., O Cinema Português através dos seus filmes. Lisboa: Col. Campo
do Cinema. Ed. Campo das Letras
FERREIRA, Manuel Cintra, 2002, “Cinema português: as excepções e a regra”. Fernando Peres (coord.),
Século XX: Panorama da Cultura Portuguesas. Artes e Letras, vol. 3. Porto: Edições Afrontamento e
FUNDAÇÃO de Serralves, 281-311.
FERRO, António, 1950, Teatro e Cinema (1936-1949), Lisboa: SNI.
FERRO, Marc, 1977, Cinéma et histoire. Paris: Bibliothèque Médiations Denoel Gonthier.
FIGUEIREDO, Nuno; GUARDA, Dinis, 2004 (orgs.), Portugal: Um Retrato Cinematográfico/ Portugal: a
cinematographic portrait. Lisboa: Número – Arte e Cultura.
FOUCAULT, Michel, 1971, L’ordre du discours. Paris: Gallimard.
FOWLER, Catherine; HELFIELD, Gillian, 2006, Representing the Rural: Space, Place, And Identity in Films
325
About the Land. Detroit, Michigan: Wayne State University Press.
FRANÇA, José Augusto et al., 1981, Introdução à obra de Manuel de Oliveira. Lisboa: Ed. Instituto de
Novas Profissões.
FRANÇA, José Augusto, 1952, “Lettre de Lisbonne” Cahiers du Cinéma, Revue du Cinéma et du
télécinéma, nº 18, Décembre 1952, Paris, 39-42.
FRANÇA, José-Augusto, Alves Costa, Luís de Pina, 1981, Introdução à Obra de Manoel de Oliveira. Lisboa:
Instituto de Novas Profissões.
FREUDENTHAL, Solveig, 1988, “What to Tell and How to Show It: Issues in Anthropological Filmmaking”,
Rolwagen, Jack (ed.), Anthropological Filmmaking. New York: Harwood Academic Publishers, 123-135.
FRYKMAN, Jonas; LOFGREN, Orvar, 1987, Culture Builders: A historical Anthropology of Midlle-Class Life,
New Brunswick: Rutgers University Press.
FUCHS, Peter, 1988, “Ethnographic Film in Germany: an Introduction”, Visual Anthropology,1 (3): 21733.
GALHANO, Fernando, 1961, Cestaria de Entre Douro e Minho. Contribuição para o Estudo da Cestaria
Portuguesa. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 1961.
GALHANO, Fernando, 1985, Desenho Etnográfico, volume 2. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação
Científica, Centro de Estudos de Etnologia.
GAYRAUD, Michel, 1980, “L’Occitane”, CinémAction, Cinemas des Regions, Dossier réuni par Alain
Aubert et al. nº 12, Automne. Paris: Ed. Papyrus, 89-161.
GEADA, Eduardo, 1977, O Imperialismo e o fascismo no cinema. Lisboa: Moraes Editores, Col. Temas e
Problemas.
GEERTZ, Clifford, 1973, The Interpretation of Cultures. London and New York: Basic Books.
GEERTZ, Clifford, 1996 [1983], Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York:
Basic Books.
GIBBONS, Luke, 1996, Transformations in Irish Culture. Cork: Cork University Press, Field Day.
GIDLEY, Mick, 1992 (ed.), Representing Others, White Views of Indigenous Peoples. The University of
Exeter Press. UK.
GOLDWATER, Robert, 1967, Primitivism and Modern Art, New York: Random House.
GRANJA, Paulo, 2007, “O Leão da Estrela, Arthur Duarte, Portugal (1947)”, Ferreira, C. Overhoff O
Cinema Português através dos seus filmes. Col. Campo do Cinema. Lisboa: Ed. Campo das Letras, 53-61.
GRANJA, Paulo, 2008, As Origens do Movimento dos Cineclubes em Portugal, 1924-1955. Tese de
Mestrado, Universidade de Coimbra.
GRILO, João Mário, 2006, Cinema da não-ilusão. Histórias para o cinema português. Lisboa: Livros
Horizonte.
GRIMSHAW, Anna, 2001, The Ethnographer’s Eye. Ways of Seeing in Modern Anthropology. Cambridge
University Press.
326
HAGENER, Malte, 2007, “Gado Bravo, Max Nosseck/António Lopes Ribeiro (1933-34)”, Ferreira, C.
Overhoff, (org.), O Cinema Português através dos seus filmes. Col. Campo do Cinema. Porto: Ed. Campo
das Letras, pags 29-38.
HANDLER, Richard, 1988, Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison. The University of
Wisconsin Press.
HASTRUP, Kirsten, 1995, A passage to Anthropology. Between experience and theory. London and NY:
Routledge.
HEIDER, Karl, 1976, Ethnographic Film, Austin.
HENLEY, Paul, 1999, Cinematografia e pesquisa etnográfica, Cadernos de Antropologia e Imagem, nº 9,
UERJ.
HENNEBELLE, Guy; OMS, Marcel, 1990 (orgs.), Champs contrechamps. Le Cinéma rural en Europe,
Collection Cinéma singulier. Paris: Ed. Centre Georges Pompidou.
HENRY, Christel, 2006, “A cidade das flores”: Para uma recepção cultural em Portugal do cinema neorealista italiano como metáfora possível de uma ausência. Textos universitários de Ciências Sociais e
Humanas. Lisboa: Ed. Fundação Calouste Gulbenkian.
HERZFELD, Michael, 1986, Ours Once More: Folklore, Ideology and the Making of Modern Greece. New
York: Pella Publishing Company.
HERZFELD, Michael, 1997, Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State. NY and London:
Routledge.
HEUSCH, Luc de, 2007, “The Prehistory of Ethnographic Film”, Engelbrecht, Beate (ed.) Memories of the
origins of ethnographic film, Peter Lang, Europaischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.
HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence, 1983 (orgs.), The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge
University Press.
HOCKINGS, Paul, 1975 (ed.), Principles of Visual Anthropology. Mouton: The Hague.
HUSMANN, Rolf, 2007, “Post-War Ethnographic Filmmaking in Germany. Peter Fuchs, the IWF and the
Encyclopaedia Cinematographica”, Engelbrecht, Beate (ed.) Memories of the origins of ethnographic
film. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europaischer Verlag der Wissenschaften.
JÁDI, Inge, 1996, “Points of View –Perspectives- Horizons”, Beyond Reason, Art and Psychosis, Works
from the Prinzhorn Collection, Hayward Gallery. London: Cathalogue Published by Hayward Gallery.
KIRSHENBLAT-GIMBLETT, Barbara, 1995, “Theorizing Heritage”, Ethnomusicology, 39 (3), (Outono 1995),
367-380.
KRAUSS, Rosalind, 2002 [1990], O Fotográfico. Lisboa: Editorial Gustavo Gili, SA.
La Revue du Cinéma, Image et Son, 1975, dossier Cinéma et Monde Paysan. nº294.
LARRAZ, Emmanuel, 1986, Le Cinéma Espagnol des Origines à nos Jours, préface de Berlanga, Luis
García. Paris : Cerf.
LE GOFF, J. 1996, História e Memória. Campinas: Unicamp.
LEAL, João et al, 1993, Olhares sobre Portugal. Cinema e Antropologia. Catálogo org. Centro de Estudos
327
de Antropologia social (ISCTE) e ABC Cine Clube de Lisboa.
LEAL, João, 1999, “Mapping Mediterranean Portugal: Pastoral and Counter-Pastoral”, Capo-Zmegac,
Jasna (ed.), Proceedings of the conference “Where does the Mediterranean begin? Mediterranean
Anthropology from Local Perspectives”, Narodna Umjetnost (Croatian Journal of Ethnology and Folklore
Research), 36 (1), 9-31.
LEAL, João, 2000, Etnografias Portuguesas (1870-1970). Cultura popular e identidade nacional. Lisboa:
Publicações Dom Quixote.
LEAL, João, 2001, “Orlando Ribeiro, Jorge Dias e José Cutileiro: imagens de Portugal Mediterrânico”, Ler
História, 40, 141-163.
LEAL, João, 2002, “Metamorfoses da Arte Popular: Joaquim de Vasconcelos, Vergílio Correia e Ernesto
de Sousa”, Etnográfica, VI (2), 251-280.
LEAL, João, 2008a,“Retratos do povo: etnografia portuguesa e imagem”, Pais, J.M e Carvalho, C. (orgs) O
Visual e o Quotidiano. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 117-145.
LEAL, João, 2008b, “A energia da antropologia. Seis cartas de Jorge Dias para Ernesto Veiga de Oliveira”,
Etnográfica, 12 (2), 503-521.
LEAL, João, 2010, “Os usos da história na equipa de Jorge Dias”, comunicação apresentada no colóquio
Caminhos e diálogos da antropologia portuguesa, Encontro de homenagem a Benjamim Pereira, Lisboa,
FCG, 17 de Abril de 2010.
LEAL, João, 2011, “Entre o Vernáculo e o Híbrido: a partir do Inquérito à Arquitectura Popular em
Portugal”, Joelho, Revista de Cultura Arquitectónica, Providência, P. et al. (coord.), 2: Intersecções:
Antropologia e Arquitectura. Coimbra: Coimbra Editora, 68-87.
LEFEBVRE, Martin, 2006, Landscape and film. New York, London: Afi Film Readers, Routledge University
Press.
LEMIÈRE, Parsi, 2004, Oliveira en France. Quelques repéres sur la recéption française de l’ouvre de
Manoel de Oliveira, Revue Tausend Augen, n° 28, p. 73-80.
LEVIN, David Michael, 1993 (ed.), Modernity and the Hegemony of Vision. Berkeley: University of
California Press.
LINS, Consuelo, 2007, O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo. Rio de Janeiro:
Zahar Editores.
LOFGREN, Orvar, 1989, “The nationalization of culture”, Ethnologia Europaea, XIX: 5-24.
LOIZOS, Peter, 1993, Innovation in Ethnographic film –from innocence to self-consciousness 1955-1985.
Manchester: Manchester University Press.
LOURENÇO, Eduardo, 2007, Sentido e forma da poesia neo-realista. Lisboa: Gradiva.
LOWENTHAL, David, 1985, The Past is a Foreign Country. Cambridge: CUP.
LUPI, J.; PINTO BASTO, 1984, A concepção de etnologia em Jorge Dias. Braga: Publicação Univ. Filosofia.
MACDONALD, Scott, 2001, The Garden in the Machine: A Field Guide to Independent Films about Place.
Berkeley: University of California Press.
328
MACDONALD, Sharon, 1997, Remaining Culture. Identities and Gaelic Renaissance. Oxford: Berg.
MACDOUGALL, David, 1975, Beyond observational cinema, Hockings, Paul (ed.) Principles of Visual
Anthropology. Mouton: The Hague.
MACDOUGALL, David, 1978, “Ethnographic film: failure and promise”, Annual Review of Anthropology,
7: 405-425.
MACDOUGALL, David, 1997, “The visual in anthropology”, Banks, Marcus; Morphy, Howard (eds)
Rethinking visual anthropology. Yale: Yale University Press, 276-295.
MACDOUGALL, David, 1998, Transcultural Cinema. Princeton: Princeton University Press.
MACDOUGALL, David, 2006, The corporeal image. Film, ethnography, and the senses. Princeton and
Oxford: Princeton University Press.
MACGREGOR, John, 1989, The discovery of the art of the insane. Princeton: Princeton Univ. Press.
MACHADO, Roberto, 2009, “Deleuze e o Cinema”, Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 245-297.
MADEIRA, Maria João, 2000, “Sobre António Campos”, António Campos, Catálogo Cinemateca. Lisboa:
Museu do Cinema: 17-35.
Manuel Costa e Silva. Catálogo dos X Encontros de Cinema Documental Amascultura. Lisboa,
Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, 1999.
MARCUS, George; MEYERS, Fred, 1995 (eds.), The Traffic in Culture : Refiguring Art and Anthropology ,
Berkeley: University of California Press.
MARSHALL, Bill, 2001, Québec National Cinema. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
MARTINEZ, Wilton, 1990, “Critical Studies and Visual Anthropology : Aberrant vs. Antecipated readings
of Ethnographic Film”, CVA Review, Spring : 34-47.
MARTINEZ, Wilton, 1992, “Who Constructs Anthropological knowledge? Toward a Theory of
Ethnographic Film Spectatorship”, Crawford, Peter ; Turton, David (eds.) Film as Ethnography.
Manchester: Manchester University Press, 131-61.
MARTINS, Fernando Cabral, 2005, “A arte mágica”, Nicolau, João (org.) João César Monteiro. Catálogo
Cinemateca Portuguesa. Lisboa: Museu do Cinema: 291-300.
MARX, Leo, 1964, The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America. N.Y,
Oxford: Univ. Press.
MARY, Philippe, 2006, La Nouvelle Vague et le cinema d’auteur. Sócio-analyse d’une révolution
artistique. Paris: Edições Seuil, Colecção Liber.
MATOS-CRUZ, José de, 1982, Anos de Abril, Cinema Português: 1974-1982. Lisboa: Instituto Português
de Cinema.
MATOS-CRUZ, José de, 1989, Prontuário do Cinema Português, 1896-1989. Lisboa: Cinemateca
Portuguesa.
MATOS-CRUZ, José de, 1998, Anuário do Cinema Português – 1997. Lisboa: Grifo.
329
MATOS-CRUZ, José de, 1999, O Cais do Olhar. Lisboa: Cinemateca Portuguesa.
MEDEIROS, António, 1995, “Cultura popular: notas para a sua imaginação”, Gabriela Funk, org., Actas do
1.º Encontro sobre Cultura Popular. Ponta Delgada: Universidade dos Açores: 315-336.
MIRZOEFF, Nicholas, 1998 (ed.), The Visual Culture reader. London: Routledge.
MITCHELL W.J.T., 1990, “Representation”, Lentricchia, Frank; McLaughlin, Thomas, (eds.), Critical Terms
for Literary Study. Chicago and London: Routledge University Press, 11-22.
MONTEIRO, João César, 2005a, “Recentemente, ao vasculharmos alguns papéis velhos...”, Nicolau, João
(org.) (2005) João César Monteiro. Catálogo Cinemateca Portuguesa. Lisboa: Museu do Cinema, 301.
MONTEIRO, João César, 2005b [1978], “Entrevista com João César Monteiro por António Pedro
Vasconcelos”, Nicolau, João (org.), João César Monteiro. Catálogo Cinemateca Portuguesa. Lisboa:
Museu do Cinema: 310-321.
MONTEIRO, Paulo Filipe, 1995, Autos da Alma: Os Guiões de Ficção do Cinema Português entre 1961 e
1990. Tese de Dotoramento, orientada por Eduardo Lourenço. Policopiada.
MONTEIRO, Paulo Filipe, 2004, “O fardo de uma nação”, Nuno Figueiredo e Diniz Guarda (orgs.),
Portugal: Um Retrato Cinematográfico. Lisboa: Número: Arte e Cultura.
MONTEIRO, Paulo Filipe, 2011, “Uma margem no centro: a arte e o poder do novo cinema”, Torgal, Luis
(coord.), O Cinema sob o olhar de Salazar, Temas e Debates. Lisboa: Círculo de Leitores, 306-338.
MONTE-MOR, Patrícia, 2004, “Tendências do documentário etnográfico”, Teixeira, Francisco (org.):
Documentário no Brasil: tradição e transformação. São Paulo: Summus.
MORPHY, Howard; BANKS, Marcus, 1997, Rethinking Visual Anthropology. New Haven and London: Yale
University Press.
MORRIS, Rosalind C., 1994, New Worlds from fragments. Film, Ethnography, and the Representation of
Northwest Coast Cultures. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press.
MOUTINHO, Anabela; LOBO, Maria da Graça, 1997 [orgs.], António Reis e Margarida Cordeiro. A poesia
da terra. Faro: Ed. Cineclube de Faro.
NEVES, José, 2010, Comunismo e nacionalismo em Portugal. Política, cultura e história no século XX,
Edição de Bolso. Lisboa: Tinta da China.
NICHOLS, Bill, 1991a,“The Ethnographer’s Tale”, Crawford, Peter I.; Simonsen, Jank (eds.), Ethnographic
Film Aesthetics and Narrative Traditions. Oslo: Intervention Press.
NICHOLS, Bill, 1991b, Representing Reality : Issues and Concepts in Documentary. Bloomington: Indiana
University Press.
NICOLAU, João (org.), 2005, João César Monteiro. Catálogo Cinemateca Portuguesa. Lisboa: Museu do
Cinema.
NUNES, Catarina, 2003, “Documentarismo e folclorização”, Castelo-Branco, Salwa; Branco, Jorge Freitas
(orgs.) Vozes do povo. A folclorização em Portugal. Oeiras: Celta Editores, 297 – 307.
Ó, Jorge Ramos do, 1992, “Salazarismo e cultura”, Serrão, Joel e Marques, António Oliveira (dir.), Nova
História de Portugal, XII, Fernando Rosas (coord.), Portugal e o Estado Novo. Lisboa: Editorial Presença,
330
391-454.
Ó, Jorge Ramos do, 1999, Os anos de Ferro. O dispositivo cultural durante a ‘Política do Espírito’, 19331949. Lisboa, Editorial Estampa.
O’BRIEN, Harvey, 2004, The Real Ireland. The Evolution of Ireland in Documentary Film. Manchester:
Manchester University Press.
OLIVEIRA, Ernesto V. et al, 1976, Alfaia Agrícola Portuguesa. Lisboa: Instituto de Alta Cultura.
OLIVEIRA, Ernesto V. et al, 1978, Tecnologia Tradicional Portuguesa, o Linho. Lisboa: INIC, Centro de
Estudos de Etnologia.
OLIVEIRA, Ernesto V. et al, 1986 [1964], Instrumentos Musicais Populares Portugueses. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, Museu Nacional de Etnologia.
OLIVEIRA, Luís Miguel, 1999, “Nota de Abertura”, Nouvelle Vague. Lisboa, Cinemateca Portuguesa, 1419.
OLSON , Jon L., 1988, “Filming the Fidencistas: The Making of We Believe in Nino Fidencio”, Rollwagen, J.
(Ed.), Anthropological Film-making. Harwood Academic Publishers, 259-272.
ONETO, Francisco, 1999, “O problema do aleatório: da coerção dos santos ao idioma da inveja”
Etnográfica, ed. CEAS (ISCTE), Vol. III (2), 271-291.
PARSI, Jaques, 2002, Manoel de Oliveira. Cineaste portugais XX siècle. Ed. Fundação Calouste
Gulbenkian. Centre Culturel Calouste Gulbenkian. Col. Arts du Spectacle.
PASSEK, Jean-Loup, 2000, António campos, um testemunho fraternal, António Campos, Catálogo
Cinemateca. Lisboa: Museu do Cinema, 37-39.
PAULO, Heloísa, 2011 [2001], “Documentarismo e propaganda. As imagens e os sons do regime”, Torgal,
Luis (coord) O Cinema sob o olhar de Salazar, Temas e Debates. Lisboa: Círculo de Leitores, 92- 137.
PEIRY, Lucienne, 2001, Art Brut. The Origins of Outsider Art. Paris: Flammarion.
PENAFRIA, Manuela, 2005, O Documentarismo do cinema. Tese de Doutoramento, texto policopiado.
Orientador : Prof. Doutor João Mário Grilo, Co-orientador: prof. Doutor António fidalgo. Setembro 2005.
PEREIRA, Benjamim,1992, “Três Filmes Etnográficos sobre Portugal”. Comentários. Centre Culturel
Calouste Gulbenkian. Separata Actas do Colóquio Ethnologie du Portugal: Unité et Diversité. Paris, Mars,
125-134.
PEREIRA, Benjamim, 1973, Máscaras Portuguesas. Lisboa: Museu de Etnologia do Ultramar, JIU.
PEREIRA, Benjamim, 1994, “Três filmes etnográficos sobre Portugal”, Ethnologie du Portugal: unité et
diversité. Actes du Colloque. Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 125-137.
PEREIRA, Benjamim, 2003, O Linho é um sonho. Brochura. Lisboa: Instituto Português de Museus/Museu
Francisco Tavares Proença Júnior.
PEREIRA, Rui, 1989, “Trinta anos de museologia etnológica em Portugal - breve contributo para a
história das suas origens”. Estudos de homenagem a Ernesto Veiga de Oliveira. Lisboa: INIC, Centro de
Estudos de Etnologia, 569-581.
331
PIAULT, Colette, 1992 (ed.), Journal des Anthropologues, 47-8 : Special Issue on Visual Anthroplogy.
PIAULT, Colette, 2007 “Visual Anthropology in Europe”, Engelbrecht (ed.) Memories of the origins of
ethnographic film. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europaischer Verlag der Wissenschaften.
PIÇARRA, Maria do Carmo, 2007, Salazar Vai ao Cinema. O “Jornal Português”de Actualidades Filmadas.
Coimbra: Minerva.
PINA, Luís de, 1977a, Aventura do Cinema Português. Lisboa: Vega.
PINA, Luís de, 1977b, Documentarismo português. Lisboa: Ed. Instituto Português de Cinema.
PINA, Luís de, 1978, Panorama do Cinema Português. Lisboa: Terra Livre.
PINA, Luís de, 1984, “Vinte Anos de Cinema inglês em Portugal”, Cinema Inglês, 1933-1983. Lisboa:
Cinemateca Portuguesa.
PINA, Luís de, 1986, História do Cinema Português. Lisboa: Publicações Europa-América, Colecção Saber.
PINA-CABRAL, João, 1991, Os contextos da Antropologia. Lisboa: Difel.
PINK, Sarah, 2007, Doing Visual Ethnography. London: SAGE Publications, , 2nd edition.
PITKIN, Hanna Fenichel, 1967, The concept of representation. Berkley, Los Angeles, Londres: University
of California Press.
PRÉDAL, René, 1986, “L’Image du paysan dans le cinéma mondial”, Cinéma et monde rural. Dossier réuni
par Michel Duvigneau et René Prédal. CinémAction, nº36, Paris : Cerf, 19-38.
PRETO, António, 2008, A construção da imagem”, Preto (ed.) Manoel de Oliveira: o cinema inventado à
letra. Fundação de Serralves, Jornal Público, 18-63.
RABIGER, Michael, 2004, Directing the Documentary. Stoneham: Focal Press, Fourth Edition.
RAMOS, Fernão, 1987, “Os Novos rumos do cinema brasileiro (1955-1979)” Ramos, Fernão (org) História
do cinema brasileiro. São Paulo: Art Editora.
RAMOS, Fernão, 2004, “Cinema verdade no Brasil”, Teixeira, Francisco E. (org.) Documentário no Brasil.
Tradição e transformação. São Paulo: Summus.
RAMOS, Jorge Leitão de, 1989, Dicionário do Cinema Português 1962-1988, Lisboa: Editorial Caminho.
RAPOSO, Paulo, 1998, “O Auto da floripes: ‘cultura popular’, etnógrafos, intelectuais e artistas,
Etnográfica, Vol. II, nº 2, Ed. CEAS /ISCTE, 189-219.
RAPOSO, Paulo, 2002, O papel das expressões performativas na contemporaneidade. Identidade e
Cultura Popular. Tese de Doutoramento, ISCTE.
Referências bibliográficas
REIS, Carlos, 1999, “Neo Realismo”, Barreto, A; Mónica, M. F. (eds.) Dicionário da História de Portugal.
Lisboa: Figueirinhas, Suplemento 8, 598.
RENOV, Michael, 1993, “Toward a Poetics of Documentary”, Renov, M. (ed.) Theorizing Documentary.
New York: Routledge University Press.
332
RHODES, Colin, 2000, Outsider Art, Spontaneous Alternatives. London: Thames and Hudson.
RIBEIRO, Felix, 1983, Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. Lisboa:
Cinemateca Portuguesa.
RIBEIRO, Orlando, 1963 [1945], Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Lisboa: Sá da Costa.
RIDENTI, Marcelo, 2000, Em busca do povo brasileiro. Artistas da revolução, do CPC à era da tv. Rio de
Janeiro e São Paulo: Editora Record.
ROBINS Kevin, 1996, Into the Image. Culture and Politics in theField of Vision. New York and London:
Routledge.
ROLLWAGEN, Jack, 1988 (ed.), Anthropological Filmmaking. Chur: Harwood Academic Publishers.
ROSE, Gillian, 2001, Visual Methodologies: An introduction to the Interpretation of Visual Materials.
London: Sage.
RUBY, Jay, 1975, “Is an ethnographic film a filmic ethnography?”, Studies in the Anthropology of Visual
Communication, Volume 2, Number 2, Fall 1975, 104-111.
RUSSELL, Catherine, 2003 [1993], Experimental Ethnography: The Work of Film in the Age of Video.
Duke University Press.
SALIBA, Elias Thomé, 1991, As utopias românticas. São Paulo: Brasiliense.
SANTOS, A. Videira, 1990, Para a História do cinema em Portugal. Do diafanorama aos cinematógrafos
de Lumiére. Lisboa: Ed. Cinemateca Portuguesa / Museu do Cinema.
SANTOS, Mariana P., 2005, “Realismo em Ernesto de Sousa – raízes de um percurso insólito”,
http://unlpt.academia.edu/MarianaPintodosSantos/Papers/126829
SCHAMA, Simon, 1995, Landscape and Memory. London: Fontana Press.
Semana do Novo Cinema Português: Programa. Cineclube do Porto, 1967, 79 pags.
SHARRATT Bernard, 1989, “ Communication and image studies : notes after Raymond Williams ”,
Comparatice Criticism, 11, 35.
SHAW, Lisa, 2007, “A Aldeia da Roupa Branca, Chianca de Garcia (1938)”, Ferreira, Overhoff, O Cinema
Português através dos seus filmes. Lisboa: Col. Campo do Cinema. Ed. Campo das Letras.
SILVA, Tomaz Tadeu, 2000, Teoria cultural e educação, um vocabulário crítico. Belo Horizonte:
Autêntica.
SONTAG, Susan, 1971, On Photography. New York: Picador.
SORLIN, Pierre, 1992, “Stop the Rural Exodus: Images of the Country in French Films of the 1950’s,”
Richard Dyer and Ginette Vincendean (eds.) Popular European Cinema. London, Routledge, 58-71.
SORLIN, Pierre, 1998 [1953], L'Univers filmique. Paris: Flammarion.
SOUSA, Ernesto, 1964, “Conhecimento da arte moderna e arte popular”, Arquitectura nº 83, Setembro,
90-99.
333
SOUSA, Ernesto, 1965, A Pintura Portuguesa Neo-Realista. Lisboa: Artis.
SOUSA, Ernesto, 1970, “Arte Popular e Arte Ingénua”, Separata do Colóquio (2), Tomo III, XXIX
Congresso Luso-Espanhol para Progresso das Ciências.
SOUSA, Ernesto, 1995 [1970] “ Um escultor ingénuo”, Onde Mora o Franklim ? Um Escultor do Acaso,
Catálogo do Museu Nacional de Etnologia, Dez. Instituto Português de Museus.
STOCKING, George, 1982, “Afterword: a view from the center” Ethnos, 47, 72-86.
STOCKING, George, 1989, “The Ethnographic sensibility of the 1920s and the dualism of the
Anthropological Tradition”, Stocking, (ed.) Romantic Motives. Essays on Anthropological Sensibility.
Madiosn: The University of Wisconsin Press, 208-276.
STOLLER, Paul, 1992, The cinematic griot: the ethnography of Jean Rouch. Chicago: Chicago University
Press.
TAGG, John, 1988, The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories. London:
MacMillan Education.
TANCELIN, P.; PARSI, J. (1988), Manoel de Oliveira. Paris: DisVoir.
TAYLOR, Lucien, 1994 (ed.), Visualizing Theory : Selected Essays from VAR 1990-1994. New York:
Routledge.
TEIXEIRA, Francisco E., 2004 (org.), Documentário no Brasil. Tradição e transformação. São Paulo:
Summus.
TOMASELLI, Keyan G., 1996, “Filmic ethnography versus the pluralist view” Appropriating Images – The
Semiotics of Visual Representation. Arhus: Intervention Press.
TORGAL, Luis, 2001 (coord), O Cinema sob o olhar de Salazar… Lisboa: Círculo de Leitores.
TORGAL, Luis, 2007, “A Revolução de Maio, António Lopes Ribeiro (1937)” Ferreira, C. Overhoff, O
Cinema Português através dos seus filmes. Col. Campo do Cinema. Lisboa: Ed. Campo das Letras, 39-45.
TURTON, David, 1992 (ed.), Film as Ethnography. Manchester: Manchester University Press.
VASCONCELOS, João, 1997, “Tempos remotos: a presença do passado na objectificação da cultura local”
in Etnográfica, vol I (2), 213-235.
VEIGA DE OLIVEIRA, Ernesto, 1986 [1964], Instrumentos Musicais Populares Portugueses. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Nacional de Etnologia.
VIÇOSO, Vítor, 2009, “O rural e o urbano no neo-realismo” Nova Síntese, textos e contextos do neorealismo, nº 4, O Rural e o Urbano no Neo-Realismo. Lisboa: Edições Colibri, 9-23.
VINCENDEAU, Ginette, 1995, “Introduction” Encyclopedia of european cinema, edited by Vincendeau, G.
New York: Facts On File.
WANDSCHNEIDER, Miguel, 1998, “Descontinuidade Biográfica e Invenção do Autor”, Catálogo Ernesto
de Sousa, Revolution my Body. Lisboa: FCG-CAMJAP.
WILLIAMS, Raymond, 1973, The Country and the City. New York: Oxford University Press.
334
WILLIAMS, Raymond, 1994 [1961], The Long Revolution. London: Chatto and Winds.
WINSTON, Brian, 1988 [1978], “Documentary, I think we are in trouble ”, New Challenges for
Documentary, ed. A. Rosenthal, Berkeley : University of California Press.
WOLF, Eric R., 2011, Pathways of Power: Building an Anthropology of the Modern World. Berkeley:
University of California Press.
WOLF, Gotthard, 1972, Folheto 20 anos do IWF. Edição trilingue (alemão francês e inglês). Lisboa:
Arquivos do Museu Nacional de Etnologia.
XAVIER, Ismail, 2007 [1983], Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da fome. São Paulo: Cosac Naify.
335
ANEXO 1. CRONOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DE FILMES VISIONADOS
Ano
Ficção
Documentário
Filme Etnográfico
Acto da Primavera,
Manoel de Oliveira 1962,
90’231
Ílhavo, Cestaria de Verga, Cor,
9 min. Ernesto Veiga de Oliveira
e Benjamim Pereira230
A Almadraba Atuneira, António
Campos 1961, 26’
Dança de Genebres, Danças de
Donzelas, Lousã, cor 10’, 1962
Dança das Virgens, Lousã, côr,
7’, 1962
Tear de Esteiras, Alcácer do
Sal, p/b, 11’, 1962 Ernesto
Veiga de Oliveira e Benjamim
Pereira.
1960
1961
1962
D. Roberto, Ernesto
de Sousa, 1962, 101’
1963
A Caça, Manoel de
Oliveira 1963232, 21’
Os Verdes Anos,
Paulo Rocha, 1963,
85’
1964
Belarmino, Fernando
Lopes, 1964, 72’
As Pinturas do Meu Irmão
Júlio, Manoel Oliveira
1965, 16’
1965
1966
O Pão, 1964, Manoel Oliveira
24’
Mudar de Vida, Paulo
Rocha, 1966, 94’
196768
1969
Sophia de Mello Breyner
Andresen, João Cesar
Monteiro 1969, 17’
A Grande Roda, Manuel
Costa e Silva 1969, 15’
1970
Quem Espera por
Sapatos de Defunto
Morre Descalço, João
Cesar Monteiro 1970,
Filmes realizados no
âmbito da Colaboração
com o Instituto de
Gottingen, F. Simon, E.V
230
Falta datar uma série destes filmes: TERRAS DE BASTO, MALHAS DE CENTEIO 8 MIN COR, LITORAL NORTE,
APANHA DE SARGAÇO COR, 30 MIN MALHADA SORDA, OLARIA « PRIMITIVA » COR, 14 MIN CAMPO MAIOR,
OLARIA SEM TORNO, NEM RODA COR, 13 MIN ASSEISSEIRA, OLARIA SEM TORNO, NEM RODA COR, 11 MIN
MONSANTO, FESTAS DO CASTELO COR,5MIN 15 S
231
Manoel de Oliveira tinha feito previamente Douro, Faina Fluvial, 1931, 19’(visto), Hulha Branca, 1932, 7’
(visto), Famalicão, 1940, 23’ (visto), Aniki Bóbó, 1942, 71’ (visto), O Pintor e a Cidade, 1956, 27’ (visto)
232
Estreia em 1970.
336
34’
1971
1972
1973
1974
O Passado e o
Presente, Manoel
Oliveira 1971, 116’
Fragmentos de um
Filme-Esmola João
Cesar Monteiro 1973,
74’
A Sagrada Família,
João Cesar Monteiro
1973, 74’
Benilde ou a Virgem
Mãe, Manoel Oliveira
1974, 106’
1975
1976
de Oliveira e B.Pereira
(quadro em baixo) 233
Vilarinho das Furnas, António
Campos 1971, 77’
Trás-os-Montes,
António Reis e
Margarida Cordeiro,
1976, 111’
Festa, Trabalho e Pão em
Grijó de Parada, Manuel
Costa e Silva 1973
Jaime, 1974, António Reis,
35’
Deus Pátria e Autoridade,
Rui Simões, 1974, 103’
Brandos Costumes,
Alberto Seixas Santos,
1974, 72’
Falamos de Rio de Onor,
António Campos 1974, 62’
Que Farei Eu Com Esta
Espada?, João Cesar
Monteiro 1975, 66’
As Armas e o Povo,
Manuel Costa e Silva 1975,
81’
Apanha da Azeitona,
Cinequipa, 1975
Revolução, Ana Hatherly,
1975, 11’
Direito à Habitação, 1975
Liberdade para José Diogo,
Luís Galvão Telles, 1975
São Pedro da Cova, Rui
Simões, 1976
Continuar a Viver ou Os
índios da meia praia, A
Cunha Telles, 1976, 108’
Cravos de Abril, Ricardo
Costa
Deolinda Seara Vermelha,
Luis Gaspar
A luta do Povo, Grupo
Zero, 1976, 29’
Gente da Praia da Vieira,
António Campos 1975, 72’
A Festa, 1975, António Campos
24’
233
Máscaras, Noémia Delgado,
1976, 110’
Pastoreio no Barroso, Vacaria
no Monte Maçãs, p/b, 40’,
1976 Ernesto Veiga de Oliveira
e Benjamim Pereira.
Uma Vessada no Alto Minho,
Paredes de Coura, p/b, 35’,
1976 Ernesto Veiga de Oliveira
e Benjamim Pereira.
Os elementos constantes dos quadros apresentados foram retirados da “Lista dos Filmes do Arquivo Geral
e Arquivo Parcial do IWF”, do Centro de Estudos de Antropologia Cultural, manuscrito. Existe uma grande
colecção destes filmes do IWF (o mais antigo é de 1948, o mais recente é de 1973, são filmes de temáticas
etnológicas da Europa, África, Ásia, Austrália, América).
337
1977
1978
1979
….Pela razão que têm…,
José Nascimento, 1976,
Veredas, João Cesar
Ex-Votos Portugueses,
Monteiro 1977, 119’
1977, António Campos 36’
Madanela, Manuel Costa e
Nós por cá todos
Silva 1977
bem, Fernando Lopes, Argozelo – À Procura dos
1977, 81’
Restos das Comunidades
Judaicas, Fernando Matos
Silva, 1977, 104’
Gentes do Norte ou a
História de Vila Rica,
Leonel Brito, 1977, 53’
Operação Boa Colheita,
Luis Gaspar, 1977, 26’
Terra de pão terra de luta,
José Nascimento, 1977, 68’
25 Canções de Abril, 1977,
57’
Amor de Perdição,
Manoel Oliveira 1978,
261’
Histórias Selvagens,
1978, António
Campos 102’
Alexandre e Rosa,
João Botelho, Jorge
Alves da Silva, 1978,
20’
O Amor das Três
Romãs, João Cesar
Monteiro 1979, 26’
Os Dois Soldados,
João Cesar Monteiro
1979, 27’
A Mãe, 1979, João
Cesar Monteiro 27’
Maria, 1979, João
Mário Grilo, 81’
338
Cestaria de Madeira
Rachada, Tecla, Celorico
de bastos, p/b, 25 min.
1977.
Feitura de Uma Crossa em
Juncos, Deão, Viana do
Castelo, p/b, 35 min.,
1977
Ernesto Veiga de Oliveira e
Benjamim Pereira.
Lavra em Bucos, p/b,
1978,Ernesto Veiga de
Oliveira e Benjamim
Pereira.
O Ciclo do Linho, (Planta,
Fibra, Fio, Tecido) p/b,
1978 Ernesto Veiga de
Oliveira e Benjamim
Pereira.
Tear Vertical de Cilhas, S.
Braz de Alportel, p/b, 13
min., 1978 Ernesto Veiga
de Oliveira e Benjamim
Pereira.
1980
Cerromaior, Luis
Filipe Rocha, 1980,
90’
Bom povo português, Rui
Simões, 1980, 132’
1980
(cont)
1981
1982...
Silvestre, 1981, João
Cesar Monteiro 118’
Guerra do Mirandum,
Fernando Matos Silva,
1981, 120’
Ana, António Reis e
O Movimento das Coisas,
M. Cordeiro, 1982
Manuela Serra, 1985
339
Terras de Miranda, Debulhas a
Trilho, cor, 11’ 30’’,
Engenho de Serração,
Gemeses, Esposende, pb, 15’.
Tear de Esteiras, Arzila,
Coimbra, pb, 9’
Benção do Gado e Procissão,
Sta Vitória do Ameixoal,
Estremoz, pb, 13’
Azenha, Gemeses, Esposende,
pb, 4’
Engenho do Linho de Tracção
Animal, Ordins, Penafiel, pb, 12
min., 1980
Moinhos de Vento, Santa Cruz,
Almodovar, pb, 30’ Ernesto
Veiga de Oliveira e Benjamim
Pereira. 1980
ANEXO 2. Quadro 1)
Filmes realizados por Ernesto Veiga de Oliveira e Benjamim Pereira, com câmara de B.P
e colaboração de C. Ladeira (referenciado a partir de 1977)234
TERRAS DE BASTO, MALHAS DE CENTEIO
TERRAS DE MIRANDA, DEBULHAS A TRILHO
LOUSÃ,DANÇAS DE GENEBRES, DANÇAS DE
DONZELAS
LITORAL NORTE, APANHA DE SARGAÇO
ÍLHAVO, CESTARIA DE VERGA
MALHADA SORDA, OLARIA « PRIMITIVA »
CAMPO MAIOR, OLARIA SEM TORNO, NEM RODA
ASSEISSEIRA, OLARIA SEM TORNO, NEM RODA
PASTOREIO NO BARROSO, VACARIA NO MONTE
MAÇÃS
PAREDES DE COURA, UMA VESSADA NO ALTO
MINHO
MONSANTO, FESTAS DO CASTELO
LAVRA EM BUCOS
LINHO, PLANTA
LINHO, FIBRA
LINHO, FIO
LINHO, TECIDO
ENGENHO DE SERRAÇÃO, GEMESES, ESPOSENDE
TEAR VERTICAL DE CILHAS, S. BRÁZ DE ALPORTEL
CESTARIA DE MADEIRA RACHADA, TECLA,
CELORICO DE BASTOS
DANÇA DAS VIRGENS, LOUSÃ
TEAR DE ESTEIRAS, ALCÁCER DO SAL
TEAR DE ESTEIRAS, ARZILA, COIMBRA
BENÇÃO DO GADO E PROCISSÃO, STA VITÓRIA DO
AMEIIXOAL , ESTREMOZ
AZENHA, GEMESES, ESPOSENDE
ENGENHO DO LINHO DE TRACÇÃO ANIMAL,
ORDINS, PENAFIEL
FEITURA DE UMA CROSSA EM JUNCOS, DEÃO,
VIANA DO CASTELO
MOINHOS DE VENTO, SANTA CRUZ, ALMODOVAR
234
COR, 8 MIN
COR,
11M
30S
COR, 10 MIN
?
1980
COR, 30 MIN
COR, 9 MIN
COR, 14 MIN
COR, 13 MIN
COR, 11 MIN
P/B, 40 MIN
?
1960
?
?
?
1976
P/B, 35 MIN
1976
COR,5MIN 15
S
P/B
P/B
P/B
P/B
P/B
P/B, 15 MIN.
P/B, 13 MIN.
P/B, 25 MIN
1978
1978
1978
1978
1978
1980
1978
1977
COR, 7 MIN
P/B, 11 MIN
P/B, 9 MIN
P/B, 13 MIN
1962
1962
1980
1980
P/B, 4 MIN
P/B, 12 MIN
1980
1980
P/B, 32 MIN
1977
P/B, 30 MIN
1980
1962
Os elementos constantes do quadro apresentado foram retirados da “Lista dos Filmes do
Arquivo Geral e Arquivo Parcial do IWF”, do Centro de Estudos de Antropologia Cultural,
manuscrito.
340
QUADRO 2)
Filmes realizados no âmbito da Colaboração com o Instituto de Gottingen, na
Alemanha . Feitos por F. Simon, E.V de Oliveira e B. Pereira 235
ROMARIA DE S. BARTOLOMEU DO
MAR
APANHA DO SARGAÇO EM
CASTELO DO NEIVA
ROMARIA DE SÃO JOÃO D’ARGA
ROMARIA DE SALVADOR DO
MUNDO
PESCA DE ARRASTO NA TORREIRA
APANHA DE MOLIÇO NA RIA DE
AVEIRO
UMA MALHA EM TECLA- TERRAS
DE BASTO
COZEDURA DO PÃO EM PERAFITA
JOGO DO PAU EM BASTOS
FEIRA ANUAL E TOURADA EM
CUBA
TOURADA EM FORCALHOS
PISOAGEM EM TABUADELA
OLARIA EM MALHADA SORDA I
COZEDURA DE LOUÇA EM
MALHADA SORDA II
235
MINHO
21MIN
1970
MINHO
11 MIN
1970
MINHO
TRÁS-OSMONTES
BEIRA
LITORAL
BEIRA
LITORAL
MINHO
24 MIN
15 MIN
1970
1970
18 MIN
1970
9 MIN
1970
22 MIN
1970
TRÁS-OSMONTES
MINHO
ALENTEJO
22 MIN
1970
8 MIN
16 MIN
1970
1970
BEIRA ALTA
TRÁS-OSMONTES
BEIRA ALTA
BEIRA ALTA
24 MIN
12 MIN
1970
1970
20 MIN
12 MIN
1970
1970
Os elementos constantes dos quadros apresentados foram retirados da « Lista dos Filmes do
Arquivo Geral e Arquivo Parcial do IWF », do Centro de Estudos de Antropologia Cultural,
manuscrito.
341
QUADRO 3)
Distribuição dos filmes segundo as categorias utilizadas nas fichas do Centro de Estudos
de Etnologia
DANÇA DAS VIRGENS, LOUSÃ, COR,
7 MIN, 1962
LOUSÃ, DANÇAS DE GENEBRES, DANÇAS DE DONZELAS, COR,
10 MIN, 1962
MONSANTO, FESTAS DO CASTELO
COR, 5MIN 15 S, sem data (1963?)
Religião Popular
(7)
ROMARIA DE S. BARTOLOMEU DO MAR , MINHO
21 MIN, 1970 (com IWF)
ROMARIA DE SÃO JOÃO D’ARGA, MINHO
24 MIN, 1970 (com IWF)
ROMARIA DE SALVADOR DO MUNDO, TRÁS-OS-MONTES
15 MIN, 1970 (com IWF)
BENÇÃO DO GADO E PROCISSÃO, STA VITÓRIA DO AMEIIXOAL
ESTREMOZ,
P/B, 13 MIN 1980
MALHADA SORDA, OLARIA « PRIMITIVA »
COR, 14 MIN
Olaria
(5)
CAMPO MAIOR, OLARIA SEM TORNO, NEM RODA
COR, 13 MIN Sem data
ASSEISSEIRA, OLARIA SEM TORNO, NEM RODA
COR, 11 MIN, Sem data
OLARIA EM MALHADA SORDA I, BEIRA ALTA
20 MIN, 1970 (com IWF)
COZEDURA DE LOUÇA EM MALHADA SORDA II, BEIRA ALTA
12 MIN, 1970 (com IWF)
342
TEAR DE ESTEIRAS, ALCÁCER DO SAL
P/B, 11 MIN, 1962
Fiação e Tecelagem
(5)
O CICLO DO LINHO- LINHO, PLANTA (39 min), LINHO, FIBRA (32
min), LINHO, FIO (32 min) LINHO, TECIDO (55 min)
P/B, 1978
TEAR VERTICAL DE CILHAS, S. BRÁZ DE ALPORTEL
P/B, 13 MIN. 1978
ENGENHO DO LINHO DE TRACÇÃO ANIMAL, ORDINS, PENAFIEL
P/B, 12 MIN 1980
TEAR DE ESTEIRAS, ARZILA, COIMBRA
P/B, 9 MIN
1980
TERRAS DE BASTO, MALHAS DE CENTEIO
COR, 8 MIN S/D
Debulha
(3)
Agricultura
(2)
Barracos de
Sargaceiro
(2)
Cestaria
(2)
Festas Agrárias
(2)
Sargaço
(1)
Azenhas
(1)
Moinhos de Vento
(1)
UMA MALHA EM TECLA- TERRAS DE BASTO MINHO
22 MIN 1970
TERRAS DE MIRANDA, DEBULHAS DE CENTEIO A TRILHO,
COR, 11M 30S, 1980
PAREDES DE COURA, UMA VESSADA NO ALTO MINHO
P/B, 35 MIN, 1976
LAVRA EM BUCOS, P/B, 1978 (1977?)
LITORAL NORTE APANHA DE SARGAÇO
COR, 30 MIN
APANHA DO SARGAÇO EM CASTELO DO NEIVA, MINHO
11 MIN, 1970 (com IWF)
ÍLHAVO, CESTARIA DE VERGA
COR, 9 MIN, 1960
CESTARIA DE MADEIRA RACHADA, TECLA, CELORICO DE BASTOS
P/B, 25 MIN, 1977
TERRAS DE BASTO, MALHAS DE CENTEIO
COR, 8 MIN S/D
UMA MALHA EM TECLA- TERRAS DE BASTO
MINHO 22 MIN, 1970 (com IWF)
APANHA DO SARGAÇO EM CASTELO DO NEIVA, MINHO
11 MIN, 1970 (com IWF)
AZENHA, GEMESES, ESPOSENDE
P/B, 4 MIN, 1980 (mal iluminado, escuro)
MOINHOS DE VENTO, SANTA CRUZ, ALMODOVAR
P/B, 30 MIN, 1980 (desfocado)
343
Moliços
(1)
Pastoreio
(1)
Pescas
(1)
Feiras
(1)
Touradas
(1)
APANHA DE MOLIÇO NA RIA DE AVEIRO, BEIRA LITORAL
9 MIN, 1970 (com IWF)
PASTOREIO NO BARROSO, VACARIA NO MONTE MAÇÃS
P/B, 40 MIN, 1976
PESCA DE ARRASTO NA TORREIRA, BEIRA LITORAL
18 MIN, 1970
FEIRA ANUAL E TOURADA EM CUBA, ALENTEJO
16 MIN, 1970 (com IWF)
TOURADA EM FORCALHOS, BEIRA ALTA
24 MIN, 1970 (com IWF)
COZEDURA DO PÃO EM PERAFITA, TRÁS-OS-MONTES
22 MIN, 1970 (com IWF)
JOGO DO PAU EM BASTOS, MINHO
8 MIN, 1970 (com IWF)
Outras
(6)
COZEDURA DO PÃO EM PERAFITA
TRÁS-OS-MONTES 22 MIN, 1970 (com IWF)
PISOAGEM EM TABUADELA, TRÁS-OS-MONTES
12 MIN, 1970 (com IWF)
FEITURA DE UMA CROSSA EM JUNCOS, DEÃO, VIANA DO
CASTELO
P/B, 32 MIN, 1977
ENGENHO DE SERRAÇÃO, GEMESES, ESPOSENDE
P/B, 15 MIN. 1980
344
ANEXO 3. Descrição de locais e tempo de filmes visionados, por realizador.
Nome do filme
Acto da Primavera,
M. Oliveira, 1962, 90’
Espaço / Local
Aldeia de Curalha (Chaves)
Exteriores, paisagem “selvagem”
e não humanizada
A Caça,
MO 1963, 21’
O Pão,
MO 1964, 24’
Benilde ou a Virgem Mãe,
MO 1974, 106’
Veredas,
J. César Monteiro, 1977,
119’
Ria de Aveiro, Torreira
Tempo
Actual no início (Viagem à
Lua é notícia; Jovens no Int.
de um Chevrolet que
chegam á aldeia). Flashback Intemporal no Acto
Intemporal
Rural e Urbano não definidos
Intemporal
Interior de uma Casa Rural
“A acção deste filme supõese decorrer nos anos 30”
O Amor das Três Romãs,
JCM 1979, 26’
Os Dois Soldados,
JCM 1979, 27’
A Mãe,
JCM, 1979, 27’
Silvestre,
JCM, 1981, 118’
Arraiolos (Monte da
Ravasqueira), Costa da Caparica,
Duas Igrejas, Guadramil,
Montalegre, Paradela (Miranda
do Douro), Paradela do Rio,
Pitões das Júnias, Póvoa do
Lanhoso, ria de Aveiro (Murtosa),
rio Douro, rio Lima, Rio de Onor,
rio Tuela, Sanfins (Chaves), serra
da Estrela, serra do Gerês, serra
da Mourela, Soajo.
Rural, talvez Trás-os-Montes
Paisagem Rural, talvez Trás-osMontes
Rural
Lebução no Concelho de
Valpaços
Rural talvez Trás-os-Montes
A Almadraba
Atuneira
António Campos,
1961,
Ilha de Abóbora (Costa do
Algarve)
Vilarinho das Furnas,
AC, 1971, 77’
Vilarinho sa Furnas (Gerês)
Falamos de Rio de Onor,
AC, 1974, 62’
Rio de Onor
Intemporal mas remete
para a Idade Média (História
de Branca Flor, in « Contos
Tradicionais Portugueses »)
Tempo definido pela
Música: Popular de regiões
de Trás-os-Montes e Alto
Alentejo, instrumental da
Idade Média
Idade Média (universo da
fábula popular)
Idade Média. “Filmado
durante a semana do Natal
de 1978”
Idade Média Musica da
Idade Média interpretada
por Segréis de Lisboa.
Música popular portuguesa
interpretada por Grupo
Etnográfico de Tuizelo.
Actual, “1961, de Março a
Setembro(…) a ultima
campanha deste arraial,
destruido pelo mar no
Inverno de 1962”
Actual
Actual com um flash back
no início
345
Gente da Praia da Vieira,
AC, 1975, 72’
A Festa,
AC, 1975, 24’
Histórias Selvagens,
AC, 1978, 102’
Jaime,
A. Reis, 1974, 35’
Trás-os-Montes,
AR/M. Cordeiro, 1976,
111’
Ana,
AR/MC, 1982(?)
Festa, Trabalho e Pão em
Grijó de Parada,
M. Costa e Silva, 1973
Madanela,
MCS, 1977
Mudar de Vida
Paulo Rocha, 1967
Praia da Vieira, Leiria
Actual
Praia da Vieira, Leiria
Actual. Festas de S.Pedro, 9
e 10 de Agosto de 1975
Actual mas sobre a História
Mirobriga, Montemor o Velho
Rio Mondego
Hospital Miguel Bomabarda e
zona Rural
Fregusia de Berco, Covilhã
Bragança e Miranda do Douro:
Serra de Nogueiro, Aguas Vivas,
Rabal, Babe, Rebordãos, Duas
Igrejas, Gimonde, Rio de Onor,
Rio Rabaçal, S.J de Palácios, Serra
Montesinho, Portelo, Alferim,
Montesinho, Bragança, Pinela,
Algoso, Espinhosela.
“Inteiramente rodado em Terras
de Miranda do Douro e
Bragança”
Grijó de Parada
Venda, entre Monsaraz e
Mourão. Unidade colectiva de
produção 6 de Janeiro da
Terrugem.
Furadouro (pescadores) /
Costa Norte
Entre 1938 e 1969 vive
Jaime
Remete para o passado
Intemporal
Remete para o passado
Intemporal
Actual com a presença da
equipa assumida /
Intemporal (P&B)
Actual
Actual mas remete para o
passado
….Pela razão que têm…,
José Nascimento, 1976
Rio Maior
Actual
Deolinda Seara Vermelha,
Luis Gaspar, 1975.
A Luta do Povo
Grupo Zero (Solveig
Norlund).
Apanha da Azeitona
Cinequipa, 1975, 40’
Máscaras, Noémia
Delgado, 1976, 110’
Alvalade (Alentejo)
Cooperativa Seara Vermelha
Santa Catarina (Alentejo)
Actual
Aveiras de Cima
Actual
Trás-os-Montes
Varge, Grijó de Parada,
Bemposta, Rio de Onor,
Podence, Bragança
Trás-os-Montes
Intemporal
Argozelo – À Procura dos
Restos das Comunidades
Judaicas, Fernando Matos
Silva, 1977, 104’
346
Actual
Intemporal,
347
Download