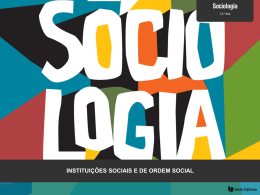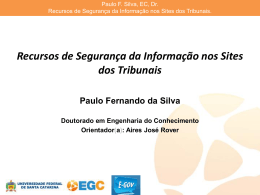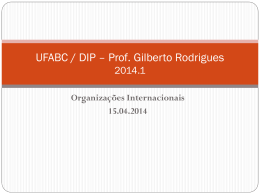CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL MESA REDONDA A CONCORRÊNCIA E OS CONSUMIDORES (Organizado pelo CES e realizado em S. João do Estoril, Centro de Caparide, a 16 de Março de 2001) Lisboa, 2001 1 Lista de Participantes Dr. Carlos Ferreira de Almeida, Faculdade de Direito UNL Dr. Luís Pais Antunes, PLMJ Sociedade Advogados Professor Doutor Pedro Pitta Barros, Faculdade de Economia UNL Dra. Paula Bernardo, UGT Dr. Vítor João Gonçalves Ribeiro Calvete, Conselho da Concorrência Dr. Pedro Ferraz da Costa, Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa Professor Doutor Eduardo Paz Ferreira, Faculdade de Direito UL Eng.º João Pinto Ferreira, CentroMarca Dr. Manuel Ataíde Ferreira, DECO Professor Doutor Nuno Garoupa, Universitat Pompeu Fabra Manuel Francisco Guerreiro, CGTP-IN Dr. Amilcar Ramos, CGTP-IN Dr. Jorge Pegado Liz, DECO Dr. José da Silva Lopes, Moderador da Sessão em que se debateu a «Defesa da Concorrência e Defesa do Consumidor», Presidente do Conselho Económico e Social Professora Doutora M.ª Manuel Leitão Marques, Moderadora da Sessão em que se debateu a «Defesa da Concorrência, defesa do consumidor e entidades reguladoras», Observatório do Comércio Dr. Mário Marques Mendes, Marques, Mendes & Associados Dra. Cristina Morais, Confederação dos Agricultores de Portugal Professor Doutor Luís Valente de Oliveira, Moderador da Sessão em que se debateu «O Papel Económico dos Tribunais», Membro do Conselho Económico e Social Dr. Jorge Pereira, União Geral de Trabalhadores Dr. Alberto do Nascimento Regueira, DECO Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues, Conselho da Concorrência Eng.º José Álvaro Ubach Chaves Rosa, Conselho da Concorrência Dr. João Salgueiro, Membro do Conselho Económico e Social Professor Doutor Vasco Santos, Faculdade de Economia UNL Dr. José de Almeida Serra, Moderador da Sessão em que se debateu a «Política Portuguesa de Defesa da Concorrência», Membro do Conselho Económico e Social Eng.º Álvaro Neves da Silva, Instituto Nacional dos Transportes Dr. Miguel Moura e Silva, Conselho da Concorrência 2 Dr. Luís Silveira, Procuradoria Geral da República Dr. Nuno Fernandes Thomaz, Confederação da Indústria Portuguesa Dr.-Ing. Jorge Vasconcelos, Autoridade Reguladora do Sector Eléctrico Doutor José Luís da Cruz Vilaça, PLMJ – Sociedade de Advogados Relator: Dr. Duarte Brito, Faculdade de Economia UNL 3 Índice CAPÍTULO I – Defesa da Concorrência e Defesa do Consumidor Defender a concorrência para proteger o consumidor Apresentação do tema: Dr. Alberto Regueira Antecedentes da defesa do consumidor O aparecimento da defesa do consumidor Objectivos da defesa do consumidor Concorrência e a defesa do Consumidor O impacto da globalização Considerações finais 11 12 12 13 15 17 Defesa da concorrência Apresentação do tema: Professor Doutor Pedro Pitta Barros Introdução Distinção entre defesa do consumidor e defesa da concorrência Instrumentos para a defesa da concorrência Questões em debate 18 19 20 20 Debate Dr. Jorge Pegado Liz A importância do «fair trade» 22 Professora Doutora Maria Manuel Leitão Marques Haverá lugar para uma política de defesa da concorrência numa pequena economia aberta? 22 Relevância da procura para a defesa da concorrência A marca enquanto garante da defesa do consumidor 23 23 Professor Doutor Valente de Oliveira A importância da formação do consumidor O papel da comunicação social O conflito entre o regulador e a defesa da concorrência 23 24 24 Eng.º José Chaves Rosa A fixação administrativa dos preços Concorrência desleal ou concorrência agressiva? 25 24 Dr. Nuno Fernandes Thomaz O valor das coimas e a nova legislação da concorrência 25 Eng.º João Pinto Ferreira Complementaridade entre defesa do consumidor e defesa da concorrência 4 26 Relevância da procura para a defesa da concorrência Dr. José de Almeida Serra 27 27 Dr. Manuel Ataíde Ferreira Derrogações ao funcionamento correcto da concorrência 29 Dr. Miguel Moura e Silva «Regulatory capture» da autoridade responsável pela defesa da concorrência 30 As sanções aplicadas: coimas e indemnizações 30 Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues Os produtores/distribuidores de energia e a concorrência A concentração através da banca 31 32 Dr. Luís Silveira A concentração na distribuição não trará benefícios para o consumidor? 33 Dr. Victor Calvete Defesa da concorrência versus defesa do consumidor 33 Dr. João Salgueiro Defesa da concorrência apenas a jusante? Especificidades da banca 34 35 Dr. Mário Marques Mendes Defesa da concorrência versus defesa do consumidor Regulação de sectores com «essential facilities»/ «infra-estruturas essenciais» 36 37 Dr. Alberto Regueira A marca enquanto garante da defesa do consumidor 38 A importância da formação do consumidor e o papel da comunicação social 38 Outras questões 39 Professor Doutor Pedro Pitta Barros Haverá lugar para uma política de defesa de concorrência numa economia aberta? Relevância da procura para a defesa da concorrência Concorrência, variedade e direito de escolha 39 40 40 CAPÍTULO II – Política Portuguesa de Defesa da Concorrência Instituições de defesa da concorrência em Portugal e a sua actuação Apresentação do Tema: Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues «A primazia da economia de mercado» Defesa da concorrência nos EUA Defesa da concorrência na Europa Antecedentes da defesa da concorrência em Portugal 5 42 43 44 45 Caracterização das autoridades nacionais de concorrência Pontos fracos da defesa da concorrência em Portugal 46 48 Comentários à política da concorrência em Portugal: legislação e prática Comentário ao Tema: Dr. Mário Marques Mendes Duas decisões paradigmáticas Influência do direito comunitário no direito nacional da concorrência A aplicação do direito comunitário da concorrência pelas autoridades de concorrência e pelos tribunais nacionais A distribuição selectiva A prescrição do procedimento contra-ordenacional Concentrações 53 54 55 56 57 58 Comentário ao Tema: Dr. Pedro Ferraz da Costa A existência de interesses contrários à concorrência Comparação com o modelo espanhol Os problemas das instituições nacionais 61 62 63 Debate Eng.º João Pinto Ferreira A política da concorrência é muito mais do que o direito de defesa da concorrência Uma tripla reforma A rapidez de resposta das autoridades 65 66 66 Professora Doutora Maria Manuel Leitão Marques Política de concorrência e direito de concorrência O abuso de dependência económica e a importância dos códigos de conduta 67 67 Dr. Luís Silveira Três perguntas sobre o estatuto do Conselho da Concorrência 68 Professor Doutor Pedro Pitta Barros O Estado promotor de monopólios e defensor da concorrência Criação de um Conselho da Concorrência sombra Grande distribuição: Ganho para os consumidores? 68 69 69 Eng.º José Chaves Rosa Política de concorrência e direito de concorrência Experiências de aplicação de defesa da concorrência Dr. Pedro Ferraz da Costa A estrutura da indústria criada pelo Governo é contraditória com a defesa da concorrência 6 69 70 71 Dr. Mário Marques Mendes O Estado e a política de concorrência O papel das associações empresariais 72 73 Dr. Pedro Ferraz da Costa O papel das associações empresariais 74 Dr. Victor Calvete 75 Dr. Mário Marques Mendes 75 Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues A cultura da concorrência em Portugal Reforma das instituições O estatuto do Conselho da Concorrência e a iniciativa É necessário acabar com alguns dos quatro graus de recurso 75 76 76 77 CAPÍTULO III – O papel económico dos tribunais Tratamento dos problemas de defesa da concorrência nos tribunais Portugueses Apresentação do Tema: Professor Doutor Eduardo Paz Ferreira As atribuições dos tribunais portugueses em matéria de aplicação das regras de concorrência A distribuição da competência pelos vários tribunais portugueses e suas consequências Prática dos tribunais portugueses em matéria de defesa da concorrência O novo projecto de regulamento comunitário sobre a concorrência e o seu reflexo sobre os tribunais Dificuldades com que os tribunais se deparam em matéria de concorrência 78 80 81 82 84 Análise económica do funcionamento dos tribunais portugueses Apresentação do Tema: Professor Doutor Nuno Garoupa Nota introdutória A importância da jurimetria Objectivos económicos dos tribunais A morosidade da justiça Impacto do aumento do número de juízes Políticas sobre o preço Possíveis reformas na magistratura e advocacia Agências anti-trust ou tribunais? Conclusões 7 87 87 88 89 90 91 91 93 94 Debate Professor Doutor Luís Valente de Oliveira 95 Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues Os incentivos na carreira dos juizes A descentralização, o tribunal especializado e a formação dos juizes 95 96 Professora Doutora Maria Manuel Leitão Marques A crise da justiça em Portugal Descentralização: harmonização da lei mas não das performances? Comentário à análise económica dos tribunais 97 97 97 Dr. Luís Pais Antunes Tribunal especializado e não tribunal de especialistas Formação ao nível da magistratura O problema do imobilismo Os mecanismos da auto-regulação como forma de resolução de conflitos 98 99 99 100 Dr. Victor Calvete Poderão os tribunais atribuir indemnizações por violações da lei de concorrência? Outra perspectiva sobre remunerações 100 100 Dr. Mário Marques Mendes A aplicação do direito comunitário da concorrência pelas autoridades de concorrência e pelos tribunais nacionais Em defesa de uma análise multidisciplinar Formação ao nível dos advogados 101 101 101 Professor Doutor Pedro Pitta Barros Os custos de eficiência económica Tribunal especializado: fórum para o debate entre juristas e economistas 102 102 Professor Doutor Nuno Garoupa Comentários gerais 102 Professor Doutor Eduardo Paz Ferreira O ensino de Economia nas faculdades de Direito 103 A aplicação de sanções mais pesadas em Portugal O papel dos tribunais arbitrais Incentivos na carreira dos juizes A actuação dos advogados 104 8 103 104 104 Poderão os tribunais atribuir indemnizações por violação da lei de concorrência? 104 CAPÍTULO – IV – Defesa da concorrência, defesa do consumidor e entidades reguladoras Visão da teoria económica Apresentação do Tema: Professor Doutor Vasco Santos Exemplos flagrantes de práticas anti-competitivas Quantificação dos benefícios da concorrência Concorrência (im)perfeita e eficiência económica Objectivos da política regulatória Características da entidade reguladora A captura regulatória Impacto macroeconómico 106 107 108 110 110 111 112 Visão de um regulador Apresentação do Tema: Dr.-Ing. Jorge Vasconcelos Deficit ordenamento político-económico em Portugal Um novo paradigma de regulação O mercado Ibérico de energia eléctrica Energias renováveis e co-geração: introdução de concorrência Comentários à intervenção anterior 113 114 116 117 118 Debate Dr. Amílcar Ramos A importância de avaliar a actuação do regulador Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues 119 120 Dr. Miguel Moura e Silva Os custos da não concorrência Controlo da atribuição dos direitos exclusivos 120 121 Eng.º Álvaro Neves da Silva A captura do Estado aquisidor pelo Estado produtor 121 Professor Doutor Pedro Pitta Barros A articulação entre o regulador sectorial e a autoridade de defesa de concorrência 122 Dr. Luís Pais Antunes A intervenção do regulador sectorial no domínio da concorrência 9 123 Eng.º João Pinto Ferreira O alheamento dos operadores económicos 123 Dr. Alberto Regueira Qual a entidade que deve proceder à designação da entidade reguladora? 123 Dr. Victor Calvete Regulamentação versus defesa da concorrência 124 Professora Doutora Maria Manuel Leitão Marques A repartição de competências entre a autoridade da concorrência e o regulador 125 Dr.-Ing. Jorge Vasconcelos Quantificação dos benefícios da liberalização Legitimidade dos reguladores e das entidades reguladoras Os EUA e a regulação Repartição de competências entre reguladores sectoriais e entidades de concorrência em geral A regulação dos mercados «spot» 125 126 127 127 128 Professor Doutor Vasco Santos Contradições nos estatutos de um regulador Virtudes de uma regulação que atenda aos interesses do consumidor Haverá uma mudança de paradigma nos EUA? 129 130 130 Dr.-Ing. Jorge Vasconcelos A Europa e o modelo americano 130 Programa 132 10 CAPÍTULO I – DEFESA DA CONCORRÊNCIA E DEFESA DO CONSUMIDOR DEFENDER A CONCORRÊNCIA PARA PROTEGER O CONSUMIDOR Apresentação do Tema: Dr. Alberto Regueira Antecedentes da defesa do consumidor A defesa do Consumidor, enquanto domínio da política económica e social e da prática legislativa, é algo de relativamente recente, com desenvolvimentos importantes sobretudo registados na segunda metade do Séc. XX. Antes das Revoluções Industriais, o relativamente reduzido peso dos núcleos urbanos, o fraquíssimo nível de rendimento por habitante e a dimensão considerável do auto-consumo contribuíam para tornar preocupações desse tipo negligenciáveis. Com o advento das Revoluções Industriais e o consequente crescimento dos aglomerados urbanos, o panorama inicialmente pouco mudou. Os produtos manufacturados não tinham de responder a padrões exigentes de qualidade, faltavam normas de fabrico, o poder de compra das grandes massas era muito limitado e estas tinham que privilegiar as preocupações com a pura subsistência. As grandes manifestações e movimentos nas ordens cívica e laboral faziam-se pelo reconhecimento das liberdades fundamentais e pelo melhoramento de condições de trabalho gravosas e insalubres, pelo reconhecimento do direito a mínimos salariais, a horários máximos de trabalho, a períodos de férias remuneradas e à protecção na doença e na velhice. Mais tarde, a luta veio a travar-se pela obtenção de um mínimo de protecção social em situação de desemprego. O relativo fechamento das economias nacionais ao comércio com outros países, decorrente da intenção de proteger os produtores internos e os postos de trabalho por eles criados, contribuía para minorar a diversidade da oferta de produtos para consumo, reduzir a sua qualidade e empolar o seu preço. Medidas com reflexos no consumidor eram sobretudo as que se prendiam com a retirada do mercado de produtos deteriorados, para protecção da saúde pública, a fixação de controlos administrativos de preços, para protecção do poder de compra de bens pelos mais baixos salários, e pelo combate ao açambarcamento em ocasiões de absoluta escassez (guerras, etc.). 11 O aparecimento da defesa do consumidor Para que a Defesa do Consumidor se afirmasse como área autónoma de política eram necessárias certas condições prévias: a) o aparecimento de largas camadas de consumidores munidos de poder de compra razoável, tornado possível pela consecução de níveis cada vez mais elevados de desenvolvimento económico e social nos respectivos países; b) uma progressiva liberalização dos regimes de trocas internacionais, conduzindo a um notável incremento do volume, diversidade e valor das mercadorias transaccionadas; c) métodos de fabrico em série, que obrigavam à criação de normas e «standards» de fabrico e muitas vezes ao pré-embalamento dos produtos; d) existência de laboratórios de controlo de qualidade e de inspecções sanitárias e económicas. No conjunto, tais condições acabaram apenas por se encontrar progressivamente reunidas nos países mais desenvolvidos e a partir de finais da II Guerra Mundial. A pressão crescente exercida pelo segmento da opinião mais esclarecida, pela comunicação social do tempo, por correntes políticas, sindicais e cooperativas, por novas organizações formadas especificamente para promover e defender os interesses e direitos dos cidadãos enquanto consumidores, veio a delimitar um espaço de análise e intervenção política que hoje é pacífica e inequivocamente aceite. Objectivos da defesa do consumidor A política da defesa do consumidor tem, nos Estados modernos, como objectivos comuns: – a rigorosa informação dos consumidores sobre as características, composição e preço dos bens de consumo transaccionados, mediante exigências quanto à sua rotulagem e etiquetagem e à disponibilidade de informação técnica conexa, devidamente traduzida quando for caso disso; – a interdição de comercialização de produtos perigosos ou potencialmente nocivos à segurança e saúde públicas e a punição das infracções que se vierem a registar; – a exigência de rigor na actividade publicitária, condenando a emissão de mensagens falsas ou susceptíveis de induzir em erro o consumidor (aliás, reconheça-se à luz da experiência, com conteúdo mais platónico que real); – a realização de actividades formativas dos consumidores quanto aos seus direitos e meios de defesa e reparação, começando pela formação em meio escolar, integrando para tal nos «curricula» as necessárias alterações, e continuando pela edição de revistas, boletins, programas de rádio e televisão orientados para esclarecimento dos consumidores; 12 – o apoio à criação e funcionamento de associações representativas dos consumidores, capazes de permanentemente suscitarem junto dos órgãos do Estado, das associações patronais e sindicais, da comunicação social e dos interesses dos consumidores em geral as grandes questões que interessam à defesa dos interesses dos consumidores, propondo soluções eficazes, e de, ao mesmo tempo, realizarem actividades diversificadas de informação, formação e representação de interesses dos consumidores, neste último caso tanto no quadro de órgãos de consulta, arbitragem e concertação social como mesmo no da proposição de acções judiciais, quando os interesses feridos forem difusos e tiverem pequena expressão monetária individual. Outros domínios de política têm relações estreitíssimas com a defesa do consumidor, deles decorrendo consequências importantes para que tal defesa atinja níveis mais aceitáveis ou francamente insuficientes. A política educativa, a política de saúde, a política de transportes, a política de defesa do ambiente, a política de acesso à justiça, entre outras, estão nestas condições, sem por isso perderem a sua especificidade própria. Cabe-nos aqui apreciar mais de perto a relevância da política de defesa da concorrência do ponto de vista da prossecução dos interesses vitais dos consumidores. Concorrência e a defesa do consumidor Os modelos clássicos mais antigos de explicação do funcionamento da economia de livre empresa, que eram ao mesmo tempo justificativos da eficácia e superioridade do sistema capitalista, postulavam, entre outras condições, a existência de uma grande multiplicidade de produtores e adquirentes no mercado, concorrendo entre si. O livre jogo da concorrência, como que determinado por uma «mão invisível», permitia obter providencialmente os níveis mais elevados de satisfação das necessidades e a maior racionalidade possível na distribuição dos recursos produtivos. Posteriores refinamentos desses modelos, tendo nomeadamente em conta a diferenciação real ou presumida (efeito de imagem ditado pela criação e publicitação de marcas) dos produtos à venda e a maior ou menor elasticidade da procura, procuraram torná-los mais consistentes com a realidade, sem beliscarem a sua função justificativa da prevalência lógica do sistema de economia de mercado. Veio-se também a reconhecer, como casos relativamente aberrantes no funcionamento do sistema, a emergência de oligopólio ou de monopólio do lado da oferta, nalguns casos avançando-se para estas últimas justificações «técnicas». Mas na grande maioria das situações a concorrência funcionava, o poderio económico de certas empresas não chegava para afugentar do mercado outras de menor dimensão – e o certo é que os sistemas de economia estatizada, constituídos à sombra de 13 regimes autoritários de esquerda, quase por toda a parte se desmoronaram fragorosamente na sequência do descalabro dos regimes que os sustentavam1 Interrompamos a nossa linha de raciocínio para, sem grande preocupação de rigor, identificar algumas das práticas limitativas da concorrência susceptíveis de ser encontradas em situações concretas de mercado, em particular em situações de oligopólio ou aquelas em que um pequeno número de empresas usufrui de uma influência decisiva no comportamento do mercado: a) fixação de preços e/ou repartição de mercados entre empresas que vendem produtos sucedâneos; b) exigência do fabricante ao vendedor de um produto de não comercializar marcas e produtos concorrentes; c) recusa pelo vendedor de comercializar produtos de determinado fabricante ou exigência para tal de condições abusivas, ou pô-los sistematicamente em desfavor face a similares que o vendedor ou empresa a que esteja, directa ou indirectamente, ligado tenha fabricado; d) exigência pelo vendedor ao consumidor final de aquisição do produto em que este está interessado em conjunto com outros produtos (ou com outras condições de venda abusivas); e) vendas abaixo do custo com o objectivo de prejudicar concorrentes e levá-los a sair do mercado. Cabe naturalmente à Administração Pública acompanhar a evolução dos mercados para detectar e reprimir situações deste tipo. A este conjunto de situações de distorção da concorrência há que adicionar aquelas em que ela nem sequer existe – quer se trate de «monopólios legais» (como os monopólios de venda de bebidas alcoólicas nos países escandinavos), ou de «monopólios técnicos» (transporte de energia eléctrica ou de gás, gestão de vias férreas ou aeroportos e do tráfego aéreo, empresas de saneamento básico ou de abastecimento local de água e luz,...). Nestes casos, não se poderá falar de defesa da concorrência. Mas torna-se igualmente decisiva a actuação das entidades reguladoras dos respectivos mercados – que, idealmente, deveriam assumir uma atitude de vigilância activa de modo a prevenir e penalizar abusos de poder, sem se deixarem intimar pela dimensão e influência política das entidades que são supostas tutelar. 1 Cabe reconhecer que, por toda a parte, os poderes públicos tinham uma tradição de se acomodarem a situações de oligopólio ou mesmo de monopólio, sobretudo se a concorrência virtual fosse feita a partir do estrangeiro. O reflexo nacionalista e a satisfação dos lobbies internos sempre pesou mais na balança do que os cuidados com a carga excessiva que era suportada pelos consumidores. 14 O impacto da globalização A evolução económica da última década em particular, embora os fenómenos em causa já tenham raízes muito anteriores, não é, no entanto, compatível com a visão seráfica das coisas que parece ressaltar de algumas das considerações anteriores. Em paralelo com o fenómeno da globalização económica à escala mundial – consequente aos grandes avanços que sucessivos «rounds» de negociações multilaterais realizados quer sob a égide do GATT, quer mais recentemente da Organização Mundial do Comércio, para além das zonas de comércio livre ou preferencial constituídas em grandes regiões do Mundo, traduziram na redução de direitos aduaneiros, na supressão ou aligeiramento dos obstáculos não pautais às trocas internacionais e na remoção de dificuldades às transacções de serviços e movimentos de capitais – e em não pequena parte incentivado por ela, eclodiu um impetuoso movimento de concentração do poder económico à escala dos países e no plano internacional, que está longe do seu fim e que altera ou se arrisca a alterar drasticamente as regras do jogo em muitos dos mais importantes mercados. Tomemos como exemplo, primeiro, as actividades industriais e depois os serviços. No momento presente não restarão mais de uma dúzia de construtores automóveis, independentes, de relevo no plano mundial – dos quais, 3 na Alemanha, 2 nos Estados Unidos, 2 em França, 2 no Japão, 1 na Itália e 1 na Coreia do Sul – da grande diversidade anteriormente existente, e a tendência é para maior concentração. Cada um deles é, aliás, o centro de gravitação de múltiplos sub-contratantes, o que reforça o seu poder de influência. A aviação comercial tem a esmagadora maioria dos seus aparelhos produzida por 2 fornecedores, um americano e um consórcio europeu. A maior parte dos estaleiros de construção naval para o tráfego comercial tem vindo a encerrar, em benefício de um número limitado de concorrentes, sobretudo asiáticos. O processo de concentração avança na indústria siderúrgica, na produção e refinação de petróleo, na indústria cimenteira, na produção de pasta de papel, na construção civil e obras públicas, na produção de energia eléctrica, na indústria farmacêutica. A grande distribuição de produtos alimentares e produtos domésticos de higiene e limpeza avança inexoravelmente para níveis elevados de concentração, esmagando o pequeno comércio e impondo condições draconianas a uma multiplicidade de fornecedores agrícolas e industriais, inclusive a perda de «identidade» do produtor, que se esfuma por detrás da marca do distribuidor. Em Portugal, 3 ou 4 cadeias de hiper e supermercados e outras tantas de «hard discount» concentram uma percentagem enorme e crescente dos gastos de consumo das famílias. As próprias cooperativas de consumo que, com grandes dificuldades, atravessaram o período da ditadura que lhes era ideologicamente adverso, não resistiram, já em democracia, ao impacto esmagador das «grandes superfícies». 15 A banca e os seguros são parte importante do movimento de concentração. O movimento é bem visível no plano internacional e, no caso português, 4 grupos bancários com capitais portugueses ou maioritariamente portugueses e um grupo bancário espanhol detêm uma quota de mercado enorme, situação que tende a reproduzir-se na actividade seguradora. Os movimentos de fusão ou de articulação de interesses são bem visíveis no transporte aéreo, onde se desenham três grupos com intenção de repartir o essencial do tráfego internacional e onde, no plano dos países, a tendência é cada vez para menor número de concorrentes (veja-se, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos da América). O «software» informático apresenta um dos casos mais notórios de concentração, estando em curso um processo nos Estados Unidos contra uma empresa nacional por práticas de abuso de poder económico e virtualmente tendentes a conquistar uma posição monopolista no mercado. Como é óbvio, os exemplos poderiam multiplicar-se, mas importa mais reflectir sobre as exigências que uma tal evolução impõe. Não é, seguramente, possível garantir níveis adequados de protecção dos interesses dos consumidores – para além de outros valores sociais que cabe, por igual, aos poderes públicos acautelar – se os Estados em geral assumirem perante este processo uma atitude de negligente expectativa ou de abdicação resignada. Condição indispensável para que a reacção tenha algum êxito é dispor-se de um corpo de legislação estruturado e coerente que defina com o possível rigor os vários tipos de comportamentos abusivos e limitadores ou distorcedores da concorrência no mercado, que preveja penalidades fortemente desincentivadoras dos mesmos e estabeleça um quadro institucional ágil e motivado para tomar a iniciativa de propor e assegurar a reposição da legalidade. Infelizmente a experiência, tanto no plano português como no plano europeu, não é de molde a deixar-nos tranquilizados. Em Portugal, a legislação existe, é recente e está articulada com as directivas comunitárias. Entretanto, os níveis de penalidades previstos são escassamente dissuasores dos comportamentos abusivos, que por definição geram benefícios consideráveis para os infractores (eficaz seria a previsão legal da «expropriação» do benefício indevido, acrescida de uma penalidade que até poderia ser leve). As entidades públicas a quem compete a preservação da concorrência em Portugal têm estado relativamente activas no que respeita à abertura de processos por violação das regras de concorrência, mas o nível médio das coimas aplicado é baixo, quando, aliás, não acabam por prescrever. Nos últimos anos, na sequência das políticas tendentes à criação do mercado único europeu, a Comissão Europeia tem tomado algumas iniciativas para proteger a livre concorrência, accionando mesmo Estados-Membros quando eles interferem activamente 16 no condicionamento das situações de mercado de forma não neutra. Mesmo nesses casos, porém, não resulta claro que a «coragem» de enfrentar as decisões questionáveis dos Estados-Membros se exerça sempre e sem olhar ao peso e influência dos mesmos... Considerações finais Justifica-se algumas considerações finais, até para precisar melhor o alcance de algumas posições assumidas no quadro desta Comunicação. O facto de se ter comentado que o fenómeno em curso da globalização das actividades económicas favorece o aumento do poder económico dos agentes de mercado mais poderosos não pode ser interpretado como uma defesa implícita de modelos de relativo fechamento de mercados, estratégia condenada por razões de menor eficácia produtiva, que condicionaria necessariamente a prazo os níveis de desenvolvimento a que as populações poderiam aceder. Mas importa reconhecer que a globalização não resolve, por si, todos os problemas e que no novo mundo que se está a criar diante dos nossos olhos tem de haver instituições internacionais capazes e determinadas a combater os abusos do poder económico e instrumentos potentes de que elas possam lançar mão com esse objectivo. Não julgo que seja pedir de mais. 17 DEFESA DA CONCORRÊNCIA Apresentação do Tema: Professor Doutor Pedro Pitta Barros Introdução Mais do que apontar factos da teoria económica que são decorrentes do factor concorrência, parece-me útil identificar quais são as questões relevantes, do ponto de vista de um economista, para discussão. Antes de passar a essas questões queria começar por expor a minha percepção sobre a defesa da concorrência e onde é que esta se enquadra nos modelos económicos. Comum a todos os modelos de mercado é a existência de uma procura e de uma oferta que, de alguma forma, interagem. Há pessoas que compram, há produtores que vendem e organizam-se as trocas. A intervenção do estado ocorre a três níveis. Um primeiro tipo de intervenção consiste numa intervenção fiscal ou sobre os preços que afectam a relação entre compradores e produtores. Um segundo tipo de intervenção refere-se a questões relacionadas com a qualidade, segurança, regras de publicidade, etc. Por último, temos a intervenção directa do estado como empresário, que existiu no passado em maior grau do que existe agora e que, segundo algumas opiniões, continua a ser excessiva. A defesa do consumidor insere-se nestes modelos como um escudo adicional que surge protegendo a procura pois no fundo pretende defender o consumidor nesta relação e foca, sobretudo, na verificação de aspectos de qualidade e segurança. Por sua vez, a defesa da concorrência destina-se a enquadrar a forma como a oferta se estrutura e organiza. Portanto, a defesa da concorrência refere-se a actuações do lado da oferta e a defesa do consumidor surge como um escudo do lado do consumidor. Intervenção por actuação directa Intervenção fiscal ou sobre os preços OFERTA PROCURA Defesa do consumidor Defesa da concorrência Distinção entre defesa do consumidor e defesa da concorrência A distinção entre defesa da concorrência e defesa do consumidor torna-se mais clara quando se analisam os objectivos que a legislação aponta para um e outro caso. 18 De acordo com o DL 371/93, a defesa da concorrência tem três objectivos genéricos: o estabelecimento dos objectivos gerais do desenvolvimento económico e social, o reforço da competitividade dos agentes económicos e a salvaguarda dos interesses dos consumidores que, num conceito de balanço económico que é apresentado, defende uma repartição justa de ganhos. Estes três objectivos são descritos de forma suficientemente geral para serem susceptíveis de diversas interpretações. De qualquer maneira, não sendo evidente o que é que pretende a defesa da concorrência, torna-se claro que não é exactamente a mesma coisa que a defesa do consumidor e, de alguma forma, a intervenção que vai ser possível neste caso actuará, ao nível da oferta. Outro objectivo, expresso no DL 140/98, é a repressão de comportamentos que impeçam a concorrência leal entre empresas tornando-se mais claro que a intervenção é, necessariamente, sobre o lado da oferta. Por seu turno, no caso da defesa do consumidor (art.º 3º Lei 24/96) apontam-se como direitos do consumidor: A qualidade dos bens e serviços, a protecção da saúde e da segurança física, a formação e educação para o consumo, a informação para o consumo e a protecção dos seus interesses económicos, entre outros. Todos estes itens são sobretudo de protecção – as palavras que surgem frequentemente são prevenção, reparação, protecção – do consumidor, formação e educação para o consumo e informação para o consumo. Tudo funciona centrado no consumidor, isto é, do lado da procura, enquanto que, na defesa da concorrência, o enfoque coloca-se, sobretudo, no lado da oferta. O mesmo está patente nas Grandes Opções do Plano (GOPS) de 2001, em que se refere que «a política de defesa do consumidor, deve preocupar-se com o combate às formas de exclusão social e cooperação com a defesa dos consumidores». Isto denota que a grande preocupação da defesa do consumidor – entendida pelos agentes políticos, pelo Estado – centra-se no consumidor e não do lado da estruturação da oferta. Resumindo, a defesa do consumidor e defesa da concorrência centram-se em aspectos claramente distintos, daí que os instrumentos utilizados por cada uma tenham que ser diferentes: A primeira centra-se nos direitos dos consumidores, apesar de considerar que pode haver alguma confusão com a exclusão social referida nas GOPS. A segunda centra-se na forma como as empresas se inserem e actuam no mercado e, como tal, o enfoque delas é suficientemente diferente para se pensar que são actuações complementares. Em grande medida parece-me razoável pensar em cada uma delas quase de forma independente, uma vez que incidem sobre diferentes elementos do mercado. Instrumentos para a defesa da concorrência Os instrumentos existentes para a defesa da concorrência, que irão ser vistos com mais cuidado no decurso desta mesa redonda, são: A capacidade de investigação por parte das autoridades de defesa da concorrência, a aplicação da lei, condicionada pelos 19 recursos que as empresas podem fazer dessa aplicação e do desempenho dos tribunais e a «publicidade» dos casos e pressão da opinião pública. Publicidade é aqui entendida no sentido de transmissão de uma imagem negativa da empresa, por problemas de concorrência, o que pode ser suficientemente danoso para a reputação dessa empresa. Questões em debate Em primeiro lugar seria interessante debater as diferenças existentes entre defesa do consumidor e defesa da concorrência. Além do anteriormente referido, os exemplos seguintes ilustram as diferenças existentes: Para a generalidade das pessoas, a defesa do consumidor está associada à DECO e a comparações entre produtos que conduzem à chamada «escolha acertada». Mas, da existência de uma «escolha acertada», não se infere que os restantes produtos/empresas devam sair do mercado. Nomeadamente, se houver características adicionais num produto que sejam suficientemente valorizadas por alguns consumidores, ambos podem e devem co-existir no mercado. Não há aqui nada, neste tipo de intervenção típica do que se entende por defesa do consumidor em termos públicos, que tenha a ver com defesa da concorrência – foca-se apenas no consumidor e em como é que ele deve proceder às suas escolhas. Relativamente à defesa da concorrência, podemos referir como exemplos da sua actuação, i) o impedimento de uma operação de concentração de empresas, o que não está necessariamente relacionado com direitos do consumidor e ii) a anulação e sancionamento de práticas limitativas da liberdade de funcionamento das empresas – restrições contratuais a distribuidores, por exemplo. Note-se que nem sempre se justifica impedir estas restrições contratuais. A teoria económica tem actualmente a este respeito uma posição de defesa da análise caso a caso, pois não existe uma resposta universal que permita enunciar que determinada restrição é boa ou má. É pois necessário fazer um balanço casuístico mas, de qualquer forma, o tipo de intervenção que pode existir na contemplação da análise de cada caso não tem em conta aqueles aspectos que foram focados na análise dos direitos do consumidor. Estabelecidas estas diferenças, as questões que me parece que temos que discutir são as seguintes: Em primeiro lugar, que instituições temos na defesa da concorrência? Em alternativa, a questão «Que instituições queremos ter na defesa da concorrência?» parece-me, talvez, mais relevante do que a anterior. Qual tem sido o seu desempenho? Também aqui seria relevante: «Qual é o desempenho que queremos para as instituições de defesa da concorrência?» A segunda mesa de discussão tratará de como a defesa da concorrência tem actuado na prática. Outra questão, que me parece relevante dado já ter referido a importância de quais os recursos e como é que estes funcionam, é a seguinte: como é que os tribunais devem actuar? Como é que eles têm actuado? Mais uma vez podemos adicionar a terceira questão: como é que gostaríamos que eles actuassem? Note-se que a discussão interessante não é sobre o estado da justiça em Portugal, como vem sendo hábito nos 20 últimos meses, mas sim a discussão do papel económico que desejamos que os tribunais tenham. Qualquer que seja o enquadramento jurídico que exista para os tribunais, as decisões que estes tomem vão ter implicações económicas importantes. Como tal, perceber quais são essas implicações é bastante relevante, até para compreendermos como é que queremos que os tribunais venham a actuar. Este é o tema da terceira mesa de discussão: debater o papel dos tribunais neste campo dado que a utilização de recurso das decisões de defesa da concorrência condiciona a eficácia de todo o quadro legislativo. Por outro lado, existem sectores que tipicamente eram monopólios naturais e onde havia uma actuação directa do Estado empresário. Trata-se de sectores de interesse público onde existe serviço público, onde existem as denominadas economias de rede, onde não é economicamente viável duplicar as estruturas (redes de águas ou telefones fixos, por exemplo). Levantam-se aqui questões específicas a sectores que pertenciam à esfera de actuação empresarial do Estado. Como é que actua uma defesa da concorrência com uma necessária regulação sectorial que aí existe? Repare-se que não é evidente que não existam complementaridades ou contradições entre a intervenção de um regulador sectorial e a da autoridade de defesa da concorrência. Por exemplo, no sector bancário, é muito claro que existem, por um lado, preocupações de formulação prudencial, mas por outro lado, podem existir preocupações de defesa da concorrência. Estas duas estão facilmente em conflito, porque uma formulação prudencial pode achar melhor ter um monopólio ou um cartel que garanta a sustentabilidade do sistema através das elevadas margens de lucros que os bancos possam ter com essas situações. Tal seria contrário à defesa da concorrência. Mas esta situação não é específica dos bancos, aplicando-se também ao caso dos telemóveis, da energia, das águas, do gás, entre outros. Aqui, parece-me importante debater quais são as percepções gerais sobre o que deve ser a actividade reguladora, qual é o ponto de vista das entidades reguladoras, como é que vêm o seu papel neste aspecto de contradição, ou não – e confesso que aqui também não tenho respostas – e que implicações é que isto tudo tem para a defesa da concorrência. Partilho do pressuposto que quer as entidades sectoriais, quer uma autoridade de defesa da concorrência possam intervir em matéria de defesa da concorrência. Ter duas entidades que podem actuar parece ser melhor do que dizer que apenas um pode fazê-lo. Esta é uma opinião que parece que não é pacífica e que julgo que merece ser discutida - esta será a temática da 4.ª sessão. 21 DEBATE Dr. Jorge Pegado Liz A importância do «fair trade» Gostaria de referir que a regulação das relações de consumo tem um objectivo fundamental que é, em meu entender, o restabelecer, ou procurar manter o equilíbrio entre as partes na relação do consumo. É evidente que se a concorrência fosse perfeita, se o mercado fosse transparente, se tudo funcionasse no melhor dos mundos que o Dr. Alberto Regueira descreveu é evidente que, eventualmente, algumas medidas específicas de protecção dos consumidores poderiam ser dispensadas. No entanto não é isso que se passa e daí que, em meu entender, não baste sequer garantir a concorrência leal para que se assuma uma efectiva e eficaz protecção dos consumidores. O Dr. Pitta Barros disse, e bem, que defesa da concorrência não é igual a defesa dos consumidores. Por isso mesmo, parece-me que uma das lacunas que existe no nosso sistema jurídico e que uma generalidade de países da Europa não têm, designadamente os países nórdicos - é precisamente a previsão de alguma cláusula geral de «fair trade», de comércio leal que, de certa forma, seja um chapéu de chuva sob o qual se inscrevam as várias práticas comerciais, desleais ou abusivas. A necessidade de haver uma definição a nível comunitário do que seja política de concorrência e política de consumidor foi uma das preocupações presentes numa reunião em que participei na semana passada em Estocolmo. O «fair trade» foi abordado com a proposta de uma actuação a nível comunitário que estabeleça, a nível da União Europeia, princípios gerais harmonizados de «fair trade», de práticas de marketing leais ou, como alguns propuseram, a definição do que sejam as práticas comerciais desleais ou abusivas. A defesa do consumidor associada à ideia do escudo que o Dr. Pitta Barros referiu para protecção e defesa dos consumidores, ficará mais completa se, para além de normas dispersas, avulsas e, muitas vezes, confusas e contraditórias, se conseguir cobrir esta realidade com uma definição do que seja o «fair trade» ou o «unfair trade», uma definição de princípio sobre as boas práticas do comércio, que não são exactamente a mesma coisa que «fair competition», que a concorrência leal. Professora Doutora Maria Manuel Leitão Marques Haverá lugar para uma política de defesa de concorrência numa pequena economia aberta? A primeira questão é para o Dr. Pitta Barros. Trata-se de uma questão de fundo sobre a qual creio que tem reflectido como economista: que defesa da concorrência efectiva – concorrência não no sentido da concorrência desleal, mas no sentido defesa da concorrência – é susceptível de se de se aplicar a uma economia semi-periférica e de 22 pequena dimensão como a nossa, integrada num espaço mais amplo também no que diz respeito à defesa da concorrência, ou seja, que tem a montante, ao nível europeu, um sistema a funcionar para as práticas de dimensão comunitária em que os agentes económicos se vejam envolvidos? Por outras palavras, que espaço efectivo fica para a lei portuguesa de defesa da concorrência, sendo que actualmente, mesmo na sua pátria mãe, – os EUA –, a aplicação dessas leis é «moderada», muitas vezes, por uma regra da razão? Relevância da procura para a defesa da concorrência A segunda questão é a seguinte. O modelo que apresentou sobre a relação oferta/procura é bastante perceptível. No entanto, quando o aplicamos à política da concorrência olhamos muitas vezes para o lado da procura. É o que acontece na delimitação do mercado relevante, na aplicação da regra do balanço económico, onde o interesse do consumidor tem de ser ponderado, e ainda no domínio do artigo 86, relativo aos serviços de interesse económico geral, onde a última Comunicação da Comissão se refere, por diversas vezes, ao interesse do cidadão-consumidor. A marca enquanto garante da defesa do consumidor A minha terceira questão é a seguinte: há três anos coordenei uma rede, no âmbito do programa comunitário ALFA, entre universidades europeias e sul-americanas do espaço Mercosul, que tinha exactamente como tema «direito da concorrência e direito do consumidor: que pontos comuns?». Entre os aspectos específicos abordados, estava a aplicação da regra do balanço económico (como é que era aplicada e até que ponto o interesse do consumidor é efectivamente relevante), a questão da normalização ou da standardização (até que ponto é que promove ou não a concorrência e até que ponto existe ou não para defender o consumidor, enfim para que serve efectivamente?), e a compreensão dos interesses subjacentes à protecção da marca. Será que a marca é ainda hoje uma garantia de defesa do consumidor? Em alguns sectores, por detrás da mesma marca há vários processos de fabrico colocados em sítios muito diferentes do planeta e nem sempre sujeito ao mesmo controlo de qualidade. Considero que isto é uma questão polémica, mas que é interessante ter sido aqui levantada e por isso gostava de a ver mais discutida. Professor Doutor Valente de Oliveira A importância da formação do consumidor São três as questões que tenho. Duas para o Dr. Alberto Regueira e uma para o Professor Pitta Barros. O Dr. Alberto Regueira referiu – e estou absolutamente de acordo – a formação em meio escolar para esclarecimento do consumidor. Isto remete para várias componentes 23 dessa formação: a formação para o associativismo, que está muito arredada das nossas preocupações; a formação em termos de participação cívica. No fundo, estas duas preocupações centram-se numa pergunta: não deveria esta posição do consumidor, uma posição responsável, ser considerada como uma parte obrigatória da formação cívica, que não existe nos nossos curricula? O papel da comunicação social O segundo ponto, refere-se também ao Dr. Alberto Regueira: falou na contribuição inestimável da comunicação social para a consciencialização dos consumidores e da protecção dos consumidores. Estou naturalmente de acordo que, grande parte das vezes que se suscita um caso, ele aparece por via da comunicação social. Mas tem de haver também aqui um respeito pelo consumidor no âmbito da comunicação social. Na melhor das hipóteses pode tratar-se somente de uma situação de alarmismo, mas há que ter em consideração os danos causados aos produtores por essas situações de alarmismo. Elas têm que ser limitadas dentro de um quadro de referência, se se quiser, dentro das práticas comuns, daquilo que se costuma chamar os livros de estilo. O conflito entre o regulador e a defesa da concorrência O último comentário que gostaria de fazer, susceptível de ser eventualmente respondido, vai para aquelas actuações potencialmente em conflito que o Professor Pitta Barros referiu, nomeadamente o caso da Banca, dos telemóveis, da energia, etc. Mas, tudo isto não remete para o quadro de um enquadramento ético? Ou se não é ético, é pura e simplesmente de boas práticas comerciais? Gostaria que aprofundasse um pouco mais sobre essa ambivalência que reside no seio de cada um desses sectores e que me parece que deverá ser esclarecida, para o consumidor ter uma ideia de como é que cada um deles luta no seu próprio seio para dirimir a questão e como é que o podem fazer. Eng.º José Chaves Rosa A fixação administrativa dos preços Ligando a concorrência e a defesa do consumidor, recuava um bocado no tempo para ilustrar a influência que teve a concorrência no nosso país em defesa directa dos direitos dos consumidores. Vamos falar sobre a óptica dos preços. Para controlar o índice de preços ao consumidor havia uma intervenção directa do Estado. Os preços dos produtos que tinham maior peso num determinado cabaz eram controlados. Esse controlo de preços era exercido de várias formas, mas a figura mais normal era a criação de um preço máximo que afectava produtos como o óleo, a manteiga, a margarina, o frango, etc. A defesa do consumidor era feita através de uma intervenção administrativa do Estado, na fixação de preços, em que normalmente havia os chamados produtos essenciais, que eram todos esses produtos que estavam no cabaz. Quando o consumidor 24 ia comprar um produto que tinha preço máximo como por exemplo, o azeite, não acredito que este se interessasse em saber qual era a qualidade do produto que ia comprar – era indiferente pois estava tudo marcado com o mesmo preço. Havia maior pressão sobre o aspecto de publicidade de algumas marcas, mas não havia muito a acepção das marcas. Com o tempo a situação alterou-se e houve uma mudança que foi operada entre 1980 e 1983, por virtude de se saber e estar garantido que, o país iria ter uma lei de defesa da concorrência. Concorrência desleal ou concorrência agressiva? Quando o Estado alterou a sua política de intervenção directa em preços e decidiu pelo funcionamento da concorrência, as coisas passaram a correr muito melhor e melhor ainda quando passou a existir a aplicação da legislação da concorrência. As mentalidades alteraram-se à custa de se falar em concorrência neste país – porque sempre se falou em concorrência na óptica da concorrência desleal. Ora, concorrência desleal é uma coisa, e o que estamos a falar é de concorrência agressiva. O que estamos aqui a fomentar é uma concorrência agressiva, não é proteger para que não haja concorrência desleal. Esta mudança teve os seus resultados que, depois, vieram a ser complementados com a nossa inserção na Comunidade Europeia. Isso foi uma enorme mudança na nossa anterior actuação, que foi sempre na óptica do mercado fechado - o que é que se pode fazer para este nosso mercado não subir? – sem nunca se recorrer a essa outra arma que, também, é a arma do abrir a fronteira, de ver que além do produtor nacional, há o produtor estrangeiro, com todas as consequências que há para os nossos produtores. Era só esta visão que queria dar. Dr. Nuno Fernandes Thomaz O valor das coimas e a nova legislação da concorrência Com referência a uma afirmação do Dr. Alberto Regueira segundo o qual os níveis de penalidade às infracções pelas práticas desleais da concorrência são muito baixos e nada dissuasores e sobretudo à sua afirmação de que se deveria ter como princípio a restituição do benefício, acrescida de uma penalidade, gostaria de salientar que os industriais que a Confederação da Indústria representa vivem uma realidade completamente diferente. Dou-lhe um exemplo: numa sentença recente de um tribunal em que uma determinada Central de Compras foi condenada pela prática de um rappel que foi considerado ilícito, afirma-se que o montante relativo à cobrança do rappel ascendeu a 2,4 milhões de contos. Na medida da coima, diz que a contra-ordenação em causa corresponde a uma coima com um limite mínimo de 500 contos e um irrisório limite máximo de 3 000 contos. 25 Gostaria também de acrescentar que o Governo actual, tal como o anterior, tem prometido e contínua a prometer uma nova legislação reguladora das práticas da concorrência. Parece que irá defrontar um problema – que acredito que não seja fácil para o Governo actual resolver – que é o de conseguir ultrapassar uma lei geral das contravenções que não permite, para certos casos, coimas superiores a 9 000 contos. De qualquer forma, é um problema que se está a colocar e que nos foi levantado pela própria Secretaria de Estado e que, efectivamente, faz com que haja uma completa desproporção entre as penalizações e as práticas, sobretudo pelos montantes astronómicos que estas últimas atingem hoje em dia. Eng.º João Pinto Ferreira Os três comentários que queria fazer são os seguintes: o Dr. Pegado Liz lembrou que ontem se comemorou o dia Internacional do Consumidor. Gostava de referir que, ontem, folheando a secção de efemérides de um jornal diário, deparei com uma pequena notícia curiosa: Há 30 anos (1971) a Assembleia Nacional discutia, projecto da que viria a ser a Lei 1/72 que nunca chegou a ser regulamentada e que, no fim do regime anterior, tentou ser uma espécie de primeira lei de defesa da concorrência (apesar de antes ter havido a lei das coligações económicas de 1933). Isto ilustra a falta de tradição, em Portugal, destas questões, que só a partir dos anos 80 começaram a ter relevância em Portugal, com a entrada na União Europeia e a admissão da economia de mercado. Como tal, foi necessário fazer um grande esforço para apanhar um comboio que vem da lei Sherman de 1890 dos EUA, da lei Clayton de 1914 dos EUA, das primeiras leis alemãs, de há 50 ou 60 anos. Complementaridade entre defesa do consumidor e defesa da concorrência O segundo comentário acerca de defesa da concorrência e de defesa do consumidor baseia-se numa frase do antigo Director-Geral do Office of Fair Trade, no Reino Unido, Sir Bryan Carsfberg. Esta frase é sintomática, quanto a mim, das inter-relações e indissociabilidade das duas: «A missão da minha Administração é a de melhorar a situação dos consumidores. Eu considero que a promoção da concorrência em geral é a arma mais poderosa que eu disponho para esse efeito. A concorrência limita os perigos de ver as firmas estabelecer preços excessivos, encoraja a eficácia acrescida das operações. A sobrevivência do mercado competitivo é função da capacidade de atingir um nível razoável de eficiência.». Isto revela como as duas políticas convergem e se interligam e que não as podemos ver, uma separada da outra. Aliás a defesa do consumidor teria, concerteza, que ser muito mais musculada e regulamentada se não houvesse, a montante, uma defesa da concorrência. 26 Relevância da procura para a defesa da concorrência O terceiro comentário diz respeito ao esquema que o Professor Pitta Barros apresentou, simplificado por razões didácticas. No entanto, considero que é um esquema um pouco perigoso também por razões didácticas. E é um pouco perigoso porque a defesa da concorrência também se preocupa com o lado da procura, não só pelas razões que a Professora Maria Manuel Leitão Marques acabou de referir - no balanço económico, e concretamente a reserva para os utilizadores de uma parte equitativa do benefício resultante, como na recente, comunicação da Comissão Europeia sobre os serviços de interesse geral na Europa se fala, cada vez mais, no cidadão. Todavia, a defesa da concorrência também se preocupa com empresas pelo lado da procura: quando nas relações entre empresas se deseja evitar um abuso de posição dominante, em última análise, não se está a fazer mais do que proteger as empresas do lado da procura, daquilo que é um poder demasiado das empresas do lado da oferta. Compreendo que, por razões didácticas, se tenha simplificado o esquema numa oferta e numa procura, mas hoje as relações empresariais não são apenas só uma oferta e uma procura. Existe toda uma rede de interligações, onde também os dois pratos da balança se têm que considerar. Dr. José de Almeida Serra Gostaria de trazer para o debate três questões, duas que são relativamente novas e outro muito antigo. Começo pelas questões novas. Temos assistido, neste último tempo, a um grande debate sobre o preço de determinados medicamentos recentemente desenvolvidos e destinados a fazer frente a várias doenças, designadamente o HIV. Naturalmente os produtores que investiram importâncias muito avultadas em I&D pretendem ressarcir-se das aplicações financeiras efectuadas, o que é totalmente legítimo e, mais, constitui uma garantia de que determinada investigação poderá continuar a ser efectuada no futuro. Todavia, isso pode levar-nos a preços de tal maneira elevados que, no fundo, excluem uma gama imensa de potenciais consumidores, com efeitos porventura terríveis, o que levanta a questão do equilíbrio a ser procurado entre interesses divergentes. Como equilibrar estes dois aspectos? Por um lado o consumidor, com a necessidade de aceder a determinados bens e serviços; por outro, a própria materialização do progresso traduzida em investigação e desenvolvimento e que obriga e carece de ser devidamente remunerada. Mas pode ir-se mais longe e suscitar questões como: bens genéricos versus bens de marca – que no caso português se tem traduzido numa discussão inconclusiva no domínio dos medicamentos e que arrasta outros problemas, designadamente ao nível da despesa pública. Existe aqui um conjunto de aspectos e de questões que me parecem muito interessantes, de grande potencial e que careceria, porventura, de aprofundamento e de debate, com vista à elaboração de esquemas de acção e de intervenção. 27 Ainda na mesma linha de preocupação – e é o segundo aspecto que pretendo referir – temos tudo o que tem que ver com determinadas descobertas que se vão fazendo no domínio da biologia e da genética e que podem ter repercussões dramáticas ao nível da vida das pessoas – hoje já se sabe imenso sobre o futuro das pessoas. Será que é legítimo quando, por exemplo, se pretende contratar um seguro, que a empresa de seguros proceda a determinado tipo de análises e pesquisas relativamente à predisposição clínica do candidato? É óbvio que o argumento inverso é também válido – o cidadão informado sobre o seu potencial para adquirir determinadas doenças pode prevalecer-se do seu conhecimento para daí tirar benefícios procedendo à atempada constituição de seguros que não faria em outras circunstâncias. O mesmo tipo de preocupação se pode colocar relativamente a candidatos a um emprego e que podem ser sujeitos a análises para além do razoável. Como é que se compaginam os interesses contraditórios, e o que haverá a fazer nestes casos? Permita-me, agora, que refira um problema muito «comezinho» que tem que ver com a prestação de serviços públicos, e que constitui o terceiro aspecto que pretendo abordar, já que me parece que, nesta matéria, a generalidade dos cidadãos está completamente desapoiada. Não estou a pensar nos grandes debates e preocupações em torno do funcionamento da justiça, da educação, dos hospitais ou da saúde. Penso antes em questões perfeitamente «menores» e que têm a ver com o facto de um cidadão se dirigir a um guichet, para tratar de qualquer problema e que fica completamente na dependência do funcionário ou burocrata que tem pela frente, não tendo a mínima capacidade de intervenção e de recurso. E constata-se que, na prática, ocorrem muitos casos de total falta de colaboração e/ou interesse, quando não de simples nepotismo, por parte de alguns funcionários públicos. É um aspecto diário, sistemático, que acaba por se abater sobre camadas imensas de cidadãos, com situações – que todos conhecemos – perfeitamente ridículas, mas em relação às quais não há capacidade de oposição e de reacção no tempo e no sítio certos. É evidente que se trata, também aqui, de mudar de mentalidades e de posturas; mas enquanto tal não sucede – o que levará muito tempo – como criar mecanismos de audição dos cidadãos e de controlo, que assegurem um mínimo de eficácia das prestações e um mínimo de garantia aos cidadãos? Dr. Manuel Ataíde Ferreira Queria continuar a reflexão do Dr. Almeida Serra. Penso que os serviços públicos que referiu não são os que interessam para o debate de hoje, mas sim aqueles que estão previstos no artigo 86º do Tratado, porque são os que têm expressão económica e são esses que podem ser objecto de uma reflexão tipo concorrencial: se eu preciso de uma licença de caça, não tenho alternativa senão dirigir-me à Câmara, mas se eventualmente sou consumidor de electricidade, aí podem-se fazer algumas reflexões – onde é que está o limite para um mercado mais ou menos aberto – ou até uma reflexão sobre o serviço 28 de interesse geral e que é o direito a esse tipo de energia. Como sabem, hoje discute-se muito se a energia encanada é serviço público e se a energia em botija não é serviço público – é uma querela tonta em que este país caiu que, provavelmente, vai obrigar o Governo a intervir porque, como sabem, saiu um normativo que impunha a restrição de cauções e os senhores das botijas acham que não são serviço público. Esse tipo de reflexão é muito importante em sede de concorrência. Derrogações ao funcionamento correcto da concorrência Queria falar nas outras derrogações, que não têm que ver com os serviços públicos e deixava uma pergunta para o Dr. Regueira. Quando era dirigente de uma Associação de Consumidores, nunca vivi muito preocupado com os problemas da concorrência, porque pensei que as coisas viriam por acréscimo. Sempre pensei que a defesa da concorrência era uma «guerra» do outro lado e que seria óptimo que funcionasse, mas, em caso contrário, também não haveria muito que pudesse fazer. E a verdade é que não se consegue grandes coisas sobretudo porque, se é verdade como se disse aqui, que, no fundo, os benefícios são indirectos – porque são os tais dois escudos – penso – e essa era a pergunta para o Dr. Regueira – é que as derrogações ao funcionamento correcto de uma concorrência, essas, lesam os interesses dos consumidores. Estou, por exemplo, a pensar na importação de automóveis: na proibição de importar automóveis com volante à esquerda, com volante à direita – em toda essa problemática. Julgo que valia a pena alguma reflexão, porque penso que é pela negativa que se vê, às vezes, a vantagem. Em relação ao que mencionou relativamente aos ingleses, o «fair trade» inglês é um bocadinho mais do que a concorrência, porque cobre também a publicidade – eu aprendi que, justamente, na publicidade inglesa, eles entendem, ou entendiam, que a publicidade era uma oferta e a oferta obrigava – e isso, portanto, é um instrumento muito importante – o Professor Ferreira de Almeida também defende isso – mas os nossos tribunais ignoram-no, ou não o aplicam. Dr. Miguel Moura e Silva Gostaria de começar pela questão dos serviços de interesse económico geral, área na qual as preocupações de todos nós, enquanto consumidores, são flagrantes. Primeira questão: os tais outros serviços públicos, a que aqui foi feita referência, não relevam do direito da concorrência, pelo menos na definição actual, quer comunitária quer nacional, na medida em que aí está em causa o exercício da autoridade pública, havendo vária jurisprudência sobre esta matéria. São, pois, os serviços de interesse económico geral que agora nos interessam. Quanto a estes, a nossa lei de defesa da concorrência está realmente centrada na oferta, ou melhor, na estrutura do lado da oferta. Penso que aquilo que o Professor Pitta Barros quis dizer, é que a óptica da política de consumidores é uma óptica de procura final do consumidor e não propriamente daquele que vai incorporar um determinado serviço ou um determinado bem na prossecução da 29 sua actividade económica. Nisto reside uma diferença significativa de enfoque entre estas duas políticas. «Regulatory capture» da autoridade responsável pela defesa da concorrência E dito isto, considero que o direito da concorrência enferma também de um fenómeno de «Regulatory Capture» muito referido a propósito das autoridades sectoriais: o direito da concorrência preocupa-se muito com a estruturação da oferta porque a sua preocupação primordial e a sua função central residem na tutela do processo competitivo. O objectivo é garantir que o processo competitivo seja o mais eficiente possível. Espera-se então que, salvaguardando a eficácia do processo produtivo, se consiga - desde que haja concorrência a jusante na prestação do serviço ou no fornecimento dos bens - que esses benefícios passem para os consumidores. Isto não significa que se desconheça o ponto de vista do consumidor. É evidente que temos em consideração interesses dos consumidores, quer sejam os consumidores no sentido de utilizadores de um serviço – que é a óptica da nossa lei – quer sejam os consumidores finais, e basta compulsar qualquer relatório final do Conselho da Concorrência, ou quaisquer decisões da Comissão Europeia, ou Acórdãos do Tribunal de Justiça e para constatar que essa é uma preocupação de qualquer autoridade da concorrência. Mas, a preocupação imediata é, realmente, o processo competitivo e é aqui que surge um risco de captura pela tentação de assimilar o bem-estar do produtor com o bem-estar geral. Para evitar essa subordinação é imprescindível que a ponderação final tenha igualmente em conta os efeitos no bem-estar do consumidor, o que nem sempre acontece, em especial no domínio das concentrações de empresas. As sanções aplicadas: coimas e indemnizações A terceira observação que queria fazer diz respeito à questão das sanções. Falou-se aqui da necessidade de eliminação do benefício obtido em violação das leis da concorrência. A eliminação do benefício é um dos critérios que podemos ter em conta na aplicação da lei para agravar o montante das coimas na medida em que o benefício do infractor seja superior àquilo que é «a medida normal» da contra-ordenação. Claro está que isso não impede que depois não haja problemas no próprio limite que está estabelecido na lei. Não falo das práticas individuais porque, como membros do Conselho, não nos pronunciamos sobre estas, mas sim sobre as práticas restritivas da concorrência, ou seja, as do Decreto-Lei nº 371/93. Neste caso, temos um limite de 200 mil contos que, antes de começarmos a pensar em aumentá-lo, temos que ver se ele é aplicável ou não. As coimas mais elevadas que aplicámos tiveram lugar no ano passado, no total de 184 mil contos, dos quais 160 mil em duas decisões polémicas que foram arquivadas pelo tribunal e que se encontram neste momento em recurso – 100 mil contos uma e 60 mil contos outra. Como vêem, já se atingiu metade do limite legal e, provavelmente, pelo que esta é uma boa altura para pensarmos em aumentar o montante 30 máximo das coimas. Temos, ainda assim, um enquadramento onde aplicamos realmente a lei, mas a questão do limite máximo das coimas, sendo um problema a encarar não é ainda o mais importante face às dificuldades colocadas na sua aplicação efectiva. Quanto à questão do benefício, o problema põe-se noutra sede, que é sobretudo a da responsabilidade civil. Sejamos claros: no domínio da defesa da concorrência (a exemplo do que sucede quanto à tutela de outros interesses imateriais do mercado) há sempre lesados identificáveis, sendo que o problema se coloca quer do ponto de vista dos consumidores, quer do ponto de vista das outras empresas que são lesadas por uma perturbação do processo competitivo. Pensemos, por exemplo, no célebre de uma empresa de software. Supondo que se mantém a condenação dessa empresa, os governos dos estados federados podem pedir, junto dos tribunais, indemnizações em nome dos consumidores residentes no seu território e, para além disso, os próprios consumidores podem, por via das chamadas «Class Actions», obter indemnizações se se comprovar, por exemplo, que os preços foram artificialmente elevados ou que os demandantes foram por qualquer outra forma prejudicados. Realmente, o instrumento da responsabilidade civil é muito poderoso e isto é válido para o direito da concorrência, como aliás também para outras matérias, como a da concorrência desleal. Quis pois chamar a atenção para o facto de que, se desejamos uma sanção eficaz, não podemos olhar apenas para o lado dos montantes máximos das contra-ordenações, devendo ter também em conta o ressarcimento dos danos causados. E deixava também uma última nota: a nossa lei da concorrência, provavelmente, necessita de alguma harmonização com as regras comunitárias, na medida em que não podemos sancionar abusos de uma empresa em posição dominante que incidam directamente sobre o consumidor final. Há uma grande discussão sobre se tal é ou não possível no actual quadro legal – em todo o caso é o tipo de matérias que necessita de uma clarificação legal, para evitar que sejamos obrigados a utilizar interpretações muito mais arrojadas do que aquelas que o texto da lei, aparentemente, nos permite. Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues Queria falar sobre a defesa da concorrência e os consumidores em duas perspectivas: a da energia e a da banca. Os produtores/distribuidores de energia e a concorrência Quanto à energia, fui recentemente visitado por uma empresa especializada para verificação de possíveis deficiências. Estas não existiam, mas foi-me referido que meu sistema já era antigo e que devia comprar um esquentador e um fogão pelo preço de quarenta contos que eu poderia descontar na própria conta do gás. Isto acontece porque temos um monopólio na distribuição do gás. Temos uma autoridade reguladora que está mais voltada para a electricidade do que para o gás – não a vejo a intervir na área do gás. As queixas são muitas. Por exemplo, as empresas ligadas à distribuição de gás 31 subempreitam a outras a montagem. Um consumidor fez um contrato com uma empresa, cumpriu-o e, de um momento para o outro, vê alterado o seu contrato de fornecimento de gás, sendo-lhe simplesmente impostas novas regras. São as empresas quem tem a obrigação de adequar o equipamento a essas novas regras, não o consumidor. No entanto, o consumidor vê a sua cozinha alterada, tem despesas e ninguém responde por isso. Isto só se passa porque, de facto, não há concorrência. O sistema, que estamos a prosseguir neste momento, é um sistema de privatização, por exemplo, na área da energia eléctrica. Recentemente, numa reunião da Comissão (na Direcção-Geral da Concorrência), um representante da EFTA, dizia que na Noruega não há privatização da rede. A rede de distribuição é pertença do Estado, verificando-se a privatização da distribuição e da produção. Isto faz com que, tanto a nível da distribuição como da produção, haja efectivamente concorrência e, certamente, melhorias para o consumidor. Também a nível da OCDE se faz uma recomendação no sentido de que as empresas que têm poder de distribuição tenham autonomia em relação às empresas que também têm produção. O que é que acontece em Portugal é que liberalizámos o mercado de energia eléctrica, mas mantivemos o monopólio da distribuição. A empresa que distribui, também produz. Desta forma, como é que se vai estabelecer a concorrência a nível dos produtores? Não vamos ter abaixamento de preços por força do mercado, mas por força de uma autoridade, de uma determinação política e, eventualmente, de uma oportunidade política, o que é mais grave. Por isso considero fundamental estabelecer mecanismos e pensarmos sobre a forma como, mesmo nestes sectores que são regulados - que compreendemos que uns são monopólios naturais, outros legais - é possível, de facto, caminhar para o estabelecimento da concorrência. A concentração através da banca Outro mecanismo de que queria falar refere-se à banca. No nosso país, voltámos um pouco ao antes do 25 de Abril: temos uma concentração bancária, que por sua vez se alarga a todos sectores da economia. A banca é dona da indústria A, da indústria B, da empresa de comunicação social - quem diz a banca diz as telecomunicações. Estamos a fazer com que a banca seja a cabeça de todo um sector. A percentagem que está estabelecida, no nosso país, de participação das empresas noutros sectores, é de cerca de 10%, havendo países em que isso não é possível e outros em que o limite é muito menor. E o que acontece? Há países onde a banca, por exemplo, pode ter participação numa empresa de um determinado sector, mas já não pode ter em mais nenhuma empresa, precisamente para ser possível a concorrência ao nível mais baixo da produção. Em Portugal não há limitações de nenhuma espécie e observamos a banca a entrar em todos os sectores, na empresa A, B, C, e D. Como é que, sendo a banca a cabeça de uma grande percentagem do sector e tendo interesses em empresas concorrentes se vai dar a concorrência nesse sector e como é que, seja a nível da qualidade ou do preço, tal se vai reflectir no consumidor? Penso que o fundamental, não 32 é só falar em lei da concorrência, mas, nos diferentes sectores, estabelecer regras que permitam que essa lei funcione. Dr. Luís Silveira A concentração na distribuição não trará por vezes benefícios para o consumidor? A minha pergunta é menor e como não sou especialista nesta área, punha a questão como simples consumidor. O título desta nossa primeira sessão creio que nos põe a questão de saber se, de um modo geral, o incremento da concorrência é ou não favorável à defesa do consumidor e a minha dúvida é se isto é ou não diferente, conforme os sectores. Estou, por exemplo, a pensar no sector da distribuição retalhista, dos bens, do consumo familiar normal, daquilo que é importante para a vida normal das famílias e até da generalidade dos estratos sociais. Surgiu, já há alguns anos, entre nós, este fenómeno das grandes superfícies, dos hipermercados, dos supermercados, criandose até uma certa cultura de supermercado que não existe, por vezes, noutros países mais desenvolvidos. Será que este tipo de oferta, centrada num número relativamente limitado de unidades, que teoricamente vão concorrendo entre si, não acaba por ser favorável aos consumidores pelas economias de escala que permite e sobretudo pela questão da acessibilidade, ou seja, pela facilidade com que permite, no mesmo local, ter-se acesso a uma generalidade de produtos importantes para a vida normal das famílias? Será que aqui a existência de uma concorrência relativamente limitada não acaba por ser favorável aos consumidores e não complicar um bocado esta ideia, de que, quanto mais ampla a concorrência, tanto maior o benefício para o consumidor? Dr. Victor Calvete Defesa da concorrência versus defesa do consumidor Parece-me ter percebido, à volta da mesa pelo menos, duas sensibilidades no que diz respeito às relações entre a política da concorrência e a política de defesa dos consumidores. Parece que há quem defenda que a política de defesa dos consumidores devia ingressar na grande casa da política da defesa da concorrência e há quem entenda o contrário. Presumo que a última seja a posição do Professor Pitta Barros e é também a minha. Chamo a atenção para a diferente óptica de intervenção das duas: não só porque, como ele disse, enquanto uma actua do lado da oferta e a outra actua do lado da procura. Também porque enquanto que a política de defesa do consumidor requer uniformidade – requer standards, requer mínimos, e requer regulamentação – a política de defesa da concorrência evita tudo isso: apenas requer que haja liberdade de funcionamento do mercado. Enquanto que a política de defesa do consumidor tende a ser intervencionista, a política de defesa da concorrência é uma intervenção desejavelmente excepcional e apenas destinada a corrigir problemas pontuais que existam no funcionamento do mercado. 33 Pior ainda, porém, é querer reconduzir à política da concorrência questões de «fair trade», isso – peço desculpa – mas é algo que não só não está na vizinhança, como nem sequer está no mesmo prédio. O que acontece é que enquanto a política de defesa da concorrência procura garantir que o processo competitivo funcione da forma mais eficiente possível, as questões de incorporação de ideias morais ou de avaliações éticas sobre aqueles que são os comportamentos adequados do ponto de vista de uma ou outra dessas ordens de considerações não têm, na minha perspectiva, nada a ver com a política da concorrência. Dr. João Salgueiro Defesa da concorrência apenas a jusante? Naturalmente vou referir-me à banca, mas gostava de abordar também um outro aspecto que foi levantado, em relação ao gás e à energia, uma vez que as políticas de enquadramento sectorial estabelecem coordenadas essenciais da concorrência entre empresas. Não é, infelizmente, um bom exemplo de política sectorial, e, em alguns aspectos, tem mesmo registado retrocesso muito sensível nos últimos anos. A actual política do gás resultou de uma recente inflexão decidida pelo Governo. A política que estava anteriormente definida assentava em orientações opostas. Era uma política que segmentava e que procurava criar concorrência entre várias fontes de energia. Havia a intenção de utilizar o gás separadamente dos combustíveis líquidos e da energia eléctrica e, dentro de cada um dos sectores, criar centros de decisão e de competência regional que competissem uns com os outros – mesmo dentro da mesma empresa, mas obrigando a contas separadas e, portanto, estimulando a transparência quanto aos custos e à qualidade dos serviços prestados aos clientes. Mais recentemente, meteu-se tudo no mesmo saco tornando impossível avaliar realidades diferentes e manter a concorrência. Adicionalmente, em relação ao gás e ao petróleo criaram-se situações difíceis de interpretar. Deu origem a um episódio que conduziu mesmo a uma comissão de inquérito da Assembleia da República: A história da aquisição - que não se sabe se é aquisição - de toda a actividade de combustíveis líquidos e gasosos pela ENI, sem o país ser informado de tal compra. Aparentemente trata-se mesmo de uma compra porque, embora neste momento só exista uma participação minoritária da ENI via GALP, em todo o sector dos combustíveis, a posição da ENI é de tal modo importante que – o que é dificilmente explicável em qualquer situação – o Ministro da Economia português entendeu ir a Itália antes de mudar administradores de uma empresa portuguesa. Portanto, embora não se trate estritamente de um problema de concorrência, nem de defesa dos consumidores, – é um exemplo, mau, de como uma política sectorial – para mais dificilmente explicada – pode determinar os comportamentos empresariais. 34 A participação da Banca em várias empresas nacionais também é um afloramento da mesma orientação intervencionista. Tem sido o Governo a encorajar a banca para manter posições em sectores estratégicos, por vezes não rentáveis, mas que representam instrumentos de política global. Isto não só em relação à banca pública, mas também em relação à banca privada. Na prática, configura-se todo um conjunto de decisões a tomar na esfera política a que os grupos empresariais não podem ser alheios. Note-se que tal não se verifica apenas na banca: alguns grandes grupos empresariais têm também participado na criação de núcleos portugueses em sectores importantes. Considero, assim, que a defesa do interesse dos consumidores, feita só a jusante é tardia, porque quando se está a definir a política dos sectores, não há suficiente intervenção cívica dos cidadãos e, depois, é em regra tarde demais para remendar as consequências das políticas estruturantes. Especificidades da banca Em relação à banca aproveito para sublinhar que se trata de um sector muito competitivo. Por vezes chega-se mesmo a exageros, na publicidade, na captação dos clientes e nas práticas de marketing, com excesso de concorrência entre as instituições. É um sector muito competitivo e necessariamente com algumas fragilidades que derivam da dimensão do País e do mercado nacional. Se somarmos toda a banca que trabalha em Portugal, a resultante é menor do que cada um dos dois maiores bancos espanhóis. Não se trata de um problema de campeonato, de saber quem fica no pódio. O problema reside em que esses maiores bancos podem definir uma política diferente conforme as regiões da Península. E podem decidir que, em Portugal, a prática é uma e em Madrid ou Barcelona é outra, porque para os bancos portugueses não há verdadeiramente um mercado Ibérico. O grau de concentração da banca portuguesa não preocupa tanto quanto o grau de concentração na Península Ibérica. O grau de concentração da banca em Portugal, com cinco instituições principais, é menor do que na maior parte dos pequenos países europeus, onde, muitas vezes, há apenas dois ou três principais bancos. Por outro lado, a concorrência é relativamente mais aberta no sector bancário do que noutras actividades onde há economias de escala de natureza tecnológica, o que na banca não existe. A dimensão que permite economias de escala tecnológicas, é muito pequena na banca, de poucas dezenas de milhões de dólares por ano, de volume de negócios. As vantagens de dimensão vêm de outros factores (imagem, marketing, etc.). Mesmo os sistemas informáticos, onde poderia haver economias de escala, podem ser subcontratados a empresas de serviços e tecnologias de informação. Acresce que, além dos principais bancos, operam actualmente em Portugal mais de meia dúzia de bancos médios, que têm redes maiores do que há 20 anos tinham os principais bancos em Portugal. Ocorrem-nos facilmente cinco ou seis bancos de menor dimensão que têm redes que cobrem o país, muito mais efectivamente do que as melhores redes bancárias de há duas 35 décadas. A concorrência tem hoje também, naturalmente, dimensões transfronteiriças – que não vou aqui desenvolver – com a introdução do Euro, com a total liberdade de circulação de capitais, também com a total liberdade de prestação de serviços. Tem-se falado aqui de intervencionismo, e não sei se intervencionismo é a melhor opção, ou se se deveria falar de regulamentação mais eficaz. Normalmente intervencionismo, nos mecanismos de concorrência, tende a dar mau resultado, por encorajar intervenções casuísticas e perturbação de expectativas estáveis. Como outros colegas presentes vão com certeza tratar do assunto, não vou agora referir-me a essa questão. Dr. Mário Marques Mendes Defesa da concorrência versus defesa do consumidor Queria fazer dois comentários. O primeiro está relacionado com uma afirmação feita pelo Dr. Victor Calvete, que foi a seguinte: a política de protecção ou defesa dos consumidores é uma política intervencionista, a política de defesa da concorrência é uma política não intervencionista. Não queria entrar na discussão sobre qual a perspectiva de análise correcta: se a da oferta, se a da procura. Estou de acordo com a abordagem que creio ser também a do Dr. Moura e Silva e do Professor Pitta Barros. Aquilo que me preocupa na afirmação do Dr. Victor Calvete é que a política de concorrência não é, em si mesma, nem tem que ser, uma política não intervencionista. A política de concorrência reflecte as circunstâncias históricas, sociais e económicas de um determinado espaço em determinado tempo, e é nesse preciso contexto que deve ser entendida. A afirmação feita parece enquadrar-se numa certa concepção da política de concorrência característica da chamada escola de Chicago, hoje também já ultrapassada, matéria que poderíamos, eventualmente, discutir no painel seguinte. A política de concorrência pode, no entanto, servir outros fins para além da eficiência económica na afectação dos recursos. É o que tem acontecido ao longo do tempo. Na Comunidade Europeia, a política de concorrência tem sido desde o início – agora menos, obviamente – uma política de integração de mercados. Só há relativamente pouco tempo considerações de natureza económica – por influência, reconheça-se, da escola de Chicago – passaram a constar do direito comunitário da concorrência. Nos próprios Estados Unidos, antes da escola de Chicago se impor, em meados dos anos 70, era preponderante uma abordagem mais populista, de protecção dos consumidores, característica do tempo do Warren Court, do célebre presidente do Supremo Tribunal de Justiça norte-americano. 36 Regulação de sectores com «essential facilities»/ «infra-estruturas essenciais» Um outro comentário refere-se à questão suscitada pelo Conselheiro Anselmo Rodrigues quanto aos monopólios, propriedade de infra-estruturas, etc. Estamos a entrar, aqui, numa outra área – relativa às chamadas «essential facilities»/«infra-estruturas essenciais» – que mereceria ser discutida. Na verdade, parece assente que, de um ponto de vista de disciplina da concorrência, não há uma ligação directa necessária entre a propriedade das infra-estruturas essenciais e a utilização dessas mesmas infra-estruturas. Fundamental é, sim, a possibilidade de acesso dos operadores no mercado em questão às infra-estruturas essenciais em causa. É, sobretudo, nesta sede que uma análise de concorrência deve, em meu entender, ser feita. Dr. Alberto Regueira Em primeiro lugar, penso que houve uma frase do Dr. João Salgueiro extremamente importante, que ponho quase como epígrafe destas considerações finais e que justifica até o tema do Seminário: disse ele que a defesa dos consumidores só a jusante do processo é tarde. Estou perfeitamente de acordo com isso! Nunca me passou pela cabeça que a política de defesa do consumidor se subsume na política de defesa da concorrência, que uma tem prevalência sobre a outra. Têm ligações é certo; a defesa do consumidor é uma visão horizontal, prende-se com muitas políticas - educação, saúde, transportes, etc. - e a defesa da concorrência é exactamente uma daquelas com quem tem relações, mas insisto em que é um domínio de política que se situa, logicamente, a montante, com profundas implicações a jusante. Se, de facto, não houver uma política eficaz de defesa da concorrência, os consumidores serão altamente prejudicados A lógica da exposição que pensei fazer é a seguinte: Hoje em dia, estamos todos conscientes de que o sistema em que vivemos, e haveremos de viver, é o sistema de economia de mercado - e penso que esse sistema, até por contraposição com outros, tem dado menos más provas ou melhores, conforme se entenda. A fundamentação, até ética, a justificação para a prevalência desse sistema, está no facto de, havendo concorrência, conseguirmos atingir um conjunto de objectivos em que todos acabam por, de alguma forma, beneficiar. Se a concorrência deixa de funcionar, a própria base ideológica justificativa da prevalência do sistema fica posta em causa. Eu penso que a política de defesa da concorrência tem uma importância extraordinária, porque se ela não existir, as consequências, também em matéria de defesa do consumidor, podem ser bastante drásticas. Não estou de acordo quando se diz que política de defesa do consumidor tem mais que ver com aspectos de qualidade ou de protecção de saúde e de segurança porque, por exemplo, a questão dos preços é decisiva quanto à maneira como os consumidores se situam perante o mercado e como podem ser afectados. Um dos riscos dos oligopólios ou, dos mercados com forte predomínio de um pequeno número de grandes empresas é a possibilidade de fixação de preços e repartição de mercados. Ainda não há um mês, o 37 «Financial Times» noticiava que a Comissão Europeia iria considerar a possível investigação de colusão entre as Assicurazioni Generalli de Itália, a AXA de França e a Allianz da Alemanha, sendo esta última a maior seguradora europeia, porque os três gigantes dos seguros tinham concordado num pacto informal de não agressão. Quando se chega a situações onde há oligopólio, ou há um peso determinante de um pequeno conjunto de grandes empresas - mesmo que haja algumas mais pequenas que lá estejam também a funcionar –começam a verificar-se riscos de conluio de interesses, de actuações distorcedoras da concorrência, que depois vão afectar não só os consumidores mas também as actividades económicas que utilizam os seguros. É óbvio o que acontece se a concorrência não funciona: todas as actividades a jusante, e também as actividades de consumo, sofrem as consequências. Em suma a concorrência é absolutamente fundamental. A marca enquanto garante da defesa do consumidor A professora Maria Manuel Leitão Marques, disse que as marcas brancas não serviriam para garantia dos utilizadores. Penso que a diferenciação da marca, muitas vezes, não assenta em qualquer diferença substancial. Nesses casos a marca é um processo de introduzir uma diferenciação mais virtual que real. A importância da formação do consumidor e o papel da comunicação social O Professor Valente de Oliveira levanta duas questões: em relação à formação em meio escolar não podia estar mais de acordo. É óbvio que seria muito importante que, de forma gradativa desde os níveis de educação mais elementares, os jovens fossem habituados a ler e interpretar o que dos rótulos consta, a irem à procura do preço unitário ou da maneira de o calcular. Seria uma forma de informação e defesa contra a instrumentalização publicitária, que, obviamente, começa na mais tenra idade. Era extraordinariamente importante despertar o espírito crítico dos jovens, relativamente a isso. Quanto a evitar o alarmismo, também não poderia estar mais de acordo. Recordo que, há alguns anos atrás, uma Associação à qual estou ligado, teve um papel extremamente importante em conseguir evitar-se uma situação de alarmismo que, se tivesse alastrado, poderia ter tido consequências bastante graves. Refiro-me ao célebre caso ocorrido com os fundos de investimento da SOGEVAL, geridos pelos Correios, em que se gerou uma situação de certo pânico e houve o risco de haver uma corrida ao resgate sistemático das unidades de participação. É evidente que, se porventura isso tivesse ocorrido naquele momento, todos os participantes teriam sofrido prejuízos irreparáveis. Foi possível, através de uma atitude extremamente calibrada, conseguir evitar essa reacção de pânico. O problema resolveu-se entretanto e a entidade que tinha prestado informações deficientes indemnizou os operadores lesados. Portanto, não podia estar mais de acordo em evitar o alarmismo em qualquer momento. 38 Outras questões Agradeço ao Dr. Nuno Fernandes Thomaz o exemplo que deu, de facto, não podia ter sido mais persuasivo do carácter irrisório das penalidades actualmente praticadas. O Dr. Ataíde Ferreira referiu-se às regras miúdas, que podem invalidar a concorrência ou criar grandes obstáculos. De facto as regulações de tipo minucioso podem ter esse efeito – carros com volantes apenas à direita, à esquerda..., por exemplo. Quanto à intervenção do Dr. Luís Silveira, permito-me discordar relativamente à questão dos super e hipermercados. Antes quando as pessoas viviam em bairros integrados em cidades, a mercearia da esquina ou as lojas do bairro eram a resposta mais adequada. Quando as pessoas passaram a viver em periferias e a deslocarem-se, preferencialmente de automóvel, admito que as coisas já sejam um bocado diferentes. Mas em todo o caso a questão é sempre esta: durante uma primeira fase pode haver um certo efeito de redução de preços motivado pela entrada de grandes superfícies. O problema é quando o mercado se consolida, quando os oligopólios se tornam maduros, então começa a haver um perigo cada vez maior de conluio entre as empresas. Não estou de acordo com o Dr. Victor Calvete, quando diz que as intervenções para defesa do consumidor interessam só do lado da procura. Repito: é extraordinariamente importante o que acontece a montante das actividades de consumo. Professor Doutor Pedro Pitta Barros Haverá lugar para uma política de defesa de concorrência numa pequena economia aberta? A primeira questão que foi colocada é a de saber se há lugar para uma política de defesa da concorrência numa economia periférica e aberta. A resposta numa palavra é: sim, por dois tipos de razões. Em primeiro lugar, apesar de haver abertura de mercado e haver um efeito de dimensão de disciplina de importações que possa ser exercida, há muitos sectores onde essa disciplina não é exercida de forma muito veemente. Em segundo lugar, mesmo as grandes empresas internacionais a operar no nosso país podem não estar interessadas em fornecer essa disciplina. Portanto, o ser uma pequena economia aberta, num grande espaço europeu, não garante necessariamente que a pressão concorrencial entre todos os sectores prescinda de uma política própria de defesa da concorrência. O segundo aspecto que foi mais focado, é saber se, existindo uma legislação comunitária de defesa da concorrência, nós deixamos de ter que nos preocupar com a defesa de concorrência: mais uma vez a resposta é que temos que nos preocupar com a defesa da concorrência, porque, por um lado, há uma tendência clara da Comissão Europeia de deixar para os países o que aí pode ser tratado, havendo vários argumentos para isso. Por um lado existe o argumento da Comissão que consiste em afirmar não ter recursos para tratar de todos os casos. Por outro lado, argumenta-se que as autoridades 39 nacionais possuem mais informação e estão mais próximas dos problemas mesmo tratando-se de casos que envolvam questões de dimensão comunitária. Obviamente que os grandes casos, os casos de «bandeira», tenderão sempre a ser tratados pela Comissão, também para estabelecer política. Mas, depois de tratado um caso bandeira, provavelmente a tendência da Comissão vai ser delegar para os países a resolução dos casos que vêm em seguida, tendo em atenção o caminho que por ela traçado. Mais uma vez, nesse sentido, é importante que as autoridades de defesa da concorrência, os instrumentos de defesa da concorrência, dentro de cada país, funcionem bem, mesmo que seja para aplicação da legislação comunitária. Qualquer das duas razões diz-nos que faz todo o sentido preocuparmo-nos com a política de defesa da concorrência em Portugal. Relevância da procura para a defesa da concorrência O segundo ponto que foi levantado por várias pessoas era a importância de olhar para a procura na defesa do consumidor e aqui, provavelmente, expliquei-me mal: uma coisa é olhar para o consumidor e para o que se passa como definição de mercado relevante, quais são os interesses do cidadão, o que é que eles ganham em termos de balanço económico etc. como instrumento para definir a política. A política, em si, é uma actuação sobre o lado da oferta, que procura ou estruturar – por exemplo, actuando sobre operações de concentração - ou observar o comportamento das empresas. De qualquer forma, a política, em si, desenvolve-se sempre no lado da oferta, o que não significa que não olhe para os efeitos que essa política tem no lado da procura. Contudo, olhar para o lado da procura, é um instrumento, não é a política em si. Concorrência, variedade e direito de escolha É preciso, também, focar um outro aspecto que não foi focado em termos de vantagens da concorrência, para o lado do consumidor: é que a existência de concorrência tem como contrapartida do lado do consumidor a liberdade de escolha, que é inquestionável que o consumidor deva possuir. O consumidor só tem liberdade de escolha se tiver várias opções de escolha e, nesse sentido, concorrência também está relacionada com direitos do consumidor, no sentido de liberdade de escolha e no valor da variedade. Isso porque o exemplo que foi dado pelo Dr. Alberto Regueira, acerca do mercado segurador, é, no meu entender, um exemplo de defesa da concorrência, não um exemplo de direitos do consumidor. Provavelmente estamos a usar palavras diferentes para conceitos iguais. Isto é: intervir sobre como é que os preços são fixados por conluio, é uma intervenção típica de defesa da concorrência que, obviamente, tem efeitos sobre defesa do consumidor. É evidente – o objectivo é mesmo esse – mas não deixa de ser uma intervenção a que chamaria de defesa da concorrência e não de defesa do consumidor. O que seria uma intervenção a favor dos direitos do consumidor, seria fixação de preços administrativos, preços de serviços - que considero estar fora de 40 questão por todos os sinais errados que transmite, por todos os problemas que cria, sobejamente demonstrados. 41 CAPÍTULO II – POLÍTICA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA INSTITUIÇÕES DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA EM PORTUGAL E A SUA ACTUAÇÃO Apresentação do Tema: Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues A primazia da economia de mercado Pediu-nos o Exmo. Senhor Presidente do Conselho Económico e Social que interviéssemos nesta mesa redonda dentro do tema Política Portuguesa da Concorrência, sobre as Instituições de Defesa da Concorrência em Portugal e a sua actuação. Naturalmente que o tempo que nos foi concedido não foi muito, mas isso não pode impedir que antes de nos referirmos àquelas Instituições de Defesa da Concorrência e sua prática, não devamos fazer uma abordagem ainda que sumária sobre as condições políticas, económicas e sociais que determinaram o seu aparecimento. Durante grande parte do século que há pouco terminou podemos dizer que se desenvolveu uma luta entre dois sistemas políticos, que tinham igualmente como seus corolários dois sistemas económicos. Os sistemas democráticos de raiz individualista, que conduziram ao pluralismo político e à liberdade de iniciativa, que estão na base da economia de mercado e os sistemas políticos de natureza colectiva, que conduziram a uma apropriação pelo Estado dos bens de produção, que tinham subjacentes uma economia planificada, com recusa do papel da iniciativa privada. O desenvolvimento tecnológico, designadamente no domínio das tecnologias da informação, e a consequente mundialização, determinaram que os Estados não pudessem exercer qualquer controlo sobre os quatro grandes fluxos que caracterizam a actividade económica, o que foi determinante para que a economia de mercado suplantasse definitivamente, a economia planificada. A economia de mercado pressupõe, no entanto, a existência de regras de concorrência capazes de impedir uma economia planificada, já não pelo Estado, mas pelos monopólios privados. Com efeito, as condições de concorrência pura e perfeita (atomicidade, homogeneidade do produto, liberdade de entrada e saída do mercado, a transparência do mercado e fluidez da oferta e procura) raramente se encontram reunidas, pelo que os mercados são normalmente mais ou menos imperfeitos, (mercados de concorrência monopolistica, mercados oligopolistas e monopolistas). Por outro lado, a acentuação da internacionalização económica agravou as dificuldades na concretização dos valores da economia de mercado, de que a concorrência é um instrumento fundamental. 42 A reformulação das estratégias de produção e distribuição e a formação de grandes networks, tendo em vista atingir um mercado globalizado, a exigir uma grande dimensão dos investimentos necessários à liderança da tecnologia de produtos e processos, conduz igualmente a um processo de concentração sem limites, que pode conduzir a subsistência de um pequeno número de grandes empresas que decidirão o quê, como, quando, quanto e onde produzir bens e serviços. Seria pretencioso da nossa parte, desenvolver todas estas matérias, que tem a ver com a mundialização da economia, a governação do Mundo e o papel dos Estados na economia, exactamente no local onde, naturalmente, pelas qualidades dos membros do Conselho e pela presença de tão competentes entidades, essas questões são naturalmente mais aprofundadas. Julgámos, no entanto, necessário uma abordagem ainda que sintética desta matéria para poder introduzir o tema das autoridades de concorrência. Com efeito, a primazia da economia de mercado e a necessidade de garantir o funcionamento desse mercado, sem permitir que o desenvolvimento do próprio sistema capitalista conduza a concentrações que põem em causa o próprio mercado ou que os preços sejam fixados, não pelo funcionamento deste, mas pelo acordo de empresas que assim se cartelizam, conduziram à necessidade de criação de Autoridades de Concorrência. O modelo e missão atribuídas a cada uma dessas autoridades encarregadas de assegurar a concorrência tem a ver com a concepção que cada país tem desse princípio da organização económica que é a concorrência. Defesa da concorrência nos EUA Nos Estados Unidos ela é uma condição de progresso, a principal condição de funcionamento da economia, e por isso a livre concorrência é um valor absoluto, e daí que a lei anti-trust (Sherman act 1890) tenha sido concebida como um prolongamento da Constituição, e, portanto, tal como aquela pretendia evitar o poder absoluto no domínio político, também esta pretendia obter o mesmo objectivo no plano económico, evitando a monopolização do poder económico. Na generalidade dos países, designadamente, europeus a concorrência não é um fim em si mesmo mas um meio, entre outros, para aumentar a produtividade, a inovação e o progresso. Se esses fins puderem ser atingidos mais eficazmente por outros meios, a concorrência cede perante eles. Daí que esta concepção absolutista da concorrência, embora temperada pela regra da razoabilidade imposta pela jurisprudência, tenha conduzido nos Estados Unidos a que a infracção a essas regras de concorrência sejam vistas como crime («conspiracy») e como tal perseguidas, razão por que a entidade competente para o efeito seja o Ministério Público. A agência que trata do controlo do cumprimento das regras de concorrência (divisão anti-trust) é uma divisão do departamento de Justiça dirigida por 43 assistentes do Procurador e, em última instância, pelo próprio Procurador dos Estados Unidos. A natureza que atribuem ao cumprimento das regras da concorrência não obrigou os Estados Unidos a criar uma entidade autónoma para vigiar o seu cumprimento, bastando para tal atribuir tal competência ao respectivo Ministério Público. Defesa da concorrência na Europa Na generalidade dos países europeus, a natureza que é atribuída à concorrência impôs a criação de autoridades independentes, sim, mas autónomas e desligadas do poder judicial. Com efeito, pode dizer-se que todos os países europeus sejam ou não membros da Comissão Europeia, têm uma lei da concorrência, com a instituição de uma autoridade competente para vigiar o seu cumprimento. O modelo varia de país para país, podendo considerar-se, no entanto, três grandes modelos, a saber, modelo que designaremos por francês, que na realidade abrange, Portugal, França, Bélgica, Espanha, e, quanto a nós, recentemente a própria Inglaterra, (competition act 1998), em que a Autoridade de Concorrência, como que se subdivide em duas, uma de investigação e instrução (Direcções Gerais) dependente do Governo e outra de decisão (o Conselho) independente do Governo e unicamente sujeito ao regime de tutela e controlo judicial. O modelo que designaríamos por italiano (a autoritá) que tem por base o sistema alemão do Bundeskartellamt, mas que se distingue dele por aí haver um órgão colegial formal a quem cabe decidir. Isto é, a investigação, a instrução e a decisão cabem à mesma autoridade, mas a resolução é tomada pelo Conselho. Trata-se de um modelo que foi igualmente adoptado pela Turquia na Lei 4054, de 13 de Dezembro de 1994. Finalmente, o modelo que designaríamos por modelo nórdico, nele incluindo países que vão desde a Holanda à Finlândia, e no qual podemos incluir com algumas especificidades o próprio Bundeskartellamt alemão. Trata-se de organismos dependentes do Governo, ou seja, Direcções-Gerais, em que as decisões são tomadas pelos respectivos chefes de departamento, aos quais é garantida independência de decisão. Todos eles, no entanto, comungam de algumas características comuns. Em primeiro lugar têm um objectivo de justiça. A autoridade é chamada a restabelecer um justo equilíbrio dos mercados, garantindo a liberdade económica de todos os operadores sempre que essa liberdade está ameaçada por grupos empresariais fortes. Trata-se de proteger o direito de iniciativa económica das empresas, assegurando-lhes igualdade de condições dentro de um contexto efectivamente competitivo, o que se traduz num benefício para os consumidores e utilizadores. 44 Em suma, a missão de justiça confiada a estas autoridades visa contribuir para assegurar um jogo correcto dos mercados e a democracia económica. Em segundo lugar trata-se de autoridades independentes, o que se traduz no facto de toda ou alguma das suas atribuições serem exercidas sem subordinação ao Governo, tendo os seus membros, normalmente, um processo de designação distinto dos outros serviços. Essa independência, vai em alguns casos até à existência de autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica própria, e designação dos seus membros por entidades diferentes do Governo, como é o caso italiano e turco. Finalmente, trata-se de autoridades que, de forma geral, têm poderes de decisão própria em certas matérias, delas só havendo recurso para os tribunais e ainda poderes de consulta noutras. Antecedentes da defesa da concorrência em Portugal Feita uma abordagem ainda que breve, até porque outros intervenientes, naturalmente o vão fazer com maior profundidade, vejamos então o que se passa em Portugal em matéria de Instituições da Concorrência e sua prática. Dissemos que a concorrência é um pressuposto da economia de mercado e que ela resulta da existência de liberdade de iniciativa individual e consequente pluralismo económico (e político, naturalmente). Assim onde não há liberdade individual, não há concorrência, não há economia de mercado e, por isso, é desnecessário qualquer lei da concorrência ou a existência de autoridades com capacidade para proceder ao controlo da sua aplicação. Assim foi no regime corporativo que vigorou até 1974, pela sua própria natureza avesso à concorrência; assim foi depois de 25 de Abri de 1974, pelo menos até 1982, altura em que com a revisão constitucional o Plano deixou de ser imperativo, e, consequentemente, em termos formais, deixou de ser uma economia planificada. É certo que a lei das coligações económicas, (Lei 1936, de 18 de Março de 1936), considerava ilegais e punia «os acordos, combinações e coligações que tenham por fim restringir abusivamente a produção, o transporte ou comércio dos bens de consumo», uma das vertentes necessárias da lei de concorrência, mais fazia-o não em homenagem à livre fixação dos preços, em resultado da lei da oferta e da procura, mas em obediência aos objectivos da economia nacional corporativa, avessa a essa concorrência (Base III e IV). Em 1972, com a lei 1/72, de 24 de Março, procurou-se instituir uma lei de concorrência «tendo em vista o desenvolvimento económico e social do país», «tendo em consideração a estrutura do mercado...» prevendo-se a punição dos acordos, decisões ou práticas, concertadas, bem como as demais práticas restritivas da concorrência (Base IV e Base V) e instituiu-se como órgão administrativo encarregado da sua fiscalização (Base VIII e seguintes), o Conselho Superior de Economia. 45 Cometeu-se, no entanto, o pecado de deixar a sua entrada em vigor na dependência do decreto que a regulamentasse (Base XVI), o que pelas razões atrás referidas nunca viria a ser publicado. Com a Constituição de 1976, na sua versão original, a situação não se alterou. É certo que os direitos e liberdades individuais estavam garantidos na Constituição e tinham primazia sobre os direitos económicos e sociais. Todavia, no que tocava a liberdade de iniciativa económica privada ela estava limitada pelo interesse colectivo (art.º 85º) não podendo ser exercida em certos sectores básicos, estava submetida ao Plano, que, por sua vez tinha carácter imperativo. Nestas circunstâncias de nada valia o art.º 81 no que toca às incumbências prioritárias do Estado, referir-se «à equilibrada concorrência entre as empresas», como uma dessas incumbências. Só com a Revisão Constitucional de 1982, e a alteração qualitativa que já então se adivinhava e veio a ser finalizada com a revisão de 1989 – o plano passou em 1982 a ser meramente indicativo para as empresas privadas e deixou mesmo de existir com a revisão de 1989 – se criaram as condições para que fosse aprovada uma lei de concorrência. Isso ocorreu Decreto-lei 422/83, posteriormente alterado pelos Decreto-lei n.º 370/93 e 371/93, de 29 de Outubro. Caracterização das autoridades nacionais de concorrência Com aquele primeiro diploma, a que os ulteriores não introduziram alteração significativa quanto ao modelo e composição, instituíram-se como autoridades nacionais de concorrência, a Direcção-Geral da Concorrência e Preços (hoje, DirecçãoGeral do Comércio e Concorrência) e o Conselho da Concorrência. Com efeito, o Decreto-lei n.º 371/93, de 29 de Outubro, que é hoje a lei em vigor sobre concorrência, – atribui-lhe a competência para decidir os processos relativos às práticas restritivas da concorrência proibidas naquele diploma, bem como aqueles processos que a Direcção-Geral da Concorrência e Preços (hoje, Direcção-Geral do Comércio e Concorrência) lhe remeta e que tenham a ver com a violação das normas comunitárias para as quais os Estados-Membros sejam competentes. Atribui-lhe ainda competência para, nos casos em que o membro do Governo competente o entenda solicitar, emitir parecer sobre as operações de concentração sujeitas a notificação prévia. Por outro lado, no que toca à outra vertente capaz de pôr em causa as regras da concorrência – os auxílios do Estado – a lei tendo-os previsto e considerando-os, em geral, violadores da concorrência, não atribuiu qualquer competência ao Conselho nessa matéria, que ficou a pertencer exclusivamente ao âmbito governamental. 46 A lei nos casos em que atribui competência decisória ao Conselho atribui-lhe também competência para aplicar as coimas aí previstas. O controlo das decisões do Conselho é feito, através do recurso para o Tribunal de Comarca (pequena instância criminal) de Lisboa, no âmbito de aplicação daquele diploma, tendo essa competência passado a pertencer ao Tribunal de Comércio com a instituição destes Tribunais em Outubro de 2000. No que toca à sua actividade esse controlo é feito através da elaboração de um relatório anual, que é presente ao membro do Governo competente. O Conselho da Concorrência é composto de um presidente (Magistrado) nomeado pelo Primeiro Ministro, sob proposta dos ministros da Justiça e Economia, ouvido o Conselho Superior da Magistratura, ou do Mº Pº, conforme os casos, e seis vogais, nomeados também pelo Primeiro Ministro sob proposta daqueles membros do Governo. Exercem as suas funções em acumulação e recebem uma gratificação mensal que foi fixada por despacho. Por outro lado, não tem qualquer autonomia administrativa e financeira, competindo o apoio à Secretaria-Geral do Ministério, que lhe fornece os meios humanos e materiais. No que toca à Direcção-Geral, hoje, do Comércio e Concorrência as suas competências estão fixadas no art.º 12 do mesmo diploma e traduzem-se, essencialmente, na identificação das práticas susceptíveis de infringir a lei, sua investigação e instrução, a fim de submeter os respectivos processos ao Conselho da Concorrência para decisão. Note-se que, de acordo com a interpretação que tem prevalecido, embora contestada, a Direcção-Geral só é obrigada a remeter ao Conselho os processos em que haja fortes indícios de prática de uma infracção. Não é obrigada a fazê-lo em relação aqueles que tenha instaurado e conclua pela inexistência de provas, nem mesmo é obrigada a instaurar os respectivos processos quando os indícios não sejam sérios. Finalmente, para caracterizar melhor o sistema importa referir que o Conselho da Concorrência não tem competência própria para iniciar ou propor a instauração de um processo de contra-ordenação por violação da lei da concorrência. Resulta do que atrás se disse que o legislador português concebeu um sistema de autoridades administrativas de concorrência semelhantes àquele que designamos por «modelo francês», embora o Conselho da Concorrência Francês, tenha surgido depois da criação do nosso. Ou seja, um sistema em que há uma Direcção-Geral, dependente hierarquicamente do Governo, a quem compete identificar e instruir os processos de infracção da lei da concorrência e os processos de concentração, que submete ao Conselho ou a respectivo membro do Governo. Um Conselho a quem compete decidir os processos de infracção, para cuja apreciação goza de uma larga margem de arbítrio, o que tem a ver com a natureza da concorrência – (concorrência-condição) – na medida em que nos termos do art.º 5º pode 47 não obstante as práticas restritivas, serem ilegais, justificá-las no caso de o balanço económico assim o permitir. Por outro lado, no que toca ao Conselho da Concorrência, este beneficia dos requisitos que são comuns às diferentes autoridades de concorrência, e que, como atrás vimos, são a missão de justiça, a independência e a pluralidade de funções (decisórias e consultivas). Que tem a função de justiça resulta de facto de ser a entidade competente para sancionar a violação da lei sem outro tipo de recurso que não seja o contencioso. A independência resulta não só do processo de escolha – magistrado como presidente; vogais de reconhecida competência e idoneidade – nomeados pelo PrimeiroMinistro, sob proposta de dois ministros, sendo um deles o Ministro da Justiça, como da inexistência de subordinação hierárquica ao Ministério da Economia (Comércio) que, no entanto, o tutela. Finalmente mandatos por períodos de tempo determinado, não podem ver o seu mandato revogado por iniciativa do Governo durante o período da sua vigência e estão sujeitos ao mesmo regime de impedimentos e sujeições aplicáveis aos juizes (art.º 14 e 20). A lei não é, todavia, clara no que toca aos mandatos dos restantes membros do Conselho. Já vimos igualmente, que as funções atribuídas ao Conselho têm natureza decisória em alguns casos e consultiva noutros. Se temos um conselho igual a tantos outros, com a mesma competência, partilham dos mesmos caracteres comuns, podia parecer que, nesta matéria, tudo estaria bem entre nós. Mas não está. Pontos fracos da defesa de concorrência em Portugal Com efeito, falta entre nós, uma cultura da concorrência. Falta aos agentes económicos, que ao longo dos anos, (antes e depois do 25 de Abril) se habituaram à intervenção do Estado na fixação dos preços. A própria Direcção-Geral encarregada da Concorrência tinha também funções de fixação de preços e, por isso, se designava por Direcção-Geral da Concorrência e Preços. Falta aos agentes políticos, que em muitos casos identificam a concorrência com o comércio, de tal modo, que não se criou até hoje uma Direcção-Geral encarregada só da Concorrência, como acontece nos outros países que têm um modelo semelhante. A junção na mesma Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência, apesar de esta possuir competência que atravessa toda a economia, para além de psicologicamente induzir a uma redução da sua acção corre o risco de defender interesses e valores que são em muitos casos conflituantes. 48 Falta na sociedade em geral, que em face das alterações do mercado, não exige mais concorrência, mas, ao contrário, se volta para o Estado para que este fixe os preços. Falta finalmente nas próprias Universidades e na formação daqueles que virão a aplicar o direito, onde o Direito da Concorrência, enquanto tal, não ganhou autonomia nos respectivos curricula. Daí a importância dos colóquios e mesas redondas como estas, que podem ajudar a forjar essa cultura. Mas não é só no domínio da cultura de concorrência que o nosso país se diferencia dos outros, ou de alguns outros. Também no que toca à estrutura das suas autoridades da concorrência e à articulação entre elas, o país, que foi pioneiro em relação ao modelo que designámos por francês (O Conselho da Concorrência Francês foi criado por «ordonnance», de 01 de Dezembro de 1986), não se foi adaptando à evolução dos outros países. É certo que em 1993 (DL 371/93) houve alteração do DL 422/83, mas essa alteração incidiu sobre a competência do Conselho (foi lhe retirada a competência para decidir as questões relativas às práticas restritivas individuais) e não sobre a sua composição, meios, articulação com a Direcção-Geral, etc. Mantemos assim o sistema institucional criado em 1983 perfeitamente inalterado. Pensamos, ao contrário do que muitas vezes acontece no nosso país, que as instituições não devem dar saltos mas evoluir por forma a manter a sua própria cultura, história e memória, mas também consideramos, ainda por cima em matérias como estas, em perfeita mutação, que as instituições não devem ser estáticas. Julgamos, por isso, que há que introduzir algumas alterações no nosso sistema institucional por forma a poderem ser cumpridas as três missões que atrás referimos. Assim, desde logo, no que toca ao Conselho da Concorrência a fixação de condições que garantam uma mais eficiente independência aos seus membros. Não que esta não tivesse existido ao longo dos quase dezoito anos da sua história mas, formalmente, não estão criadas as condições que facilitam a sua existência. A presidência do Conselho por um magistrado não é, só por si, garante dessa independência. Os magistrados são homens como quaisquer outros e colocados em posição de subordinação, de nada lhes vale a sua cultura de independência. Nesse sentido parece-nos essencial que o mandato dos vogais do Conselho, seja fixado por um período mais alargado, devendo ser irrenovável. A possibilidade de renovação retira independência aos seus membros, que à espera da renovação podem sentir necessidade de não desagradar a quem os nomeia. E se até hoje isso não se tem feito sentir é porque o subsídio atribuído é de tal forma pouco aliciante que ninguém pensa para o manter ou hipotecar a sua independência. Por outro lado, no que toca à sua missão de justiça, impõe-se uma alteração do sistema de controlo judicial das suas decisões. 49 Não tem sentido criar-se uma autoridade independente, de resto, presidida por magistrado, que tem sido até hoje oriundo dos supremo-tribunais, cujos membros têm os deveres e impedimentos dos juizes, supostamente composta de elementos altamente qualificados na matéria e depois garantir-se recurso contencioso para o Tribunal de 1ª Instância (seja criminal, seja do comércio). O princípio constitucional do acesso aos tribunais não impõe tal solução e este não se compadece com o rigor e celeridade das decisões, fundamentais quando estão em jogo interesses económicos muito importantes. Com efeito, não só os juizes não tem preparação numa matéria que participa do direito dos negócios e do direito administrativo, e, por isso, extremamente complexa, especialmente para quem começa uma carreira, como a ser assim em vez de se tornar o processo de decisão mais rápido cria-se, ao contrário, mais uma instância de recurso, o que conduzirá necessariamente a um prolongamento da decisão definitiva. É por isso que a generalidade dos países estabeleceu o princípio de que o recurso contencioso deve ser dirigido à 2ª instância, divergindo tão só na adopção da jurisdição comum ou jurisdição administrativa. Mas não é só no plano do Conselho que se impõe alterações. Também em relação à autoridade administrativa com competência para identificar e instruir os processos as alterações são necessárias. Desde logo, a autonomização da Direcção-Geral da Concorrência, com uma dependência governamental capaz de assegurar a horizontalidade da sua acção, dotada dos meios necessários para a prossecução de um verdadeira política de concorrência, o que lhe permitiria uma actuação independente de qualquer queixa, o que nem sempre tem ocorrido. Depois uma ligação entre o Conselho e essa Direcção-Geral que podia ser à semelhança do sistema francês actual, com a criação do representante (comissário) da Direcção-Geral no próprio Conselho. São alterações para as quais temos vindo a alertar nos relatórios anuais desde que assumimos a responsabilidade da Presidência do Conselho. Assim em 1997 dizíamos: «... Com efeito, com o aprofundamento do mercado único, potenciado pela adopção do euro, o progresso tecnológico (internet, comércio electrónico, etc.) e a globalização da economia, o direito da concorrência tem um papel fundamental a desempenhar. A garantia da liberdade no mercado vai ser cada vez mais um factor de bem-estar do consumidor na medida em que tende a obter os mesmos bens ao melhor preço, mas também uma garantia de eficiência económica. A competitividade vai depender em larga medida da forma como seja garantida a concorrência nos mercados. A legislação portuguesa que, no essencial, recolhe os princípios da legislação comunitária e institui autoridades nacionais com competência próxima daquela que foi 50 atribuída a órgãos semelhantes de outros países da comunidade, não tem conseguido resultados próximos dos conseguidos por esses países. Tal fica a dever-se, naturalmente, a alguma ineficiência, à falta de coordenação, à manifesta falta de meios à disposição do Conselho da Concorrência e da Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência, mas também à forma como eles estão estruturados e articulados. Há, com efeito, áreas fundamentais da actividade económica onde é suposto também haver violação das regras da concorrência (é o caso dos seguros, da banca e dos concursos públicos de fornecimento de bens e serviços, de empreitadas de obras públicas, etc.) onde o Conselho da Concorrência praticamente nunca foi chamado a intervir. No relatório de 1998 renova-se o que se tinha dito no relatório anterior chamava-se a atenção para necessidade de articulação entre as autoridades da concorrência e autoridades reguladoras, com as delimitações precisas das suas competências De resto, o mesmo alerta fazíamos no relatório de 1999, chamando a atenção para o facto - num momento em que o Governo anunciava, de acordo com o seu programa alterações nesta área, - de que mais do que introduzir normas materiais, embora algumas sejam necessárias como vimos, importa dotar os serviços de meios técnicos e humanos necessários a essas autoridades, para que estas possam fazer cumprir a lei. É que os números são significativos. Em 1995 estavam pendentes no Conselho 14 processos, entraram 5, foram decididos 7, pelo que transitarem, no que toca a contra-ordenações, 12 processos, para 1997. Quanto às avaliações prévias estavam pendentes 3 processos, forem recebidos outros três e decidido 1 pelo que transitarem para 1996, 5 processos, em instrução na DirecçãoGeral. Em 1997, foi recebido 1 processo de contra-ordenações e outro processo de controlo prévio, tendo sido decididos 5 e 1, respectivamente; pelo que transitaram 8 e 4 outros processos para 1998. Em 1998 foram recebidos 3 processos de contra-ordenação e decididos outros tantos, e quatro de controlo prévio e decididos igualmente quatro. Em 1999 foram recebidos dois processos de contra-ordenação e um processo de controlo prévio e decididos outros tantos. Neste momento, o Conselho tem dois processos pendentes de contra-ordenação e quatro de controlo prévio em instrução na Direcção-Geral. Só para mostrar algumas diferenças deixem-me citar alguns números do Conselho da Concorrência Francês e da Autorità Italiana. O primeiro possui 108 pessoas, das quais mais ou menos metade são quadros. Tem 35 relatores, e normalmente produzem 130 decisões anuais. Para o efeito tem um 51 orçamento anual, sem contar com as despesas de pessoal, para 2001, de 18 milhões de francos. Para além disso a Direcção-Geral tem afectados à concorrência, em exclusivo, 100 inspectores e outros trezentos acumulam os casos de concorrência com a matéria de fraudes, consumo, etc. Por sua vez a Autorità Italiana possui 170 funcionários titulares e mais 50 unidades contratadas, além dos 6 membros do Conselho com competência para decidir. Durante o ano de 1999 esta autoridade decidiu 30 casos de acordos de empresa para a fixação de preços, 15 casos de abuso de posição dominante. O Conselho da Concorrência Português para além dos membros do próprio Conselho (7 membros) tem um assessor, uma secretária e três funcionárias administrativas. Não nos referimos propositadamente às concentrações, pois o número de processos submetidos ao Conselho da Concorrência em face do número de notificações à Direcção-Geral, são perfeitamente desproporcionadas. Resta dizer que na sua história, o Conselho não foi chamado a pronunciar-se em mais de 10 casos de concentração, sendo que cinco deles foram durante o ano de 1999. (1 em 1995; 2 em 1996; 1 em 1998 e 1 em 2000). E felizmente durante esta semana foi publicado, em livro, o relatório de 1999, onde esses casos podem ser apreciados. Tais números não têm nada a ver com aqueles que a Direcção-Geral apresentou e que podem apresentar outras autoridades, como a Autorità Italiana com 423 casos em 1999 e a Direcção-Geral da Concorrência Francesa com 67 casos de concentração, dos quais seis foram submetidos a parecer do Conselho da Concorrência. Os números acima referidos parecem-nos falar por si, sobre a dimensão aparente da concorrência em Portugal. Pensamos no entanto que a dimensão real é diferente, mas a ela só se pode aceder com outros meios. 52 COMENTÁRIOS À POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA EM PORTUGAL: LEGISLAÇÃO E PRÁTICA Comentário ao Tema: Dr. Mário Marques Mendes Duas decisões paradigmáticas No domínio da concorrência, como em muitos outros, o que não se vê não existe. Um dos grandes problemas que tem contribuído para os relativamente modestos resultados da política de concorrência em Portugal é a falta de conhecimento, por parte dos agentes económicos, da existência de uma legislação e de uma política de concorrência. A tarefa que me foi atribuída foi, justamente, a de comentar a aplicação da lei da concorrência em Portugal. Como podem imaginar, 20 minutos permitem-me, apenas, destacar um ou outro aspecto que me parece ser marcante na evolução que se verificou desde a primeira lei da concorrência, de 1983, até hoje, sobretudo com a preocupação de suscitar alguma discussão. Porque é essencial promover a discussão destas questões. Fiquei particularmente agradado quando tomei contacto com duas decisões do Conselho da Concorrência do ano passado, nos casos UNICER (Processo nº 2/99) e CENTRALCER (Processo nº 3/98). Consegui o texto destas decisões por especial amabilidade, porque ainda não estão publicadas em Diário da República (D.R.). Ninguém pode elaborar, discutir e reflectir sobre o que quer que seja sem um conhecimento prévio da matéria em questão. Como o Senhor Conselheiro Anselmo Rodrigues acabou de referir, poder-se-ia ultrapassar os atrasos da publicação em D.R. através da disponibilização imediata das decisões e pareceres do Conselho da Concorrência na Internet, agora que estes meios estão à nossa disposição. Teria assim lugar a «publicidade» referida pelo Professor Pitta Barros, no sentido de levar as decisões ao conhecimento de todos os interessados no processo da concorrência. Estas duas decisões suscitaram-me algumas reflexões sobre o que tem sido e o que pode vir a ser a política de concorrência em Portugal, incluindo na perspectiva de uma eventual modificação legislativa. As decisões em causa são paradigmáticas. Elas contêm uma análise exaustiva das práticas em questão, para o que certamente terá contribuído a instrução adequada e rigorosa feita pela Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência. Isto é um tributo que deve ser prestado já que, publicamente, não é muito conhecido o trabalho que é desenvolvido. Essas decisões não só revelam este fundamental trabalho de investigação, como são o resultado de uma análise jurídica aprofundada, claramente em sintonia com o actual direito comunitário na área das restrições verticais. Não foi só por estas razões que fiquei impressionado com as duas decisões referidas. Na verdade, exceptuando algumas, poucas, decisões em que foram aplicadas coimas um pouco mais elevadas do que o habitual – cfr., por exemplo, as 53 decisões proferidas no processo n.º 4/90 («Gases medicinais»/3 coimas de Esc. 10.000.000$00), no processo n.º 13/93 («Leites para alimentação infantil»/coimas de Esc. 10.000.000$00 e de 3.000.000$00), ou mesmo, mais recentemente, no processo n.º 2/2000 («Técnicos Oficiais de Contas»/coima de Esc. 20.000.000$00, reduzida para Esc. 10.000.000$00 por decisão do Tribunal de Comércio de Lisboa) – só nas decisões «UNICER» (coima de Esc. 100.000.000$00) e «CENTRALCER» (coima de Esc. 60.000.000$00) foram aplicadas pelo Conselho da Concorrência coimas realmente significativas. Os agentes económicos tendem a dar importância ao que tem um impacto económico ou financeiro nas suas actividades. E, diga-se o que se disser, esta prática sancionatória é essencial para a credibilização de uma determinada política. A Comissão Europeia compreendeu isto muito cedo e decidiu, há muitos anos já, aplicar coimas elevadíssimas por violação das regras comunitárias de concorrência. Foi a partir dessa altura – recorde-se, por exemplo, a decisão PIONEER, de 1979, uma das primeiras a marcar a mudança – que o direito da concorrência começou a ser levado realmente a sério na Comunidade. Nesta perspectiva, estas duas decisões do Conselho da Concorrência também foram paradigmáticas. Não podem ser esquecidas, contudo, as limitações da própria lei, já que o limite máximo da coima que pode ser aplicada em caso de violação das disposições relevantes é de 200 mil contos, quantia porventura já não suficientemente dissuasora. É este um dos pontos da lei a merecer ponderação e eventual revisão. Influência do direito comunitário no direito nacional da concorrência Permitam-me voltar ao princípio, a um dos aspectos que eu notei nestas duas decisões: a influência do direito comunitário no direito nacional da concorrência. Desde os primórdios – curiosamente, num processo que dizia respeito à CENTRALCER, de 1986, que se seguiu a outro, de 1985, respeitante à UNICER – que estas duas empresas deram origem a decisões marcantes na área da concorrência. Na decisão CENTRALCER era dito que a empresa sustentava a validade do seu sistema de distribuição por, alegadamente, o mesmo ser conforme às condições de isenção previstas nos regulamentos comunitários relevantes. O Conselho da Concorrência, começando por distinguir os domínios de aplicação do direito comunitário e do direito nacional, afirmou o respeito pela primazia do direito comunitário sobre o direito nacional de concorrência, nos casos em que exista um conflito entre os dois. Concluindo pela não aplicação da disciplina contida nos referidos regulamentos comunitários de isenção por categoria, o Conselho da Concorrência, apesar de tudo, não deixou de exprimir a sua intenção de promover a harmonização gradual dos critérios de aplicação do direito nacional e do direito comunitário, acolhendo fora dos casos em que o direito comunitário é directamente aplicável, a experiência legislativa e a jurisprudência comunitárias, «... sem prejuízo 54 de especificidades do ordenamento nacional e das exigências imperativas da política de concorrência, enquanto instrumento de política económica». No ano seguinte houve um Parecer do Conselho sobre uma proposta de Portaria para uma isenção por categoria, tratando-se de obter, no que respeita à aplicação do direito nacional da concorrência, um resultado idêntico ao prosseguido com um regulamento de isenção, o Regulamento n.º 123/85, quanto a determinados acordos abrangidos pela proibição do artigo 85º do Tratado CE (actual artigo 81º CE). O Conselho da Concorrência rejeitou os argumentos segundo os quais a regulamentação em questão contribuiria para uma maior eficácia da política de concorrência ou para um acréscimo da segurança jurídica e sublinhou que a incidência da maior parte destes acordos no comércio internacional implica a verificação das condições de aplicação desse regulamento, que prevalece sobre o direito nacional. Tendo em conta que as situações nacionais, não submetidas ao referido regulamento, são escassas, concluiu o Conselho da Concorrência não se justificar a iniciativa legislativa em análise. Mas houve outras referências a esta relação e a esta influência do direito comunitário da concorrência sobre o direito nacional, a qual está presente nos próprios diplomas legislativos disciplinadores da concorrência desde 1983 – o Decreto-lei n.º 422/83 e, depois, o Decreto-lei n.º 371/93, que o substituiu. A aplicação do direito comunitário da concorrência pelas autoridades de concorrência e pelos tribunais nacionais Questão diferente se põe quanto à aplicação do direito comunitário pelas autoridades de concorrência e pelos tribunais nacionais. Em vários casos apreciados pelo Conselho e em algumas decisões judiciais foram discutidas disposições comunitárias – sobretudo o artigo 85º do Tratado CE (actual artigo 81.º CE) – e determinados regulamentos de isenção, não tendo havido, que me lembre, um único caso de aplicação efectiva da regulamentação comunitária. Houve sim, determinados processos – vejam-se, por exemplo, as decisões nos casos «POLIMAIA» (Processo n.º 3/92) e «PARFUMS ET BEAUTÉ» (Processo n.º 9/92), bem como outras também na área da distribuição - em que se procurou inspiração nas disposições do Tratado CE e nos regulamentos comunitários para encontrar soluções semelhantes ao nível do direito interno. A timidez das autoridades nacionais relativamente ao direito comunitário – não quanto a acolher os ensinamentos e influência daquele, como vimos, mas no que respeita à sua aplicação - vai ter que ser resolvida brevemente. O Conselho abordou esta matéria no Relatório de Actividade de 1998, onde se pronuncia declaradamente pela competência das autoridades nacionais para essa aplicação. É que não basta o direito comunitário estatuir que devem ser as autoridades nacionais a aplicá-lo; tem o direito interno que o prever e que será atribuída às autoridades nacionais a competência para o aplicar. A questão punha-se 55 diferentemente no âmbito da regulamentação anterior, o Decreto-lei n.º422/83, o que não cabe agora analisar. De toda a forma, à luz do regime vigente, o Conselho conclui - de uma maneira que pode ser eventualmente discutível - que as autoridades nacionais, a Direcção-Geral do Comércio e Concorrência e o Conselho da Concorrência, têm competência para aplicar os artigos 81º e 82º CE e regulamentos de aplicação. No entanto, e relativamente a um dos aspectos que pode levar a que se suscitem reservas sobre a sua conclusão de princípio, refere-se uma questão fundamental que é a de na legislação portuguesa não estar reconhecida às autoridades de concorrência a possibilidade de aplicarem sanções por violações do direito comunitário da concorrência. Pode-se encontrar expedientes laterais, como uma injunção relativamente ao não cumprimento do direito comunitário, e, partindo do não cumprimento dessa injunção, seguir-se para a via sancionatória. Todavia, não há a possibilidade de, directamente, aplicar uma sanção por violação do direito comunitário. Isto tornar-seá ainda mais crítico com a consagração, por regulamento comunitário, da aplicação do direito comunitário da concorrência pelas autoridades nacionais. Mais ainda tendo em conta a disposição que prevê que quando estiver em causa a susceptibilidade de afectação do comércio entre Estados-Membros, as autoridades nacionais devem aplicar o direito comunitário da concorrência, com exclusão dos direitos nacionais da concorrência. Tal vai suscitar inúmeras questões, nomeadamente no que respeita à articulação entre o artigo 81, n.º 1 e o artigo 81º, n.º 3 CE (ex. artigo 85º, n.ºs 1 e 3 do Tratado CE) A distribuição selectiva Queria referir-me agora, brevemente, a certos outros desenvolvimentos ocorridos ainda na área da distribuição. Pareceu-me, na verdade, marcante uma viragem que se deu com duas decisões do Conselho de, creio, 1997, nos casos «FS RIBEIRO» (Processo n.º 1/95) e «AMNÉSIA» (Processo n.º 2/95). Ambas tratam de recusas de venda a uma grande superfície por parte de distribuidores de vestuário de marcas de prestígio. Adoptadas no mesmo dia, curiosamente com fundamentações diferentes, transparece de ambas uma tónica importante: o afastamento, ainda algo tímido, por parte do Conselho da Concorrência, de uma análise puramente formal do clausulado dos contratos de distribuição, com escasso relevo dado à situação do mercado e à concorrência intermarca, característica das suas decisões anteriores nesta matéria [vejam-se, como exemplos desta abordagem tradicional, as decisões nos processos «IMPORBEL» (Processo n.º 10/93) e «LUSO-HELVÉTICA» (Processo nº 10/92) de 1993]. Note-se que a própria Comissão Europeia, na sua análise de alegadas restrições de concorrência, nomeadamente na área vertical, não foi sempre isenta de crítica. Porque, desde o início, a política de concorrência foi usada como um instrumento da 56 integração de mercados, muitas vezes esqueceu a fundamentação económica da realidade que estava a avaliar e, consistentemente, proibia práticas que, provavelmente numa perspectiva de eficiência económica, não deveriam ser proibidas. A própria Comissão só mais recentemente começou a adoptar esta abertura para a análise da situação no mercado, agora consagrada no regulamento comunitário sobre os acordos verticais. A prescrição do procedimento contra-ordenacional Voltemos às decisões nos casos UNICER e CENTRALCER, as quais foram objecto de recurso para o Tribunal de Comércio de Lisboa. Em ambos os processos o Tribunal de Comércio decidiu pelo arquivamento, fundando-se na alegada prescrição do procedimento contra-ordenacional por força da aplicação do artigo 121º, n.º 3 do Código Penal, que, na parte relevante, estipula que «a prescrição do procedimento criminal tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal de prescrição acrescido de metade». Destas decisões foi interposto recurso pelo Ministério Público, com o apoio de um Parecer de um vogal do Conselho da Concorrência, em que, em síntese, é sustentado, e, a nosso ver, bem, (i) «não ser aplicável o artigo 121, n.º 3 do CP em sede de prescrição do procedimento por contra-ordenação», (ii) «mesmo que assim não se entenda, o despacho do Mmo Juiz não procedeu a uma correcta contagem do prazo de prescrição já que os ilícitos praticados pela arguida têm carácter permanente ou continuado, pelo que o prazo de prescrição só começa a correr no dia em que cessar a respectiva consumação, o que ainda não aconteceu» e, por último, (iii) «o Mmo Juiz deveria ter ouvido a autoridade administrativa antes de decidir o arquivamento, de acordo com o disposto no artigo 70º, nº2 e 64º, n.º 3 do RGCO». Duas últimas notas quanto a este ponto. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção para a curiosidade de o Conselho da Concorrência se ter pronunciado, em 1992 (Rel. Act. 1992, p. 11) pela aplicação subsidiária do artigo 121º, n.º3 do Código Penal ao prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional. No entanto, entendeu já ao tempo o Conselho que a infracção de concorrência tem natureza permanente ou continuada, começando o prazo prescricional a correr «desde o momento em que os agentes interessados se desvinculam (formalmente ou na prática)» do comportamento que constitui a violação das regras de concorrência. De referir que, já quanto a esta última questão, se havia pronunciado, em Maio de 1989, o Tribunal de Polícia de Lisboa (1º Juízo, 2ª Secção) – competente, ao tempo, para a apreciação destes recursos e sempre tão criticado pela sua falta de sensibilidade a questões de concorrência –, num recurso interposto de uma decisão condenatória do Conselho da Concorrência no processo n.º 1/87 («RAR»), nos termos seguintes: «Ora, a prática restritiva de concorrência não pode considerar-se 57 como o acto que determinou a baixa de preços, isoladamente considerado, mas sim todo o comportamento que se manteve até Março de 1986 (e, se não fosse o que adiante se dirá sobre uma alteração radical de funcionamento do mercado nessa data, incluiria ainda o período subsequente em que viesse a ser obtido lucro ilícito em consequência desse comportamento). Como a arguida recebeu a nota de ilicitude em Maio de 1986, o procedimento não se encontrava prescrito tendo, então, sido interrompido o prazo». Em segundo lugar, e quanto à primeira das questões acima suscitadas, o Supremo Tribunal de Justiça fixou há poucos dias, em acórdão de 8 de Março de 2000, a jurisprudência de que a regra do n.º3 do artigo 121º do Código Penal é aplicável subsidiariamente ao regime prescricional do procedimento contra-ordenacional. Definida que está, assim, esta matéria em termos jurisprudenciais, a relevância da questão no âmbito do regime jurídico da concorrência é tão grande que, possivelmente, justificaria a sua reponderação no âmbito da esperada reforma legislativa. Concentrações Dois comentários sobre uma outra área sensível, que merece alguma discussão: a das concentrações de empresas. Como sabem, esta matéria, que antes era regulada em diploma autónomo, está hoje incorporada no Decreto-lei n.º 371/93, não se aplicando o regime neste previsto às instituições de crédito, sociedades financeiras e empresas de seguros. Creio que não se justificará, hoje em dia, manter esta excepção, que de resto não se verifica ao nível comunitário. Mesmo tendo em conta que os sectores financeiro e segurador estão sujeitos à intervenção de autoridades de supervisão, há várias soluções de natureza legislativa que permitiriam acautelar a aplicação das disposições de concorrência. Acresce que a excepção no domínio das concentrações pode levar a crer, erradamente, que a mesma se estende ao campo dos acordos e das práticas concertadas, o que não acontece. Porém, a verdade é que as autoridades nacionais de concorrência dedicaram muito pouca atenção a estes sectores em sede de acordos e práticas concertadas. Por fim, uma palavra sobre a aplicação do regime jurídico das concentrações. O parecer do Conselho da Concorrência no processo n.º 4/99 («TANQUISADO») constituiu o mais recente exemplo de uma abordagem preocupante da matéria em apreço. A questão, neste processo, era a seguinte: a PETROGAL, S.A. pretendia adquirir a totalidade do capital social da TANQUISADO-Terminais Marítimos, S.A., que se dedicava à armazenagem de combustíveis líquidos e gasosos no terminal da Mitrena, bem como aos respectivos serviços de apoio logístico, detendo as correspondentes infra-estruturas. Em duas palavras, o Conselho concluiu, com base nos factos carreados para os autos, que no mercado da armazenagem propriamente 58 dita, a PETROGAL tinha mais de 90% do mercado, e nos mercados a jusante, da distribuição dos combustíveis, sejam líquidos, sejam gasosos, a PETROGAL tinha uma posição largamente dominante. Ora, apesar da posição esmagadora da PETROGAL, quer no mercado da armazenagem de combustíveis e respectivos serviços logísticos, quer no mercado da distribuição de combustíveis líquidos ou gasosos, o Conselho afirmou, em termos, no mínimo, criticáveis, o seguinte: «Com efeito, as regras de formação dos preços dos combustíveis, o regime fiscal destes produtos e os regimes de preços máximos limitam de tal modo a possibilidade de concorrência entre as empresas de distribuição de combustíveis que a presente concentração não terá efeitos nas actuais condições de mercado, ao nível da distribuição de combustíveis, principal preocupação expressa pela DGC e pelo Sr. Secretário de Estado do Comércio. Por outro lado, a parcela representada pela TANQUISADO/LIS SADO na capacidade de armazenagem a nível nacional parece ser demasiado diminuta para que a presente concentração possa ter efeitos relevantes, numa perspectiva jus-concorrencial, mesmo a esse nível.» E conclui o Conselho que a operação de concentração em causa, embora permitindo à PETROGAL reforçar uma posição dominante, não é susceptível de impedir, falsear ou restringir a concorrência no mercado nacional dos serviços de armazenagem de combustíveis líquidos e gasosos e respectivos serviços de apoio logístico, bem como no mercado nacional de distribuição de combustíveis. No entanto, e para «assegurar a manutenção de uma concorrência efectiva», considerou oportuno o Conselho subordinar a aprovação da presente operação à condição de a PETROGAL garantir o acesso ao uso de parcelas de terreno da TANQUISADO/LIS SADO por parte de terceiros interessados, para efeitos de armazenagem de combustíveis em condições não discriminatórias e a preços razoáveis e proporcionais.» As fragilidades da construção adoptada pelo Conselho da Concorrência são evidentes, algumas delas enumeradas numa reflectida declaração de voto de um dos vogais do Conselho que votou vencido. Na verdade, e em primeiro lugar, não se compreende que seja considerado que não é susceptível de impedir, falsear ou restringir a concorrência no mercado nacional dos serviços de armazenagem de combustíveis líquidos e gasosos e respectivos serviços de apoio logístico uma operação de concentração como a que está em análise, num mercado em que os operadores independentes não têm uma única forma de entrar no mercado por importação – marítima - do exterior. Obviamente que não há necessidade de elaborar sobre as consequências que isso tem no mercado a jusante, pois ao fechar os meios de acesso e de entrada no mercado, através de operadores independentes, reforça-se também, no mercado a jusante, a posição dominante da PETROGAL no mercado da armazenagem. Quanto à questão da subordinação da aprovação da operação a condições, no referido voto de vencido é sintetizado o real significado e valor destas, nos termos seguintes, que são de subscrever inteiramente: «Apesar das 59 considerações tecidas pelo Conselho a este respeito, entendo que as condições em causa não são suficientes para assegurar a manutenção da concorrência efectiva nos mercados afectados. Tal conclusão deve-se à própria natureza das medidas propostas, que não garantem uma solução adequada e duradoura para os efeitos anticoncorrenciais gerados pela operação notificada. Em boa verdade, o Conselho propõe a imposição de uma condição que se resume, sinteticamente, a uma promessa de a PETROGAL não vir a explorar abusivamente a sua posição dominante, no que respeita às instalações de armazenagem próprias da TANQUISADO actualmente construídas. Ora, este tipo de promessas de não abusar de uma posição dominante nada acrescenta aos instrumentos clássicos do direito da concorrência, sobretudo quando não são acompanhadas de garantias quanto à sua eficácia.» Na verdade, os aspectos criticáveis da análise e das conclusões do Conselho neste Parecer são preocupantes, tanto mais que revelam a insistência num tipo de abordagem já seguida noutros casos de anteriores concentrações. É também motivo de alguma preocupação a divisão ocorrida no Conselho, sobretudo por se verificar em torno de uma questão tão fundamental como seja a de se saber se quando uma empresa detém mais de 90% de posição de mercado a montante e uma posição forte nos mercados a jusante, uma aquisição por pequena que seja tem ou não impacto nas condições de concorrência. E concordo também, como já referi, com a declaração de voto nesse sentido feita, de que remédios de comportamento no que devem ser soluções de estrutura não funcionam, ou seja, dizer-se à PETROGAL que não deve abusar da sua posição dominante é quase um «convite» a esse mesmo abuso, em particular quando é de duvidar que o cumprimento das condições possa ser devidamente acompanhado. Quero dizer: quem tem poder, não vai abdicar dele, especialmente se o reforço desse poder lhe é oferecido de bandeja, e muito provavelmente sem controlo. As opções de política de concorrência em matéria de concentrações, traduzidas, muito em particular, no parecer emitido no processo «TANQUISADO», mas não só, deveriam merecer uma reflexão cuidada sob pena de o mercado, noutros sectores, poder desenvolver-se de uma maneira perversa. 60 Comentário ao Tema: Dr. Pedro Ferraz da Costa Tentarei ser telegráfico e não falarei de aspectos históricos, não por falta de tempo mas por opção. Tive uma vez uma troca de impressões com um grande investidor que tinha inaugurado uma fábrica de fibras ópticas no Norte de Portugal numa altura em que havia naquele tipo de produção três unidades no Mundo. Pensando ter sido atraído para Portugal por o nosso país estar interessado na sua presença, este investidor não compreendia porque lhe eram sucessivamente levantadas dificuldades por todos os organismos do Estado. Na sua opinião, Portugal tinha uma característica especial que em muito iria dificultar o seu desenvolvimento económico: trata-se de um país com muita cultura e com muita história. Baseava esta sua opinião no facto de que cada carta recebida a informá-lo de que não era autorizada qualquer actividade lhe eram explicados inúmeros aspectos relativos a outras questões. As cartas tinham duas ou três páginas e o conteúdo referente ao assunto em questão era descrito em duas ou três linhas. A existência de interesses contrários à concorrência Tivemos nesta sessão - pelo menos na parte a que assisti – um historial sobre os antecedentes e a nossa relação com a concorrência. Considero que é uma história mal contada, porque há uma «elite» em Portugal que vive a administrar todos os outros que não têm tanto poder e que tenta que não haja concorrência. Há, aliás, momentos de maior abertura em que isso é confessado. Recordo que o Professor Cavaco e Silva afirmou que não sacralizava o Mercado e, na política de privatizações que se seguiu, viu-se como perdeu tantas oportunidades de criar condições objectivas para que houvesse concorrência. O Dr. Basílio Horta, num partido supostamente mais à direita, também foi sempre um grande defensor da intervenção do Estado e com grandes medos da concorrência. Actualmente, o Dr. Pina Moura - que em 1991 ainda estava na área que se sabe - não será a pessoa de quem se possa esperar, nas decisões importantes que tem tido entre mãos e que ainda tem, que tome decisões que facilitem a criação de um ambiente concorrencial. Temos uma tradição de defender determinados interesses através dos entraves à concorrência, havendo muita gente que ganha com isso e que tem estado em posição dominante. Temos uma estrutura encarregada de administrar a concorrência que é indecorosamente fraca e que, também quase indecorosamente, aceita essa fraqueza. Eu defendo a tese – e é isso o essencial da minha intervenção – de que nas importantes decisões que o Estado tem de tomar em relação a muitas empresas e sectores onde ainda há uma grande intervenção (na fixação do espaço, dos preços e das condições de fornecimento) se deve definir uma linha de actuação: ou eleger como objectivo prioritário o contribuir para que haja concorrência nesses mercados - e se houver agentes económicos com alguma dimensão e legislação adequada é possível esperar-se que venha a haver concorrência - ou continuar a tomar medidas conducentes, 61 pela enorme diferença de poder relativo dos agentes, a situações como as que actualmente existem. Exemplo de uma dessas situações é o caso das grandes superfícies e de todos aqueles que se podem queixar dos abusos de posição dominante que elas reiteradamente praticam, beneficiando quer de coimas ridículas, quer de um arrastamento dos casos em tribunal que faz com que a maior parte dos pequenos agentes considere que é melhor não recorrer ao tribunal, pois os prazos, custos e eventuais represálias simplesmente não compensam. Existem condições objectivas – e o Governo pactua com isso – para que as pessoas nem se possam queixar. Há casos recentes e antigos em que as decisões que se tomaram foram no sentido de evitar que houvesse concorrência: a criação de uma holding como a Gás de Portugal, EDP e Galp. Não pode ser mais claro que o que se pretende é que não haja concorrência, o que se pretende é fazer transferências de custos de umas empresas para outras, evitar a actividade da regulação, dado que é extraordinariamente difícil esperar que um regulador possa actuar num ambiente opaco, onde o Estado tem conseguido, mesmo quando já não é accionista maioritário, manter o poder efectivo da empresa. Privatizou-se a EDP: todos os Administradores, excepto um, que era o da IBERDROLA, eram nomeados pelo Estado. Pretende-se ainda, que a EDP entre na área das águas, pelo que iremos ter energia e também águas, dentro da mesma empresa. No IPE já estão também esgotos, resíduos tudo será, qualquer dia tutelado pelo Ministro do Ambiente. Talvez sob algum aspecto até faça sentido, para que se tente melhorar a eficiência energética do país. Comparação com o modelo espanhol Gostava, no entanto, de estabelecer um paralelo com o que a Espanha fez recentemente a esse respeito, e que é paradigmático de como é um país bem governado, enquanto Portugal é um país mal governado. Os espanhóis apressaram o calendário de liberalização de sectores que anteriormente eram monopólios. Em alguns casos congelaram as quotas de mercado de empresas que tinham posições significativas e impediram participações qualificadas em empresas chave. No nosso país, leu-se nos jornais que a Gás de Portugal queria comprar a Digalp, que tem 50 mil clientes na área de Lisboa na distribuição de gás propano. É indecoroso, mas ninguém tem dúvida de que o Ministério da tutela autorizaria ou aplaudiria esta decisão. Enquanto este estado de espírito existir, suponho que vai ser muito difícil chegarmos a algum sítio. Gostaria que não tomassem a posição das empresas perante esta matéria - de não recorrerem mais às autoridades - como manifestação de que são todas ignorantes e não sabem que a legislação existe mas, fundamentalmente, como resultado de não acreditarem que a defesa da concorrência funcione. Os espanhóis tomaram, um conjunto de medidas para tentar reduzir as posições dominantes existentes, por exemplo, no mercado de abastecimento de combustíveis. Em Portugal, quando se começou a pensar na estrutura da Holding da energia, já era conhecido – para quem saiba qualquer coisa sobre isto – que a posição dominante da Petrogal na distribuição dos combustíveis já era tão grande que inviabilizaria qualquer 62 concorrência. Desde então para cá, a posição dominante tem vindo a acentuar-se e não se tem feito nada contra isso. Esta é uma questão de política governamental, em primeiro lugar, independentemente do problema da autoridade da concorrência. Os problemas das instituições nacionais Já se falou sobre as coimas e é evidente que os valores são ridículos mas, como tudo em Portugal, mesmo que agora se queira proceder a qualquer alteração, não será possível fazê-la porque há uma outra lei da Assembleia da República, que é preciso alterar, que é a lei geral sobre as coimas. Portanto os legisladores enrolam-se a eles próprios permanentemente. Acho que devíamos ter um secretariado da produção legislativa, que estudasse esta matéria, que apontasse as milhentas contradições, existentes e tentasse acabar com situações semelhantes. A situação vai piorar se a União Europeia descentralizar a aplicação da legislação da concorrência. É, para nós, assustador que a política da concorrência possa ser aplicada de uma forma fragmentada, porque a tradição nacional é má. E será sempre má enquanto não se fizer uma ruptura com o passado e se assumir que o nosso objectivo é sermos competitivos, sermos concorrenciais. Enquanto essa ruptura não se verificar, a fragmentação é má, porque temos uma má situação de partida E vai ser má também, porque existe uma enorme tendência para discriminar. Em regra, discrimina-se a favor dos nacionais dos próprios países, mas no caso português sucede normalmente o contrário devido ao respeito sacrossanto que temos perante os estrangeiros. Por isso temos algumas dúvidas caso essas questões passem a ser julgadas em Lisboa, beneficiem os nacionais. Dito de uma forma mais clara: Bruxelas tem menos medo de afectar algumas empresas de alguns países do que nós próprios teremos. Outro problema é o da incapacidade porque, de facto, não há estrutura, nem orçamento, nem pessoas para lutarem por esse orçamento. No fundo não se quer reagir, havendo uma conformação com esta situação. Dentro da estrutura existente os processos que deixem de ser julgados em Bruxelas - porque estão acima de uma certa dimensão, e no nosso caso serão quase todos - vão concerteza cair em cima da nossa autoridade de concorrência. Temos louvado, variadíssimas vezes, o Ministro Pina Moura que teve a coragem de dizer que a sua actuação no Ministério da Economia tinha sido muito má na área da concorrência, ou que tinha sido uma das suas grandes falhas. Esperávamos que tivesse como consequência que, nesta segunda legislatura, o problema fosse encarado de outra forma. Foi prometido pelo Governo criar nova legislação nova de concorrência até final do ano 2000 e voltou agora a ser prometido até ao final do 1.º trimestre de 2001. A CIP propôs uma nova legislação sobre concorrência, uma nova conformação da entidade da concorrência. Não obtivemos qualquer resposta a esse respeito e tentámos, aliás, dar conhecimento público disso aos meios de comunicação social. Há um número restrito de profissionais da comunicação social que conhecem estas matérias e só lamentamos 63 que não sejam mais porque, de facto, não há por elas um interesse generalizado, nem uma grande compreensão da importância de que se revestem para a defesa dos interesses dos consumidores e para o progresso da economia. Mas acho que é perfeitamente possível que venhamos a ter uma nova lei da concorrência, que não seja discutida com ninguém, que não aproveite os debates que houve sobre a matéria e que seja algo de que se venha a ter conhecimento após a sua aprovação em Conselho de Ministros. Aconteceu assim com a reforma fiscal que foi aprovada numa Quinta-feira Sexta era feriado - e entrou na Segunda na Assembleia da República. Enquanto a sociedade civil não se conseguir organizar de uma forma mais eficaz, para evitar que matérias desta importância sejam decididas desta forma, ou que as decisões sejam adiadas desta maneira, dificilmente teremos uma situação melhor do que a que temos actualmente e a razão, não é a dos antecedentes históricos, considero que é da incapacidade da geração actual. 64 DEBATE Eng.º João Pinto Ferreira A política da concorrência é muito mais do que o direito de defesa da concorrência O título deste painel é «política portuguesa de defesa da concorrência» não é «o direito de defesa da concorrência» e entre direito e política há uma diferença substancial. O direito é um conjunto de regras estáveis e razoavelmente uniformes que existem em todo o mundo e a política é a interpretação que o poder político tem, em cada momento, desse direito e daquilo que constitui esse direito. Isto é importante porque quando se fala em política de concorrência há, muitas vezes, a tendência para misturarmos aqui toda uma série de conceitos sobre os quais não vou fazer pedagogia. Sublinho apenas que o Estado constitucionalmente acredita no mercado e defende a concorrência mas, na prática, é o primeiro, através de outro tipo de legislações, a evitar que a concorrência funcione. Não se pode falar numa política de concorrência olhando apenas para a política de defesa da concorrência e para o direito de defesa da concorrência. Deve ter-se também em atenção toda uma série de factores acessórios onde se incluem, por exemplo, as legislações de acesso ao mercado - aquilo que dá a alguém o direito de entrar no mercado - e as regras de equidade que devem existir para todos os agentes económicos, em termos fiscais, de segurança social, de abertura e funcionamento Dos estabelecimentos. E onde depois temos duas forças que também jogam: por um lado, as forças dos reguladores nos sectores sujeitos a regulação e, por outro, a força das autoridades de concorrência para repor a concorrência nos sectores sem autoridades reguladoras e onde há restrições de concorrência. Isto é importante porque, ainda há pouco, se punha aqui a questão da grande distribuição (problema que é recorrente neste tipo de debates) e é curioso verificarmos que são os próprios estudos publicados por diversas entidades, nomeadamente a DECO, que mencionam que a mesma insígnia de supermercados em Portugal tanto pode vender a 100 como a 118, conforme o sítio do país onde ela se localiza – isto está publicado nos estudos da DECO e ainda recentemente foram publicados os deste ano. Isto revela que há locais onde há concorrência e os consumidores beneficiam e sítios onde não há concorrência e os consumidores não beneficiam dos preços praticados. Onde não há concorrência, muitas vezes, são locais em que é a própria legislação de acesso ao mercado que impede que haja essa concorrência. É por isso que me parece que é necessário ter presente estes aspectos, porque não é só o direito da defesa da concorrência que está em causa, mas é toda a política geral do Estado, – como muito bem o Dr. Pedro Ferraz da Costa lembrava, aqui, em sectores intervencionados – e que é realmente a contradição daquilo que deve ser o mercado. Uma tripla reforma 65 Se acreditamos no mercado e se este é sustentado por marcas que contribuem para a sua existência considero que, para este funcionar, é necessária uma tripla reforma a fazer. Primeiro, é a reforma das mentalidades: o Presidente do Conselho da Concorrência já se referiu a ela e é a primeira reforma que é necessária, no ensino, nos jornalistas, nos «opinion makers», ou seja, naqueles que criam a opinião nas pessoas. É necessária uma reforma que apele aos valores do mercado e aos valores da concorrência. Em segundo, é necessária uma reforma das políticas, isto é, de quem nos governa e da forma como governa, para que o mercado não seja sistematicamente esquecido e para que não seja secundarizado perante outros valores de muito mais curto prazo, provavelmente porque o mercado só dá resultado a médio ou longo prazo. E em terceiro lugar, é imprescindível uma reforma da legislação, provavelmente não tão profunda como aquela que é necessária a nível de mentalidades e de políticas, - mas não há dúvida que a legislação também necessita de algumas afinações. A rapidez de resposta das autoridades Há dois anos peguei nos relatórios do Conselho da Concorrência e analisei o tempo médio que existia na apreciação de casos que tinham entrado na Direcção-Geral até serem decididos pelo Conselho - não considerei o tempo de recurso dos tribunais - e encontrei um tempo que, desde a entrada de um processo até à sua decisão pelo Conselho, o mínimo era oito meses, o máximo era 52 meses e a média rondava os dois anos e tal. É evidente que se trata de processos que têm que ter o seu tempo de estudo e de aprofundamento, mas não é com cinco anos de duração de processos que estas questões se resolvem, até porque a vida económica hoje em dia tem uma velocidade que não se coaduna com este tipo de prazos. E aqui, parece-me que seria essencial fazer evoluir o modelo que temos e que o Presidente do Conselho da Concorrência caracterizou de modelo francês - o modelo do Conselho e da Direcção-Geral. A minha opinião é de que, possivelmente, teremos que evoluir para outro modelo que seja mais eficiente, provavelmente, um modelo da autoridade única seria um modelo muito mais eficaz e muito mais adaptado à realidade de dar resposta ao mercado do que o modelo de investigação para um lado e decisão para outro. Este último pode ser muito bom - em termos de garantias de direitos etc. mas, se calhar, peca em termos da sua própria eficiência e o que o mercado quer, quer se queira quer não, é eficiência e respostas rápidas. Professora Doutora Maria Manuel Leitão Marques Política de concorrência e direito de concorrência Chamo a atenção para o facto de o direito da concorrência, tal como costuma ser entendido, no plano comunitário e nacional, ser mais restrito do que pode ser designado por política da concorrência ou mesmo por direito da concorrência em sentido amplo. Este engloba também a liberdade de acesso aos mercados e suas excepções, as quais 66 limitam o número de agentes económicos num determinado mercado, ou impedem mesmo a presença de mais do que um. Voltando a algumas palavras do Dr. Pedro Ferraz da Costa, penso que, por vezes, – não particularmente o Dr. Pedro Ferraz da Costa – alguns agentes económicos que reivindicam uma reforma da legislação da concorrência em Portugal, exigem ao direito da concorrência e às autoridades competentes para o aplicar aquilo que elas não estão vocacionadas para fazer. Essas autoridades não são responsáveis por toda a política da concorrência, mas apenas por uma parte dela, nomeadamente a garantia ou aplicação do direito da concorrência (em sentido estrito, ou seja, compreendendo as coligações restritivas, o abuso de posição dominante e o controlo das concentrações). Muitas vezes, por detrás de alguns discursos, está sobretudo a intenção de combater as práticas de concorrência desleal, que não estão previstas na legislação da concorrência. O abuso de dependência económica e a importância dos códigos de conduta Além disso, não sei se alguma das empresas da grande distribuição terá em Portugal uma posição dominante. Duvido que se trate de um caso de abuso de posição dominante. Provavelmente a figura mais adequada será a de abuso de dependência económica. Ora, é sempre muito difícil contrariar as práticas de abuso de dependência económica através meios hetero-regulatórios. Há um interesse mútuo das partes - apesar do abuso - em manter a relação, que é uma relação contratual continuada e «íntima». Eu creio que tanto a CIP como a APED o perceberam, quando assinaram um código de boas práticas. É, na verdade, muito mais fácil e eficaz alterar e equilibrar esse tipo de relações contratuais, mesmo que de forma menos ambiciosa, através de códigos de conduta, do que através de legislação. Estudei aqui há uns anos – e espero que a situação se tenha alterado entretanto – as relações de subcontratação industrial. Esse abuso de dependência económica era perfeitamente visível nas relações contratuais entre algumas grandes empresas contratantes e as suas pequenas empresas subcontratadas, em sectores industriais portugueses, como o vestuário ou o calçado. Estavam presentes as mesmas características de imposição de preços, de esmagamento de margens, de insegurança contratual que hoje se afirmam existir na relação entre alguns fornecedores e a grande distribuição. Também havia, é certo, outras formas de subcontratação onde a relação contratual era de parceria. Na subcontratação industrial a intervenção foi feita quase sempre através de «soft regulation», de cartas de boas práticas, de recomendações, de guias, de negociação entre subcontratados e contratantes. Esta regulação acaba por ter efeitos práticos mais conseguidos do que outro tipo de regulação, sem prejuízo das duas se poderem completar. 67 Dr. Luís Silveira Três perguntas sobre o estatuto do Conselho da Concorrência Três perguntas breves ao Conselheiro Anselmo Rodrigues, quanto ao estatuto do Conselho da Concorrência. Sabemos que a relevância das tomadas de posição do Conselho da Concorrência – o seu valor pedagógico – excede em muito os da tomada de posição no caso concreto, mas a verdade é que, quantitativamente, fica muito abaixo daquilo que seria necessário e do que o próprio Conselho merecia. Seria ou não adequado estabelecer regras que alargassem o sistema de acesso ao Conselho da Concorrência - para além de todo o aspecto cultural, mas isso não se resolve por decreto-lei? Seria ou não adequado, a exemplo daquilo que vigora para outros órgãos independentes de controlo semelhantes, permitir-lhe receber queixas directamente e, por outro lado, ter também poderes de iniciativa, com base em quaisquer elementos que chegassem ao seu conhecimento? E quanto à questão da instrução logo se veria, não era impeditivo que a instrução continuasse eventualmente a ser feita, até ver, pela DirecçãoGeral. Quanto à questão da competência, se a parte de competência que assume natureza consultiva não lhe afecta um bocado a imagem pública, ou seja, a circunstância de o Conselho ter também uma parte de competência consultiva da Administração Pública, não reduz um pouco a sua imagem perante o público e, consequentemente, a confiança do público para se dirigir a ele? Finalmente, o Conselheiro Anselmo Rodrigues defendeu que das tomadas de posição do Conselho passasse a recorrer-se para os tribunais da relação. Isso sempre reduziria um grau de jurisdição. Por outro lado, não sei se os tribunais da relação, tal como hoje existem entre nós, não têm uma tendência para a apreciação da materialidade dos factos ainda inferior aos tribunais de 1.ª instância. Até que ponto não se reduziria, em termos reais, a possibilidade de discutir as decisões do Conselho? Professor Doutor Pedro Pitta Barros O Estado promotor de monopólios e defensor da concorrência Falou-se muito da parte jurídica, no entanto a contradição fundamental parece estar no Estado ter uma tradição de promover carteis e monopólios – que continua e não parou – e, por outro lado, ser esse próprio Estado o responsável por administrar a defesa da concorrência. A saída deste beco só parece possível se os tribunais tiverem capacidade de intervir, nomeadamente com pressão adicional vinda da Comissão Europeia - o que não me parece, neste momento, ser um caminho, pelo que percebi das duas intervenções - ou com uma autoridade verdadeiramente independente, que também não me parece que esteja a caminho de existir. Concordo com a ideia de que estamos 68 num beco sem saída e se, daqui a um ano, fizermos a mesma reunião, estaremos a referir as mesmas coisas e pouco terá mudado. Criação de um Conselho da Concorrência sombra Tenho a impressão que se ignora muito a arma publicidade no sentido de divulgação pública. Dado que o Dr. Pedro Ferraz da Costa referiu que nada se altera, eu também posso dizer que fico estupefacto ao ouvir as empresas queixarem-se da situação actual e, ao mesmo tempo, não se juntarem e fazerem um Conselho da Concorrência sombra. Arranjar 70 mil contos dentro da indústria portuguesa não deve ser muito difícil - o orçamento do Conselho é de 17 mil contos - e de certeza que conseguem apresentar com a mesma projecção que a DECO tem, não casos de direitos do consumidor, mas casos de defesa da concorrência. Provavelmente seria uma boa maneira de dar visibilidade e de começar a alterar a actual situação. Grande distribuição: Ganho para os consumidores? Um comentário breve sobre a grande distribuição: Se a grande distribuição conseguir preços mais baixos junto dos produtores, mas passar todos estes ganhos para os consumidores, de um ponto de vista de teoria económica não é garantido que seja mau. O problema é que toda a evidencia que existe aponta para que a grande distribuição não transfere esses ganhos ao consumidor. De um ponto de vista de defesa da concorrência é isso o relevante e não exactamente o que se passa a montante. Eng.º José Chaves Rosa Política de concorrência e direito de concorrência Das palavras do Dr. Pedro Ferraz da Costa, há algo que me deixou estupefacto que corresponde ao seguinte: eu parto do princípio que, haja a utilização da arma da concorrência que houver, uma coisa é política de Governo, outra coisa é direito da concorrência. O direito da concorrência consiste em aplicar as leis do direito da concorrência, uma política de Governo é a política de Governo. Um Governo quando quer, pode fazer a política menos concorrencial possível e pode ter a maior maravilha de legislação da concorrência, que esta é completamente inoperativa para aplicar, porque para se alterar essa política é preciso é mudar de Governo. É por outras vias, não é por diplomas em D.R. que se muda a política do Governo, pois este fará sempre aquilo que está dentro do que é a sua opção política. Experiências da aplicação da defesa da concorrência As três figuras que estão ligadas à aplicação da legislação da concorrência, em linguagem de concorrência são: práticas individuais, práticas colectivas, abusos de posição dominante ou situações de dependência económica e a política de concentrações. 69 As práticas individuais que estavam contidas na primeira lei foram expurgadas, exactamente para se tentar que as entidades da concorrência não ficassem absorvidas na sua actuação por aquelas pequenas coisas que tiveram interesse quando apareceu a legislação da concorrência. Estas pequenas práticas foram importantes para ensinar que era proibido recusar a venda, que era proibido fazer uma prática discriminatória, etc. Para empresas que enfrentavam já a concorrência umas das outras, isto era mais para dar uma aprendizagem sobre a grande filosofia ligada à concorrência, que assenta nas práticas colectivas de abuso da posição dominante, etc. Neste novo diploma de 93, retirou-se as práticas individuais para uma legislação à margem. Na minha opinião, estas deveriam ser abolidas de vez porque o que sucede é que a Direcção-Geral do Comércio e Concorrência está envolvida e utiliza recursos no estudo desses pequenos casos com coimas irrisórias que, de qualquer maneira, vão parar ao tribunal do comércio e começam concerteza a congestionar este tribunal. Se se quisesse produzir política de concorrência a sério, centrar-nos-íamos naquilo que era importante. Temos uma política só ligada à aplicação de coimas muito pequenas e é por isso que a concorrência não funciona. Eu julgo que há empresas cujo comportamento deveria ser denunciado. Isso teria um impacto maior que uma coima de 20 ou 50 mil contos. Muitas seriam capazes de pagar os 50 mil contos, para que não fosse denunciado publicamente. Aqui estamos a incorrer em duas situações ao mesmo tempo: por um lado, na nova legislação – e bem – só pode haver recurso da coima e só pode haver recurso da publicação com efeito suspensivo. Portanto, como isto ficou de fora, elas recorrem ao recurso porque isso lhes permite não ter a divulgação pública, mas a decisão do Conselho é obrigada a ter efeito suspensivo. E é aí que há uma grande falha, porque tendo-se determinado o efeito suspensivo, elas não se importariam de pagar a coima mesmo que seja elevada, desde que não estejam sujeitas à divulgação pública. Só tive uma experiência em tribunal, num caso em que fui relator e em que assisti ao funcionamento do Tribunal do Comércio. Confesso a minha grande decepção no decurso da sessão. Quando o que estava em causa era o princípio, analisava-se se os honorários mínimos que estão fixados para os técnicos oficiais de contas, deviam ter mais ou menos 5 contos, como se de um tribunal de pequenos delitos se tratasse. Mas a sentença foi boa No que diz respeito à nossa imprensa económica considero que os nossos jornalistas, ou quem detém os jornais económicos, ou deturpam o que é a decisão de propósito, ou então não percebem nada do assunto. Como muitos juizes, à partida, não sabem, os jornalistas não sabem e as empresas têm uma visão bastante diferente, apesar desta aprendizagem de vários anos, a situação não parece ser animadora… Aceito perfeitamente que se altere a legislação da concorrência, mas o âmago da questão é que, se formos comparar a nossa legislação da concorrência com a que existe no Mundo, nós não temos nada com que nos envergonhar. Podemo-nos envergonhar no 70 pequeno número de processos que temos, podemo-nos envergonhar porque não dão o devido valor ao número de pessoas que deviam trabalhar nisso. É imprescindível que a nova legislação da concorrência venha, à partida, a ter um quadro de pessoal para a concorrência, entre outras coisas, que fortaleçam as entidades. Em vez de estarem peritos nomeados pelo Primeiro-Ministro, há quem defenda ter um perito indicado pela Confederação do Comércio, outra pela Indústria, outro pela CAP, mas isso não altera absolutamente nada aquilo que é a independência. E mais, o Conselho, no que diz respeito à sua actuação, no que diz respeito aquelas práticas colectivas, é absolutamente independente do Governo. Da experiência que tenho, nunca houve a mais pequena interferência de um elemento do Governo numa decisão do Conselho. Já não digo a mesma coisa em relação à Direcção-Geral. Um aspecto me preocupa relativamente ao inicialmente estipulado: quando foi feita a legislação da concorrência, o Director-Geral de Concorrência tinha poderes soberanos para interferir nos casos e hoje tem que pedir licença para poder ir mexer num caso. Isso sim, confrange-me e devia ser alterado, devia ser restituída a independência total à Direcção-Geral – como nos outros países – para esta intervir sempre que necessário, fora da influência do poder político e dos lobbies. Já o mundo das concentrações está dependente do poder político. Por exemplo, a PETROGAL não ficou dispensada de abusar da sua posição dominante e isso é proibido na mesma. Se fosse abusar, podia ser alvo de processo que a impedisse de usufruir da posição dominante. Enquanto andam a ver aspectos insignificantes, não se vão aos grandes casos que há neste país e é aí que eu admitia que a Direcção-Geral apresentasse – face aos objectivos de um Governo – a sua proposta de intervenção para executar a política que o Governo quer, sem a Direcção-Geral a discutir, porque esta é discutida nas urnas, não é discutida pelos serviços. Dr. Pedro Ferraz da Costa A estrutura da indústria criada pelo Governo é contraditória com a defesa da concorrência O que pretendi transmitir – e parece-me que não consegui completamente, pelo menos em relação a todos os presentes – foi que há uma responsabilidade governamental e política pela criação de um ambiente que seja propício à concorrência. A estrutura que se criou para determinados sectores, na altura em que se passou de sectores fechados, tal como ficaram depois das nacionalizações em 1975/76, para sectores abertos poderia ter sido diferente. Nessa altura havia hipótese de fazer de uma ou de outra maneira e o sentido de muitas das decisões tomadas quanto às privatizações, não teve como aspecto prioritário ficar com uma estrutura e com uma repartição de poder conducentes a um melhor funcionamento de uma economia de mercado – e na minha opinião devia tê-lo tido. Não foi só a maximização da receita financeira que prejudicou isso. Foi a vontade de criar entidades dominantes, o que também permitia 71 colocar pessoal político em empresas de grande dimensão – como aliás continua a ser abundantemente demonstrado – que era justificado pela necessidade de termos empresas de dimensão internacional, um argumento um pouco provinciano. Dada a nossa dimensão relativa, ou conseguimos alargar fortemente as fronteiras ou nunca teremos hipótese de as ter, portanto, esse objectivo, suponho que é para enganar o público e para justificar as decisões que foram tomadas. Independentemente de haver muito a mudar na legislação, não foi fundamentalmente aí que o problema nasceu, nem é fundamentalmente por aí que se vai resolver. Como aliás é vulgar no nosso país, face a qualquer problema, as pessoas pensam que é preciso alterar a legislação, normalmente o que é preciso é mudar a prática e criar outros objectivos. E também considero – e com a experiência de já estar a algum tempo numa organização que também representa interesses e mentalidades – que dizer que temos que mudar primeiro as mentalidades, é uma pré-condição para não mudar coisa nenhuma, porque isso é a coisa que mais tempo demora a mudar. Quando a economia e os agentes económicos portugueses tiveram que se sujeitar a viver no quadro do primeiro e do segundo acordo com o FMI – situação em que só não estamos hoje, por razões que também são conhecidas – verificou-se que os agentes económicos portugueses se adaptaram a grande velocidade e que não foi preciso ninguém vir pregar a mudança das mentalidades. Mudaram os sinais económicos, as pessoas mudaram e, portanto, se cá não se segue uma política diferente não é porque as mentalidades não dêem para isso, é porque as pessoas que definem a política não o querem. Dr. Mário Marques Mendes O Estado e a política de concorrência Só duas notas muito breves. Considero que várias das intervenções tocaram em aspectos relevantes: desde a questão do efeito suspensivo dos recursos em determinadas matérias, à questão da auto-regulação, etc. É evidente que me parece preocupante – o Dr. Pedro Ferraz da Costa pôs isso em destaque – que o Estado, por um lado, coloque como primeiro objectivo - e está no programa do Governo - a reformulação, em termos institucionais e legislativos, da disciplina da concorrência, nomeadamente através da anunciada criação de uma entidade independente, e, por outro, contrarie algumas vezes, pelo seu comportamento, em particular no(s) sector(es) empresarial(ais) por si controlado(s), aquelas posições de princípio (vejase, por exemplo, o processo relativo à TANQUISADO). Permita-me o Senhor Eng.º que lhe diga que, apesar de afirmar que a questão das concentrações está arrumada, é uma demissão da autoridade, que é o Conselho da Concorrência, referir que nada pode fazer em matéria de concentrações porque quem manda é o poder político. Embora dentro dos apertados limites que a lei estabelece, quando o Conselho da 72 Concorrência é chamado a intervir, através de Parecer, em operações de concentração de empresas, pode e deve fazê-lo em termos estritamente técnicos de análise das condições de concorrência no mercado, e que pode não coincidir com aquilo que, hipoteticamente, o poder político espera num determinado caso. Por exemplo, no processo da TANQUISADO, e permitam-me que volte a este assunto, acho que valia a pena discutir porque é que a solução adoptada pelo Conselho foi a que foi, sendo que outra, porventura mais rigorosa e exigente de um ponto de vista de direito da concorrência, poderia apontar para resultados bem diferentes, como se referiu acima. Outra área em que é altamente criticável o regime instituído pelo Decreto-lei n.º 371/93 é o dos auxílios de Estado, constante do artigo 11º, que dispõe, em termos algo enigmáticos, o seguinte: «Os auxílios a empresas concedidos por um Estado ou qualquer outro ente público não poderão restringir ou afectar de forma significativa a concorrência no todo ou em parte do mercado.» (sublinhado acrescentado). Se o Estado está a impor determinados limites, a si próprio e a outros entes públicos, é este, porventura, o primeiro indício de que por regra não os tem cumprido (e, provavelmente, continuará a não os cumprir). Sendo que, como é sabido, esta matéria está abrangida pelo direito comunitário, que condena, por princípio, os auxílios de Estado como potencialmente causadores de distorções de concorrência no mercado [cfr. artigos 87º a 89º CE (ex. artigos 92º a 94º do Tratado CE)]. Como também está no âmbito da competência exclusiva das instituições comunitárias reagir contra auxílios de Estado de terceiros países que afectem o mercado comunitário. Este artigo do diploma que contém o regime nacional da concorrência é, pois, não apenas razoavelmente ininteligível, mas também, provavelmente, inútil. O papel das associações empresariais A intervenção do Dr. Pedro Ferraz da Costa é, também, uma intervenção – desculpe-me o qualificativo – «derrotista». Um pouco como diz o Professor Pedro Pitta Barros: há que propor, intervir, pressionar se assim se entender. Agora, a questão que ponho é se a larguíssima maioria das empresas, sobretudo aquelas que têm obviamente a beneficiar com um funcionamento não concorrencial do mercado, têm interesse em que a legislação seja adoptada e a política posta em prática. Assim, quem melhor do que as Associações empresariais para o desempenho desse papel aglutinador, motivador, promotor de iniciativas que levem a que o ambiente concorrencial, seja em termos de enquadramento jurídico, seja em termos de política da concorrência, possa mudar? 73 Dr. Pedro Ferraz da Costa O papel das associações empresariais Tanto quanto eu saiba não é assim em nenhum outro país europeu e há, no associativismo patronal nos diferentes países, imensos casos onde há posição dominante dentro dos órgãos de gestão precisamente das empresas que têm mais interesse em que não haja política da concorrência. Se considerarmos os órgãos dirigentes de uma confederação alemã - que como sabem é das maiores da Europa - vê-se perfeitamente quais são as empresas que têm tido aí peso dominante e é evidente que não foi a esperar pela actuação das associações empresariais que o Governo alemão e o kartellamt tomaram as decisões que tomaram. É evidente que há aqui uma questão de sistema económico, de forma de administrar a economia que é da responsabilidade do Governo. O problema é, de facto, de quem é eleito com determinados objectivos, nomeadamente a participação na União Europeia – que é um espaço onde a política de concorrência era conhecida previamente – que deveria ter percebido, a partir do momento em que pediu a adesão, que não era com a constituição de 1976 – que previa a transição para o socialismo e a apropriação colectiva dos meios de produção, sem qualquer referência à política de concorrência – que se iria criar essa estrutura. Desde 1976 e desde as primeiras avaliações que foram feitas sobre as estruturas do país e a forma como a concorrência funcionava, que era evidente que tínhamos que fazer progressos nessa área. Portanto, há sucessivos responsáveis governamentais e políticos que falharam nesse objectivo ao longo destes anos. Não se pense que é gastando 70 mil contos com uma agência para dizer que se está a infringir a lei, neste ou naquele aspecto, que vamos resolver algum dos problemas. É evidente que teria que haver uma actuação deliberada nesse sentido. O meu derrotismo funda-se no facto de termos objectivos estratégicos internacionais que não têm qualquer suporte interno suficientemente alargado. Quando se quer ser competitivo e participar na União Económica e Monetária e se faz uma reforma fiscal com o Partido Comunista que quer o contrário (o mesmo se passa em relação à lei da segurança social e àquilo que poderiam ser eventuais acordos de regime), é evidente que não vamos estar mais preparados para isso e que não podemos deixar de ser pessimistas, porque, na minha opinião, seria leviandade não o ser. Dr. Victor Calvete Pedia a palavra quase para defesa da consideração. Só porque foi referido que o Conselho, eventualmente, teria decidido - designadamente no caso da TANQUISADO da forma como o Governo o esperaria. Eu solicito às pessoas que estão à roda desta mesa que, se estiverem interessadas no assunto, leiam a partir da página 197 (do Relatório de Actividades de 1999 do Conselho da Concorrência, distribuído aos 74 participantes) onde têm a decisão que foi proferida e as razões pelas quais o Conselho se dividiu. E depois queria, ainda, fazer notar que, por um mero acaso, as pessoas que eventualmente estavam mais próximas do Governo, foram aquelas que votaram contra a decisão e as pessoas que vinham de uma nomeação feita por Governos anteriores e que teriam menos afinidades com aquele, foram aquelas que votaram no sentido do Parecer. Dr. Mário Marques Mendes Longe de mim estar a pôr em causa a consideração e a honestidade intelectual de qualquer dos membros do Conselho da Concorrência, por quem tenho o maior respeito. Em primeiro lugar, apenas utilizei as palavras do Sr. Eng. Chaves Rosa; e em segundo lugar, afirmei, e repito, que de um ponto de vista da análise da concorrência, em termos jurídico-económicos, as conclusões a que chegou o Conselho no processo TANQUISADO são, no mínimo, difíceis de compreender. De resto, não sei quem foi o relator, nem a que partido pertencem as pessoas que votaram contra ou a favor. Nem tão pouco tal informação é relevante. Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues Eu começo por referir que a democracia é muito difícil, porque no primeiro caso que aqui se pôs da prescrição do procedimento, efectivamente, o Supremo Tribunal num assento, disse que as coimas com mais de três anos acabaram. Dado que o tribunal demora mais que três anos a decidir, ninguém terá de pagar qualquer coima pois todas estarão prescritas. Choca-me que isto aconteça, mas tenho que aceitar, porque foi um tribunal que decidiu. Problemas de democracia. A cultura da concorrência em Portugal O Conselho tem evoluído de alguma forma, mas a democracia é difícil porque a não ser em ditadura, ninguém pode impor nada a ninguém. E enquanto não houver uma opinião favorável a determinadas medidas, parece-me que o Governo, enquanto gestor de conflitos de interesses, não pode fazer impor a sua vontade a toda a gente. Eu li que dois industriais, quando se juntam, começam a falar sobre a forma como hão-de evitar a concorrência. Esta é que é a realidade no mundo e sobretudo em Portugal. Porque quando comerciantes ou industriais falam de concorrência no nosso país referem-se à não concorrência, exigindo ao Governo que acabe com a concorrência, para que cada um que monta seu estabelecimento num sítio, tenha com isso garantida a sua vida até à morte, garantida a sua reforma. Esta é que é a realidade do país e, portanto, enquanto não se alterar esta mentalidade não há nada a fazer. Por isso eu falei de um problema de cultura, por isso eu falei do passado. Queria-lhe dizer, ainda que o Conselho como um tribunal qualquer que seja não tem como função fazer leis, isso é para o Governo. Política de concorrência é um problema 75 governamental, aplicação das leis da concorrência é um problema do Conselho da Concorrência. Fazemo-lo com erros, naturalmente, com deficiências, com o que temos. Manifestamos, nas instâncias competentes, as dificuldades que temos e a impossibilidade ou a possibilidade de ficarem muitos casos de concorrência por averiguar, por falta de meios, não tanto do Conselho – porque, como disse, não temos um processo para decidir – mas sobretudo a nível de meios da Direcção-Geral. Esta, segundo suponho tem 5 pessoas para tratar do problema da concorrência no nosso país e, portanto, em face dessa situação, tiraremos as conclusões. Reforma das instituições Por outro lado, gostava de responder ao Eng.º Pinto Ferreira, que falou numa autoridade única. Devo-lhe dizer que, na minha intervenção, defendi que as instituições não devem sofrer mudanças bruscas. O mal de todo o direito português é que as sofreu, e nunca fez a sua evolução, não criou memória e eu sou a favor das coisas que têm memória. Pessoalmente, não sou a favor de uma autoridade única, porque a experiência me diz que, quando temos uma autoridade encarregada de investigar, de instruir e de decidir e com poder, normalmente o Governo só nomeia as pessoas capazes de decidir de acordo com as suas posições. Dado isto, talvez seja preferível dividir estas coisas. O estatuto do Conselho da Concorrência e a iniciativa Por outro lado queria também dizer ao Dr. Luís Silveira: o estatuto do Conselho, de facto, não lhe dá iniciativa. Pessoalmente, como cidadão, participei de uma coisa que me parece um cartel claro, neste país, que é o que se passa na venda das botijas de gás: foram feitos três aumentos este ano, na ordem dos 30%, no mesmo dia, há mesma hora com o mesmo montante, e nada se fez. Deve haver iniciativa de cada cidadão, que o pode propor. Também nos seguros e na banca, por exemplo, existem violações da concorrência, só que nós não vemos as associações de consumidores a exigirem que a concorrência seja cumprida. Pelo contrário, em muitos casos, pedem ao Governo para fixar regras, para fixar preços. Por outro lado, no que toca às funções consultivas do Conselho, elas são, estritamente, no plano da concentração. Isto passa-se entre nós e em qualquer país da União Europeia. Não há nenhum país da União Europeia em que as autoridades da concorrência tenham competência para decidir problemas de concentração, nem mesmo o Bundeskartellamt tem poder, por si só, para fazer isso. O Governo intervém na fixação de regras e é o sistema onde há o maior poder de decisão. Não há nenhum país em que as autoridades da concorrência tenham competência para tal e, portanto, eles funcionam sempre como entidade de consulta. E este processo de consulta tem uma eficácia, que é existência de fundamentação, positiva ou negativa, da decisão do Conselho, o que significa que se o Governo decidir contra a opinião do Conselho, estão criadas as condições para que alguém recorra dessa decisão, por ser 76 errada, se não houver fundamentação melhor. Há aí, também, alguma intervenção, mas é aquela que a lei nos confere e não é só a nós. É necessário acabar com alguns dos quatro graus de recurso Finalmente o problema da Relação: a constituição não prevê quatro graus de recurso. O que se está a passar, neste momento, é que temos quatro graus de recurso e esse é um problema não só da concorrência, é geral. Temos um recurso para a 1.ª Instância, Relação, Supremo Tribunal de Justiça ou Administrativo, e depois temos o recurso para o Tribunal Constitucional. Temos quatro recursos neste país e isto é inaceitável porque não é possível ninguém decidir coisa nenhuma com quatro vias de recurso. É preciso acabar com algumas delas - temos que ter consciência disso, temos que ter coragem para isso – e é aquilo que o nosso Presidente tem tentado fazer ao falar de garantismo a mais. Eu acho que se houver dois recursos é suficiente para as diferentes entidades estarem acauteladas e portanto é por isso que, nos outros países, há um recurso directo para o tribunal de 2.ª Instância e depois para o Supremo Tribunal. Nós, a única decisão que tivemos a nível judicial, hoje já finalizada, percorreu as quatro vias - Tribunal de Polícia, Tribunal de Relação, Supremo e Tribunal Constitucional - e quando veio a decisão já passavam 12 anos. Nesta situação, (é o sistema que temos - que está mal) eu chamo a atenção para os relatórios em que o tenho dito. A hipótese do Professor Pitta Barros era importante, ou seja que os agentes económicos comecem a falar eles mesmos, a favor da concorrência e não contra a concorrência como normalmente acontece. Se nós criarmos essa convicção, que a concorrência é a melhor forma de garantir o desenvolvimento económico - como é o meu pensamento - então talvez tenhamos uma boa lei da concorrência. De qualquer modo, não há leis boas e leis más, há as leis que se cumprem e as que não se cumprem e sem meios não há possibilidade de cumprir nenhuma delas. 77 CAPÍTULO III – O PAPEL ECONÓMICO DOS TRIBUNAIS TRATAMENTO DOS PROBLEMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA NOS TRIBUNAIS PORTUGUESES Apresentação do Tema: Professor Doutor Eduardo Paz Ferreira Gostaria de apreciar o tema que me foi distribuído, propondo cinco pontos básicos, sem esquecer, claro está, o tempo que me foi atribuído, mas contando com a benignidade do moderador e a paciência dos participantes. São eles, então, os seguintes: 1º- as atribuições dos Tribunais portugueses em matéria de aplicação das regras de concorrência nacionais e comunitárias; 2º- a distribuição dessa competência pelos vários tribunais portugueses e as consequências de tal distribuição; 3º - a prática dos tribunais portugueses sobre esta matéria; 4º- Os problemas que resultarão para os tribunais portugueses da nova proposta de regulação da concorrência a nível comunitário; 5º- As dificuldades com que se defrontam os tribunais portugueses nesta matéria, como noutras da área económica. As atribuições dos tribunais portugueses em matéria de aplicação das regras de concorrência Como já aqui foi referido, os tribunais portugueses são chamados a aplicar, quer o direito comunitário da concorrência, quer o direito nacional de concorrência, embora naturalmente com pressupostos diferentes. No primeiro caso exige-se que se verifique uma afectação sensível do comércio entre os Estados-Membros, enquanto que, no segundo, se pressupõe que haja uma restrição no mercado nacional. Por outro lado, na aplicação que os tribunais portugueses fazem do direito comunitário da concorrência não podem ignorar a regra do primado do direito comunitário sobre o direito nacional, que faz com que tenham que abandonar alguns instrumentos tradicionais dos tribunais como, por exemplo, a preferência das normas mais recentes sobre as mais antigas, ou das normas especiais sobre as normas gerais. Se é certo que os tribunais estão vinculados por este princípio, também se não pode ignorar que o direito comunitário da concorrência tem efeitos directos, pelo que os tribunais portugueses tal como os restantes tribunais nacionais devem contribuir, de harmonia com o direito processual nacional, para o reconhecimento e execução dos artigos 81º e 82º, bem como das disposições adoptadas para a sua aplicação. Naturalmente que os tribunais não são, na lógica das regras comunitárias, os instrumentos por excelência da aplicação da política da concorrência. Estes, claro está, 78 são as autoridades nacionais de defesa da concorrência, de que tanto se falou já. Os tribunais têm, naturalmente, um papel diferente que consiste na tutela dos direitos subjectivos, como tem vindo, de resto, a ser acentuado pela jurisprudência comunitária, ou seja, aos tribunais pede-se, sobretudo, que assegurem a protecção dos particulares e não que se preocupem com a garantia de uma determinada ordem económica considerada conforme ao interesse geral. Mas, poder-se-á perguntar quais são os direitos dos agentes económicos que se podem fazer valer em Tribunal? Sinteticamente, os particulares podem obter a declaração de nulidade dos acordos e práticas anticoncorrenciais e pôr termo a uma situação ilícita da mesma forma que, no caso de se verificarem prejuízos, estão reunidos os pressupostos para poderem pedir uma indemnização por responsabilidade civil. Os Tribunais nacionais não podem, em qualquer caso, neste momento, invadir a competência exclusiva da Comissão (artigo 9º, n.º 1 do Regulamento n.º 17) para declarar que, por força do chamado balanço económico previsto no n.º 3 do artigo 81º, as práticas contrárias à concorrência são aceitáveis, pelo que não se pode deixar de reconhecer que a sua competência está de alguma forma amputada. É certo que isto pode criar situações de algum conflito, com os tribunais a declararem a nulidade de determinadas práticas que depois a Comissão poderá vir a aceitar, à luz do n.º 3 do artigo 81º, o que cria grandes problemas de equilíbrio aos tribunais pelo menos num plano teórico, dado que estamos a falar mais de questões teóricas do que de problemas concretos da jurisprudência portuguesa. No entanto, a possibilidade de virem a surgir conflitos evidentemente existe e implica uma colaboração mais ou menos intensa entre a Comissão e os tribunais nacionais. Exige, também, uma grande informação por parte dos tribunais sobre a política de concorrência da Comissão por forma a poderem antecipar com alguma razoabilidade se vai haver aplicação ou não do n.º 3 do artigo 81º, nos casos que lhes são submetidos. A jurisprudência comunitária tem procurado, aliás, afirmar que existe um princípio da equidade que impõe que não sejam postas em causa expectativas sérias de isenção da proibição de acordo por uma decisão judicial tomada antes da decisão da Comissão. Consequentemente, durante esse período, o tribunal nacional só deve declarar ilegal e nulo um acordo restritivo da concorrência se estiver plenamente convencido que o mesmo preenche as condições de proibição do acordo e que está excluído de uma categoria de isenção. Também a questão da aplicação do direito nacional de concorrência justifica atenção, desde logo para determinar se existe uma aplicação directa pelos tribunais desse direito, ou se se tem de esperar por uma decisão prévia dos organismos de defesa da concorrência. 79 Parece-me evidente que existe uma aplicação directa pelas mesmas razões que no caso do direito comunitário da concorrência. Trata-se de um direito que, além de ordenar mercados, atribui direitos e cria deveres para os agentes económicos e, portanto, os tribunais podem apreciar a matéria dentro daquilo que se designa, normalmente, pela via das intervenções a título incidental e podem apreciá-la e apreciam-na também - naquilo que foi muito falado aqui de manhã – por via dos recursos interpostos das entidades administrativas com competência em matéria de concorrência. Poderá duvidar-se se era possível a efectivação da responsabilidade civil nos tribunais mas, o pouco que a doutrina reflectiu sobre isso, vai claramente no sentido de ser possível pedir a responsabilidade civil nos tribunais por violação de normas de concorrência nacional. Chamava a atenção também para um outro aspecto curioso que é o seguinte: na aplicação das regras de concorrência nacionais não existe qualquer limitação quanto ao balanço económico, ou seja, os tribunais portugueses são livres de aplicarem o balanço económico, de apreciarem a prática anti-concorrencial, integrando nessa análise a apreciação do balanço económico. A distribuição da competência pelos vários tribunais portugueses e suas consequências No que respeita aos recursos, já foi aqui muito assinalada a mudança que se verificou, desde a passagem do Tribunal de Pequena Instância Criminal, para o Tribunal da Comarca de Lisboa e para o Tribunal do Comércio. Diria que, apesar de tudo, são pequenos progressos e não soluções ideais. De qualquer forma, é melhor que a matéria de concorrência esteja no Tribunal do Comércio do que esteja no Tribunal de Pequena Instância Criminal, ainda que partilhe totalmente com o Conselheiro Anselmo Rodrigues a ideia de que deveria estar na Segunda Instância por várias ordens de razões, designadamente, para encurtar a possibilidade de recursos. Esse problema só seria, de resto, totalmente resolvido enfrentando de frente a possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional. Mas, aparentemente toda a gente neste país está satisfeita com essa possibilidade de atrasar a justiça e, portanto, não há nada a fazer. A passagem para tribunais de Segunda Instância seria útil para encurtar prazos, para diminuir o número de recursos e, também, porque se trata de tribunais que estão mais vocacionados para lidar com esta matéria do que um tribunal de primeira instância muito habituado a outro tipo de julgamento e com naturais dificuldades em conhecer de recursos. Temos, ainda, uma situação anómala que é a de haver, também, competência do Supremo Tribunal Administrativo para conhecer dos recursos das decisões governamentais em matéria de concentrações. Essa solução estranha resulta do «pecado 80 original» das concentrações não serem aprovadas por entidades independentes, mas sim por membros do Governo, daqui derivando essa consequência processual. Há pouco referi que a concentração dos recursos no Tribunal do Comércio era um passo positivo. No entanto, não quero dizer que seja extremamente positivo. Creio que traduz, designadamente, alguma incompreensão do legislador quanto ao que é o direito da concorrência ou quanto ao que é o direito económico mais genericamente. Parece, de facto, que se aproxima excessivamente o direito económico das matérias de direito privado, e em especial do direito comercial. A Prática dos tribunais portugueses em matéria de defesa da concorrência O terceiro ponto que me propunha, nesta intervenção, era o de tentar um balanço do que tem sido a jurisprudência portuguesa em matéria de regras de concorrência. Naturalmente que não é fácil, mas tentarei, ainda assim, abordar, sinteticamente, alguns aspectos. O primeiro que importa salientar corresponde a algo que já foi aqui dito e que é o do escasso número de questões que são levantadas directamente nos tribunais. Já sabemos que os agentes económicos não recorrem muito às autoridades da defesa da concorrência e, também, não recorrem aos tribunais. Recorrem, no entanto, por vezes e tivemos o muito mediático caso da Olivedesportos/Benfica, a que voltaremos porque é exemplar de algumas dificuldades dos tribunais portugueses. Um segundo aspecto que seria tentado a pôr em relevo é o que se prende com a tendência dos Tribunais para um tratamento muito aligeirado das questões da concorrência, sendo o acórdão da Relação de Lisboa sobre o caso Benfica /Olivedesportos exemplar dessa ligeireza de tratamento como iremos ver, tal como era já a sentença da primeira instância. Esta, aliás, levanta muitos problemas que não são de concorrência e que deixaremos agora de parte. Terceiro aspecto é o de existir uma grande tendência dos tribunais para não conhecerem o fundo da questão. Sempre que podem resolver a questão através da invocação da prescrição, os tribunais fazem-no, como sucedeu, por exemplo, no aqui já referido caso UNICER. Quarto e particularmente grave aspecto é a verificação de uma grande tendência dos tribunais para serem mais benignos do que as autoridades administrativas, ou seja para sistematicamente reduzirem o montante das coimas aplicadas e tomarem outras medidas de atenuação das decisões das entidades de defesa da concorrência. Claro que convém alertar, de novo, para que se trata de uma análise que é feita sobre um número relativamente reduzido de casos, em relação a alguns dos quais gostaria de voltar. É o caso, por exemplo, do acórdão da relação de Lisboa sobre o Benfica/ Olivedesportos, no qual se considera que a aplicação do direito comunitário e do direito nacional é qualquer coisa de cumulativa, invocando-se o artigo 81º do Tratado em 81 conjugação com o Decreto-lei n.º 371/93, considerando ambos aplicáveis à situação. Ora, é óbvio que me parece que o direito comunitário não estava aqui em causa, só que, já antes, noutra passagem, o relator tinha escrito que o direito português era só a tradução do direito comunitário. É óbvia a grande influência, mas chamar-lhe tradução do direito comunitário é, na minha opinião, pelo menos excessivo. Foi já muito comentado o caso do arquivamento da UNICER, com fundamento em prescrição do procedimento contra-ordenacional. Sobre isto também juntaria a minha voz aos protestos que já se fizeram ouvir, chamando a atenção para dois aspectos: em primeiro lugar, o facto absurdo das práticas continuadas terem sido também declaradas prescritas e, em segundo lugar, a circunstância gravíssima, que resulta da orientação do Supremo Tribunal de Justiça que, infelizmente, tem uma fixação em encontrar situações de prescrição e em arranjar as interpretações mais radicais nesta matéria de prescrição. Naturalmente que se pode esperar que haja uma tentativa de resolução do problema por via legislativa e que se criem novos prazos para prescrição. Caso contrário, diria que estamos a brincar com coisas relativamente sérias pois a realidade é que qualquer agente económico que tenha um advogado minimamente habilidoso faz prescrever qualquer sanção que lhe seja aplicada. Não ficaria, todavia, de bem com a minha consciência se não aludisse a algumas decisões que me parecem, pelo contrário, decisões positivas. Uma delas é muito recente - de 9 de Março - e refere-se aos técnicos oficiais de contas e à fixação dos salários mínimos. Devo dizer que a sentença é muito bem estruturada, com uma excelente aplicação do direito da concorrência. Aliás, já no Tribunal do Comércio, no caso da TvCabo e da não notificação prévia das concentrações, há outra sentença, de 7 de Julho de 2000, que me parece também ter uma boa caracterização de concentrações e tratar com mérito a matéria de concorrência. O novo projecto de regulamento comunitário sobre a concorrência e o seu reflexo sobre os tribunais Se não é possível fazer um balanço excessivamente favorável da actuação dos tribunais portugueses em matéria de aplicação das regras da concorrência, não deixa de ser um pouco preocupante antecipar o que irá acontecer se for para a frente o projecto de revisão do direito comunitário da concorrência, que tem sido anunciado e que já está proposto. Como sabem esse projecto implica uma profunda revisão do direito comunitário da concorrência. Por isso, o Comissário Mário Monti, pôde afirmar, num discurso recente: «The winds of change are blowing across the European landscape of competition law enforcement» e é de facto isso que está em causa. Trata-se de uma mudança radical nas regras da concorrência a nível europeu e uma mudança que passa sobretudo pela devolução – como já foi aqui assinalada – de matérias até agora reservadas à Comissão para entidades nacionais, sejam elas autoridades administrativas, sejam elas tribunais. 82 A reforma tem uma justificação compreensível embora de alguma forma contraditória. Em grande medida tem a ver com o alargamento comunitário e com a possibilidade da Comissão ficar paralisada com o acesso dos novos países em face da multiplicação de casos. Contudo, é um pouco estranho que a própria Comissão reconheça que a política de concorrência foi uma política fortemente centralizada e foio porque não havia uma cultura de concorrência na Europa. Ora se isto é verdade em relação aos fundadores e mesmo em relação a alguns dos países que depois aderiram, por maioria de razão, é também verdade em relação aos novos candidatos que vêm de sistemas totalmente anti-concorrenciais. Será, pois, nesse ambiente bastante mais desfavorável que se vai fazer a descentralização da política de concorrência. É um pouco «l’air du temps». Em certo sentido, a Comissão é muito inspirada por ideias americanas, ou seja, no fundo, pelo recurso ao sistema americano de aplicação privada da legislação através dos tribunais, resta saber se os tribunais estão em condições para o fazer. Todos conhecem o que os tribunais vão passar a ter que fazer e, é verdade que já o faziam a nível nacional, mas vão ter que passar a aplicar o n.º 3 do artigo 81. Tal significa que vão ter que decidir se as práticas não concorrenciais contribuem para melhorar a produção ou distribuição dos produtos ou para promover o progresso técnico e económico, contando que aos utilizadores se reservam uma parte equitativa do lucro daí resultante e que alínea a) não imponham às empresas em causa, quaisquer restrições que não sejam indispensáveis à consecução desses objectivos; alínea b) não dêem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência relativamente a uma parte substancial dos produtos em causa. Fiz a leitura do artigo só para nos recordarmos e porque creio que isto imediatamente nos levanta as maiores dúvidas quanto à possibilidade dos tribunais nacionais levarem por diante esta tarefa que pressupõe conhecimentos económicos aprofundados, ainda por cima numa área em permanente mutação, como é a área da concorrência. O comissário Mário Monti tem-se multiplicado em respostas a estas dúvidas e perplexidades que vêm, designadamente, do meio empresarial e tem recordado sistematicamente o caso norte-americano em que os juizes, pelo menos aparentemente, conseguem decidir com equilíbrio estas questões. Só que isto é esquecer a diferente preparação dos juizes norte-americanos e ignorar alguns problemas. Não queria levar longe demais o meu cepticismo e há um ponto em que estou de acordo com Mário Monti – que como todos sabem é um brilhante professor de economia – e que é o de que o direito da concorrência é direito económico destinado a regular o comportamento dos agentes económicos no mercado e que o direito económico tem necessariamente na sua base conceitos económicos. Isso implica que, cada vez mais, estes conceitos económicos têm que fazer parte do instrumental dos magistrados, dos profissionais do direito, o que vai obrigar a uma autêntica reconversão, 83 a uma aprendizagem muito intensa por parte dos juizes, sempre na opinião de Mário Monti. A própria Comissão pode ajudar, designadamente através da acção Shumman, mas a acção Shumman não tem muitos recursos. Recordo-me, por exemplo, que a Procuradoria-Geral - ainda no tempo do Dr. Cunha Rodrigues, cuja sensibilidade para a matéria aqui saúdo - candidatou-se a uma acção Shumman, que não foi retida porque havia muitos candidatos e o mesmo terá acontecido, seguramente, a muitos países e a muitas escolas que tentaram fazê-lo. Julgo que o problema é, essencialmente, um problema nacional. Têm, então, basicamente de ser os Estados-Membros a lidar com esse problema da formação dos magistrados e da sua sensibilização para estas questões. É certo que há quem como o Dr. Moura e Silva - que de alguma forma é autor de um dos primeiros comentários de reacção à proposta da Comissão – admita que talvez a tarefa de aplicação do balanço económico não seja excessivamente difícil. Todavia, achei curioso encontrar, num artigo do mesmo autor, o testemunho de uma ida sua a tribunal como perito – no célebre caso Benfica/Olivedesportos – e a propósito do qual afirma o seguinte: «a conclusão é que é muito mais confortável apreciar o preenchimento dos requisitos do balanço económico, na veste de membro de uma autoridade de defesa da concorrência, com os poderes necessários para realizar diligências complementares de instrução, do que enquanto perito num processo onde a matéria, de facto, fica limitada pelos elementos que as partes conseguem carrear para o processo». Temos aqui uma experiência directa de alguém que já foi confrontado com isto e que, obviamente, é um perito e não um magistrado. Talvez por isto a Comissão na proposta de regulamento introduz a possibilidade de - por razões de interesse público comunitário - a Comissão poder agir oficiosamente, apresentando observações escritas ou orais aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, e talvez isso seja, de alguma forma, uma garantia de auxílio para os tribunais. Por outro lado, esta reforma levanta, também, o problema da unidade da interpretação do direito comunitário da concorrência. É certo que o artigo 16º reafirma que os tribunais deverão fazer a aplicação com respeito por esse princípio da unidade, mas trata-se de uma declaração de princípio e de nada mais do que isso. Não nos podemos, de resto, esquecer que temos que respeitar e lidar com a independência dos tribunais. Dificuldades com que os tribunais se deparam em matéria de direito económico Têm sido levantadas várias sugestões para tentar minorar os problemas. A criação de assessores económicos para os juizes; o estabelecimento de tribunais especiais para a concorrência; a criação da figura de consultor nacional de concorrência que seria chamado pelos tribunais, são algumas das propostas em discussão. 84 Aquilo que me impressiona é que não tenho notícia de que, em Portugal, tenha sido feito qualquer esforço sério de formação dos magistrados nesta matéria, enquanto que, por exemplo, em França a Escola Nacional de Magistratura há muitos anos que o faz, não só na formação inicial, como através de cursos de reciclagem, que representam um esforço para lidar com esta problemática. Para ilustrar o difícil relacionamento dos tribunais portugueses com o direito económico considere-se o seguinte exemplo, relativo a uma decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, cujas decisões foram, porventura, por regra mais maltratadas do que matérias de concorrência. No dia 1 de Março, o Diário Económico noticiava que o presidente de uma sociedade gestora de patrimónios e a própria sociedade, que tinham sido punidas com coimas, aplicadas pela Comissão do Mercado de Valores, no montante de 30 mil e 15 mil contos, por incumprimento dos deveres de igualdade do tratamento de clientes e por conflito de interesses, tinham visto o Tribunal de Pequena Instância Criminal reduzir tais sanções para 600 e 1000 contos. A redução foi feita não porque não fossem dados como comprovados os comportamentos, mas porque a Senhora Magistrada entendeu que o quadro contra-ordenacional era demasiado pesado, quando comparado com o direito penal. Mais ainda, a magistrada tomou essa decisão acompanhando o Ministério Público que tinha ele próprio proposto essa redução dos valores das coimas. Decisões deste género revelam uma total insensibilidade à importância de manter os mercados imunes a este tipo de práticas, que são extremamente nocivas e que, obviamente, levam a que todos pensem que é compensador ter este tipo de actuação. Se as coimas geralmente são pequenas, em absoluto, então se reduzidas para estes valores são «trocos». Recorde-se, aliás, que, em matéria de mercado de capitais, justamente a orientação de todas as instâncias internacionais que se ocupam do seu funcionamento é no sentido de abandonar o direito penal, passando para um direito contra-ordenacional muito rigoroso, porque a única coisa que os agentes económicos podem sentir é o peso destas sanções pecuniárias. Afastei-me um pouco da área de aplicação pelos tribunais do direito da concorrência para sublinhar que o relacionamento com o direito económico é um problema geral dos tribunais portugueses. É necessário discutir quem e como pode resolver esta situação. Julgo que o problema é, em primeiro lugar, das faculdades de direito que têm que preparar juristas para um mundo em que, cada vez mais, as questões de ordenação económica e da regulação dos mercados são questões decisivas. Com algum optimismo e alguma imodéstia - não pessoal mas institucional - diria que a Faculdade de Direito de Lisboa tem tentado fazer alguma coisa. Desde 1977, temos no curriculum um curso de Direito da Economia, aliás ciclicamente questionado por alguns sectores. Mas, se é certo que, apesar de tudo, algumas faculdades vão fazendo qualquer coisa, é necessário fazer mais directamente a nível da formação dos magistrados. Esta é uma 85 questão vital, por várias ordens de razões: Em primeiro lugar, porque o funcionamento do sistema judiciário em termos de as pessoas verem reconhecidos os seus direitos ou sancionadas as suas actuações incorrectas é qualquer coisa de essencial para a democracia. Em segundo lugar, porque acho que se não pode ter grandes expectativas de desenvolvimento económico, nem de funcionamento da economia se as coisas ficarem assim. Diria que nos confrontamos com um panorama em que as pessoas têm uma visão geral muito pouco lisonjeira do sistema judiciário. Não sendo dos mais alarmistas costumo até escrever uns textos que julgo que irritam algumas pessoas que os acham excessivamente defensores do sistema - o certo é que está criada a ideia de que a justiça funciona mal em Portugal. Se em matéria de direito económico e, em especial, em matéria de direito de concorrência, vamos agravar esta imagem, as consequências serão, necessariamente, terríveis a nível do desenvolvimento económico e da actividade económica. 86 ANÁLISE ECONÓMICA DO FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS PORTUGUESES Apresentação do Tema: Professor Nuno Garoupa Nota introdutória A minha intervenção vai essencialmente ter duas partes. Começarei por falar da análise económica dos tribunais e mais tarde concretizar na questão do direito económico e do direito da concorrência que é a matéria de debate nesta mesa redonda. A minha perspectiva sobre o direito e os tribunais portugueses é uma perspectiva de um economista. O tema da minha investigação nos últimos anos tem sido, essencialmente, os tribunais como instrumento da política económica e como agente regulador da vida económica. O título da minha comunicação é «análise económica dos tribunais portugueses». Como economista quando começamos por pensar num tema de análise, de qualquer instituição ou de qualquer agente, o que procuramos são estudos empíricos sobre a matéria objecto do nosso estudo. Daí que começaria por dizer – e que é importante salientar, porque penso que é um aspecto muito pouco salientado em Portugal – que sabemos muito pouco sobre os tribunais em Portugal. A importância da jurimetria A disciplina que estuda empiricamente os tribunais chama-se jurimetria e – tanto quanto é meu conhecimento – não existe em Portugal nos curricula das faculdades de direito, nem existe oficialmente alguém que se intitule jurimetrista. Esta disciplina, essencialmente, o que procura é criar medidas que nos permitam avaliar a eficiência dos tribunais, estimar a procura do acesso ao tribunal, discutir ou estimar medidas de avaliação de produtividade individual e colectiva dos juizes, entre outros. Estes são aspectos importantes, principalmente quando se discute uma reforma ou uma futura reforma do sistema e que, tanto quanto sei, não se encontram de forma nenhuma disponíveis em Portugal. Daria apenas dois exemplos que são comentários que tenho anotado, quer da imprensa, quer de alguns livros que têm sido publicados na área. Por exemplo, tem-se falado do aumento de processos entrados nos tribunais de 1974 a 1998 e com esses dados procuram tirar-se conclusões de política. Existem várias explicações para esse aumento, desde uma explicação muito simples como seja, o aumento da população, o aumento da conflitualidade ou da criminalidade na economia, até explicações mais sofisticadas como a expansão do sistema, o número de advogados mais que triplicou, o número de juizes duplicou, a menor confiança em sinais e sanções extra legais, isto é, o abandono do sistema de self enforcement, ou a evolução da morosidade processual, ou o 87 tempo de espera, utilizado como uma variável estratégica, por parte de quem trabalha neste sector, nomeadamente pelos advogados. Qualquer destas explicações é uma explicação possível, mas qualquer delas tem implicações em termos de reforma do sistema totalmente distintas. No caso da reforma do sistema espanhol, que tenho acompanhado muito de perto, procedeu-se obviamente à estimação – mais ou menos complexa – com os dados disponíveis de forma a encontrar a contribuição, de cada uma destas explicações, para a situação em que se encontrava o sistema espanhol e foi a partir destas estimações que procedemos a propostas de reforma do sistema judicial e judiciário. Outro dado muito importante que, normalmente, tem sido abordado é o facto de, nos últimos anos, o número de processos resolvidos em tribunal ser superior ao número de processos entrados. Em Portugal, sei que isto se aplica no caso dos processos-crime, no caso espanhol aplica-se ao número total de processos. Normalmente a interpretação é a de que aumentou a eficiência do sistema. Mas este dado é perfeitamente compatível com outras explicações como uma menor conflitualidade ou criminalidade na economia, ou um menor uso do sistema formal de resolução de conflitos. São explicações opostas para o mesmo dado e portanto é importante calcular, estimar, qual destas explicações é, de facto, a correcta. Dado isto, os meus comentários vão ser mais no sentido de pistas de reflexão, do que, realmente, uma análise económica, visto que para proceder no sentido científico das palavras «análise económica» precisaria de dados e estudos dos quais não disponho. O segundo comentário prende-se com a desconfiança da justiça em Portugal. Há vários opinion makers, que gostam de falar da crise da justiça portuguesa. Esta não é uma situação isolada na Europa. A situação que Portugal vive nesta matéria tem bastantes semelhanças com outros países, começando com a situação em Espanha. É pena que não haja um esforço de tentar acompanhar o processo de reestruturação que se está a levar a cabo noutros países, por forma a permitir retirar os ensinamentos adequados para a nosso próprio processo de reestruturação. No caso espanhol, neste momento, há uma proposta de reforma bastante profunda. Foi uma reforma que levou quatro anos a preparar e foi pactada entre os dois partidos governamentais, o PP e o PSOE. Trata-se de uma reforma de longa duração, com a colaboração das forças políticas mais importantes e que foi objecto de um pacto de Estado e que terá consequências, bastante profundas, no actual sistema de funcionamento dos tribunais espanhóis. Objectivos económicos dos tribunais Do ponto de vista económico gostaria de dizer que a forma como nós, economistas, olhamos os tribunais é nas duas ópticas, em que normalmente, como economistas, olhamos os problemas que nos rodeiam: a óptica da eficiência e a óptica da redistribuição. No sentido de eficiência temos como ideia uma melhor utilização dos 88 recursos. Eu penso que, por problemas vários, a análise económica dos vários problemas sociais foi, de alguma forma, evoluindo junto dos opinion makers para uma análise economicista que não tem nada a ver com uma análise económica. A análise económica no sentido da eficiência não se define por custos zero. Trata-se de retirar o maior benefício para um dado custo. Muitos dos comentadores, nos últimos anos, - e provavelmente por culpa dos economistas - permitiram que se confundisse quais eram os critérios com que, como economistas, se pretende avaliar as diferentes políticas. Neste sentido e utilizando a ideia da melhor utilização dos recursos, os tribunais como instrumentos de política económica têm, essencialmente, três objectivos: O primeiro é uma definição efectiva de direitos de propriedade – e aqui direitos de propriedade não no sentido legal, mas no sentido económico – no sentido de permitir uma maior competitividade da economia e assegurar um investimento mais eficiente na economia. É um ponto interessante, mas muito pouco salientado em Portugal, que, em história económica, uma das ideias ou das correntes que ganhou muito peso nos últimos anos foi a de que o atraso estrutural das economias tem muito que ver com a má definição dos direitos de propriedade e menos que ver com as políticas macroeconómicas seguidas pelos sucessivos Governos. Fica aqui a minha reflexão nessa matéria. Quando falamos de convergência real da economia em Portugal, creio que seria um tema interessante considerar que a situação que se vive, em termos de definição efectiva de direitos de propriedade, terá possivelmente contribuído para os problemas que se conhecem e que são agora públicos quanto a essa convergência real. A segunda função dos tribunais como instrumentos de política económica é a protecção desses direitos de propriedade, e nesse sentido vou falar do acesso à justiça e da sua lentidão e os efeitos que isso tem no investimento sub-óptimo na economia. O terceiro papel será como agente na troca voluntária dos direitos de propriedade e, nesse sentido, temos o cumprimento eficiente dos acordos e dos contratos que se estabelecem na economia. A morosidade da justiça Penso que o ponto que é, normalmente, mais popular, mais próximo da opinião pública é a questão da lentidão dos tribunais e da morosidade processual. Do ponto de vista de um economista, quando se observa que em determinado mercado há uma fila de espera, a razão para isso é óbvia: significa que o preço de equilíbrio está acima do preço que é cobrado nesse mercado. Quando referimos que há lentidão dos tribunais significa, tão somente, que o preço de equilíbrio nesse mercado é mais alto do que os custos que os agentes pagam para estar nesse tribunal. Significa isso, que qualquer reforma em que se possa pensar para acelerar o funcionamento dos tribunais passa por reconhecer que há um preço fixado que está abaixo do preço que seria necessário para equilibrar esse mercado. Dito isto, haverá três tipos de política que poderíamos pensar, uma 89 directamente sobre o preço – farei alguns comentários mais tarde – as outras duas sobre o lado da oferta e o lado da procura, respectivamente. A actuação do lado da oferta trata-se da expansão do sistema. Em Portugal e em muitos países da Europa vulgarizou-se como solução o aumento do número de juizes que - como terei oportunidade de referir dentro de alguns minutos - tem custos e nem sempre é a solução adequada para o problema. O lado da procura é uma área que, normalmente nos sistemas continentais de Civel Law, os Governos, em geral, têm muita dificuldade em entender e saber como fazer uma reforma. Trata-se essencialmente de buscar formas de self-enforcement de acordos privados, isto é, de privatizar a solução dos conflitos para as empresas e evitar que as empresas cheguem aos tribunais com conflitos, com litígio ou com problemas que podem não ser os mais importantes para o país ou para a economia. Impacto do aumento do número de juízes A questão do aumento do número de juizes é uma questão muito interessante. Existem estudos bastante concretos, relativos aos EUA, sobre os efeitos do aumento do número de juizes. É preciso não esquecer que, em Portugal, olhando para os dados disponíveis, o número de juizes duplicou em 25 anos. Este é um dado não muito conhecido pela opinião pública. O problema do aumento do número de juizes resulta em três consequências que podem ter um efeito bastante negativo: a primeira delas é aquilo que se chama o aumento dos custos de transacção, isto é, especialmente nas decisões que têm que ser por colectivo, aumentam as divergências das opiniões e isso aumenta os custos de transacção, de chegar a uma decisão final. O segundo problema – este sim empírico e bastante conhecido nos EUA – é que um aumento do número de juizes, leva a uma baixa da produtividade judicial. Existem dentro da teoria económica várias explicações. Essencialmente, há um menor incentivo ao esforço visto que os juizes de certa forma internalizam na sua forma de actuar a existência de mais juizes para estudar e decidir os casos, diminuindo o seu esforço pessoal, levando a uma baixa de produtividade, isto é, um menor número de casos por juiz. Finalmente a terceira consequência e a mais grave – também bastante comentada nos EUA e, no caso espanhol, existe já algum estudo nesse sentido – é a diminuição da qualidade dos juizes, criando um aumento bastante elevado de recursos, que leva novamente a um asfixiamento do sistema, agora ao nível dos tribunais de recurso. Desta forma, o aumento do número de juizes como resolução para os problemas que têm os tribunais, é na óptica dos economistas que têm estudado essas matérias, uma solução que normalmente não é a mais indicada. 90 Políticas sobre o preço A questão do preço, isto é, de saber qual é o preço que deve ter o acesso à justiça prende-se, obviamente, com questões de redistribuição e questões sociais. Há um conjunto de comentários que há que fazer, não esquecendo que o sistema legal em geral e o acesso aos tribunais em particular, não deve nem pode ser uma forma de fazer, política social, justiça social, ou redistribuição social numa economia. Existem outras formas mais eficientes, outras políticas mais eficientes para o fazer, incluindo, obviamente, as necessárias correcções tributárias que permitam a política social que seja objectivo do Governo. Existe alguma discussão no Reino Unido, por exemplo, sobre a política de subvenções de legal aid que, nos anos 90, se expandiu bastante com a consequência ao final dos anos 90 – depois de 10 anos – de encher os tribunais de casos que normalmente não chegariam aí, mas que chegaram porque os custos não eram suportados pelas partes em litígio, mas sim pelo Estado. Neste momento, desde 97, no Reino Unido, procedeu-se, obviamente, a uma reforma de sentido contrário aquela que se tinha feito, em 93, neste tema. Possíveis reformas na magistratura e advocacia Gostaria de dizer – e ainda num sentido muito geral – que quando pensamos na situação em que se encontra o sistema e se procede a uma reforma, obviamente que como vivemos num sistema de civel law parte substancial dessa reforma passará por decisões do Ministério da Justiça. Mas também há que pensar em possíveis reformas, ou reformas mais pequenas, no que toca aos agentes envolvidos nos tribunais e no sistema legal em geral. Nomeadamente eu gostaria de partilhar algumas reflexões por um lado, em relação aos juízes. Falei já do problema do aumento dos juizes. Há que pensar também na forma de organização da Magistratura, nomeadamente uma reforma, nas formas de organização dessa magistratura, deveria aparecer conjuntamente com a reforma dos tribunais, eventualmente. É preciso – e com todo o respeito pelos juízes – não esquecer que os juízes como profissão é uma das poucas profissões onde o salário não é um reflexo da produtividade, isto é, um juiz não ganha mais por ver mais casos e portanto é uma profissão muito peculiar nesse sentido e que merece um estudo atento por parte dos economistas, ou de quem se dedique a esse tipo de estudo, no sentido de motivar melhor a forma de aumentar o esforço, por parte dos juízes. Na verdade também nos EUA existem indicações empíricas que apontam que a produtividade dos juízes cai com o aumento de salários e que, portanto, uma política sistemática de aumento salarial leva a uma diminuição sistemática da produtividade. Refira-se também, por uma questão de informação, que neste momento, em Portugal, os juizes ganham 50% a 2/3 mais do que em Espanha. Isto deveria ser elemento de reflexão sobre a política que o Ministério da Justiça tem seguido nos últimos anos. Quanto aos advogados apenas três comentários: a questão – que já foi aqui levantada várias vezes – da formação dos advogados e dos juristas em geral. É preciso não 91 esquecer que eu como economista, quando fiz a minha licenciatura em economia, todas as cadeiras de direito foram leccionadas por juristas e nas faculdades de direito, as cadeiras de economia não são dadas por economistas. A nenhum economista, numa faculdade de economia, lhe passaria pela cabeça dar uma cadeira de direito. Não é uma característica única de Portugal, mas é uma característica que está a desaparecer das faculdades de direito na Europa. Por mera curiosidade poderei dizer que em Espanha nos últimos três anos abriram licenciaturas em economia e direito, isto é, licenciaturas conjuntas em que os alunos frequentam simultaneamente os dois primeiros anos de economia e os dois primeiros anos direito. Já para não falar do caso dos EUA onde direito é um curso de póslicenciatura, não é uma licenciatura. Os juristas norte-americanos – e há pouco falámos também da formação dos juízes norte-americanos – todos eles têm uma formação de base que não é direito e que normalmente é economia, ciência política, química, física, matemática, qualquer outra área. O segundo aspecto interessante – que não tem sido muito mencionado e que seria também interessante reflectir – é a própria estrutura do mercado de trabalho dos advogados. A impressão que tenho é se trata de um sistema ainda pouco competitivo e pouco aberto. Nos outros países tem-se forçado a abertura deste mercado através de vários processos e penso que seria também importante, quando se fala da reforma dos tribunais e do sistema, pensar um pouco nesta questão. A última questão é a introdução de outro tipo de contratos entre os advogados e empresas, nomeadamente o tipo de contratos que se praticavam e que se praticam nos EUA e Inglaterra, os chamados contigency fee contracts. Apenas como pista de reflexão refira-se que este tipo de contratos foi introduzido na Alemanha. Estes contratos acabaram por criar mais problemas do que os que resolveram. Surgiu uma espécie de antipatia por parte dos juizes, a todo o tipo de empresas que tinham este tipo de contratos com os seus advogados – que são um tipo de contrato em que o advogado ganha uma percentagem dos ganhos que resultarem do caso. Na eventualidade de o perderem, o cliente não tem que pagar esses custos que serão suportados pelo escritório de advogados. Esse tipo de contratos criou toda uma série de problemas e não resolveu o problema fundamental, que era combater a ideia de que os advogados não estavam exactamente a representar os interesses dos seus clientes. Dito isto, repito que são pistas de reflexão, não tanto soluções, porque todo este tipo de problemas levanta questões empíricas que seria importante conhecer antes de tomar decisões. Agências anti-trust ou tribunais? Gostaria agora de fazer alguns comentários sobre a situação dos tribunais e nomeadamente, sobre a possibilidade de os tribunais portugueses poderem vir a exercer um papel mais activo no direito da concorrência. 92 Há um caso que ainda não foi aqui referido, em que se procurou a eliminação progressiva das agências regulatórias e de anti-trust e a transferência da capacidade nesta matéria para os tribunais. Trata-se do caso neozelandês. Aí procedeu-se a uma reforma acerca de 3 anos e uma parte muito substancial da concorrência é feita nos tribunais. Há dois países que estão tendencialmente a seguir esse sistema, a Austrália e o Canadá e, segundo sei, tem sido apresentado como um sistema mais vantajoso do que o sistema que até então vigorava nesses países. Nesse sentido gostaria de reflectir sobre porquê utilizar os tribunais em vez de uma agência regulatória, ou de um Conselho da Concorrência. Desde logo, a primeira razão e talvez aquela que foi mais objectiva, quando se fez esta reforma na Nova Zelândia, é a utilização de sanções mais graves. Por mais graves entenda-se não só a possibilidade de utilizar sanções penais, como também o facto de uma empresa sancionada por um tribunal ter, em termos de reputação, um custo mais alto do que ser sancionada por um Conselho ou por uma Agência. Quando discutimos estes temas uma questão que talvez valha a pena considerar é qual o tipo de sanções desejado e se haverá alguma vantagem nesse tipo de sanções. O segundo problema é um problema de informação. A informação disponível será mais adequada para utilização ao nível de um Conselho ou de uma Agência regulatória ou será mais adequado ao nível de um tribunal. Aqui há o eterno problema de que a informação disponível, normalmente é disponibilizada pelas próprias empresas envolvidas no processo. A terceira razão, talvez a mais famosa, é a possibilidade de captura ou de regulatory capture por parte das empresas. Basicamente, considera-se que é mais difícil fazer uma captura da magistratura do que uma captura dos agentes regulatórios. São três razões normalmente apresentadas na literatura e penso que, quando discutimos as questões, deveria haver uma forma de medir a sua importância relativa. Claro que relacionado com isto vem a questão - que também já foi mencionada - da formação dos juizes ou da magistratura para a aplicação do direito da concorrência. Não só o problema de uma falta de educação multidisciplinar, por parte dos magistrados, e de uma falta de preparação técnica dos tribunais. Já hoje mencionámos o caso, passado nos EUA, dessa companhia de software. Parte do caso foi uma discussão sobre o cálculo do preço do monopólio a partir do índice de Lerner e até que ponto esse preço estimado a partir desse índice, correspondia ou não ao preço a que esse software era vendido ao público. Isto exige por parte do juiz um conhecimento bastante técnico dos problemas que estão por detrás, não só do cálculo do índice como da teoria económica que se pretende utilizar nesses casos. Acrescentaria que, para além da falta desta preparação, há também um problema de que há uma visão bastante tradicionalista do direito e que muitos dos princípios mais tradicionais do direito e do direito da concorrência, entram em conflito com argumentos de eficiência. Muitas vezes, é difícil convencer um magistrado de que o princípio preconizado não é a solução mais eficiente para o caso. 93 Conclusões Gostaria assim de concluir com três notas. A primeira dizer que a reforma em geral dos tribunais e em particular o caso que está aqui em debate, deveria haver um esforço de uma análise mais empírica, com os dados de forma a avaliar as consequências de algumas destas decisões. Tenho a sensação que muita desta discussão é baseada em premissas ideológicas que cada um de nós tem sobre o assunto e não tanto na evidência da realidade que pode ou pode não estar disponível. Segunda nota seria que vejo com algum pessimismo a intervenção dos tribunais na aplicação do direito da concorrência nos moldes e no contexto actual, com o actual sistema que existe. Nesse sentido penso que deveria haver um esforço – e seria a minha última nota – na reforma do sistema de ensino e de preparação dos vários agentes, magistrados, advogados, na área da economia e do direito da concorrência. 94 DEBATE Professor Doutor Luís Valente de Oliveira O Professor Nuno Garoupa não falou em arbitragens. Esta é uma parte da privatização da gestão dos conflitos e portanto é essa a palavra que não utilizou? O Brasil tem um sistema para estimular a produtividade dos juizes que é: sortear viagens com base numa jurimetria simplória, que é o número de casos julgados. Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues Os incentivos na carreira dos juízes Começo por colocar uma questão que não foi equacionada: os juizes jubilam-se com 36 anos de actividade e ao jubilarem-se ganham mais 20%. Significa que, passando à reforma, ganham mais do que estando no activo. O Estado estimula os juizes que atinjam os 36 anos de serviço aos 60 anos, aqueles que, no fundo, estão com a maturidade necessária – e talvez com disponibilidade, porque atingem um nível superior na magistratura – para conhecer melhor esses problemas, a jubilarem-se, porque ninguém está disposto a pagar para trabalhar. E, seguidamente, entra gente nova, cada vez menos preparada, porque, cada vez mais, é necessário que a rotação seja maior. Esta é uma dificuldade que eu queria chamar a atenção, para esta mesa redonda. Queria também chamar a atenção para outro facto que leva também ao desencanto. Quando iniciei a minha carreira, éramos providos três por mérito e um por antiguidade e éramos classificados. O aumento a pouco correspondia, mas havia uma diferença. Neste momento um juiz desembargador, um Juiz do Tribunal da Relação ganha menos 18 contos que um Juiz do Supremo tribunal e um juiz do Tribunal da Relação, em muitos casos, ganha menos que um juiz de 1.ª Instância. Isto para verem que também não há estímulos em relação aos juizes. Esta realidade ainda é mais complexa. Agora surge esta ideia peregrina de que um juiz do Supremo jubilado, pode voltar a trabalhar na primeira instância, recebendo uma gratificação. Quando a ideia surgiu alguns juizes fizeram essa tentativa mas desistiram logo. É claro que, no mundo que vivemos, ninguém trabalha sem ganhar e, como tal, a tentativa foi gorada. O primeiro problema que me parece importante equacionar tem a ver com a própria problemática da estadia dos juizes nos tribunais. Creio ainda que há um limite quando se fala em produtividade: há um limite superior e um limite inferior. O número de processos deve ser tal que exista uma expectativa realista de se poder chegar ao fim. Se tal não acontecer, se nunca se esperar chegar ao fim, não vale a pena fazer o esforço e é o desleixo. Este problema da produtividade também tem a ver com o número de processos que cada juiz é capaz de ter. 95 A descentralização, o tribunal especializado e a formação dos juizes Eu acho que há vários problemas e deixem-me primeiro fazer referência à intervenção do Professor Paz Ferreira. Eu próprio nas reuniões em Bruxelas, sobre este regulamento, tenho levantado grandes dificuldades. Primeiro, quanto ao papel da Comissão que, na versão inicial do regulamento, se propunha recorrer das decisões dos tribunais. Mas como é que a Comissão Europeia pode vir a intervir? E a solução seria que ao menos interviesse POR via do Ministério Público. Hoje a Comissão já está consciente desta dificuldade de obtenção de uma uniformidade de decisões, sobretudo, quando o que vamos ter, é o tribunal português a decidir de uma forma, o espanhol doutra, o francês de outra, quando pode haver elementos que justificam a intervenção de uma ou outra autoridade, o que é extremamente complexo. É certo que a Comissão fala na formação de juizes, na cooperação, na existência de uma base de dados mas eu tenho muitas reservas sobre isto. O que defendo é, de facto, a existência de tribunais especializados onde haja formação de juizes para o efeito. É que temos de considerar que o problema dos juizes é um problema complexo. Há uma mentalidade de isolamento no juiz que é extremamente complexa. Este problema dos juizes não vem de agora. Antes do 25 de Abril um juiz, se era convidado para uma cerimónia oficial, era colocado atrás do cabo da Guarda Nacional Republicana. A forma que os juizes tiveram de reagir foi não comparecer às cerimónias oficiais. Ainda hoje os juizes não participam em cerimónias oficiais, os juizes têm horror à política, os juizes têm horror a tudo o que não seja o processo. Vivem 24 horas sobre 24 horas a olhar para o papel, não conhecendo em muitos casos a vida, o que está fora do processo. É extremamente difícil mudar esta mentalidade. Os juízes têm por outro lado, a perspectiva do critério jurídico e tudo o que é o critério económico, tudo o que envolve uma certa arbitrariedade ou discricionariedade é extremamente complexo para o juiz julgar. Como tal, o caminho tem que ser a existência de tribunais especializados nesta área da concorrência, como noutras áreas. Porque, dou-vos um exemplo, os juizes decidem mais do que os processos que entram, mas essa análise não considera a natureza dos processos. O grande problema dos atrasos dos tribunais, não é que os processos não estejam em dia, é que alguns processos não estão em dia. Alguns processos não estão em dia porque os juizes recebem processos diariamente, tendo dificuldade em os acompanhar. Posso dizer que, todas as semanas, me distribuem, no Supremo tribunal, três processos e eu decido dois, ficando um para trás pois não tenho possibilidade de o estudar. Isto porque tenho que decidir um processo com dois adjuntos, tenho que estudar o meu e o dos dois adjuntos. Isto significa que tenho que estudar um processo todos os dias, o que é impossível. Sobretudo na 1.ª instância a catadupa de processos que entra não lhes permite fazer qualquer estudo dos processos. Os processos mais fáceis, por exemplo, os dos cheques, são resolvidos e, por isso, ganha-se em estatística. Mas os processos mais complicados, que precisam de estudo, vão ficando para trás e quando se dá por isso já passaram anos 96 e, por vezes, é num processo desses que a comunicação social pega inferindo-se, a partir daí, que a justiça é lenta. Mas a verdade é que há todo um conjunto de decisões que, entretanto, foram tomadas pelo que a justiça até não estará tão lenta quanto isso. Eu partilho da necessidade de se criar uma secção da área económica nos tribunais superiores, porque os juizes como todos os juristas estão convencidos que são conhecedores de tudo, são enciclopédicos e raramente recolhem os ensinamentos das outras ciências, fazendo eles próprios o seu estudo, julgando-se peritos. Professora Doutora Maria Manuel Leitão Marques A crise da justiça em Portugal Gostaria de fazer dois comentários. Em primeiro lugar, para o Professor Paz Ferreira. Partilho a sua ideia de que, embora a situação da justiça não seja boa, não é provavelmente pior do que era há 10 anos. O que se passa é que a morosidade se tornou mais visível, sobretudo em virtude de alguns casos mediáticos lamentáveis. É bom que assim seja, pois significa que os cidadãos estão mais atentos. Descentralização: harmonização da lei mas não das performances? Também partilho algumas dúvidas relativamente à descentralização da decisão em matéria de práticas restritivas da concorrência. Às vezes decide-se em Bruxelas demasiado em termos de definição regulamentar, atendendo pouco às condições de aplicação dessa regulamentação, incluindo a eventual fase judicial. Se nós harmonizarmos a legislação, mas tivermos condições de aplicação ou tribunais com performances muito diferenciadas, de facto a harmonização ficará mas na letra da lei, do que nos resultados efectivamente obtidos a partir dela. Isto pode vir a acontecer neste domínio, o das práticas restritivas. Comentário à análise económica dos tribunais Quanto à questão da aplicação de instrumentos económicos nas reformas da justiça, ou nas reformas dos tribunais, gostei de ouvir o Professor Nuno Garoupa salientar a questão do excesso de economicismo na leitura da eficiência e chamar tão-só a atenção para a importância de uma melhor utilização dos recursos disponíveis, a partir de análise custo-benefício. Novas regras de gestão na reforma judicial poderão ser tão ou mais importantes em termos de resultados, do que muitas das reformas dos códigos que têm vindo a ser feitas nos últimos anos. Embora ache que é uma tarefa difícil, penso que a interdisciplinaridade é fundamental na análise dos problemas actuais da justiça e das soluções que para eles poderemos encontrar Mas a utilização da análise económica e de alguns instrumentos de gestão na Administração da Justiça não pode ser feita sem se conhecer a profunda complexidade dos actores que intervêm no sistema judicial e a pluralidade da 97 racionalidades (e de irracionalidades) desses actores. Aplicar modelos económicos muito simplificadores pode dar resultados perfeitamente sem sentido. Afirmar, por exemplo, que a produtividade dos juizes diminui com o aumento do ordenado sem mais parece-me demasiado simplista. Estou de acordo que o aumento do número de juizes, por si só, não resolve o problema da justiça e da sua morosidade. Ele não chega responder ao constante aumento da procura. Mas dos três efeitos que referiu desse aumento creio que o mais provável de vir a verificar-se é sobretudo a diminuição relativa da qualidade. Quanto aos outros dois tenho algumas dúvidas. Penso que na justiça cível só os actores económicos é que são relativamente racionais, A procura individual, dos cidadãos, obedece a muitos outros factores, nomeadamente de natureza cultural. Há culturas mais litigiosas do que outras e esta é uma variável que interessa também incorporar. Pode litigar-se por uma questão de honra ou por uma questão relativamente pequena, mas sentida como importante por quem vai ao tribunal. Para terminar, queria referir (concordando com o que foi dito) que a crise da justiça não é só portuguesa. Chamo a atenção para uma obra recente, organizada por um professor da Universidade de Oxford, Adrian Zucherman, sobre a crise na justiça cível. O autor comparou os problemas existentes em treze países espalhados pelo Mundo, tanto de «Common Law» como de «Civil Law». Concluiu que os problemas são muito semelhantes, mesmo que mais sentidos nuns países do que em outros. Apontando o sistema holandês como dos mais eficientes, concluiu que um dos problemas é precisamente o do excesso dos recursos judiciais. Mostrou ainda como os advogados contestaram e contornaram as principais tentativas, ensaiadas em países diferentes, para limitar os recursos com objectivos puramente dilatórios. Dispenso-me de referir as razões por que o fazem, dado que estão muitos advogados na sala que facilmente as compreenderão. Isto mostra como, por vezes, as análises económicas muito lineares esbarram com a oposição de interesses entre os diversos actores envolvidos e suas racionalidades muito próprias. Dr. Luís Pais Antunes Tribunal especializado e não tribunal de especialistas Queria aproveitar para fazer dois ou três comentários às duas intervenções, quer do Professor Paz Ferreira, quer do Professor Nuno Garoupa. Há, desde logo, um aspecto que me preocupa, particularmente quando se fala na diferente preparação dos juizes norte-americanos e da falta do esforço de formação. Eu não posso deixar de fazer referência – e antecipando um pouco, acho que tudo tem mais a ver com a questão da especialização e do tribunal especializado do que com o problema da formação – ao exemplo do tribunal de 1.ª Instância das Comunidades Europeias, criado há 10 anos, com competências especializadas na área da concorrência. Como alguns sabem, eu 98 estive ligado à génese do tribunal e posso dizer que o número de especialistas de concorrência era limitado. Apenas um número muito limitado de juizes tinha relativamente bons conhecimentos do direito da concorrência. Os restantes tinham um conhecimento melhor do direito comunitário, mas não eram especialistas de direito da concorrência. Independentemente das críticas que, pontualmente, se possam fazer ao trabalho que esse tribunal tem desenvolvido, parece que, de uma forma geral, todos reconhecem a sua importante contribuição para uma melhor aplicação do direito da concorrência no espaço da Comunidade. Não é necessário criar tribunais de especialistas mas sim criar um tribunal com uma competência especializada e dotá-lo dos meios técnicos, humanos etc. que lhe permitam levar a bom porto essa tarefa. Formação ao nível da magistratura Ainda a propósito dessa questão, mais preocupante me parece o pequeno esforço de formação que se faz a nível da magistratura – e aqui limito-me a falar unicamente da área da concorrência – em Portugal. Por exemplo, não se faz formação de magistrados na área do direito da concorrência. Eu faço formação para magistrados na área do direito da concorrência, por exemplo em países como o Brasil, o Paraguai ou a Argentina e não aqui em Portugal; não faço porque não existe, não há a preocupação e porque o sistema também não a motiva. A formação insuficiente dos magistrados nesta área, tem também algo a ver com uma menor intervenção dos tribunais no controlo incidental da aplicação do direito da concorrência. Estive a fazer rapidamente as minhas contas e tenho em fase litigiosa ou pré-litigiosa 17 casos que dizem respeito à aplicação do direito da concorrência. Desses 17, 3 estão em tribunais judiciais. Os 14 restantes prevêem o recurso a tribunais arbitrais. Hoje em dia, um grande número de conflitos nesta área é resolvido pela via arbitral. Portanto, também, não podemos exagerar a importância que o controlo incidental tem. Quando falo com colegas magistrados, quer de tribunais de 1ª instância, quer desembargadores, eles dizem que não vão perder 5 minutos a estudar direito da concorrência, porque têm mais que fazer e quanto muito aparece um caso uma vez por ano. O problema do imobilismo O segundo ponto tem a ver com aquilo que acho ser o grande problema nesta área, que é a contraposição entre a vontade e o imobilismo. Eu tenho cada vez mas a ideia de que Portugal se está a tornar num país especialista de diagnósticos: nós fazemos os melhores e os mais constantes diagnósticos. Muitos certamente se lembram que, quando fui Director-Geral da Concorrência, criei um Fórum da Concorrência onde muitas das intervenções e sugestões que hoje aqui ouvimos, foram então feitas. Os problemas estão identificados. Não houve nenhum membro do Governo responsável pelo sector enquanto eu fui Director-Geral – e foram três – que não me tivesse pedido um estudo e uma proposta nesta área. Invariavelmente apresentava o mesmo, mas também invariavelmente não era tomada qualquer decisão. Estamos, hoje em dia, exactamente 99 no mesmo ponto. Na minha opinião, já não há diagnóstico a fazer nesta área, as medidas parecem relativamente evidentes. Simplesmente, há o tal imobilismo que não é apenas de vontade política é, também, de vontade dos agentes económicos, que são pouco activos na defesa de uma verdadeira política de concorrência. Os mecanismos de auto-regulação como forma de resolução de conflitos Terceiro e último ponto, falou-se aqui sobre a importância da auto-regulação. A exemplo do que se passa em Portugal, começam a dar-se passos noutros países, quer membros da União Europeia, quer países como a Austrália, no sentido de adoptar cada vez mais os mecanismos de auto-regulação para a resolução de conflitos, não apenas na área do direito da concorrência, mas também no âmbito mais geral das relações entre agentes económicos. Da mesma forma que não sou um crente absoluto nas virtudes do mercado livre, também não sou um crente absoluto na auto-regulação. Apenas tenho a consciência de que é bastante mais eficaz. Prefiro uma decisão que pode não ser a ideal mas que é tomada no prazo de 6 meses, do que uma excelente decisão adoptada passados 15 anos, quando já ninguém pode tirar proveito dela. Daqui a sete anos, possivelmente, estaremos reunidos a discutir, de novo, este tema e nessa altura talvez a auto-regulação já constitua uma verdadeira alternativa aos órgãos de regulação «tradicionais». Dr. Victor Calvete Poderão os tribunais atribuir indemnizações por violações da lei de concorrência? Eu dirigia uma questão ao Professor Paz Ferreira, que é a seguinte: sempre tive ideia de que os tribunais não podiam atribuir indemnizações por violação das leis da concorrência, isto porque, a estar em causa alguma coisa, estaria em causa a 2.ª modalidade da ilicitude e para que possa haver responsabilidade civil quando está em causa a 2.ª modalidade da ilicitude é necessário verificar um conjunto de critérios, designadamente que a norma visasse proteger interesses particulares e que a lesão se produzisse num círculo de interesses que era objecto de protecção pela norma. Pareceme que nem uma nem outra situação estavam preenchidas e portanto fiquei surpreendido quando na sua exposição fez referência ao facto dos tribunais poderem atribuir indemnizações por violações da lei da concorrência. Outra perspectiva sobre remunerações E permitia-me também fazer uma observação em relação à exposição do Professor Nuno Garoupa. Devo dizer-lhe que percebo a sua incomodidade por haver licenciados em direito a ensinar economia nas faculdades de direito – como é o meu caso. É mais ou menos semelhante àquela que, em certos passos da sua exposição, senti quando o ouvi pronunciar-se sobre questões dos tribunais. Dizer, por exemplo, que os juízes 100 portugueses recebem 50% a 2/3 mais do que os juízes dos tribunais espanhóis deixa-me siderado. E, depois, deixa-me ainda mais siderado, porque tendo em conta a contrapartida disso (que é aquilo que os juízes fazem), não tenho nenhuma dúvida em dizer que, tirando talvez o caso dos docentes universitários nas faculdades oficiais, não deve haver neste país nenhuma profissão tão mal paga como a dos juízes. Dr. Mário Marques Mendes A aplicação do direito comunitário da concorrência pelas autoridades de concorrência e pelos tribunais nacionais A aplicação do direito da concorrência, e em particular do direito comunitário, pelos tribunais pode ter um efeito diferente do que se possa esperar. Até hoje, nem o Conselho da Concorrência, nem os tribunais, têm efectivamente aplicado o direito comunitário da concorrência. Por enquanto, não estou ainda convencido de que a criação de tribunais especializados possa ser a solução. Acho que, de uma vez por todas, e, nomeadamente, nos tribunais, há que começar a ter consciência de que há matérias que têm que ser estudadas e analisadas e aplicadas convenientemente. Em defesa de uma análise multidisciplinar Um dos riscos que vejo em análises feitas de um ponto de vista estritamente económico (ou de uma outra perspectiva qualquer) é a visão parcial e exclusiva dessa área. Podemos correr o risco de estar a tentar autonomizar problemas que podem ter um significado e uma explicação se houver – como dizia a Professora Maria Manuel – uma interpenetração de matérias, de conhecimentos. Por exemplo, o Professor Nuno Garoupa referiu os «Contingency fee contracts», que se explicam, e têm o seu lugar próprio, no sistema norte-americano. É uma figura, porém, que está limitada ou proibida na sua utilização na maioria dos países da Europa Continental, por razões éticas e deontológicas inerentes ao exercício da advocacia. Daí que uma análise multidisciplinar, nomeadamente jurídico-económica, destas questões seja essencial. Formação ao nível dos advogados Quanto à questão da formação, tive essa área a meu cargo, recentemente, durante os três anos de mandato no Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados. Durante esse período organizei ciclos de conferências e seminários sobre diversos temas, nomeadamente, sobre o direito da concorrência em Portugal, na Comunidade Europeia e nos Estados Unidos. Pude contar com a participação de alguns dos melhores especialistas norte-americanos, comunitários e nacionais. Foram muitas horas de preparação para uma audiência média, por sessão, de qualquer coisa como 6 a 7 pessoas. E isto não é um problema que atinja só os advogados. A mesma situação 101 encontra-se, segundo fui informado, na formação permanente dos magistrados judiciais ou dos magistrados do Ministério Público. Trata-se de uma questão de cultura, de educação, que terá necessariamente de ser uma prioridade nacional no futuro próximo, sob pena de todo o edifício da vida colectiva ficar sem bases de sustentação. Professor Doutor Pedro Pitta Barros Os custos de eficiência económica Os custos de eficiência económica constituem um aspecto importante que não foi referido, e que é imprescindível clarificar para a parte jurídica ter a sensação do que é. Sempre que o sistema funcionar mal haverá provavelmente investimentos, ou outras decisões das empresas que gostaríamos que fossem tomadas e que não o são porque os agentes económicos acabam por não ter interesse em o fazer, face ao mau funcionamento do sistema. Esse é um custo invisível em termos de eficiência económica. Naturalmente, existe também o reverso da medalha: decisões que gostaríamos de evitar, nomeadamente infracções da concorrência, são tomadas precisamente porque existe a noção de que o sistema é permissivo. Isto são custos muito diferentes do custo do tempo de estar à espera, ou do custo da sanção que é aplicada e esses custos são parte de um ambiente geral que é preciso considerar. Tribunal especializado: fórum para o debate entre juristas e economistas Acho que o ensinamento que posso tirar da minha experiência quer de um lado, quer do outro, é que a forma de pensar do economista e a do advogado jurista são, geralmente, muito diferentes. Mas consegue-se – com tempo e falando – chegar a uma situação em que ambos aprendem, espero eu, algo do outro lado. Contudo, isso não pode ser feito em exposição pública. Daí que me pareça muito mais sensata a ideia de um tribunal especializado, onde estas conversas possam ser desenroladas nos bastidores, do que num tribunal onde sejam convidados especialistas a dirimir argumentos, situação essa em que se entrará em choque. Professor Doutor Nuno Garoupa Comentários gerais Apenas queria fazer alguns comentários. No que toca à carreira e aos estímulos dos juizes eu penso que é uma questão que estou totalmente de acordo com os comentários. Mas penso que é uma questão que valeria a pena estudar com bastante atenção, porque reestruturar ou repensar a magistratura não pode ser feito de ânimo leve, dadas as consequências que terá para todo o sistema e, valeria a pena gastar bastante mais tempo nessa matéria. E quando toquei na questão dos salários, obviamente que não me referi aos problemas da carreira e promoções na carreira, dos próprios estímulos. Na questão 102 da produtividade há esse máximo e esse mínimo na forma como se estuda este tipo de problemas. Na questão da interdisciplinaridade eu não poderia estar mais de acordo. Agora a minha intervenção é análise económica e não sociológica ou política dos tribunais. Isto é, quando eu faço uma intervenção faço-o dum ponto de vista de análise económica. Espero que nunca se possa pensar que a análise económica esgotou a análise dos tribunais. Aquilo que se pretende é que nalgum momento haja um encontro das várias análises, donde possa sair uma proposta de reforma ou uma proposta mais adequada. Sou um crente da interdisciplinaridade e defendo e fui um dos impulsionadores do curso de economia e direito que lecciono em Espanha, por isso acredito na interdisciplinaridade e nas vantagens de formar alunos que serão simultaneamente, especialistas em economia e em direito. Em relação à informação que dei sobre os juízes espanhóis ganharem menos, é uma verdade, faz parte das estatísticas europeias. E os problemas que eles têm é exactamente os problemas que referiu, de atrair pessoas para a carreira de magistrado. Professor Doutor Eduardo Paz Ferreira O ensino de Economia nas Faculdades de Direito Gostava de voltar à questão do ensino do direito e da economia. Primeiro para recordar uma coisa.: Já aqui tivemos hoje uma manifestação de hostilidade em relação aos ensinamentos históricos, mas acho que não os devemos perder assim tanto de vista como isso. Ora, importa recordar que as faculdades de economia saíram da faculdade de direito; economia começou por se ensinar em direito, foi assim no caso da Faculdade de Direito de Coimbra, a casa mãe de toda a gente. Isso teve resultados como o do Doutor Teixeira Ribeiro – Ilustre Professor de Direito – ter sido autor de um manual de finanças que serviu gerações de economistas, que por lá estudaram, tal como viria a suceder mais tarde com o Professor Sousa Franco. Em muitos países, por exemplo, em Itália ou em França economia, é dada por licenciados em direito. Por outro lado, já não é exacto dizer que nas faculdades de direito portuguesas, as cadeiras económicas são dadas por juristas. Assim não sucede, por exemplo, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa em que o ensino da economia está a cargo de professores da Faculdade de Economia da própria Universidade ou na Faculdade de Direito do Porto onde são também os economistas a leccionar. A aplicação de sanções mais pesadas em Portugal É muito curiosa a referência à Nova Zelândia. Nesse caso, mais uma vez, temos a questão do peso histórico e do ambiente cultural. O Professor Nuno Garoupa diz que uma das vantagens de conduzir tudo para os tribunais é a possibilidade de aplicação de sanções mais pesadas e, eventualmente, de sanções penais. Em Portugal, seria um 103 inconveniente absoluto e temos exemplos nítidos disso: Num artigo muito interessante, o Dr. Pedro Verdelho, na Revista do Ministério Público, prova que a excessiva componente penal em matéria de crimes de Mercado de Capitais faz com que os magistrados, por sistema, não actuem porque, em Portugal, seria um escândalo ver alguém na cadeia por um crime desses. Aliás, tivemos um caso mediático que todos terão presente e em que foi patente a diferença de tratamento dada a uma determinada personagem da vida pública nos EUA e em Portugal. O papel dos tribunais arbitrais Foi muito interessante a introdução, primeiro pelo Professor Valente de Oliveira e, depois, pelo Dr. Pais Antunes, da questão dos tribunais arbitrais que, claramente, são uma solução. Mas eu diria que são uma má solução pois os tribunais arbitrais são tribunais caros, só funcionam porque os outros não o fazem. É muito mau que a justiça oficial não possa dar a resposta exigida, tornando os tribunais arbitrais relativamente baratos. Incentivos na carreira dos juízes Gostaria de voltar a várias questões levantadas pelo Conselheiro Anselmo Rodrigues. Há 20/30 anos atrás as pessoas chegavam ao Supremo com 69 anos e 6 meses e pouco depois iam para casa. É um bom dado que as pessoas cheguem mais novas ao Supremo Tribunal de Justiça. É preciso arranjar forma de as fixar ou, pelo menos, acabar com esses incentivos a que se vão embora. A actuação dos advogados Falou-se muito da magistratura e a Professora Maria Manuel Leitão Marques disse que é preciso analisar o que os advogados andam a fazer, e penso que isso é totalmente verdade. Eu julgo que tem havido, da parte do actual bastonário, uma actuação surpreendente. Quando um bastonário é o primeiro a pôr em causa o sistema judiciário português não sei o que deva pensar um cidadão comum. Quando o bastonário declara, em plena abertura do ano judicial, que ele por si recorrerá a todos os truques possíveis para fazer os processos prescreverem e, coisa grave, desafia todos os advogados presentes na sala, entre os quais se incluía o Presidente da República, a negarem que adoptariam o mesmo comportamento, qualquer coisa está errada. Poderão os tribunais atribuir indemnizações por violações da lei de concorrência? Não posso deixar de agradecer ao Dr. Victor Calvete a pergunta dele. Eu diria não tenho grandes certezas sobre isso, mas tenho um bom suporte e um bom apoio que vem da sua faculdade que é o comentário do Professor Pires de Lima Antunes Varela, 4.ª Edição, que é categórico na ideia de que há lugar à responsabilidade civil nos comportamentos anti-concorrenciais, invocando para tanto uma razão que eu partilho: a 104 de que, sendo as regras de concorrência, regras que basicamente têm uma função de ordenação de mercados, também têm a de atribuição de direitos e deveres. Portanto, basicamente, aí permito-me invocar o direito de autoridade do Professor Antunes Varela, aliás um pouco surpreendente dada a sua geração e aquilo que se poderia pensar ser a insensibilidade que essa geração tinha aos problemas de direito económico. Não é no entanto, manifestamente o caso do Professor Varela, aliás, co-autor de um manual de direito económico. 105 CAPÍTULO IV – DEFESA DA CONCORRÊNCIA, DEFESA DO CONSUMIDOR E ENTIDADES REGULADORAS VISÃO DA TEORIA ECONÓMICA Apresentação do Tema: Professor Doutor Vasco Santos Em 20 minutos é virtualmente impossível falar sobre toda (ou sequer uma pequena parte) da teoria económica que existe sobre regulação. Por isso, vou dar alguns exemplos de forma a ilustrar três pontos que considero importantes. Começarei por vos sensibilizar para a relevância prática, isto é, em termos de valores e de importância para o consumidor, da existência de actividade regulatória. Tentarei também convencer-vos do extremo atraso de Portugal neste domínio e, finalmente, falarei de questões de implementação e de alguns riscos ou perigos – alguns já citados e conhecidos da literatura, outros que me parecem menos conhecidos – particularmente evidentes no caso português, dada a nossa tradição histórica nestes domínios. Exemplos flagrantes de práticas anti-competitivas Recentemente, referia-se num programa televisivo sobre incêndios em Portugal a existência de duas empresas nacionais que adaptam veículos para prestação de serviços de combate a incêndios, vendendo-os as corporações de bombeiros. Dado que oferta externa é virtualmente irrelevante, pois os preços de importação deste tipo de material são muito mais elevados, o mercado é constituído, do lado da oferta, apenas por estas duas empresas. Nesse programa, um representante de uma das empresas refere que as duas fizeram um acordo de cavalheiros que consiste em uma vender na metade Norte do país e a outra na metade Sul. Isto corresponde, do ponto de vista de política regulatória, ao estabelecimento de territórios, isto é, de monopólios locais, com o consequente efeito sobre o preço. Poderão dizer que isto não é muito importante, porque estamos a falar de carros de bombeiros, mas se pensarmos nas verbas que o Governo despende nestes materiais, já começamos a ter uma percepção diferente. Mas dou outros exemplos: uma empresa de serviços de telefonia móvel anunciou publicamente aquilo que é chamado na terminologia económica de «cláusula do consumidor mais favorecido». Afirmava-se que qualquer preço que um concorrente estabelecesse seria também oferecido aos seus clientes. Isto é, aparentemente, benéfico para cada cliente. No entanto, este é um mecanismo de conluio e o sistema é simples e fácil de entender: se, ao competir com outra empresa, anunciar um «matching» do seu preço, que interesse tem essa outra empresa em baixar preços? Se baixar, sabe que a sua concorrente fará o «matching», pelo que não ganhará clientes adicionais e perderá receita em virtude da baixa de preço. Nenhuma das empresas ganhará quota de mercado com a redução do preço pelo que 106 nenhuma concorrerá em preços. Este mecanismo de conluio, perfeitamente estudado e reconhecido na literatura, foi anunciado em Portugal (e continua a sê-lo na «Web»), não tendo havido qualquer reacção. A primeira ideia que gostaria que retivessem é a de que actos, atitudes ou comportamentos claramente anti-competitivos e perfeitamente ilustrados na literatura, são sistematicamente praticados em Portugal, anunciados publicamente na televisão em programas de grande audiência, sem que qualquer entidade reaja. Outro exemplo, chamando a atenção para um segundo ponto relevante, é o seguinte: há uns tempos constatei que em diversas grandes superfícies e lojas de desconto, o preço do garrafão de água de uma determinada marca custava sistematicamente uma cifra redonda e elevada, menos 2 escudos. O preço era exactamente o mesmo num elevado número de pontos de venda. É evidente, para um economista treinado, que isto não acontece por acaso e que qualquer coisa de anti-competitivo se está a passar. Infelizmente, só a observação do preço não nos diz tudo. Alerta-nos para que há qualquer coisa de muito estranho em relação à fixação do preço deste bem, mas não nos diz tudo o que gostaríamos de saber. Há várias hipóteses que são consistentes com a minha observação. Vou enunciar duas, das quais acredito com forte probabilidade na segunda. Uma hipótese é que as grandes superfícies têm aqui um determinado mecanismo de conluio tácito e que as lojas de desconto actuam como franja competitiva, praticando o mesmo preço. Eu não acredito nesta hipótese mas sim na seguinte, embora não tenha evidência empírica para provar que assim seja. A segunda hipótese é a de estarmos perante um caso de «resale price maintenance», isto é, a imposição da obrigação de prática de um preço por parte do retalhista. Esta imposição é feita pelo grossista que, mediante uma determinada penalização, nomeadamente, perda de descontos de quantidade ou até, eventualmente em casos extremos, retirada de marca, obriga os retalhistas a não concorrerem e a praticarem um preço particularmente elevado e penalizador do consumidor. Para além dos casos patentes e evidentes, em que as próprias partes enunciam que estão a ter um comportamento anti-competitivo, há também outros casos em que, com um olhar treinado, podemos facilmente encontrar indícios de comportamento anticompetitivo. Quantificação dos benefícios da concorrência Poderão pensar: qual é a importância disto, do ponto de vista prático? Com estes exemplos até se podem fazer modelos interessantes, demonstrando que tudo isto é logicamente consistente mas, e valores? O resultado que vou citar em seguida, vi-o ainda fora do país, enquanto estudante de pós-graduação e, com grande pena minha, não posso indicar a referência exacta, facto pelo qual peço desculpa à audiência. Os serviços de televisão por cabo tendem a ser, na esmagadora maioria das cidades norte-americanas, monopólios: O cabo que atravessa 107 uma cidade pertence a uma dada empresa que faz a oferta destes serviços. Por se tratar de um monopólio, estes serviços foram, durante longo tempo, regulados. No entanto, por razões de ordem política, de capacidade de lobby, acabaram por ser desregulados. A primeira evidência que notei foi o preço do pacote básico passar de entre 10 e 13 dólares para, quatro anos depois, 21/22 dólares, quando a inflação era, na altura nos EUA, na ordem dos 2 ou 3%. À desregulação correspondeu um crescimento absolutamente desmesurado dos preços. Em algumas cidades norte-americanas o serviço pode ter competição pois existe uma tecnologia alternativa envolvendo um prato de pequena parábola, relativamente barato e discreto que permite, mediante a colocação de uma antena emissora, que uma outra empresa entre neste mercado. Quando isso acontecia, os preços baixavam em média, de 21 dólares por mês, para cerca de 14 dólares, o que é uma diferença abismal. E estamos a falar da passagem de um monopólio para um duopólio, de uma para duas empresas. Outro exemplo que posso dar é o seguinte: hoje em dia podem-se negociar telefonemas de longa distância, nos EUA, obtendo preços por minuto na ordem dos 10 cêntimos ou menos ainda. Longa distância implica, nos EUA, 4 fusos horários, o que é uma distância enorme. Se estou a acentuar isto é porque o equipamento para cobrir essas distâncias, a rede para cobrir essas distâncias, é aquela que a distância impõe. É relativamente claro que os valores envolvidos, que resultam de garantir práticas competitivas, são muito significativos e, portanto, os concomitantes ganhos de bemestar para os consumidores são, também eles, muito significativos. Concorrência (im)perfeita e eficiência económica O que é crucial do ponto de vista da teoria económica é que os preços dêem o sinal certo ou, dito de outro modo, seria ideal que, em todos os mercados, se verificasse aquilo a que os economistas chamam «marginal cost pricing», isto é, que os preços igualassem os custos, devidamente calculados, dos bens e serviços. Isto significa que, medidos adequadamente, os custos de todos os factores produtivos que estão envolvidos na provisão, isto é, na criação e disponibilização de um bem ou serviço, desejaríamos que o preço que cada consumidor paga por esse bem ou serviço fosse igual a esses custos. Isto deve acontecer porque estes custos (quando adequadamente calculados) representam o valor para a sociedade do sacrifício de recursos necessários para fazer chegar o bem ou serviço ao consumidor. E o preço é o sinal que nós temos desse mesmo custo, apenas e só se for igual ao custo. Actividades anti-competitivas tornam os preços substancialmente superiores aos custos e, portanto, induzem-nos a sub-consumir, a consumir menos do que seria ideal do ponto de vista da sociedade. É aqui que entra o modelo de concorrência perfeita. Trata-se de uma concepção ideal de uma estrutura de mercado que faz com que esta noção de preços iguais aos custos marginais, de facto, se verifique. Na medida em que este modelo tem um conjunto de hipóteses cuja não verificação é fácil de estabelecer – o que ajuda muito quem tem que 108 regular a actividade económica – há razão para pensar que, em muitos mercados, estamos perante uma situação em que os preços são demasiado elevados, em que há competição insuficiente. Desse ponto de vista, o modelo de concorrência perfeita é importante. No entanto, numa economia moderna praticamente todos os sectores são insuficientemente competitivos. Nalguns, há um número muito limitado de empresas e, mesmo naqueles onde o número de empresas é mais elevado, estamos ainda aquém do óptimo. A primeira constatação, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, é que as entidades reguladoras não se devem limitar a entidades específicas ligadas, nomeadamente, a sectores recém-liberalizados, como as telecomunicações ou a energia eléctrica. A actividade de regulação, de promoção de comportamentos prócompetitivos, deve ser alargada a todos os sectores da economia porque, em bom rigor, todos eles são insuficientemente competitivos. Evidentemente, não é factível nem é desejável promover, a todo o instante, intervenções pró-competitvas. Como regulador, não perderia tempo a preocupar-me com a competição imperfeita em sectores que tenham um peso muito pequeno no orçamento das famílias ou na economia como um todo. Certamente que me preocuparia com comportamentos anti-competitivos no que diz respeito, por exemplo, ao sector das telecomunicações. Um outro aspecto que gostaria, desde já, de salientar é que a teoria económica defende uma intervenção mais acentuada do Estado, ou de órgãos que por ele são criados, na economia. Tal parece ser um paradoxo porque os economistas – nomeadamente os economistas chamados liberais – defendiam, há uns anos atrás, uma menor intervenção. Aparentemente, todos mudaram de opinião e defendem agora uma maior intervenção do Estado. Não há aqui paradoxo algum. Defendia-se uma menor intervenção do Estado, há uns anos atrás, porque era convicção – e clara evidência, eu diria – que a presença do Estado na economia, nos termos em que se fazia, era anticompetitiva. O que a teoria económica defende agora é uma maior participação do Estado, mas pró-competitiva. Não há qualquer contradição entre as duas posturas. Trata-se de um mesmo ponto de vista que toma duas faces. Poderá, ainda, pôr-se a seguinte objecção: provavelmente, tal intervenção não é necessária, porque economias que acreditem genuinamente no mercado e que sejam suficientemente capitalistas ou organizadas de uma forma capitalista não necessitam de regulação económica. E aí, a ideia que vem imediatamente à mente, é pensar no que os EUA, que são o nosso paradigma da hiper-competitividade, fazem neste domínio. Deixem-me responder a esta questão, citando apenas três ou quatro instituições: A Federal Trade Commission, a Interstate Commerce Commission, a Federal Communications Commission e a Securities and Exchange Commission. Estas são entidades – para quem lê frequentemente o The Economist, o Financial Times, o Wall Street Journal ou mesmo os jornais não especializados – extremamente intervenientes na vida económica norteamericana, com as suas decisões muitas vezes discutidas, não só nos jornais técnicos, como nos gerais, com um poder, prestígio e visibilidade brutais na economia norte- 109 americana. Não tenhamos dúvidas que esta intervenção regulatória está extraordinariamente presente naquela que é, possivelmente, a mais competitiva e capitalista economia em que possamos pensar. E se pensarmos que tal é uma «modernice», na verdade não o é. O «Sherman Act» existe desde 1890 e, portanto, estas preocupações regulatórias existem há bem mais de 100 anos na economia norteamericana. Estes fenómenos estão bem percebidos, bem documentados e têm grande importância. Objectivos da política regulatória Finalmente, entraria na última parte da minha intervenção. Falarei agora de riscos de implementação de uma política regulatória e dar-vos-ei a minha opinião sobre alguns aspectos que me parecem ganhar particular acuidade no caso português. Primeiro: é importante que percebamos que aquilo que os economistas desejam obter com este tipo de política regulatória – que tenho em mente e que vou descrever – é garantir que os consumidores tenham acesso a bens e serviços a preços que cubram os custos, e tão somente os custos, de provisão desses bens. É, basicamente, uma forma de garantir que todos nós tenhamos acesso a bens e serviços a preços baixos. Não há, por parte dos reguladores económicos, a preocupação – e deixem-me ser impreciso e excessivo para transmitir claramente a ideia – de fazer prevalecer ou sobreviver a indústria ou indústrias que fazem a provisão desses bens e serviços. Somente a têm na medida em que querem garantir que tais bens e serviços estão disponíveis a preços baixos. Proteger interesses particulares do lado da oferta, nomeadamente fazer sobreviver empresas ineficientes ou menos eficientes, não é uma preocupação da política regulatória. Estou convencido que, se tivéssemos mercados genuinamente competitivos, nomeadamente dinamicamente competitivos (com liberdade de entrada) teríamos, no caso português, muitas reacções e muitos pedidos de protecção. Em geral, quando há concorrência forte, aparecem imediatamente pedidos de ajuda dos que estão do lado da produção e se sentem enfraquecidos, invocando o objectivo de não encerrarem actividade no minuto seguinte. Isto seria um problema importante no caso português. Características da entidade reguladora Diria então que, se quisermos ter uma política regulatória séria – com isso querendo referir-me àquilo que descrevi há pouco – teríamos que garantir a independência da entidade reguladora, quer face à pressão directa das empresas reguladas sobre o regulador, quer às pressões indirectas que as empresas reguladas possam fazer – em função da sua dimensão, capacidade de financiamento de partidos, etc. – através do poder político e do Governo, sobre as suas decisões e comportamento. Isto é um problema dramático de solução extraordinariamente difícil. 110 Um segundo aspecto importante é que esta entidade reguladora, para além da total independência, precisa também de poder dispor da capacidade de poder penalizar, muito seriamente, aqueles que infringirem as leis pró-competitivas. É fácil de intuir que práticas anti-competitivas podem significar um acréscimo de lucros muito significativo. A nossa primeira intuição apontaria para a aplicação de uma multa igual a esse valor. Na verdade, a multa terá que ser muito superior a isto, para ser efectiva, e explico porquê: os ganhos de uma prática anti-competitiva são certos, ocorrem (na linguagem de um economista) com probabilidade 1. Se a probabilidade de ser apanhado é muito baixa –não há muitos casos de «smoking gun» – só se a multa for muito grande é que desencoraja o crime. As multas têm que ser desproporcionadas face ao valor dos ganhos potenciais com a infracção para se conseguir, de facto, desencorajar as empresas deste tipo de práticas. Finalmente, o terceiro aspecto: para que a actividade regulatória possa ser levada a cabo com êxito, exige indivíduos muito bem preparados, quer do ponto de vista da teoria económica, quer do ponto de vista do conhecimento das técnicas de gestão, dos chamados truques de gestão. Deixem-me dar um exemplo para que se perceba que estas questões não são fáceis e exigem cuidado: a lei portuguesa, tanto quanto sei, não permite genericamente a venda de bens abaixo do custo. A noção é a de que vender abaixo do custo é uma prática predatória, de vendas com prejuízo que, do ponto de vista da teoria económica, corresponde ao que chamamos «predatory pricing»: a empresa pratica um preço mais baixo para, com isso, fazer determinados competidores abandonar o mercado e, mais tarde, vir a praticar preços mais elevados. Esta mesma prática de venda a preço abaixo do custo, nomeadamente se for praticada para um infímo número dos produtos que se comercializa, é meramente um «loss leader», uma forma de atrair clientes que, entretanto, vão mais do que compensar a perda que se possa ter na venda destes bens, com a compra de outros bens vendidos com uma margem positiva. Se não for «predatory pricing», se for praticado num pequeno grupo de produtos, se for um caso de utilização de uma estratégia de preços envolvendo «loss leaders», então ela é desejável, porque corresponde a obter preços mais baixos. O consumidor é livre de comprar os produtos que quer e, por isso, beneficia. Distinguir estes casos exige, em minha opinião, um bom conhecimento de teoria económica e um bom conhecimento de algumas áreas da gestão. Não acho fácil, a menos que um juiz ou um advogado tenha um treino subsequente com um mínimo de qualidade, que acumule os dois tipos de competências. Porque é que estes serviços não são encomendados a terceiros, nomeadamente aos economistas ou aos gestores que neles estão treinados? A captura regulatória O perigo da captura regulatória, isto é, de ter o regulador ao serviço da empresa é relativamente fácil de acontecer, bastando a empresa ameaçar o regulador de que, se determinadas políticas forem implementadas, procederá a despedimentos ou declarará falência. Nenhum regulador quer correr um risco deste género e, como o conhecimento 111 que o regulador tem de uma indústria é, por norma, sempre inferior, quer do lado dos custos, quer do lado da procura, ao das empresas que estão a operar nesse sector, o regulador facilmente é enganado ou capturado. Estou convencido que isto no caso português seria patente e evidente. Impacto macroeconómico Finalmente, gostaria de chamar a atenção para um facto que não é irrelevante, e que consiste no seguinte: políticas regulatórias feitas com seriedade podem, para uma mesma política macroeconómica, gerar níveis gerais de preços muito mais baixos. Nessa medida, o tipo de discussões que anualmente temos – sobre salários, preços, aumentos da função pública – seriam facilitadas se comprássemos através de uma política regulatória séria, uma inflação muito mais baixa do que aquela que temos de facto. Deixaria, como nota final, esta ligação entre uma política microeconómica e políticas macroeconómicas que, por esta vez, não foram alvo de debate. 112 VISÃO DE UM REGULADOR Apresentação do Tema: Dr.-Ing. Jorge Vasconcelos Em relação à questão da independência e do risco de captura, entendo que é meu dever começar por uma advertência: foi dito de manhã que os reguladores não deveriam ter um mandato renovável, porque isso cria um risco de captura. Devo referir que estou na Entidade Reguladora do Sector Eléctrico há 4 anos, que estou no último ano do meu mandato e que, de acordo com os estatutos, o mandato é renovável. Devo ainda dizer que este debate foi extremamente interessante e que aprendi muito ao longo do dia, o que me causa algumas dificuldades na escolha dos transparentes que tenho para mostrar. Eu já tinha algumas dificuldades iniciais, nomeadamente, a de saber se devia falar apenas sobre o sector eléctrico, ou se devia tentar fazer a ponte para as outras questões que são colocadas, que são a da concorrência e a da protecção dos consumidores. Tinha também a questão de saber se devia falar da minha experiência ou de problemas orientados para o futuro. Esta riqueza de temas que foram lançados ao longo do dia dificulta, ainda mais, a selecção. Portanto, vou-me limitar a dois ou três apontamentos muito impressionistas e depois, se houver vontade da vossa parte, poderemos aprofundar essas questões. Deficit ordenamento político-económico em Portugal Começo por um apontamento muito breve sobre a questão da cultura de mercado, que já foi aqui referida. Trata-se de uma das questões que me preocupa, não só como regulador, mas também como cidadão. Penso que existe, claramente, um deficit, que tem razões compreensíveis no nosso país. Passámos de um modelo proteccionista muito bem estruturado e com uma grande longevidade, para um período de uma certa volatilidade em que tentámos, no final dos anos 70, copiar modelos que tinham sido adoptados nalguns países, no final dos anos 40. Nos anos 80, assiste-se, na maior parte dos países desenvolvidos, por várias razões, a toda uma série de experiências de reregulação e des-regulação. As dificuldades macroeconómicas do nosso País não permitiram pensar muito nessa função reguladora do Estado e, portanto, pensar em regular a desregulação. Tivemos os anos 80 que são, também, fruto dessas circunstâncias, e ao chegarmos aos anos 90, deu-se o processo de constituição do mercado interno, com uma certa europeização das políticas dos Estados-Membros, que nos trazem algumas medidas de política económica que, à partida, não estavam previstas. Tudo isto cria uma arquitectura pouco coerente. Sou sensível à questão do ordenamento político-económico e sinto a falta de um ordenamento político-económico coerente no nosso país, que seja fácil de explicar a qualquer observador. Na Alemanha, por exemplo, um dos temas que está a ser debatido actualmente é a «nova economia social de mercado». Creio que uma discussão dessas, se fosse lançada, no nosso país, morreria ao fim de meia dúzia de segundos e não teria eco nenhum na 113 comunicação social. Mas penso que é uma falta que condiciona todas as discussões que possamos ou não fazer, – sobre concorrência, sobre regulação – porque estes são já temas derivados de uma ideia mais a montante, que é a de um quadro políticoeconómico coerente. O que é cultura de regulação? A seguinte história é, quanto a mim, a melhor ilustração do que é uma cultura de regulação. Há cerca de 10 anos fui com um grupo de colegas europeus a Boston visitar o Centro de Estudos de Regulação de Electricidade de Harvard. Saímos do hotel, apanhámos um táxi e dissemos ao motorista que íamos para a Harvard School of Public Policy. O motorista de táxi, que era de origem grega e portanto deveria ter ainda alguns genes de velhos filósofos, olhou para nós e – em vez de fazer uma pergunta comum aos motoristas de táxi: de que país os senhores vêm? – dispara-nos esta pergunta: «Are you appointed or elected»? Para mim, isso ficou como sintoma de uma cultura de regulação. A ERSE tem tentado fazer alguma coisa pela cultura da regulação em Portugal. Fizemos um ciclo de conferências sobre regulação e publicámos essas contribuições, num volume que trouxe e coloquei aqui à vossa disposição. O ano passado constituímos – juntamente, com o colega Álvaro Neves da Silva, regulador dos Transportes Ferroviários e com mais alguns reguladores, como é o caso do Instituto de Águas e Resíduos, do Instituto das Comunicações de Portugal e da CMVM e, junto da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - o Centro de Estudos de Direito Público e de Regulação, que tem como objectivo principal promover estudos e fomentar a reflexão e investigação nesta área. Estamos, também, a tentar, há algum tempo, com a Universidade Nova de Lisboa, – com o Professor Pitta Barros, aqui presente – constituir um Centro de Estudos de Regulação Económica. Não foi ainda possível concretizá-lo, mas espero que venhamos, rapidamente, a pô-lo em funcionamento. Isto, porque sentimos a necessidade de formar pessoas, não só para os próprios reguladores, mas que também possam ir para as empresas reguladas, para a Administração Pública e possam partilhar uma linguagem e determinadas ferramentas conceptuais comuns, e que isso possa facilitar a compreensão e a aplicação da regulação. Um novo paradigma de regulação O primeiro tema de que irei falar refere-se à regulação e aos modelos de regulação. No paradigma clássico, tínhamos a regulação de uma empresa que, no sector eléctrico, tradicionalmente, era uma empresa verticalmente integrada, – da produção até à venda da energia – que cobria uma determinada área geográfica. Essa empresa estava, de alguma forma, interessada no seu lucro, que interessa ao proprietário da empresa e tinha uns outputs que, do ponto de vista do cliente, são, basicamente, o preço e a qualidade do serviço que é prestado. E da conjugação destes dois interesses, aplicando algumas teorias económicas, mais ou menos sofisticadas, chega-se a uma determinada eficiência económica, que o regulador deve definir através de um conjunto de regras que 114 constituem, de alguma forma, o contrato regulatório que ele estabelece com a empresa, de acordo com o método de regulação que for adoptado. Num mundo ideal, de um ponto de vista económico, seria assim. Num mundo um pouco mais real há outros interesses, legítimos, que importa ter em consideração, embora possam ser difíceis de quantificar. Estes interesses são aquilo a que se chama de uma forma geral o interesse público e que pode incluir – no caso da electricidade – a estabilidade do preço, a justiça do preço, a eficiência energética, a segurança de abastecimento, a protecção do meio ambiente, a universalidade do serviço que é prestado, etc. É todo um conjunto de preocupações que um regulador não deve ignorar, quando estabelece, nomeadamente, os preços. Este modelo, muito simplificado, foi o que durante um século foi desenvolvido e aperfeiçoado nos EUA, e é um modelo que se mantém válido, mas não para toda a indústria em bloco. Aquilo a que estamos a assistir, hoje, é a uma mudança de paradigma, em que determinados sectores que eram considerados monopólios naturais – como fossem a electricidade, o gás natural, os caminhos-de-ferro, as telecomunicações etc. – deixaram de ser considerados como monopólios e passou-se a distinguir entre a infra-estrutura, a produção e a venda. A primeira continua a ser encarada como um monopólio e, portanto sujeita a este tipo de controlo e de regulação mas, no que diz respeito à produção, por exemplo, de electricidade ou à injecção de gás na rede de gás, ao transporte das mercadorias ou das pessoas em cima de uns carris, existe concorrência, assim como existe concorrência na venda ao cliente final. E portanto temos um novo paradigma, uma nova regulação em desenvolvimento. Não há receitas mágicas, não há teoria estabelecida sobre a melhor forma de regular um sistema que, só parcialmente, é monopolista e que, em parte, está a ser liberalizado. Quando se fala de liberalização e de concorrência no sector eléctrico, normalmente pensa-se no direito de escolha, ou seja, o consumidor que deixa de estar obrigado a comprar electricidade ao seu distribuidor local e que pode escolher entre uma grande variedade de fornecedores alternativos. Este tipo de concorrência na venda ao cliente, isto é, no retalho, pressupõe a existência, a montante, de um mercado, por grosso, organizado, e é aí que, muitas vezes, existem dúvidas. Recentemente falou-se muito, por exemplo, no caso da Califórnia, e há dúvidas de como é que se organiza um mercado de energia eléctrica por grosso. Mais uma vez não existem soluções mágicas, estamos a experimentar, um pouco em toda a parte - nos EUA, na Europa - com mais ou menos sucesso, e em Portugal também. Quer porque se iniciou um processo de liberalização, no início dos anos 90, quer porque há directivas sobre o mercado interno de electricidade que a isso obrigam, e essas directivas inclusivamente – na sequência do Conselho Europeu de Lisboa de 2000 – vão ser, em breve, revistas no sentido de uma aceleração da liberalização. E aqui, tocamos num ponto que considero importante, que gostava de deixar à vossa reflexão que é o seguinte: a liberalização em Portugal é uma liberalização, de acordo com a legislação do sector eléctrico – que é de Julho de 1995 – parcial. A própria legislação impede, hoje, que os consumidores de baixa tensão – que 115 incluem todos os consumidores domésticos e os pequenos consumidores industriais – possam escolher o seu fornecedor. O mercado Ibérico de energia eléctrica Mesmo que todo o mercado eléctrico português fosse liberalizado, mesmo que amanhã todos os consumidores fossem livres de escolher o seu fornecedor – o que, obviamente, obrigaria a fazer algumas alterações profundas no nosso sector com as respectivas consequências económicas – devemos pôr a questão de saber se existem condições para que um mercado organizado por grosso, de energia, possa sustentar um mercado concorrencial do retalho. Isto, tendo presente que o consumo total de Portugal Continental, não chega a cerca de metade das exportações francesas e cerca de ¾ das importações italianas. Estamos a falar de valores extremamente modestos e aquilo que as experiências de outros países e regiões nos demonstram é que não é possível que um mercado tão pequeno seja eficiente. Não podemos ter concorrência, porque não há volume suficiente. Logo não poderia haver um número suficiente de empresas a actuar neste sector e, por isso, não há condições para um mercado por grosso, eficiente, de energia eléctrica em Portugal. Empiricamente é fácil demonstrar isto, como o prova o caso da Suécia que - tendo um consumo per capita quatro vezes superior ao nosso e um grau de desenvolvimento económico superior ao nosso - quando considerou, em 1995, a forma de criar um mercado por grosso, chegou à conclusão de que valia mais juntar-se à Noruega. Foi criado um mercado conjunto, pois não fazia sentido, do ponto de vista sueco, criar um mercado nacional. Posteriormente, juntaram-se a Finlândia e a Dinamarca, constituindo-se assim um mercado que é dez vezes superior ao mercado português, e note-se que este mercado de electricidade, apesar da sua dimensão, foi difícil de construir e de manter em funcionamento, de uma forma correcta e eficiente. Dou-vos conta desta minha preocupação, porque daqui decorre uma consequência que é: para que os consumidores possam beneficiar da concorrência, isso obrigar-nos-á, necessariamente, a pensar em mercados transnacionais. E, atendendo aos congestionamentos que existem nas interligações físicas de Espanha com França, isto significa que, se quisermos ter concorrência no mercado de electricidade em Portugal, teremos que encarar a constituição de um mercado ibérico, por grosso, de energia eléctrica. A Península Ibérica no seu todo, estará, provavelmente, no limiar da sustentabilidade de um mercado «spot» de electricidade suficientemente líquido para produzir os tais sinais económicos que façam sentido. Obviamente que podemos constituir um minimercado de electricidade em Portugal, simplesmente os sinais económicos que esse mercado iria dar seriam completamente disparatados. Não seriam sinais adequados, nem para os consumidores, nem para as actuais empresas, nem para potenciais investidores, o que acabaria por ser uma construção contraproducente. A constituição desse mercado Ibérico de energia eléctrica tem, obviamente, várias dimensões: tem algumas políticas, outras culturais e tem também algumas económicas. 116 Penso que é muito importante que se distinga o aspecto especificamente económico de organização do mercado eléctrico, de outros mais ou menos políticos. Para ser muito claro: há determinadas regras de funcionamento de um mercado «spot» de electricidade que são inegociáveis e assim sendo, ou se cumprem essas regras e se lhes dá uma determinada estabilidade temporal, ou então, se não existem esses mecanismos instituídos e que garantem robustez ao mercado, arriscamo-nos a ter um desastre - e já vimos que esses desastres podem acontecer. Estes fundamentos estruturais do mercado de electricidade fazem parte de um ordenamento político-económico saudável, onde a política não deve entrar. Ao lado disto, há toda uma série de aspectos, onde as empresas não devem entrar e onde a política deve tomar decisões, concretamente, tudo o que tem a ver com «governance», por exemplo, de um mercado transnacional - obviamente que são decisões políticas. Energias renováveis e co-geração: introdução de concorrência O terceiro e último aspecto tem a ver com eficiência económica, interesse público e com energias renováveis. À partida todos nós somos favoráveis à promoção de fontes de energia renovável, e à protecção do ambiente, e todos consideramos que é bom ter a possibilidade de diminuir a nossa dependência energética – somos o país da União Europeia com maior grau de dependência energética – através da promoção de fontes de energia renovável. Tínhamos, em Portugal, até 96/97, um sistema em que o pagamento aos produtores, a partir de fontes de energia renovável e de co-geração, era indexado à tarifa de venda aos clientes finais. Como essas tarifas eram relativamente elevadas, os produtores - de mini-hídricas, energia eólica etc.- iam-se queixando moderadamente, mas quando as tarifas baixaram, os produtores queixaram-se e então foram pedir que o sistema fosse revisto. O Governo português decidiu introduzir um sistema – que existe em muitos outros países e que, aliás, foi pela primeira vez introduzido nos EUA no final dos anos 70, através de uma lei do Presidente Carter – que basicamente garante a todos os produtores – a partir de fontes renováveis e aos co-geradores, – uma determinada remuneração igual para todos, fixa, sem qualquer limite de quantidade. Pergunta-se: terá que ser assim? Não será possível ter alguma concorrência aí? A Inglaterra, ao longo dos anos 90, introduziu concorrência em vez de pagar, indiscriminadamente, um preço igual para todos. De 2 em 2 anos têm lugar concursos para uma determinada capacidade, e o Governo subsidia apenas as melhores ofertas, para uma determinada quantidade, durante um determinado período de anos. Entre o primeiro concurso que foi feito, em Setembro de 1990 e o último, em Setembro de 1998, o preço desceu de 7 p/kWh, para 2,7 p/kWh. Isto permite continuar a fomentar as energias renováveis, permite continuar a promover o ambiente, mas, ao mesmo tempo, introduz eficiência. 117 Comentários à intervenção anterior Se me é permitido ainda – e já em resposta à intervenção do Professor Vasco Santos – gostaria de referir mais dois ou três aspectos. Foi dito que os EUA têm uma longa tradição de regulação, mas penso que há que dizer duas coisas: em primeiro lugar, que esse paradigma clássico de regulação está, neste momento, em evolução, e o que acontece aqui é uma coincidência temporal entre a Europa e os EUA. Os EUA estão a rever esse modelo – que tem cerca de um século – a Europa está a introduzi-lo, adaptando-o e modificando-o. A regulação independente, no sector eléctrico, aparece nos anos 90 na Europa, mas a evolução tecnológica, económica e política leva a esta mudança de paradigma, ou seja, à existência de sistemas mistos. Nestes sistemas existe uma infra-estrutura em monopólio, mas existem também subsectores em regime de concorrência, o que obriga a repensar o modelo clássico de regulação. Estamos, pois, todos, mais ou menos na mesma situação, que é a de experimentar vias alternativas. Além disso, como o Professor Vasco Santos referiu, de acordo com a teoria económica, o que faz sentido é termos preços baseados em custos marginais. Pois, a este nível mais técnico da regulação, devo dizer que a Europa não está, de forma alguma, atrasada em relação aos EUA. No sector eléctrico nos EUA, continua a trabalhar-se com preços médios, enquanto que nós, na Europa e até mesmo em Portugal, porque copiámos o modelo francês, temos tarifas, desde 1977, baseadas em custos marginais. O Professor Vasco Santos referiu ainda que, se fosse regulador, não perderia tempo com coisas que têm pouco significado para as famílias. Esse, obviamente, é um dos dramas que têm os reguladores. Eu recordo-me que, no final de 1999, quando fixámos as tarifas para 2000, passámos vários dias a fazer contas e a produzir aqueles documentos em que se explica detalhadamente como é que se calculam as tarifas. Quisemos, depois, saber em que é que se traduzia aquela descida ligeira de tarifa para uma família média portuguesa e chegámos à conclusão de que seria, mais ou menos, o custo de um maço de tabaco, o que é um resultado frustrante. Há, no entanto, outras coisas que são importantes, como sejam a estabilidade que se dá ao sistema. Refere, ainda, que proteger os consumidores e garantir o equilíbrio das empresas não é uma obrigação do regulador, mas não é bem assim. Se os estatutos o impuserem, o regulador tem que o fazer, como é o nosso caso. Para a ERSE, promover os direitos dos consumidores e garantir o equilíbrio económico e financeiro das empresas que actuam em regime de monopólio – isto é, transporte e distribuição – é, também, uma obrigação estatutária. 118 DEBATE Dr. Amílcar Ramos A importância de avaliar a actuação do regulador Da primeira intervenção surgiram-me algumas questões. A primeira é o problema da captura do órgão regulador pela(s) empresa(s) de posição dominante no mercado, sobretudo no caso das telecomunicações. Há uns anos foi-nos prometido que se avançaria em termos de maior concorrência, mais acesso aos produtos, maior benefício para os consumidores. Era importante que se fizessem estudos a confirmar o que na realidade aconteceu. Por exemplo, no caso das telecomunicações, põe-se o problema do que se apela ao órgão regulador, em termos de importância e de missão. O Professor Vasco Santos afirmou, que a preocupação essencial deve ser virada para o consumidor. Deveríamos analisar a actividade, as preocupações e a agenda dos órgãos reguladores para confirmar se, de facto, foi nessas preocupações que se gastaram recursos e se não foi, no fundo, com actividades de estruturação da actividade produtiva, isto é, com preocupações relativas à indústria. Outro aspecto para que gostaria de chamar a atenção refere-se aos bens públicos, ou bens com importância no orçamento das famílias, em que se gasta um conjunto significativo de recursos. Julgo que as acções dos órgãos reguladores deveriam reflectir uma maior preocupação a esse nível. Os aumentos desmesurados dos preços nas comunicações e no gás são a este nível ilustrativos. Uma outra questão importante é a da existência de dois níveis de responsabilidade: responsabilidade política e responsabilidades da administração. Referiu-se a renovação dos mandatos e era bom que isso fosse analisado, bem como a estabilidade de ligações com indústrias. Certamente que a limitação temporal dos mandatos dos elementos designados para a gestão dos órgãos reguladores refrearia as ligações perigosas que se estabelecem com os operadores. Aquilo que se perderia em termos de experiência de gestão certamente seria compensada por uma maior transparência da sua actividade. De qualquer modo, parece importante que a Assembleia da República passe a ter uma palavra a dizer não apenas quanto à nomeação dos Presidentes dos Conselhos de Administração dos órgãos reguladores, mas sobretudo quanto ao controlo sistemático da actividade dessas instituições. Também a prestação de contas desses órgãos junto de Comissões Especializadas da Assembleia da República deveria ser a regras para se garantir uma maior eficácia e transparência da Administração. Quanto ao problema das coimas para a credibilização das políticas, foi uma ideia que anotei e julgo importante. De facto, o agravamento das coimas permitiria desincentivar as práticas ilegais e comportamentos menos adequados por parte dos agentes económicos. 119 Relativamente aos problemas da concorrência, considero que não se põem só em termos de empresas. Julgo que um problema essencial que está arreigado, há muito neste país, é a desresponsabilização face ao não cumprimento das leis. Considero que parte da solução do problema passa por criar uma cultura de cumprimento de determinada legislação. Isso seria mais importante do que alterar a legislação que existe. Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues No sector da energia eléctrica norueguês há concorrência a nível grossista. Existe um monopólio na rede, mas a distribuição é concorrente. Eu pergunto ao Eng.º Vasconcelos se não é possível, em Portugal, haver monopólio na rede, mas estabelecerem-se concursos para a própria distribuição. Actualmente há quem diga que a concorrência é a vitória da ideologia anglosaxónica. Tal não significa que esta seja, necessariamente, a única. Temos o exemplo dos tigres asiáticos, onde não impera a ideologia anglo-saxónica, e onde, pelo contrário, há intervenção do Estado com bons resultados. Das palavras do Professor Vasco Santos, fiquei com a ideia de que iríamos ter, nos diferentes sectores, autoridades reguladoras, isto é, substituíamos o Estado por autoridades reguladoras, que controlavam os preços e ficava tudo na mesma. Dr. Miguel Moura e Silva Os custos da não concorrência A discussão neste painel é extremamente interessante, pois liga a questão da defesa da concorrência à das autoridades reguladoras sectoriais. Considero haver aqui uma batalha comum a travar em conjunto pelas autoridades de concorrência e pelas autoridades reguladoras, que é a batalha da eficiência. Como afirmou o Professor Vasco Santos, é de facto o nível de macroanálise que é importante, pois só assim se percebe que o objecto desta discussão é a melhoria das condições de competitividade da nossa economia, o que implica tornar as nossas empresas e os nossos mercados mais concorrenciais. O que não pode significar proteger empresas com base na sua nacionalidade, como sucede com a tentação de promover «campeões nacionais». A este respeito, sente-se bastante a falta de um estudo dos custos para a nossa economia da não concorrência. Tal como houve, para o mercado interno comunitário, um estudo sobre os custos da não Europa, precisávamos de um estudo sobre os custos da não concorrência porque frequentemente nos deparamos com o problema de as pessoas (público em geral, empresários e decisores políticos) não se aperceberem, exactamente, desses custos, sendo sempre mais perceptível a óptica de protecção das empresas nacionais, ainda que à custa da eficiência e do processo competitivo que a ela deve conduzir. Os exemplos que o Professor Vasco Santos apresentou transmitem a ideia dos enormes benefícios que os ganhos de eficiência resultantes do aumento da concorrência podem trazer para a nossa economia. 120 Ao discutir reformas de autoridades de concorrência e de entidades reguladoras e a articulação entre ambas – sendo que este último é, para mim, o ponto essencial deste debate – é necessário saber quais são estes custos para depois podermos analisar que tipo de intervenção é desejável do ponto de vista da sociedade como um todo. Controlo da atribuição de direitos exclusivos Um aspecto importante – mas a outro nível – que temos que acrescentar à política de concorrência diz respeito à criação de um controlo sobre a forma como são atribuídos direitos exclusivos, o que pode, ou não, passar pelos reguladores sectoriais. Refiro este aspecto porque, por exemplo, no sector ferroviário discute-se neste momento uma proposta comunitária, em que as questões de concorrência estão ainda pouco desenvolvidas. Se temos um mecanismo de controlo prévio de concentração de empresas, porque não ter também um mecanismo de controlo prévio de concessões? Com efeito, ao atribuir direitos exclusivos, uma concessão pode ter significativos custos de eficiência, sendo necessário justificar tal limitação da concorrência. Afinal, se temos tanto trabalho com as concentrações de empresas – com resultados, para alguns, decepcionantes -, porque não ter um processo semelhante para a concessão de direitos exclusivos, do qual poderiam advir benefícios significativos? Quanto à forma de concretizar esta ideia na lei, essa é uma questão que poderá merecer algum aprofundamento, mas desde já se pode considerar a exigência de um parecer obrigatório da actual Direcção-Geral do Comércio e Concorrência sempre que haja uma concessão de um direito exclusivo de um determinado valor, sujeitando-o posteriormente, a parecer obrigatório do Conselho da Concorrência sempre que a informação da Direcção-Geral seja desfavorável. Eng.º Álvaro Neves da Silva A captura do Estado aquisidor pelo Estado produtor O tema da reforma regulatória em Portugal é parte de um tema mais vasto, como o Professor Jorge Vasconcelos explicou recentemente na Assembleia da República. Tratase do exercício de um poder do Estado e a reforma regulatória ou é parte da reforma da Administração Pública e parte da reforma do Estado ou não é. Talvez noutros países, em que o Estado esteja mais reformado, isto possa ser menos verdade mas estou perfeitamente convencido de que isto é assim em Portugal. Também temo que em Portugal, possamos correr o risco de ver a regulação capturada pela economia, além de, normalmente, vermos a economia capturada pelos economistas. De facto, nalguns sectores em que o Estado tem uma presença forte, estamos muito mais perante uma «state failure» do que perante uma «market failure». É o Estado que, activamente, conspira contra o interesse dos cidadãos através de um processo muito 121 interessante: o Estado democrático tem mecanismos de controlo da despesa pública, o que é essencial e deve ser feito pelo Parlamento. No passado, para montar algumas actividades em que foi precursor – caminhos-de-ferro e outros – o Estado fez grandes investimentos e criou um aparelho produtor, que era instrumento do Estado comprador. O Estado produtor capturou o Estado aquisidor e, através disso, capturou o Governo. Quando um ministério como o Ministério dos Transportes devia utilizar as dotações do Estado para exercer um forte poder monopsonista junto das empresas, acaba por identificar-se com estas. Por outras palavras, o Ministério dos Transportes, nalguns casos, foi inteiramente capturado pelas empresas do sector público dos transportes. E o que está aqui em causa é um processo de conspiração contra a lógica da democracia representativa estabelecida em Portugal. É um processo de esvaziamento das funções parlamentares, de pôr em causa a legitimidade democrática do poder em Portugal que tem que ser também atacado pelo lado político. É necessário que os economistas também colaborem com as pessoas da ciência política, matéria que, em Portugal, está capturada pelas Faculdades de Direito. Professor Doutor Pedro Pitta Barros A articulação entre o regulador sectorial e a autoridade de defesa de concorrência Há um outro aspecto mais próximo do tema que nos trouxe aqui - defesa da concorrência - que é saber até que ponto estas autoridades reguladoras sectoriais estão capacitadas para a defesa da concorrência. Deverão ser as únicas a pensar em defesa da concorrência nos sectores em que intervêm? Estas autoridades têm, claramente, dois planos de intervenção: um plano de regulação técnica que têm que ser elas a fazer, pela proximidade do conhecimento a que isso obriga e um plano de defesa da concorrência, em relação ao qual desconheço se têm os conhecimentos ou o interesse para o fazer. O exemplo dos preços de interligação no mercado das telecomunicações ilustra este aspecto, que tem, claramente, impacto sobre a concorrência mas que tem que pertencer a uma entidade reguladora do sector. Não pode ser de outra forma, devido ao conhecimento a que obriga. No entanto, detectar conluio entre as empresas de telecomunicações, provavelmente, obriga a um conhecimento dos mecanismos de funcionamento económico e de legislação de defesa da concorrência que, possivelmente, não cabe exigir às autoridades sectoriais, tendo que ficar no lado da defesa da concorrência. Como isto se articula é particularmente importante para perceber onde é que vamos buscar os ganhos de que se falou. De um ponto de vista da captura destas actividades, por parte dos economistas, o que posso dizer é que nós conseguimos ter maneiras de tentar medir estas coisas. Estamos à espera de ser capturados, ou pelos reguladores sectoriais, ou pela autoridade de defesa da concorrência. A minha perspectiva é que eu gostava provavelmente que quer as entidades sectoriais quer a defesa da concorrência, pudessem intervir sem limitações. 122 Dr. Luís Pais Antunes A intervenção do regulador sectorial no domínio da concorrência Sou um adversário da sectorização do controlo das práticas de concorrência, mas não um adversário da definição da política da concorrência pelas entidades reguladoras sectoriais. Podem existir várias entidades reguladoras no sector da energia ou das telecomunicações, que definam alguns princípios da política da concorrência nesses sectores, mas não mais do que isso. Acho importante que estas entidades possam definir a política, mas acho também importante e primordial, no plano dos princípios, que elas não intervenham no domínio do controlo das práticas. Permito-me, contudo, trazer ao debate a seguinte questão: não se justificaria uma intervenção do próprio regulador quando se verifica uma situação de absoluta carência de intervenção das autoridades de concorrência em Portugal? Refiro-me sobretudo ao sector das telecomunicações. Apesar de tudo, prefiro que o ICP faça alguma coisa nessa área não se limitando a dizer que a competência é da DGCC. Pelo menos haveria alguém a exercer o papel de polícia e não sei se não seria melhor ter um polícia não tão bem preparado, do que não ter polícia rigorosamente nenhum. Eng.º João Pinto Ferreira O alheamento dos operadores económicos Gostaria de retomar, a título de comentário, as palavras do Professor Vasco Santos: «continuamos a viver com actos, atitudes e comportamentos que são anunciados nos grandes meios de comunicação social, sem que ninguém intervenha e se preocupe». Aquilo que se sente é que há realmente uma passividade total de quem devia olhar para o mercado - que não é, de forma nenhuma, o Conselho da Concorrência apesar de este ser criticado. Tal passividade leva os operadores económicos a reagir pela negativa e pelo alheamento e ao descrédito do Estado e dos princípios em que diz acreditar e que fazem parte da legislação. Dr. Alberto Regueira Qual é entidade que deve proceder à designação da entidade reguladora? Até há muito pouco tempo, para presidir à entidade reguladora do sector segurador, assistia-se a uma dança de cadeiras dos presidentes das principais empresas – aliás, quase todas públicas, ao tempo – que se revezavam na presidência do organismo regulador da actividade. Daí não admirar que nos contratos de seguro abundassem cláusulas prejudiciais aos interesses dos consumidores. O que me conduz à seguinte pergunta; qual é a entidade que deveria proceder à designação da entidade reguladora? Só o Parlamento, o Governo e o Parlamento ou os dois em conjunto? 123 Dr. Victor Calvete Se bem o interpretei, o Professor Vasco Santos disse que a regulação seria óptima, mas, em Portugal, seria capturada e, como tal, seria péssima. Se assim fosse eu aceitaria e concordaria com (pelo menos) metade daquilo que disse – que é a parte final «que em Portugal, seria péssima». Relativamente à venda com prejuízo que referiu, esta situação foi retirada da lei de defesa da concorrência, tendo passado para um outro diploma, que é gerido, no seu «enforcement», pela Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência. Esta, na sua actuação, está sempre a levantar objecções e a aplicar coimas aos agentes económicos quanto às vendas com prejuízo, com óbvio prejuízo dos consumidores. Quanto a preços predatórios, provavelmente porque não haverá muitos, não se preocupa grandemente. Regulamentação versus defesa da concorrência Uma coisa que me faz ficar inquieto é referir-se o «Sherman Act» como regulação ou a «Federal Trade Commission», como entidade reguladora. Eu sei que, por exemplo, o Viscusi e o Vernon referem isso e há muita gente que assim o entende, mas também existem outros que o entendem diversamente, dizendo que a regulamentação é como a administração continuada de um medicamento a uma doença crónica, enquanto que a intervenção da defesa da concorrência é como uma intervenção cirúrgica. Enquanto que as entidades reguladoras exigem uma intervenção prescritiva, a defesa da concorrência exige uma intervenção proscritiva, isto é, proibir aquilo que não se pode fazer. Considero que são duas lógicas de abordagem completamente diferentes e foi até por isso que, anteriormente, me referi ao carácter não intervencionista da política da concorrência. Ao contrário da regulação, a política da concorrência é não intervencionista no sentido em que não diz aos agentes económicos como é que eles têm que se comportar. No seguimento do que referiu o Professor Jorge Vasconcelos, também não me parece que o desenho que o Professor Vasco Santos fez da situação americana coincida com aquilo que vou sabendo. Designadamente, a «Interstate Commerce Commission», que foi a primeira das entidades reguladoras, foi extinta em 1995. Há, neste momento, nos EUA - como o Professor Vasconcelos disse - um fenómeno de fuga da regulamentação, enquanto que, na Europa, estamos a entrar aparentemente na regulamentação. Professora Doutora Maria Manuel Leitão Marques O Professor Vasco Santos levantou questões muito interessantes que vieram na sequência da discussão anterior. Há bocado estava à espera que alguém usasse aqui o termo «coopetition» para responder ao problema da cooperação versus concorrência. Não estamos a falar de um modelo de concorrência pura, mas de algo bastante mais complexo. 124 A repartição de competências entre a autoridade da concorrência e o regulador Uma pequena pergunta para o Eng.º Jorge Vasconcelos: a repartição de competências entre a autoridade da concorrência e o regulador sectorial deve ou não ser uma repartição diferente na fase de transição dos sectores de monopólio para o mercado, reservando-se mais competências à autoridade reguladora sectorial do que as que deveria ter numa situação normal de funcionamento do mercado? Ou seja, deve ou não o regulador sectorial preocupar-se com questões que mais tarde, depois de estabilizado o modelo, passarão para a autoridade responsável pela defesa da concorrência? Dr.-Ing. Jorge Vasconcelos Quantificação dos benefícios da liberalização Sem querer ser exaustivo, esta é a situação em Portugal: As colunas representam o preço médio de venda de electricidade, entre 1978 e 1998. A partir de 1993, vê-se que o preço se manteve constante e que os resultados líquidos das empresas foram aumentando consistentemente até atingir quase 1/3 do preço médio. Naquela época, recordo que as taxas de juro estavam a baixar – e a indústria eléctrica é uma indústria capital intensiva – e o preço dos combustíveis baixou substancialmente. Isto significa que houve ganhos – que nem sequer eram ganhos de eficiência – provocados por factores externos às próprias empresas, que foram completamente capturados pela empresa – que na altura era uma empresa pública – e que não foram passados aos consumidores. 125 25,0 20,3 20,0 16,6 esc/kWh 15,0 10,0 5,0 1,6 0,0 2,5 3,3 0,0 0,1 0,8 0,9 0,9 4,7 0,0 1,4 1,0 1,3 0,0 6,2 0,1 0,7 1,7 1,3 2,2 7,7 0,0 0,3 1,4 1,8 9,2 0,3 0,7 10,3 3,9 1,5 11,6 12,2 4,6 5,2 2,0 2,2 2,3 2,6 1,8 2,1 2,5 2,6 2,3 2,4 2,6 2,4 -0,4 -0,3 2,6 2,2 13,0 0,3 14,6 0,5 0,3 4,6 6,0 2,5 2,6 2,8 2,8 2,5 18,2 0,7 19,3 0,7 2,3 4,8 4,1 4,4 0,9 5,8 4,8 20,3 1,6 19,6 19,5 19,5 17,7 5,0 5,8 5,7 2,9 3,0 0,6 2,0 0,5 1,3 4,5 4,3 4,4 4,2 4,2 4,2 4,4 3,0 3,1 3,2 0,7 0,8 0,7 3,9 3,7 4,3 4,1 4,1 3,5 3,3 3,4 4,0 4,1 3,1 3,2 3,0 3,3 3,9 4,1 2,2 2,3 2,0 2,2 6,7 -5,0 1979 C.E.V.* 1981 1983 Pessoal\Materiais Diversos F.S.E.** 1985 1987 1989 Amortização 1991 Resultados Financeiros 1993 1995 Outros Custos 1997 1999 Resultado Líquido \IRC Fonte: EDP O grande escândalo da fixação das tarifas para 1999 foi não permitir que aquela situação continuasse e, portanto, obrigar a empresa a partilhar parte dos seus resultados – que ainda por cima, repito, não eram ganhos de eficiência, eram simplesmente benefícios que resultavam de factores externos – com os consumidores de energia eléctrica, permitindo que as empresas continuassem com uma remuneração justa. Legitimidade dos reguladores e das entidades reguladoras É evidente que, sobretudo nos países de cultura latina, o risco de captura – de tentativa de influência sobre o regulador – existe e não deve ser ignorado. Aliás, existe em toda a parte. E há que prever todos os mecanismos, quer na fase de constituição e definição dos estatutos de uma entidade reguladora, quer, posteriormente, na fase do acompanhamento do seu desempenho. Há que ter mecanismos que garantam a máxima independência possível. Pessoalmente, penso que o modelo que foi adoptado, em 1995, para a Entidade Reguladora do Sector Eléctrico, é um bom modelo a que falta uma responsabilização perante o Parlamento. Não faz qualquer sentido que uma entidade reguladora seja responsável perante o Governo, mas faz, obviamente, sentido que haja aqui uma interacção – como acontece em praticamente todos os países – com o Parlamento. Infelizmente, em Portugal, temos uma situação anómala, mas não é só na questão da regulação. Posso dizer que, na União Europeia, Portugal é o único país onde questões de energia, de política energética e de organização dos mercados de electricidade e de 126 gás natural, não são discutidos no Parlamento. São discutidos no Luxemburgo, na Grécia, em todos os países, menos em Portugal. Os EUA e a regulação Quanto à questão dos EUA estarem a abandonar a regulação explícita ex-ante. De forma alguma, posso garanti-lo. A tensão entre o regulador estadual e o regulador federal acompanha a história da regulação nos EUA e, provavelmente, é ainda mais aguda hoje em dia, quer nas telecomunicações, quer na energia. Acontece que há uma mudança de paradigma. Um sector que era antigamente, todo ele, um monopólio, deixou de ser visto com tal e foi dividido. Há umas áreas de rede de infra-estrutura que continuam a ser monopólios regulados – embora a própria regulação económica desses monopólios também tenha vindo a evoluir, de um modelo de regulação por custos para formas mais sofisticadas, baseadas no desempenho. E há uma parte de concorrência, isto é, há um olhar diferente para alguns segmentos destas indústrias, onde se pretende fomentar a concorrência. Esse desafio é um desafio para os reguladores sectoriais, é um desafio para o «anti-trust», é um desafio em geral para todos, porque, como disse, não há modelos comprovados que garantam os melhores resultados. Há algumas experiências, umas melhores outras piores, há alguns fracassos e alguns sucessos. Este ponto é extremamente importante e de particular actualidade no nosso país. Não gostaria que embarcássemos em experiências, em nome de uma qualquer reciprocidade com o nosso vizinho, em nome de outros interesses, que não os interesses específicos dos consumidores de energia eléctrica portugueses e que aceitássemos formas de organização do mercado eléctrico menos favoráveis. Repartição de competências entre reguladores sectoriais e entidades de concorrência em geral Quanto à questão da repartição de competências entre entidades reguladoras sectoriais e entidades de concorrência em geral, penso que tem que ser um processo evolutivo e teremos que ir aprendendo à medida que os mercados se forem constituindo e desenvolvendo. É óbvio que haverá uma parte cada vez maior de competências dos reguladores sectoriais que pode e deve ser transferida para outras entidades de supervisão. Basicamente, o que poderemos vir a ter é uma situação em que grande parte da regulação é feita ex-ante e haverá segmentos destas indústrias sujeitos a um controlo ex-post, em termos de comportamento das empresas. Em relação à questão da repartição de competências, gostava de abrir novas pistas que têm a ver com a interdependência dos reguladores e com o meu entender de que os reguladores sectoriais não devem ter um visão corporativa, não devem tentar fazer aquilo que qualquer burocrata que se preze tenta fazer que é manter e aumentar o seu perímetro de actuação. Penso que devemos ter a noção de qual é a missão transitória destes reguladores sectoriais e, portanto, devemos estar, à partida, contentes por 127 partilhar as nossas competências porque isso é útil para o sistema que estamos a regular, quer com os outros reguladores nacionais de carácter geral – portanto, do controlo da concorrência – quer com outros reguladores de outros países da União Europeia e com a própria Comissão Europeia. Porque temos, na Europa, uma nova questão que não foi aqui aflorada e que constitui um tema muito interessante que é o da tensão entre o nível nacional e o nível comunitário. Nos EUA esta questão é há muito conhecida, com as tensões permanentes entre o nível estadual e o nível federal. Esta questão não está resolvida. Se forem ver a proposta da Comissão Europeia para as telecomunicações, de Setembro do ano passado, ou a recente proposta da Comissão Europeia, para um regulamento relativamente ao comércio transfronteiriço de energia eléctrica, verificam que há aqui algumas preocupações a este nível. Esta questão da tensão entre a regulação nacional e a regulação supranacional começa agora a colocar-se na Europa e, portanto, obriga a uma partilha de competências entre reguladores. A regulação dos mercados «spot» Para terminar, refiro outro aspecto que aumentará ainda mais esta complexidade do jogo da regulação, que tem a ver com a financiarização de determinados sectores, entre os quais o sector de energia, e em particular, o sector que conheço melhor que é o da energia eléctrica. Isto significa que, quando se abre a produção de energia eléctrica à concorrência, podemos ter dois modelos de relacionamento: um relacionamento bilateral, entre o produtor e o fornecedor ou entre este e o cliente, e um modelo organizado de comércio, que passa pela constituição de um mercado «spot». Se olharmos para alguns exemplos por esse mundo fora, vemos que no mercado da energia eléctrica os mercados eficientes transaccionam entre 20% e 30% da energia que é consumida sendo o resto negociado bilateralmente. Este mercado «spot» tem várias vantagens: uma delas é garantir a transparência dos preços, outra é permitir que, com base nesses preços, se criem instrumentos financeiros de cobertura do risco. Se tradicionalmente o risco era suportado pelo consumidor – a empresa verticalmente integrada transferia, integralmente, todos os riscos para o consumidor – com a desverticalização da indústria eléctrica passamos a ter segmentos diferentes, em que os produtores, os transportadores e os distribuidores têm riscos diferentes. A cobertura destes riscos pode ser feita de uma forma mais eficiente do que a integração vertical, através de instrumentos financeiros. A criação e eficiência desses instrumentos exigem que haja um preço transparente que resulta de um mercado «spot». E, aqui põe-se a questão de saber quem regula esse mercado. É a autoridade sectorial da electricidade, é a autoridade da concorrência, ou é a autoridade de supervisão de Valores Mobiliários? E a questão não é despicienda quando pensamos que, por exemplo, o ano passado, em Oslo, a bolsa de electricidade transaccionou, nalguns dias, um volume financeiro superior ao da bolsa de valores propriamente dita. 128 Professor Doutor Vasco Santos Começaria por duas observações que foram feitas pelo Eng.º Jorge Vasconcelos no fim da sua intervenção. Primeiro que tudo, disse algo que, sendo absolutamente correcto do ponto de vista técnico, pode induzir a audiência em erro. É indiscutivelmente verdade que, no que diz respeito à regulação sectorial de sectores recém-liberalizados, os EUA estão a aprender, tal como nós estamos. Os fenómenos recentes, de há dois meses atrás, na Califórnia, são um exemplo típico disso – basta olhar para o salto do preço da energia nos mercados «spot» para perceber que qualquer coisa correu de forma errada. Os EUA estão a aprender tal como nós e, aí, concordo que a Europa não está atrasada. Onde a Europa está atrasada é em tudo o resto, porque os EUA têm uma cultura de regulação, uma cultura pró-competitiva, uma cultura de promoção de eficiência através da competição, que a Europa nem de perto, nem de longe tem. Contradições nos estatutos de um regulador Pegando num segundo ponto e que tem a vantagem de me permitir tratar globalmente uma série de questões que aqui tinha anotado: o Eng.º Vasconcelos diz que, por estatuto, é obrigado a ser um «watchdog» de dois interesses opostos – empresas por um lado, consumidores por outro. Esses interesses são opostos, não tenhamos ilusões. Ora eu não aceitaria ser regulador nestas condições porque sê-lo é virtualmente impossível. Muitas empresas, particularmente em sectores que antes eram monopólios, comportam uma grande dose daquilo a que chamamos ineficiência X, isto é, têm custos excessivos porque organizam mal a actividade produtiva, têm trabalhadores a mais e têm processos produtivos arcaicos. Se o seu estatuto o obrigar a promover os interesses dos consumidores, o regulador poderá não desejar pressionar determinada empresa, por exemplo, apesar de saber que ela é ineficiente. Estará a defender os interesses dos consumidores ao não ser demasiado agressivo na fixação de preços pois, caso o seja, a empresa encerra e os consumidores não serão servidos. Mas, na primeira oportunidade surgida com a introdução de outros competidores, de outros sistemas, sê-lo-á porque o estatuto obriga, apenas e só, a servir os interesses dos consumidores. Se, pelo contrário, o estatuto obrigar a atender não só aos interesses dos consumidores, mas também aos interesses das empresas, e sendo algumas delas particularmente ineficientes – a que nós chamamos marginais – o regulador estará a violar os seus estatutos se, ao aumentar a pressão regulatória, as levar à falência. Com este exemplo pretendo mostrar que é virtualmente impossível cumprir o estatuto regulatório, quando fixamos dois objectivos que são em si próprios, pela natureza do problema, opostos. O estatuto do regulador deverá ser o de defesa dos interesses dos consumidores através da promoção da competição. 129 Virtudes de uma regulação que atenda aos interesses do consumidor Chamo a atenção para um outro aspecto: estou convencido que na economia portuguesa – não há muitos estudos – há uma dose excessiva desta ineficiência X, isto é, empresas que são particularmente ineficientes. Se nós tivermos regulação que atenda, essencialmente, aos interesses dos consumidores e que esqueça os interesses dos produtores (ou só os contemple na medida em que estes subsidiariamente sirvam os interesses dos consumidores), poderemos limpar de uma vez por todas da economia portuguesa a excessiva dose de ineficiência dos processos produtivos. É isso que nos faz atrasados, porque é isso que gera baixas produtividades, salários baixos e um nível de vida muito inferior ao resto da Europa. Também, deste ponto de vista, a regulação é crucial. Note-se que não estou a defender a existência de N instituições sectoriais. Existem e muito bem, em relação aos sectores recém-liberalizados, porque são casos muito especiais em que estamos a trabalhar no escuro, porque, por evolução tecnológica ou outra razão, alguns sectores que antigamente eram vistos como monopólios naturais, deixaram de o ser. Haverá uma mudança de paradigma nos EUA? Discordo, de todo, com o facto de se dizer que há uma mudança de paradigma nos EUA. Há preocupações que se mantêm as mesmas, embora as pessoas não pensem estaticamente, evoluam e aprendam. Se se considerar, por exemplo, a produção de literatura económica relativa ao sector de telecomunicações, há indivíduos – que com alguma probabilidade poderão vir a ganhar o prémio Nobel da economia – que publicaram, há muito pouco tempo, um volume só sobre regulação em telecomunicações, na mais prestigiada editora de livros técnicos em economia. Isto não existia há dez anos atrás, o problema nem sequer se punha. Há uma evolução na forma de pensar porque os problemas são novos. Agora a raiz, essa, está bem viva. Estou convencido que nos próximos cem anos teremos nos EUA tanta regulação económica como tivemos nos últimos cem. Dr.-Ing. Jorge Vasconcelos A Europa e o modelo americano Em relação ao modelo americano, não é verdade que estejamos a copiar o que se faz nos EUA, porque temos, também na Europa, um grande potencial de inovação nesta área. Concretamente no sector eléctrico, temos a possibilidade de desenvolver o maior sistema integrado do mundo com formas inovadoras de organização dos mercados e da sua regulação. Isto tem vindo a ser reconhecido a nível internacional e é válido também para outros sectores. 130 A minha admiração pelos EUA e também pela prática destas coisas, nos EUA, é muito grande, embora a minha crença nas qualidades do modelo americano tenha vindo a decair e cada vez me sinta mais europeu. 131 A CONCORRÊNCIA E OS CONSUMIDORES MESA REDONDA S. João do Estoril, Centro de Caparide, 16.Março.2001 PROGRAMA 09.00 Abertura 09.15 1ª Sessão Defesa da Concorrência e Defesa do Consumidor Moderador: Dr. J. Silva Lopes [CES] Defesa da Concorrência Prof. Pedro Pitta Barros [FEUNL] Defesa do Consumidor Dr. Alberto Regueira [DECO] Discussão dos temas de ambas as intervenções 11.15 Intervalo 11.30 2ª Sessão Política Portuguesa de Defesa da Concorrência Moderador: Dr. José de Almeida Serra [CES] Instituições de Defesa da Concorrência em Portugal e a sua actuação Juiz Conselheiro Anselmo Rodrigues [Conselho da Concorrência] Comentários à política de concorrência em Portugal: legislação e prática Dr. Mário Marques Mendes [Advogado] Dr. Pedro Ferraz da Costa [CIP] Discussão dos temas de ambas as intervenções 13.30 Almoço 15.15 3ª Sessão O Papel Económico dos Tribunais Moderador: Dr. João Salgueiro [CES] Tratamento dos problemas de defesa da concorrência nos Tribunais Portugueses Prof. Paz Ferreira [Faculdade Direito] Análise económica do funcionamento dos Tribunais Portugueses Prof. Nuno Garoupa [Universitat Pompeu Fabra] Discussão dos temas de ambas as intervenções 17.00 Intervalo 132 17.15 4ª Sessão Defesa da concorrência, defesa do consumidor e entidades reguladoras Moderador:Profª Maria Manuel Leitão Marques [Observatório do Comércio] Visão da Teoria Económica Prof. Vasco Santos [FEUNL] Visão de um Regulador Dr.-Ing. Jorge de Vasconcelos [ERSE] Discussão dos temas de ambas as intervenções 19.15 Encerramento 133
Download